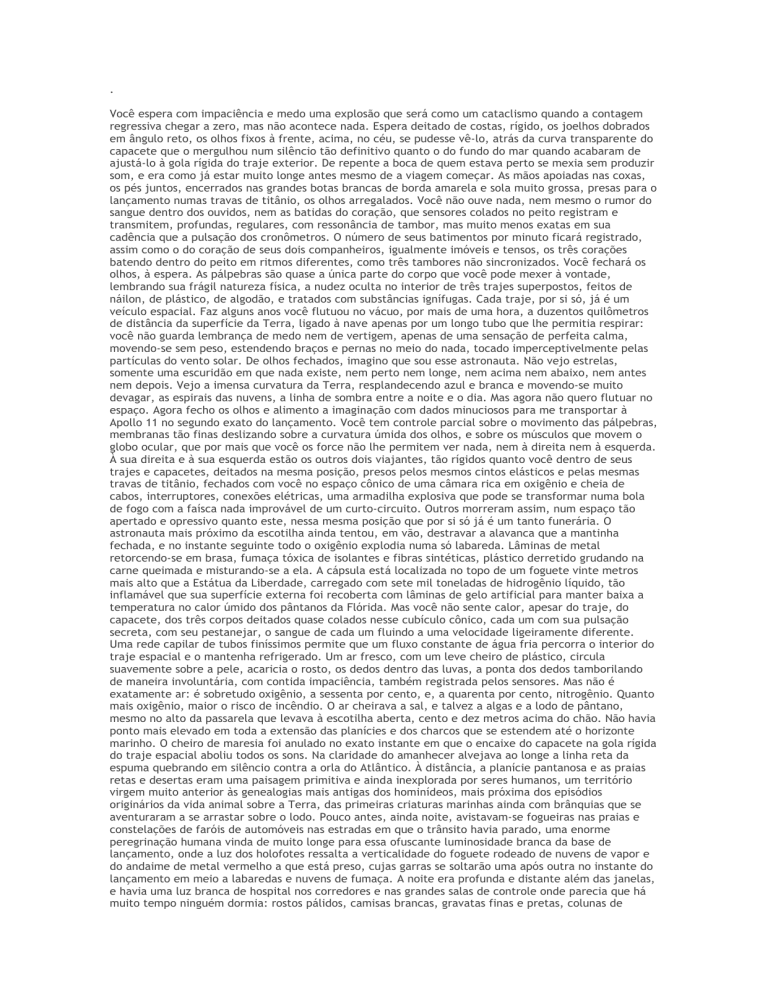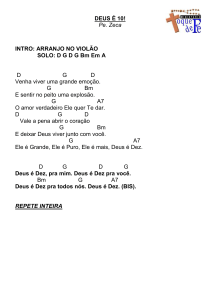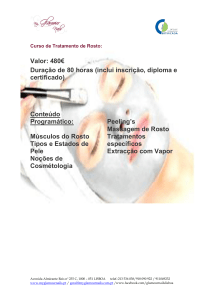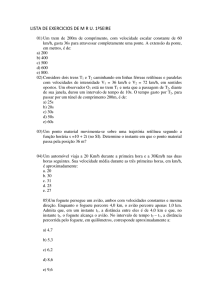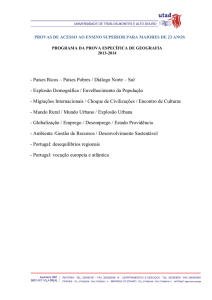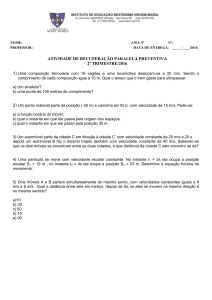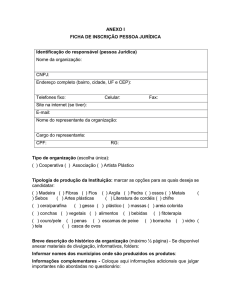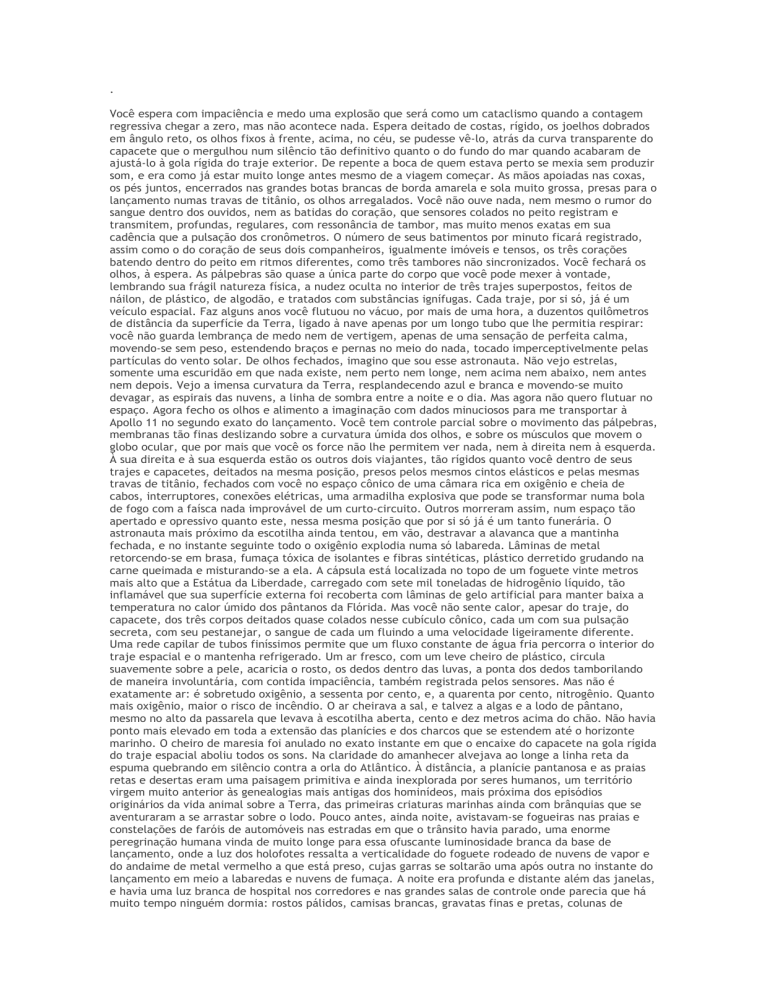
.
Você espera com impaciência e medo uma explosão que será como um cataclismo quando a contagem
regressiva chegar a zero, mas não acontece nada. Espera deitado de costas, rígido, os joelhos dobrados
em ângulo reto, os olhos fixos à frente, acima, no céu, se pudesse vê-lo, atrás da curva transparente do
capacete que o mergulhou num silêncio tão definitivo quanto o do fundo do mar quando acabaram de
ajustá-lo à gola rígida do traje exterior. De repente a boca de quem estava perto se mexia sem produzir
som, e era como já estar muito longe antes mesmo de a viagem começar. As mãos apoiadas nas coxas,
os pés juntos, encerrados nas grandes botas brancas de borda amarela e sola muito grossa, presas para o
lançamento numas travas de titânio, os olhos arregalados. Você não ouve nada, nem mesmo o rumor do
sangue dentro dos ouvidos, nem as batidas do coração, que sensores colados no peito registram e
transmitem, profundas, regulares, com ressonância de tambor, mas muito menos exatas em sua
cadência que a pulsação dos cronômetros. O número de seus batimentos por minuto ficará registrado,
assim como o do coração de seus dois companheiros, igualmente imóveis e tensos, os três corações
batendo dentro do peito em ritmos diferentes, como três tambores não sincronizados. Você fechará os
olhos, à espera. As pálpebras são quase a única parte do corpo que você pode mexer à vontade,
lembrando sua frágil natureza física, a nudez oculta no interior de três trajes superpostos, feitos de
náilon, de plástico, de algodão, e tratados com substâncias ignífugas. Cada traje, por si só, já é um
veículo espacial. Faz alguns anos você flutuou no vácuo, por mais de uma hora, a duzentos quilômetros
de distância da superfície da Terra, ligado à nave apenas por um longo tubo que lhe permitia respirar:
você não guarda lembrança de medo nem de vertigem, apenas de uma sensação de perfeita calma,
movendo-se sem peso, estendendo braços e pernas no meio do nada, tocado imperceptivelmente pelas
partículas do vento solar. De olhos fechados, imagino que sou esse astronauta. Não vejo estrelas,
somente uma escuridão em que nada existe, nem perto nem longe, nem acima nem abaixo, nem antes
nem depois. Vejo a imensa curvatura da Terra, resplandecendo azul e branca e movendo-se muito
devagar, as espirais das nuvens, a linha de sombra entre a noite e o dia. Mas agora não quero flutuar no
espaço. Agora fecho os olhos e alimento a imaginação com dados minuciosos para me transportar à
Apollo 11 no segundo exato do lançamento. Você tem controle parcial sobre o movimento das pálpebras,
membranas tão finas deslizando sobre a curvatura úmida dos olhos, e sobre os músculos que movem o
globo ocular, que por mais que você os force não lhe permitem ver nada, nem à direita nem à esquerda.
À sua direita e à sua esquerda estão os outros dois viajantes, tão rígidos quanto você dentro de seus
trajes e capacetes, deitados na mesma posição, presos pelos mesmos cintos elásticos e pelas mesmas
travas de titânio, fechados com você no espaço cônico de uma câmara rica em oxigênio e cheia de
cabos, interruptores, conexões elétricas, uma armadilha explosiva que pode se transformar numa bola
de fogo com a faísca nada improvável de um curto-circuito. Outros morreram assim, num espaço tão
apertado e opressivo quanto este, nessa mesma posição que por si só já é um tanto funerária. O
astronauta mais próximo da escotilha ainda tentou, em vão, destravar a alavanca que a mantinha
fechada, e no instante seguinte todo o oxigênio explodia numa só labareda. Lâminas de metal
retorcendo-se em brasa, fumaça tóxica de isolantes e fibras sintéticas, plástico derretido grudando na
carne queimada e misturando-se a ela. A cápsula está localizada no topo de um foguete vinte metros
mais alto que a Estátua da Liberdade, carregado com sete mil toneladas de hidrogênio líquido, tão
inflamável que sua superfície externa foi recoberta com lâminas de gelo artificial para manter baixa a
temperatura no calor úmido dos pântanos da Flórida. Mas você não sente calor, apesar do traje, do
capacete, dos três corpos deitados quase colados nesse cubículo cônico, cada um com sua pulsação
secreta, com seu pestanejar, o sangue de cada um fluindo a uma velocidade ligeiramente diferente.
Uma rede capilar de tubos finíssimos permite que um fluxo constante de água fria percorra o interior do
traje espacial e o mantenha refrigerado. Um ar fresco, com um leve cheiro de plástico, circula
suavemente sobre a pele, acaricia o rosto, os dedos dentro das luvas, a ponta dos dedos tamborilando
de maneira involuntária, com contida impaciência, também registrada pelos sensores. Mas não é
exatamente ar: é sobretudo oxigênio, a sessenta por cento, e, a quarenta por cento, nitrogênio. Quanto
mais oxigênio, maior o risco de incêndio. O ar cheirava a sal, e talvez a algas e a lodo de pântano,
mesmo no alto da passarela que levava à escotilha aberta, cento e dez metros acima do chão. Não havia
ponto mais elevado em toda a extensão das planícies e dos charcos que se estendem até o horizonte
marinho. O cheiro de maresia foi anulado no exato instante em que o encaixe do capacete na gola rígida
do traje espacial aboliu todos os sons. Na claridade do amanhecer alvejava ao longe a linha reta da
espuma quebrando em silêncio contra a orla do Atlântico. À distância, a planície pantanosa e as praias
retas e desertas eram uma paisagem primitiva e ainda inexplorada por seres humanos, um território
virgem muito anterior às genealogias mais antigas dos hominídeos, mais próxima dos episódios
originários da vida animal sobre a Terra, das primeiras criaturas marinhas ainda com brânquias que se
aventuraram a se arrastar sobre o lodo. Pouco antes, ainda noite, avistavam-se fogueiras nas praias e
constelações de faróis de automóveis nas estradas em que o trânsito havia parado, uma enorme
peregrinação humana vinda de muito longe para essa ofuscante luminosidade branca da base de
lançamento, onde a luz dos holofotes ressalta a verticalidade do foguete rodeado de nuvens de vapor e
do andaime de metal vermelho a que está preso, cujas garras se soltarão uma após outra no instante do
lançamento em meio a labaredas e nuvens de fumaça. A noite era profunda e distante além das janelas,
e havia uma luz branca de hospital nos corredores e nas grandes salas de controle onde parecia que há
muito tempo ninguém dormia: rostos pálidos, camisas brancas, gravatas finas e pretas, colunas de
números cintilando nas pequenas telas abauladas dos computadores. Quarta-feira, 16 de julho de 1969.
Você espera deitado de costas, imóvel, de olhos abertos, assim como esperou no escuro de um quarto
no qual acordou antes que alguém o chamasse, virando o rosto para o criado-mudo e para o mostrador
do relógio onde os números ainda não marcavam as quatro da manhã. As fogueiras dos que vieram de
muito longe e permaneceram acordados à espera do amanhecer, os faróis dos carros que não podem
mais avançar pelas estradas congestionadas: eles verão de longe, no horizonte reto e nebuloso da
manhã de julho, a imensa deflagração e a cauda de fogo subindo muito lentamente entre nuvens negras
de combustível queimado. Mas essa lentidão é uma ilusão de ótica causada pela altura e pelo volume do
foguete: nenhum artefato humano jamais atingiu uma velocidade tão alta. Ouvirão o longo retumbar de
um trovão e sentirão a terra tremer sob seus pés dentro de um instante, talvez no próximo segundo. A
onda expansiva do lançamento golpeará o peito de todos com a violência de uma bola de borracha
maciça. Talvez você já esteja morto então, queimado, pulverizado, dissolvido na torre de fogo da
explosão de milhares de toneladas de hidrogênio líquido: talvez dentro de um segundo já nem tenha
mais tempo de saber que estava prestes a deixar de existir. Você é um corpo jovem palpitando e
respirando, um organismo formidável no auge da saúde e da força muscular, uma inteligência brilhante
dotada de um sistema nervoso de complexidade não inferior à de uma galáxia, com uma memória
povoada de imagens, nomes, sensações, lugares, afetos: e no instante seguinte já não é nada e
desapareceu sem deixar rastro algum, dissipado nesse zero absoluto que a voz nasalada e maquinal da
contagem regressiva acaba de invocar.
Mas depois do zero não acontece nada, só o rumor do ar que não é exatamente ar nos tubos de
respiração, só as pulsações aceleradas do coração dentro do peito, os pontos de luz ritmados
aparecendo numa tela de controle na qual alguém tem os olhos fixos, e registrados e arquivados numa
fita magnética que talvez alguém consulte depois do desastre para saber o momento exato em que a
vida se interrompeu. O cérebro morre, mas o coração continua a bater por mais alguns minutos; ou será
o contrário?, o coração para e no cérebro a consciência perdura espectralmente como uma brasa prestes
a se apagar sob as cinzas que esfriam. Lava gelada e cinzas é a paisagem que seus olhos verão no final
da viagem que neste instante você não sabe se vai mesmo começar, aprisionado neste segundo após o
zero em que não retumba a explosão desejada e temida. Foi com uma explosão no meio do nada que o
universo começou há catorze ou quinze bilhões de anos. A onda expansiva continua a afastar as galáxias
umas das outras e seu ruído é captado pelos telescópios mais potentes, como o estrondo desses trens de
carga que à noite atravessam a vastidão deserta de um continente tão imenso que aos olhos humanos
parece infinito. Um ruído surdo, o galope do estouro de uma manada numa planície, percebido muito
longe pelo ouvido de alguém com o ouvido colado à terra. Um ruído tão potente que continua ressoando
desde o primeiro milionésimo de segundo da existência do universo, o eco do fluxo de sangue no interior
de uma concha, o trem de carga que vem de muito longe e acorda você no meio da noite de verão. O
ruído se transforma em tremor e depois num solavanco, o coração dispara ao mesmo tempo que luzes
amarelas começam a piscar no painel de instrumentos despejando uma catarata de cifras que partem de
um zero e correm a uma velocidade estonteante, assinalando o início do tempo da viagem, a explosão
que acaba de ocorrer bem abaixo, a mais de cem metros, no fundo do poço de combustível ardente. Não
há sensação de subida enquanto o foguete se eleva aparentando uma lentidão impossível sobre o fogo e
a fumaça, um fulgor que será visto de muito longe contra o horizonte plano e o azul da manhã: não há
medo nem vertigem, apenas um peso enorme, mãos e pernas e pés e rosto e olhos virando chumbo,
atraídos para baixo pela gravidade de toda a massa do planeta multiplicada por cinco pela inércia nos
primeiros segundos do lançamento: o coração de chumbo e os pulmões e o fígado e o estômago
pressionando no interior de um corpo que agora pesa monstruosamente quase quatrocentos quilos.
Nunca um artefato tão grande tentou romper a atração da gravidade terrestre. E enquanto isso o ruído
continua, mas não cresce em estrondo, não chega a ferir os tímpanos protegidos pela esfera de plástico
transparente do capacete. Torna-se mais profundo, mais grave, mais distante, o trem de carga
perdendo-se na noite, ao mesmo tempo que os segundos viram minutos no painel de comando que está
quase tão perto do rosto quanto o tampo de chumbo de um sarcófago. Tudo treme, vibra, o painel de
comando diante de seu rosto, o alumínio e o plástico de que a nave é feita, tudo range como se
estivesse prestes a se desfazer, tão precário, de repente, seu próprio corpo se sacode contra as correias
que o seguram e a cabeça bate na concavidade do capacete. Mas doze minutos depois o tremor se
atenua e cessa por completo, e a sensação de imobilidade é absoluta. Você não sente mais o coração
como uma bola maciça de chumbo dentro do peito, nem a garra das mãos sobre as pernas dobradas em
ângulo reto, nem as pálpebras como pedras sobre os globos oculares. A respiração, sem você perceber,
se tornou mais fácil, o cheiro de plástico do oxigênio mais suave. Alguma coisa acontece no interior oco
da luva da mão direita e também na ponta do pé direito: a unha do dedão do pé esbarra na superfície
interior acolchoada da bota, os dedos se movem dentro da luva, sem controle.
Você não pesa, de repente começou a flutuar dentro do traje, como boiando de costas na água do mar,
balançando nas ondas. Com uma absoluta sensação de imobilidade você viajou verticalmente a onze mil
pés por segundo. E agora uma coisa vai passando diante de seus olhos, navegando entre seu rosto e o
painel de controle como um peixe estranho movendo-se muito lentamente: a luva que seu companheiro
ao lado acabou de tirar, livre da gravidade, na órbita terrestre que a nave atingiu doze minutos após o
lançamento, a trezentos quilômetros de altura sobre a curva azulada que se recorta com um tênue
brilho contra o fundo negro do espaço. A luva flutua deslizando como uma criatura marinha de estranha
morfologia na água morna de um aquário.
.
Você espera com impaciência e medo uma explosão que será como um cataclismo quando a contagem
regressiva chegar a zero, mas não acontece nada. Espera deitado de costas, rígido, os joelhos dobrados
em ângulo reto, os olhos fixos à frente, acima, no céu, se pudesse vê-lo, atrás da curva transparente do
capacete que o mergulhou num silêncio tão definitivo quanto o do fundo do mar quando acabaram de
ajustá-lo à gola rígida do traje exterior. De repente a boca de quem estava perto se mexia sem produzir
som, e era como já estar muito longe antes mesmo de a viagem começar. As mãos apoiadas nas coxas,
os pés juntos, encerrados nas grandes botas brancas de borda amarela e sola muito grossa, presas para o
lançamento numas travas de titânio, os olhos arregalados. Você não ouve nada, nem mesmo o rumor do
sangue dentro dos ouvidos, nem as batidas do coração, que sensores colados no peito registram e
transmitem, profundas, regulares, com ressonância de tambor, mas muito menos exatas em sua
cadência que a pulsação dos cronômetros. O número de seus batimentos por minuto ficará registrado,
assim como o do coração de seus dois companheiros, igualmente imóveis e tensos, os três corações
batendo dentro do peito em ritmos diferentes, como três tambores não sincronizados. Você fechará os
olhos, à espera. As pálpebras são quase a única parte do corpo que você pode mexer à vontade,
lembrando sua frágil natureza física, a nudez oculta no interior de três trajes superpostos, feitos de
náilon, de plástico, de algodão, e tratados com substâncias ignífugas. Cada traje, por si só, já é um
veículo espacial. Faz alguns anos você flutuou no vácuo, por mais de uma hora, a duzentos quilômetros
de distância da superfície da Terra, ligado à nave apenas por um longo tubo que lhe permitia respirar:
você não guarda lembrança de medo nem de vertigem, apenas de uma sensação de perfeita calma,
movendo-se sem peso, estendendo braços e pernas no meio do nada, tocado imperceptivelmente pelas
partículas do vento solar. De olhos fechados, imagino que sou esse astronauta. Não vejo estrelas,
somente uma escuridão em que nada existe, nem perto nem longe, nem acima nem abaixo, nem antes
nem depois. Vejo a imensa curvatura da Terra, resplandecendo azul e branca e movendo-se muito
devagar, as espirais das nuvens, a linha de sombra entre a noite e o dia. Mas agora não quero flutuar no
espaço. Agora fecho os olhos e alimento a imaginação com dados minuciosos para me transportar à
Apollo 11 no segundo exato do lançamento. Você tem controle parcial sobre o movimento das pálpebras,
membranas tão finas deslizando sobre a curvatura úmida dos olhos, e sobre os músculos que movem o
globo ocular, que por mais que você os force não lhe permitem ver nada, nem à direita nem à esquerda.
À sua direita e à sua esquerda estão os outros dois viajantes, tão rígidos quanto você dentro de seus
trajes e capacetes, deitados na mesma posição, presos pelos mesmos cintos elásticos e pelas mesmas
travas de titânio, fechados com você no espaço cônico de uma câmara rica em oxigênio e cheia de
cabos, interruptores, conexões elétricas, uma armadilha explosiva que pode se transformar numa bola
de fogo com a faísca nada improvável de um curto-circuito. Outros morreram assim, num espaço tão
apertado e opressivo quanto este, nessa mesma posição que por si só já é um tanto funerária. O
astronauta mais próximo da escotilha ainda tentou, em vão, destravar a alavanca que a mantinha
fechada, e no instante seguinte todo o oxigênio explodia numa só labareda. Lâminas de metal
retorcendo-se em brasa, fumaça tóxica de isolantes e fibras sintéticas, plástico derretido grudando na
carne queimada e misturando-se a ela. A cápsula está localizada no topo de um foguete vinte metros
mais alto que a Estátua da Liberdade, carregado com sete mil toneladas de hidrogênio líquido, tão
inflamável que sua superfície externa foi recoberta com lâminas de gelo artificial para manter baixa a
temperatura no calor úmido dos pântanos da Flórida. Mas você não sente calor, apesar do traje, do
capacete, dos três corpos deitados quase colados nesse cubículo cônico, cada um com sua pulsação
secreta, com seu pestanejar, o sangue de cada um fluindo a uma velocidade ligeiramente diferente.
Uma rede capilar de tubos finíssimos permite que um fluxo constante de água fria percorra o interior do
traje espacial e o mantenha refrigerado. Um ar fresco, com um leve cheiro de plástico, circula
suavemente sobre a pele, acaricia o rosto, os dedos dentro das luvas, a ponta dos dedos tamborilando
de maneira involuntária, com contida impaciência, também registrada pelos sensores. Mas não é
exatamente ar: é sobretudo oxigênio, a sessenta por cento, e, a quarenta por cento, nitrogênio. Quanto
mais oxigênio, maior o risco de incêndio. O ar cheirava a sal, e talvez a algas e a lodo de pântano,
mesmo no alto da passarela que levava à escotilha aberta, cento e dez metros acima do chão. Não havia
ponto mais elevado em toda a extensão das planícies e dos charcos que se estendem até o horizonte
marinho. O cheiro de maresia foi anulado no exato instante em que o encaixe do capacete na gola rígida
do traje espacial aboliu todos os sons. Na claridade do amanhecer alvejava ao longe a linha reta da
espuma quebrando em silêncio contra a orla do Atlântico. À distância, a planície pantanosa e as praias
retas e desertas eram uma paisagem primitiva e ainda inexplorada por seres humanos, um território
virgem muito anterior às genealogias mais antigas dos hominídeos, mais próxima dos episódios
originários da vida animal sobre a Terra, das primeiras criaturas marinhas ainda com brânquias que se
aventuraram a se arrastar sobre o lodo. Pouco antes, ainda noite, avistavam-se fogueiras nas praias e
constelações de faróis de automóveis nas estradas em que o trânsito havia parado, uma enorme
peregrinação humana vinda de muito longe para essa ofuscante luminosidade branca da base de
lançamento, onde a luz dos holofotes ressalta a verticalidade do foguete rodeado de nuvens de vapor e
do andaime de metal vermelho a que está preso, cujas garras se soltarão uma após outra no instante do
lançamento em meio a labaredas e nuvens de fumaça. A noite era profunda e distante além das janelas,
e havia uma luz branca de hospital nos corredores e nas grandes salas de controle onde parecia que há
muito tempo ninguém dormia: rostos pálidos, camisas brancas, gravatas finas e pretas, colunas de
números cintilando nas pequenas telas abauladas dos computadores. Quarta-feira, 16 de julho de 1969.
Você espera deitado de costas, imóvel, de olhos abertos, assim como esperou no escuro de um quarto
no qual acordou antes que alguém o chamasse, virando o rosto para o criado-mudo e para o mostrador
do relógio onde os números ainda não marcavam as quatro da manhã. As fogueiras dos que vieram de
muito longe e permaneceram acordados à espera do amanhecer, os faróis dos carros que não podem
mais avançar pelas estradas congestionadas: eles verão de longe, no horizonte reto e nebuloso da
manhã de julho, a imensa deflagração e a cauda de fogo subindo muito lentamente entre nuvens negras
de combustível queimado. Mas essa lentidão é uma ilusão de ótica causada pela altura e pelo volume do
foguete: nenhum artefato humano jamais atingiu uma velocidade tão alta. Ouvirão o longo retumbar de
um trovão e sentirão a terra tremer sob seus pés dentro de um instante, talvez no próximo segundo. A
onda expansiva do lançamento golpeará o peito de todos com a violência de uma bola de borracha
maciça. Talvez você já esteja morto então, queimado, pulverizado, dissolvido na torre de fogo da
explosão de milhares de toneladas de hidrogênio líquido: talvez dentro de um segundo já nem tenha
mais tempo de saber que estava prestes a deixar de existir. Você é um corpo jovem palpitando e
respirando, um organismo formidável no auge da saúde e da força muscular, uma inteligência brilhante
dotada de um sistema nervoso de complexidade não inferior à de uma galáxia, com uma memória
povoada de imagens, nomes, sensações, lugares, afetos: e no instante seguinte já não é nada e
desapareceu sem deixar rastro algum, dissipado nesse zero absoluto que a voz nasalada e maquinal da
contagem regressiva acaba de invocar.
Mas depois do zero não acontece nada, só o rumor do ar que não é exatamente ar nos tubos de
respiração, só as pulsações aceleradas do coração dentro do peito, os pontos de luz ritmados
aparecendo numa tela de controle na qual alguém tem os olhos fixos, e registrados e arquivados numa
fita magnética que talvez alguém consulte depois do desastre para saber o momento exato em que a
vida se interrompeu. O cérebro morre, mas o coração continua a bater por mais alguns minutos; ou será
o contrário?, o coração para e no cérebro a consciência perdura espectralmente como uma brasa prestes
a se apagar sob as cinzas que esfriam. Lava gelada e cinzas é a paisagem que seus olhos verão no final
da viagem que neste instante você não sabe se vai mesmo começar, aprisionado neste segundo após o
zero em que não retumba a explosão desejada e temida. Foi com uma explosão no meio do nada que o
universo começou há catorze ou quinze bilhões de anos. A onda expansiva continua a afastar as galáxias
umas das outras e seu ruído é captado pelos telescópios mais potentes, como o estrondo desses trens de
carga que à noite atravessam a vastidão deserta de um continente tão imenso que aos olhos humanos
parece infinito. Um ruído surdo, o galope do estouro de uma manada numa planície, percebido muito
longe pelo ouvido de alguém com o ouvido colado à terra. Um ruído tão potente que continua ressoando
desde o primeiro milionésimo de segundo da existência do universo, o eco do fluxo de sangue no interior
de uma concha, o trem de carga que vem de muito longe e acorda você no meio da noite de verão. O
ruído se transforma em tremor e depois num solavanco, o coração dispara ao mesmo tempo que luzes
amarelas começam a piscar no painel de instrumentos despejando uma catarata de cifras que partem de
um zero e correm a uma velocidade estonteante, assinalando o início do tempo da viagem, a explosão
que acaba de ocorrer bem abaixo, a mais de cem metros, no fundo do poço de combustível ardente. Não
há sensação de subida enquanto o foguete se eleva aparentando uma lentidão impossível sobre o fogo e
a fumaça, um fulgor que será visto de muito longe contra o horizonte plano e o azul da manhã: não há
medo nem vertigem, apenas um peso enorme, mãos e pernas e pés e rosto e olhos virando chumbo,
atraídos para baixo pela gravidade de toda a massa do planeta multiplicada por cinco pela inércia nos
primeiros segundos do lançamento: o coração de chumbo e os pulmões e o fígado e o estômago
pressionando no interior de um corpo que agora pesa monstruosamente quase quatrocentos quilos.
Nunca um artefato tão grande tentou romper a atração da gravidade terrestre. E enquanto isso o ruído
continua, mas não cresce em estrondo, não chega a ferir os tímpanos protegidos pela esfera de plástico
transparente do capacete. Torna-se mais profundo, mais grave, mais distante, o trem de carga
perdendo-se na noite, ao mesmo tempo que os segundos viram minutos no painel de comando que está
quase tão perto do rosto quanto o tampo de chumbo de um sarcófago. Tudo treme, vibra, o painel de
comando diante de seu rosto, o alumínio e o plástico de que a nave é feita, tudo range como se
estivesse prestes a se desfazer, tão precário, de repente, seu próprio corpo se sacode contra as correias
que o seguram e a cabeça bate na concavidade do capacete. Mas doze minutos depois o tremor se
atenua e cessa por completo, e a sensação de imobilidade é absoluta. Você não sente mais o coração
como uma bola maciça de chumbo dentro do peito, nem a garra das mãos sobre as pernas dobradas em
ângulo reto, nem as pálpebras como pedras sobre os globos oculares. A respiração, sem você perceber,
se tornou mais fácil, o cheiro de plástico do oxigênio mais suave. Alguma coisa acontece no interior oco
da luva da mão direita e também na ponta do pé direito: a unha do dedão do pé esbarra na superfície
interior acolchoada da bota, os dedos se movem dentro da luva, sem controle.
Você não pesa, de repente começou a flutuar dentro do traje, como boiando de costas na água do mar,
balançando nas ondas. Com uma absoluta sensação de imobilidade você viajou verticalmente a onze mil
pés por segundo. E agora uma coisa vai passando diante de seus olhos, navegando entre seu rosto e o
painel de controle como um peixe estranho movendo-se muito lentamente: a luva que seu companheiro
ao lado acabou de tirar, livre da gravidade, na órbita terrestre que a nave atingiu doze minutos após o
lançamento, a trezentos quilômetros de altura sobre a curva azulada que se recorta com um tênue
brilho contra o fundo negro do espaço. A luva flutua deslizando como uma criatura marinha de estranha
morfologia na água morna de um aquário.