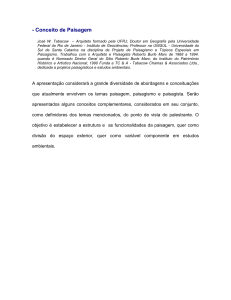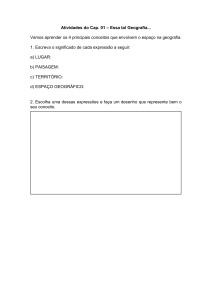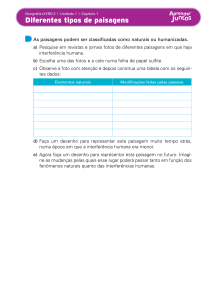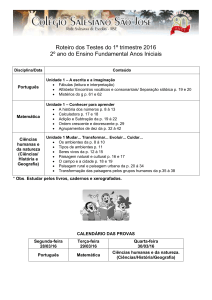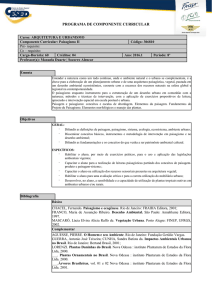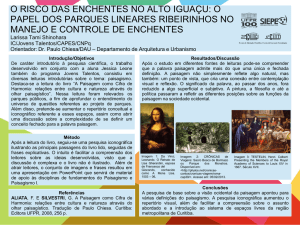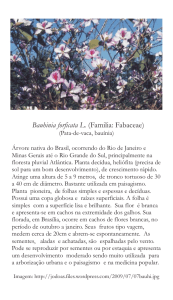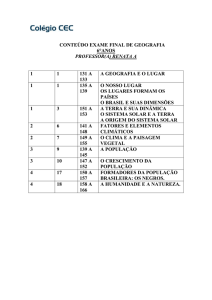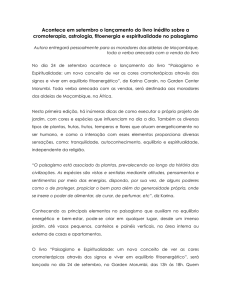PAISAGEM, PAISAGISMO COMESTÍVEL E ESPAÇO EXTERIOR DOMÉSTICO
VOLTADOS À SOBERANIA ALIMENTAR: NOTAS INICIAIS
Céline Veríssimo
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, Brasil
[email protected]
Leo Name
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, Brasil
[email protected]
RESUMO
Busca-se promover um diálogo entre arquitetura, paisagismo e geografia, alicerçado pela soberania
alimentar. Se, por um lado, a arquitetura já conta com discussão teórica e prática mais ou menos farta que a
relaciona ao direito à habitação e a geografia possui abundante discussão sobre os condicionantes tanto
geobiofísicos quanto políticos, econômicos e culturais que moldam as paisagens, compreendidas em
permanente transformação pelos gêneros de vida que nelas habitam; por outro lado, em ambas as disciplinas
pouco se tem debatido sobre o acesso e a garantia de direitos. Assume-se, por isso, a necessidade de uma
discussão espacial de direitos humanos, em especial à alimentação, partindo da premissa de que o paisagismo
comestível é ferramenta capaz de relacionar o exercício profissional de paisagistas e a discussão sobre a
paisagem dos geógrafos. Destaca-se, outrossim, o papel do espaço exterior doméstico, que quando adaptado
para integrar agricultura e negócio familiar, contribui para a segurança e soberania alimentar e produz um
microclima agradável, podendo levar à regeneração ambiental em espaços de vulnerabilidade
socioeconômica e socioambiental.
Palavras-chave: paisagismo comestível; espaço exterior doméstico; soberania alimentar; geografia,
arquitetura.
INTRODUÇÃO
Faz quase sete décadas que a alimentação e a habitação adequadas são direitos humanos
(ONU, 1948). No entanto, por um lado estima-se que o mundo ainda possui, apenas nas
áreas urbanas, por volta de 1 bilhão de pessoas vivendo em condições inadequadas de
habitação (ONU, 2005); por outro, segundo dados da Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e a Agricultura (FAO), 795 milhões de pessoas passam fome, o que equivale
a 10,9% da população mundial (FAO, FIDA e PMA, 2015).
Desde a década de 1960 sabe-se que a produção de alimentos é suficiente para todo o
planeta. No entanto, as monoculturas avançam sobre os territórios não para garantir
alimentos às populações, mas lucro e patentes milionárias a multinacionais – mesmo que
às custas de danos à biodiversidade, riscos à saúde humana, biopirataria e apropriação de
saberes autóctones (Porto-Gonçalves, 2006).
Ante tais problemas, a noção de segurança alimentar inicialmente designava a manutenção
da disponibilidade de alimentos mesmo em contextos de expansão de consumo e de
flutuações de produção e de preços, porém mais contemporaneamente diz respeito à
situação na qual “todas as pessoas têm, a qualquer momento, acesso físico, social e
econômico a alimentos suficientes, inócuos e nutritivos que satisfaçam suas necessidades
energéticas diárias e preferências alimentares para levar uma vida ativa e saudável” (FAO,
2011). Movimentos sociais acusam, contudo, que os discursos sobre segurança alimentar
são estritamente voltados ao combate à desnutrição, não servindo no enfrentamento
contra as grandes corporações transnacionais de alimentos e sua organização capitalista
agroindustrial.
A Via Campesina – entidade internacional composta por 164 organizações camponesas, a
maioria delas localizada na América Latina e no Caribe – defende um outro conceito, a
soberania alimentar, voltada aos direitos de cada nação “manter e desenvolver sua própria
capacidade de produzir os alimentos básicos dos povos, respeitando a diversidade
produtiva e cultural” e “de praticar o manejo sustentável dos recursos naturais e de
preservar a diversidade biológica”, assim como os das comunidades de “usar livremente e
proteger os recursos genéticos diversos, incluindo as sementes, desenvolvidos por estas
mesmas comunidades ao longo da história” (Via Campesina, 1996; ver também:
Dominguez, 2015; Rosset, 2008).
Se a abordagem da segurança alimentar é normalmente conduzida por intelectuais do
Norte e agências multilaterais globais, o discurso da soberania alimentar – o qual neste
artigo abraçamos – foi gestado pelos movimentos sociais campesinos da periferia global. É
importante, contudo, que a luta por direitos e a busca por sua garantia sejam realizadas a
partir de uma compreensão espacial dos fenômenos a eles relacionados, na medida em
que sua aplicação e reprodução se dá a partir de uma base territorial – condicionante
natural utilizado para satisfazer necessidades; amálgama de culturas que influenciam a
percepção de direitos; e espaço de conflitos entre diferentes grupos e interesses.
Num debate sobre o espaço, aportes da geografia, da arquitetura e do paisagismo fazemse necessários. No Brasil, arquitetura e paisagismo são executados pelo mesmo conjunto
de profissionais, que tem no espaço construído de uma casa, por exemplo, a possibilidade
de ação projetiva em arquitetura, ao passo que no espaço livre junto a esta tem a matériaprima fundamental para um exercício projetivo em paisagismo: o que defendemos é que
este espaço livre pode e deve se voltar à provisão de quem vive nesta casa, e que a
paisagem, compreendida para além de suas dimensões estéticas, é um elemento que
articula os diferentes fenômenos e níveis de análises relacionados à ação projetiva e a ação
em prol de diferentes direitos (à habitação, à alimentação, ao meio ambiente).
Para nos auxiliar nesta tarefa, resgataremos algumas discussões sobre o conceito de
paisagem e sobre a disciplina do paisagismo, cotejando-as com o debate sobre o chamado
paisagismo comestível – compreendido como uma ferramenta capaz de auxiliar no
combate à fome e na produção de alimentos. Em seguida, relacionaremos a a escala da
paisagem à outrora desenvolvida conceituação de espaço exterior doméstico (EED) – um
microespaço, muitas vezes residual da construção e disposição dos elementos
arquitetônicos construídos em lotes formais ou ocupações informais, que contribui para a
soberania alimentar de residentes, podendo também produzir um microclima agradável e
levar à regeneração ambiental em áreas de vulnerabilidade (Veríssimo, 2013).
Somos movidos pelas seguintes questões: arquitetura, paisagismo e geografia são saberes
pelos quais se pode debater e agir em prol dos direitos humanos, em especial da soberania
alimentar? A abundante literatura da geografia sobre os condicionantes tanto geobiofísicos
quanto políticos, econômicos e culturais que moldam as paisagens (Holzer, 1999;
Montezuma, 2012; Oliveira e Montezuma, 2010; Name, 2010; Vitte, 2007) pode auxiliar
num debate sobre alimentação? Como integrá-la a escritos da arquitetura (Bastos, 2013;
Chugar, 2009, 2012 e 2013; da Cunha, 2014; da Cunha e Buzzar, 2013), que já fazem
discussões teórica e prática relativamente fartas sobre o direito à habitação?
PAISAGEM, GÊNERO DE VIDA E PAISAGISMO... COMESTÍVEL?
Muito embora não seja tratada exclusivamente pela geografia, ao longo da trajetória desta
disciplina acadêmica a paisagem recebeu bastante atenção analítica. Não à toa, é um dos
seus conceitos-chave, talvez o mais polissêmico e em constante aprofundamento e
reelaboração teórica por diferentes abordagens (Holzer, 1999; Name, 2010; Vitte, 2007).
A mais recente discussão geográfica a respeito da paisagem deu-se em escritos da chamada
“nova geografia cultural”, que ainda ecoam atualmente. Tal debate realçou os aspectos
visuais e representacionais da paisagem, que seria tanto um texto como uma maneira
europeia/ocidental de ver o mundo, pela qual grupos enunciam e interpretam os espaços,
a si e aos outros (Cosgrove, 1984, [1989] 1996 e [1989] 1998); Duncan, 1990). Tal discussão
foi frutífera a partir da década de 1980; porém, muitos destes escritos têm como
referências aportes teóricos mais antigos, como os do estadunidense Carl Otwin Sauer
([1925] 2007; ver também: Leighly, org., [1941] 1963) e do francês Paul Vidal de La Blache
([1921] 1954, [1911] 2012a e [1911] 2012b).
O primeiro afirmou que as paisagens são compostas por distintas formas, ao mesmo tempo
físicas e culturais. Admitiu haver conteúdos subjetivos e estéticos relacionados às
paisagens e alçou sua observação à posição de método distintivo da geografia – com vistas
a perceber, descrever e tipificar as diferenças entre povos e territórios da superfície
terrestre. Entretanto Sauer não descartou a relevância dos processos naturais,
relacionados ao clima, composição dos solos e interatividades ecossistêmicas, por exemplo
– que também produzem paisagens, mas que nem sempre são perceptíveis à observação.
Antes dele, Vidal de La Blache delineou sua noção de “gênero de vida”, definido como o
conjunto de formas específicas de cada grupo realizar adaptações ao meio em que vivem,
com base em suas heranças culturais e instrumentais, por sua vez transmitidas pelo hábito.
Segundo ele, a cada gênero de vida, “de ação metódica e contínua sobre a natureza” (Vidal
de La Blache, [1911] 2012a, p. 132), corresponde uma paisagem-tipo (vide Troll, [1950]
2007).
Importa destacar, em primeiro lugar, que subjaz às concepções de Sauer e Vidal de La
Blache, a ideia de que a paisagem não é apenas o que se vê. Diz respeito também aos
inúmeros processos que constantemente moldam e transformam o espaço, sejam os
geobiofísicos, em diferentes escalas temporais e abrangências espaciais; sejam os
conduzidos por distintos grupos sociais, que do que a natureza fornece se apropriam –
harmoniosamente ou de forma destrutiva. Assim, a paisagem é tanto uma marca deixada
por determinada cultura ou civilização sobre a materialidade do espaço como uma matriz
de significados sobre o mundo, que espacial e visualmente traduz diferentes
intencionalidades (Berque, [1984] 1998): relaciona-se, então, à produção, à transformação
e à representação do espaço, sempre animadas por assimetrias de poder, distintos saberes
e aportes culturais, além de necessidades que vão da subsistência à manutenção de
hegemonias.
E importa destacar, em segundo lugar, que a discussão conduzida por Vidal de La Blache a
respeito de gêneros de vida moldadores de diferentes paisagens-tipo em grande medida
tinha sua formulação apoiada em um exercício de comparação entre o que se julgava o
estatuto civilizacional europeu e as práticas de lugares “inóspitos” e povos “selvagens”,
sobretudo as relacionadas ao pastoreio e ao cultivo e consórcio de plantas visando à
alimentação. Talvez por isso, tão logo a implantação de tecnologias agrícolas visando ao
aumento da produção de alimentos iniciou seu avanço sobre o Terceiro Mundo a noção de
gênero de vida passou a ser acusada de incapaz de explicar o mundo que parecia estar
homogeneizando-se (Sorre, [1948] 2002). Afinal, o crescimento da organização capitalista
agroindustrial com base nos grandes latifúndios e na monocultura de exportação deu-se a
par e a passo da generalização dos processos de urbanização e industrialização.
Se ditos processos por um lado eram compreendidos como condições da continuada
realimentação da crença moderna no progresso e, por outro, sempre os acompanharam a
destruição de paisagens e culturas, foi desta contradição que surgiram disciplinas mais
intervencionistas, como o paisagismo. Nesse sentido, por um lado a práxis paisagista valida
a teorização geográfica sobre a paisagem ser tanto uma ideia ou modo de ver quanto o
resultado de práticas e processos que moldam aquilo que deve ser visto. Igualmente, que
a paisagem é um produto do trabalho e da criação contínua no tempo: seja a natureza em
forma de campo ou a natureza em forma de jardim, estamos sempre diante de projetos
(Cauquelin, 2000; Pires do Rio e Name, 2013). Por outro lado, como afirmam Cesar e Cidade
(2003), coexistiram nas diferentes abordagens do paisagismo, desde sua gênese na
metrópole moderno industrial fin-de-siècle, tanto o resgate de signos e valores ligados à
nostalgia e à beleza da vida bucólica quanto os movimentos de valorização do novo e do
progresso.
Diferentes concepções e práticas de projeto de paisagismo tanto acreditaram em certa
ciência projetiva capaz de ubiquamente transformar hábitos, práticas e sociedades como
raramente valorizaram outros aspectos da natureza que não fossem os estéticos. Somente
mais contemporaneamente surgiram abordagens valorizadoras do conforto ambiental, do
desenho de infraestruturas verdes, da interconectividade ecossistêmica e do uso de
espécies nativas (Chacel, 2004; Benedict e McMahon, 2006; Demantova, 2011). No
entanto, dentre as inúmeras vertentes do paisagismo contemporâneo (Cesar e Cidade,
2003; Farah et al., Orgs., 2010; Martignoni, 2008), e, sobretudo, no Sul Global, as
abordagens que dão atenção teórica ou prática às espécies vegetais que possam servir à
alimentação humana são exceção (Nahum, 2007; Name, 2016; Name e Moassab, 2014)
Contraditoriamente, é em lugares menos famintos – Europa, Estados Unidos e Austrália –
que o debate sobre o chamado “paisagismo comestível” tem sido mais frequente.
Movimentos sociais urbanos, acadêmicos e profissionais das artes vêm pregando a
produção autônoma de jardins e hortas comestíveis, caseiros ou comunitários, em
coberturas de edifícios ou espaços públicos (Braga e Zamith, 2014; Sánchez-Torija, 2013).
Também propõem as florestas comestíveis (ver Figura 2), i.e., projetos com grupamentos
heterogêneos que visem a recriar a interação ecossistêmica e os consórcios entre plantas
que sirvam à alimentação humana (Pereira da Costa, 2012; Poe et al., 2013).
No caso da América Latina, por exemplo, nos últimos anos é a discussão sobre plantas
alimentícias não convencionais, ou PANCs (Kinupp e Lorenzi, 2014) que tem se reforçado.
Morosamente também avançam projetos de paisagismo produtivo em áreas, sobretudo
rurais (sítios, chácaras etc.), que visam à produção de alimentos e são influenciados pela
agricultura urbana, a agroecologia e a permacultura. Muito mais praticados por
profissionais da agronomia e da botânica (Backes, 2013), apenas eventualmente são foco
de projetos de paisagistas (Nahum, 2007).
Figura 1. Representação de perfis ecológicos por estratos de floresta comestível
tropical (à esquerda) e temperada (à direita).
Fonte: Niñez (1987).
Figura 2. Floresta urbana comestível em mata pré-existente.
Legenda:
A – mata existente; B – plantação de
estratos inferiores; B’ – substituição de
espécies de estratos inferiores; B’’–
plantação de estratos inferiores.
Fonte: Pereira da Costa, 2012.
Figura 3. Perfil de uma estrutura vertical tradicional de um horto caseiro na América Central.
Fonte: Lok (1998).
Contudo o debate mais expressivo na região é sobre as hortas domésticas e comunitárias,
compreendidas como herança pré-colombiana e estratégia de sobrevivência. Em geral de
pequenas dimensões, estão presentes em áreas rurais, periurbanas e urbanas, incluindo
favelas e comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas, por exemplo). Manejadas em
especial por mulheres moradoras do espaço onde se encontram ou de seus arredores, são
projetos sem conhecimento técnico formal, mas que respeitam princípios agroflorestais:
têm variados estratos verticais e horizontais, espécies em consórcio e alta
agrobiodiversidade (Name, 2016). Trata-se de um conhecimento de processos naturais que
moldam as paisagens, aplicados à microescala e voltados à produção de alimentos que
garantem a subsistência; e que também podem proporcionar sombra e diminuição de
temperaturas (Niñez, 1987; Gillespie et al. 1993; Lok, Org., 1998; Winklerprins, 2002;
Mariaca, Org., 2012) (ver Figura 3).
É neste ponto que paisagem, paisagismo e espaço exterior doméstico se cruzam, com vistas
à produção de alimentos e à soberania alimentar.
ESPAÇO EXTERIOR DOMÉSTICO
Em pesquisas anteriores (Veríssimo, 2013), o termo “espaço exterior doméstico” (EED) foi
criado para explicar o espaço multifacetado a que se refere a área externa ao redor da
construção da casa; e que, no caso de estudo, Moçambique, é onde as atividades diárias
da família têm lugar, envolvendo fortes funções sociais e produtivas, bem como
reprodutivas. O EED é adaptado para integrar agricultura e negócios, dando forma a um
padrão de crescimento urbano verde e ruralizado (ver Figura 4).
Enfrentando a degradação da sua base de recursos naturais, problemas ambientais e
desemprego, residentes transformaram a utilização do espaço doméstico e reorganizaram
estratégias de produção para assegurar o seu sustento. O EED torna-se estrategicamente
ecológico e produtivo em termos de alimento, rendimentos, sombra e ar fresco e puro,
além do convívio social, não só para facilitar a adaptação em relação a problemas
ambientais, degradação de recursos, mudanças climáticas e transformação de políticas
económicas, mas em particular para reproduzir as condições naturais necessárias ao
sustento tradicionalmente ligado à natureza – “as estratégias de subsistência são
organizadas e desenvolvidas de maneira a permitir-lhes encarar a adversidade econômica
sem perderem a coesão e identidade familiar” (da Costa, 2002, p. 267). Como resposta à
escassez e à adversidade, isto garante que a “memória biocultural” (Toledo e BarreraBassols, 2008) se prolongue.
Para compreender o uso desta terminologia – EED – no lugar dos ocidentais
“pátio/quintal”, “lote” ou “talhão”, é necessário entender primeiro a noção coletiva de
“casa-aldeia” e “lar” dentro do contexto cultural de Moçambique. Os termos “casa”, “lar”
e “aldeia” têm exatamente o mesmo significado e são chamados muti nas línguas africanas
ronga e changana, as mais faladas em Moçambique. Muti pode ser descrito como
aglomerado doméstico, aldeia ou casario que alojem uma família muito extensa, com
árvores plantadas e várias casas ou cabanas e geralmente rodeado por uma área cultivada.
Já não se encontram aldeias que integrem várias gerações de membros da família, a não
ser em áreas muito remotas. Nas áreas rurais, o que no passado constituía uma mistura de
várias casas consiste, agora, em três a cinco casas. Enquanto as casas construídas servem
para dormir, armazenar e proteger da chuva, o EED é o centro da vida doméstica e social.
Seus limites são muito ambíguos, como o são as esferas privadas e públicas do espaço
doméstico. O caráter de urbanidade doméstica inerente ao EED facilita não só́ a
emergência de negócios domésticos, mas sobretudo a manutenção de redes sociais. Mais
importante é o que foi herdado da organização do espaço de acordo com funções e
componentes, do significado coletivo de habitação, dos materiais de construção e
tecnologia, além de o modo como estes evoluíram para responder às novas condições
ambientais, políticas, econômicas e sociais.
Definido aqui como a evolução do muti tradicional numa urbanização atual espontânea, o
EED foi adaptado e melhorado para resistir à opressão e adversidade, numa transformação
silenciosa para estabelecer uma segurança coletiva. Moldando as cidades moçambicanas,
o EED tem condições para adaptar o espaço doméstico a novas (agro e não agro) funções
produtivas: é estratégia de subsistência (alimentação e rendimento) e produz um
microclima no bairro confortável (sombra e ar fresco). Com base em princípios de
diversidade e flexibilidade, no EED culturas mistas intensivas são combinadas com gado,
serviços e comércio (ver Figuras 5 e 6), adaptando a produção de alimentos domésticos às
mudanças de clima e das reformas políticas e econômicas, lidando com recursos escassos
e gerando também renda. Os limites imprecisos entre as relações de parentesco alargadas
que ocorrem, do nível familiar no EED ao nível da comunidade de bairro, revelam o
potencial do EED para a organização coletiva.
Ainda que a conceituação ora apresentada tenha origem na observação de dinâmicas
moçambicanas, cremos que ela é útil para outros contextos. Afinal, em inúmeros lugares
as populações socioambientalmente vulneráveis realizam produção de subsistência nos
espaços livres de edificação de suas moradias e de seus bairros. Tais paisagens hortícolas
autogeridas (ver Figura 7), quando por exemplo em meio a populações latino-americanas
rurais, quilombolas ou indígenas, além de garantir acesso e certa autonomia em relação ao
consumo de alimentos, podem ser importantes tanto para a preservação de saberes
agrícolas e regimes dietéticos autóctones quanto para a resistência à pressão dos sistemas
agroindustriais (Gonzáles, 2012; Name, 2016).
Figura 4. Transformação do Espaço Exterior Doméstico e subsistência familiar
auto-organizada nos bairros do Dondo, Moçambique.
Fonte: Veríssimo (2014).
Figura 5. Subsistência e renda em espaço exterior doméstico do Dondo, Moçambique.
Fonte: Veríssimo (2010).
Figura 6. Trabalho e renda desenvolvidos em espaços exteriores domésticos do Dondo, Moçambique.
Fonte: Veríssimo (2010).
Figura 7. Agricultura de subsistência no Quilombo de Apepu, Santa Terezinha de Itaipu, Paraná, Brasil.
Fonte: acervo próprio (2015).
Neste sentido, os EED associados a uma discussão sobre paisagens e paisagismo
comestíveis voltados à soberania alimentar são uma oportunidade para que os debates em
arquitetura, paisagismo e geografia se aproximem das cosmovisões e espaços
correlacionados ao chamado buen vivir (Acosta, [2013] 2016), às noções de cura física e
espiritual por ervas cultivadas e utilizadas pelas religiões de matriz africana (Camargo,
2014; Ramos, 2016) e as práticas espaciais nos diferentes espaços livres junto à habitações
produzidas por saberes de raiz africana ou indígena (Moassab, 2016).
Além disso, o ordenamento da paisagem com base nos aspectos ecológicos, sobretudo em
áreas urbanizadas periféricas, possibilita um ambiente saudável e viável em longo prazo:
uma vez que aumenta a capacidade de troca de fluxo gênico entre espécies, potencializa o
papel recreativo da paisagem e contribui nos processos de regeneração ambiental (Bolund
e Hunhammar, 1999; Veríssimo, 2013), repercute positivamente para toda a população.
Um paisagismo interessado em auxiliar nestas tarefas deve compreender como
estratégicos os EED dos ambientes periurbanos ou urbanos: a ação projetiva pode auxiliar
na distribuição de serviços ecossistêmicos significativamente associados não apenas à
provisão de alimentos como também à regulação de importantes processos ecossistêmicos
– ação sobre o microclima, as dinâmicas hidrológicas e o controle de poluição. Mais ainda,
têm a importante função educativa de valorizar, difundir e auxiliar na preservação das
técnicas e conhecimentos sobre manejo de espécies provenientes de saberes
constantemente expropriados ou relegados ao esquecimento devido ao avanço dos
monocultivos sobre os territórios – saberes que coexistem, mas muitas vezes são
ameaçados, pela racionalidade moderna instrumental.
COMENTÁRIO FINAL
Ao contrário do que pensaram intelectuais da Geografia na segunda metade do século XX
e alguns dos propagadores acríticos da globalização contemporânea, o avanço da
modernidade-colonialidade não homogeneizou totalmente os espaços da superfície
terrestre, e, por isso, não eliminou os diferentes gêneros de vida. Particularidades ainda
persistem, em especial no que tange ao cultivo de plantas para alimentação – grande foco
de interesse vidalino, sejam em territórios marginalizados, aglomerados de exclusão e
movimentos sociais do Sul Global, sejam reinventados por movimentos sociais e práticas
mais comunitárias no Norte. Eles resistem em práticas de paisagismo que se afastam da
usualidade de produção de paisagens meramente belas e que produzem alimentos.
Existem, sobretudo, em espaços livres junto de onde diferentes grupos e pessoas vivem. O
paisagismo comestível foi aqui apresentado como instrumento voltado não só à reversão
dos desconhecimentos sobre espécies vegetais que sirvam à alimentação humana como
para ampliar as possibilidades de se acessá-la mais equitativamente. Muitas vezes a partir
de saberes que passam ao largo da racionalidade técnica e à revelia de paisagistas,
paisagens são transformadas a partir da intervenção contínua sobre os EED, pelos quais se
reorganizam estratégias de produção para assegurar sustento e qualidade ambiental. A
natureza diversificada e polissêmica do EED, que inclui localização, dispersão, isolamento,
concentração, inter-relação e dimensões privadas e públicas preserva uma relação humana
simbiótica com a natureza – fundamental para assegurar a soberania alimentar, a base de
recursos para a subsistência e a regeneração da vida natural. Assim, a prática de um
paisagismo comestível nos EED é um meio de resistência popular à marginalização.
Trata-se de conjunto de ações já praticado por não paisagistas, mas paisagistas podem
considerá-las como um meio de se incorporar às suas práticas projetivas o direito à
alimentação. É por isso que não só é desejável como necessário o entrelaçamento entre
paisagismo, arquitetura e geografia, útil tanto para o adensamento teórico quanto para a
prática projetiva – ambos interessados em processos geradores tanto de espaços livres
quanto de espaços construídos mais justos.
REFERÊNCIAS
ACOSTA, A. O bem viver. São Paulo: Elefante, (2013) 2016.
BACKES, M.A. Paisagismo produtivo. Revista brasileira de horticultura ornamental, v. 19,
n. 1, 2013, p. 47-54.
BASTOS, T.S. Autogestão habitacional e a desmercantilização da moradia: avanços e
retrocessos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Dissertação – Mestrado em
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2013.
BENEDICT, M. e MCMAHON, E.T. Green infrastructure. Washington: Island Press: 2006.
BERQUE, A. Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da problemática para uma
geografia cultural. In: CORRÊA, R.L. e ROSENDAHL, Z. (Orgs.). Paisagem, tempo e cultura.
Rio de Janeiro: EdUERJ, (1984) 1998, p. 84-91.
BOLUND, P. e HUNHAMMAR, S. Ecosystem services in urban areas. Ecological Economics,
n. 29, p. 293–301, 1999.
BRAGA, C.B. e ZAMITH, H. O jardim é uma arma de construção maciça! In: PIRES, H. et al.
(Orgs.). Jardins – Jardineiros – Jardinagem. Braga: Universidade do Minho, 2014, p. 158173.
CAMARGO, M.T.L.A. As plantas medicinais e o sagrado. São Paulo: Ícone, 2014.
CAUQUELIN, A. L´invention du paysage. Paris: Quadrige/PUF, 2000.
CESAR, L.P.M. e CIDADE, L.C.F. Ideologia, visões de mundo e práticas socioambientais no
paisagismo. Sociedade e Estado, v. 18, n. 1-2, p. 115-136, 2003.
CHACEL, F. Paisagismo e ecogênese. Rio de Janeiro: Artliber, 2004.
CHUGAR, I.M.Z. La preservación y revitalización del centro histórico como lugar de
memoria urbana: el caso de la Ciudad de Cochabamba, Bolivia. Conhisremi, v. 5, p. 1-14,
2009.
CHUGAR, I.M.Z. Gênese e transformações da habitação social na Bolívia: avaliação da
produção habitacional do Estado em Cochabamba no século XX. Tese – Doutorado em
Arquitetura. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2012.
CHUGAR, I.M.Z. A revitalização como elemento de sustentabilidade da paisagem urbana: o
caso do Corredor Cultural do Rio de Janeiro. AGIR - Revista Interdisciplinar de Ciências
Sociais e Humanas, v. 1, p. 1-18, 2013.
COSGROVE, D. Social formation and simbolic landscape. Madison: The University of
Wisconsin Press, 1984.
COSGROVE, D. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo das paisagens
humanas. In: CORRÊA, R.L. e ROSENDAHL, Z. (Orgs.). Paisagem, tempo e cultura. Rio de
Janeiro: EdUERJ, (1989) 1998, p. 92-123.
COSGROVE, D. Em direção a uma geografia cultural radical: problemas da teoria. Espaço e
cultura, n. 3, p. 5-42, (1989) 1996.
DA COSTA, A.B. Famílias na periferia de Maputo: estratégias de sobrevivência e
reprodução social. Tese – Doutorado em Estudos Africanos, Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa. Lisboa, 2002.
DA CUNHA, G.R. O Programa Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto/SP:
Estado, mercado, planejamento urbano e habitação. Tese – Doutorado em Teoria e
História de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2014.
DA CUNHA, G.R. e BUZZAR, M.A. A produção recente de habitação social no Brasil: o papel
do Estado e da sociedade civil no delineamento das políticas de habitação. In: Congresso
Internacional de Habitação no Espaço Lusófono, 2. Anais... Lisboa: LNEC, 2013.
DEMANTOVA, G.C. Redes técnicas e serviços ambientais. São Paulo: Annablume, 2011.
DOMINGUEZ, D. La Soberanía alimentaria como enfoque crítico y orientación alternativa
del sistema agroalimentario global. Pensamiento Americano, v. 8, n. 15, p. 146-175, 2015.
DUNCAN, J. The city as text. Cambridge: New York: The Cambridge University Press, 1990.
FAO. La seguridad alimentaria: información para la toma de decisiones Roma: FAO, 2011.
FAO, FIDA e PMA. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Roma, FAO: 2015.
FARAH, I., SCHLEE, M.B. e TARDIN, R. (Orgs.). Arquitetura paisagística contemporânea no
Brasil. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010.
GILLESPIE, A.R. KNUDSON, D.M. e GEILFUS, F. The structure of four home gardens in the
Petén, Guatemala. Agroforestry Systems, n. 24, p. 157-170, 1993.
HOLZER, Werther. Paisagem, imaginário, identidade: alternativas para o estudo geográfico.
In: CORRÊA, Roberto Lobato & ROSENDHAL, Zeny (Orgs.). Manifestações da cultura no
espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999, p. 149-168.
KINUPP, V.F. e LORENZI, H. Plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil. São
Paulo: Instituto Plantarum, 2014.
LEIGHLY, J (Org.). Land and life. A selection from the writings of Carl Otwin Sauer.
Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1963 [1941.
LOK, R. (Org.). Huertos caseros tradicionales de América Central. Turrialba: Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 1998.
MARIACA, R.M. (Org.). El huerto familiar del sureste de México. Chiapas/Tabasco:
Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco/Ecosur,
2012.
MARTIGNONI, J. Latinscapes. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
MOASSAB, A. O patrimônio arquitetônico no século 21. Para além da preservação uníssona
e do fetiche do objeto. Arquitextos, v. 17, n. 198.07, 2016.
MONTEZUMA, R.C.M. Funcionalidade e estabilidade ecológica na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro: o caso da Baixada de Jacarepaguá. GeoPuc , v. 4, p. 153-193, 2012.
NAHUM, N.N. Paisagismo produtivo na proteção e recuperação de vales urbanos.
Dissertação – Mestrado em Urbanismo. Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
Campinas, 2007.
NAME, L. O conceito de paisagem na geografia e sua relação com o conceito de cultura.
GeoTextos, v. 6, n. 2, p. 163-186, 2010a.
NAME, L. Paisagens para a América Latina e o Caribe famintos: paisagismo comestível com
base nos direitos humanos e voltado à justiça alimentar. In: Encontro Nacional de Ensino
de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, 13. Anais... Salvador, 2016.
NAME, L. e MOASSAB, A. Por um ensino de paisagismo crítico e emancipatório na América
Latina: um debate sobre tipos e paisagens dominantes e subalternos. In: Encontro Nacional
de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, 12. Anais...
Vitória, 2014.
NIÑEZ, V. Household gardens: theoretical and policy considerations. Agricultural Systems,
23, 1987, p. 167-186.
OLIVEIRA, R.R. e MONTEZUMA, R.C.M. História ambiental e ecologia da paisagem:
caminhos investigativos da geografia física. Mercator, v. 9, p. 117-128, 2010.
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paris, 1948. Disponível em:
www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf. Acesso em 25/05/2016.
ONU. Press Briefing by Special Rapporteur Right to Adequate Housing, 2005. Disponível
em www.un.org. Acesso em 13/09/2012.
PEREIRA DA COSTA, M.P. Florestas urbanas comestíveis: uma rede que podemos cultivar.
Dissertação – Mestrado em Arquitetura Paisagística. Universidade do Porto. Porto, 2012.
PIRES DO RIO, G.A. e NAME, L. O novo plano diretor do Rio de Janeiro e a reinvenção da
paisagem como patrimônio. In: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 15, 2013. Anais... Recife: ANPUR, 2013.
POE, M.R., MCLAIN, R.J., EMERY, M. e HURLEY, P.T. Urban forest justice and the rights to
wild foods, medicines, and materials in the city. Human Ecology, n. 41, p. 409-422, 2013.
PORTO-GONÇALVES, C.W. A globalização da natureza e a natureza da globalização. São
Paulo: Record, 2006.
RAMOS, M.E.R. Paisagismo como expressão de culturas: o patrimônio paisagístico afrobrasileiro. In: Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e
Urbanismo no Brasil, 13. Anais... Salvador, 2016.
ROSSET, P. Food sovereignty and the contemporary food crisis. Development, v. 51, n. 4, p.
460–463, 2008.
SÁNCHEZ-TORIJA, J.G. Instalaciones hortícolas. Embelleciendo la ciudad. Arte y Ciudad, n.
3, 2013, p. 539-556.
SAUER, C.O. The morphology of landscape. In: WIENS, J.A., MOSS, M.M., TURNER, M.G. e
MLADENOFF, D.J. (Orgs.). Foundation papers in landscape ecology. New York: Columbia
University Press, (1925) 2007, p. 36- 70.
SORRE, M. A noção de gênero de vida e seu valor atual. In: CORRÊA, R.L. e ROSENDHAL, Z.
Geografia cultural: um século (3). Rio de Janeiro: EdUERJ, (1948) 2002, p. 15-62.
TOLEDO, V.M. e BARRERA-BASSOLS, N. La memoria biocultural. Barcelona: Icaria Editorial,
2008.
TROLL, C. The geographic landscape and its investigation. In: WIENS, J.A., MOSS, M.M.,
TURNER, M.G. e MLADENOFF, D.J. (Orgs.). Foundation papers in landscape ecology. New
York: Columbia University Press, (1950) 2007, p. 71-101.
VERÍSSIMO, C. A importância do espaço doméstico exterior para um modelo de
ecodesenvolvimento de cidades médias. O caso do Dondo, Moçambique. Revista Crítica de
Ciências Sociais, v. 100, p. 177-212, 2013.
VERÍSSIMO, C. The Significance of Outdoor Domestic Space for an Ecodevelopment Model
of Medium-Size Cities. A Case Study of Dondo, Mozambique. RCCS Annual Review, v. 6, p.
6, 2014.
VIA CAMPESINA. Soberanía alimentaria, un futuro sin hambre. Roma, 1996. Disponível em
http://www.nyeleni.org/spip.php?article38. Acesso em 25/05/2016.
VIDAL DE LA BLACHE, P. Princípios de geografia humana. Lisboa: Edições Cosmos, (1921)
1954.
VIDAL DE LA BLACHE, P. Os gêneros de vida na geografia humana – primeiro artigo. In:
HAESBAERT, R., PEREIRA, S.N. e RIBEIRO, G. Vidal, Vidais: textos de geografia humana,
regional e política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, (1911) 2012a, p. 131-158.
VIDAL DE LA BLACHE, P. Os gêneros de vida na geografia humana – segundo artigo. In:
HAESBAERT, R., PEREIRA, S.N. e RIBEIRO, G. Vidal, Vidais: textos de geografia humana,
regional e política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, (1911) 2012b, p. 159-180.
VITTE, A.C. O desenvolvimento do conceito de paisagem e a sua inserção na geografia física.
Mercator, v. 6, n. 11, p. 71-78, 2007.
WINKLERPRINS, A.M.G.A. House-lot gardens in Santarém, Pará, Brazil: linking rural with
urban. Urban Ecosystems, n. 6, p. 43-66, 2002.