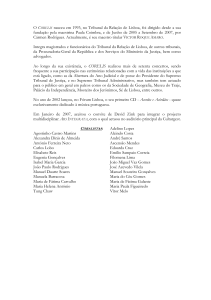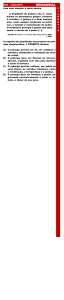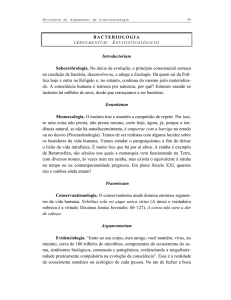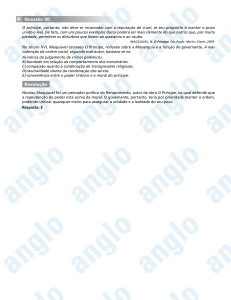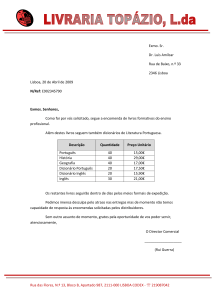2º Centenário das Invasões Francesas
A Corte Portuguesa no Brasil (1808 – 1821) – 3ª Parte / A
O regresso da paz à Europa.
Depois de vinte anos de guerra, a 11 de Abril de 1814, Napoleão assinava, em
Fontainebleau, a capitulação, retirando-se para a ilha de Elba, sendo-lhe ainda permitido
conservar o título de imperador que, como expressão política, nada valia. Ao mesmo
tempo era restaurado o trono dos Bourbons e reconhecida a realeza ao Duque da
Provença, irmão de Luis XVI, que tomou o título de Luis XVIII, seguindo-se a
Convenção de Paris celebrada entre a França e os aliados, a fim de proceder à suspensão
das hostilidades.
De acordo com o Tratado, assinado a 30 de Maio
de 1814, a França comprometia-se a aceitar e a
reconhecer as fronteiras anteriores a 1792, ou seja,
como estavam definidas nas vésperas do expansionismo
napoleónico. Sobre os restantes problemas, as potências
vencedoras tomaram a resolução de se reunir em
congresso onde se procurasse regular o equilíbrio
europeu, deliberando acerca dos territórios de que
Napoleão se apossara.
Foi em Viena, capital da Áustria, que monarcas e
diplomatas se reuniram para reorganizar as relações
internacionais do Velho Continente e onde, desde Setembro de 1814, se concentraram
os olhares dos europeus.
Cerca de cem mil pessoas, segundo as estimativas – czares e imperadores, reis e
grão-duques, duques e ministros, assessores, comerciantes, rameiras, banqueiros,
bispos, generais, e um sem-número de criados – viajaram até Viena para participar no
«maior acontecimento social e diplomático da história moderna», na opinião de todos
os historiadores, actuais e contemporâneos.
Carlos Jaca
1
No Tratado de Paris acordou-se, inicialmente, que todos os Estados signatários
(Inglaterra, Rússia, Prússia, Áustria, Suécia, Espanha, Portugal e França) participassem
no Congresso, só que as primeiras quatro potências, os «Quatro Grandes»,
considerando-se os verdadeiros vencedores decidiram serem eles a assumir a
presidência e a direcção do Congresso. Durante as negociações preparatórias, iniciadas
a 16 de Setembros de 1814, os «Quatro Grandes» acordaram secretamente em se
reservar o direito de ditar a última palavra sobre os problemas de ordem territorial.
O facto é que, os seus principais representantes, Castlereagh, Ministro dos
Negócios Estrangeiros da Inglaterra, o Príncipe de Metternich, Chanceler austríaco, o
Conde de Nesselrode, Secretário de Estado da Rússia e o Chanceler Hardenberg,
representante da Prússia, reuniram-se sem convocar as restantes potências. A isto reagiu
a França por intermédio do seu Ministro dos Estrangeiros, Talleyrand, que acabou por
conseguir, graças à sua experiência e tacto diplomático, romper o bloco constituído pela
Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria, de modo que os oito signatários pudessem passar a
sentar-se à mesa das negociações sem que, afinal, se chegasse a realizar qualquer
assembleia plenária onde participassem representantes dos pequenos Estados. Mesmo
assim, a situação não deixava de ser complicada no próprio bloco director, agora com a
França incluída.
A Inglaterra pretendia isolar a França, de modo a ficarem anulados os seus
intentos bélicos e “ensanduichando-a” entre vizinhos poderosos; a Rússia, que pretendia
ser considerada como a «libertadora da Europa», tinha como objectivo aumentar os
seus domínios na Polónia e na Saxónia; a Áustria pretendia alargar o seu território à
custa da Itália e poder interferir na nova reorganização da Alemanha; a Prússia aspirava
a unificar os seus territórios ocidentais com os antigos territórios germânicos, a leste do
rio Elba e, ainda, assegurar o predomínio da Alemanha. Em contrapartida, a França
preocupava-se em não ser obrigada a aceitar excessivas perdas e, sobretudo, a ser
reconhecida pelas grandes potências, como uma delas.
A reorganização da Europa teria de se ajustar a este jogo de interesses, situação
que só depois de difíceis e prolongadas negociações, ameaçadas, não poucas vezes, por
uma declaração de guerra se conseguiu.
Carlos Jaca
2
Portugal no Congresso de Viena. Plenipotenciários ao Congresso.
Portugal não esteve, praticamente, representado na reunião de Paris, preparatória
do Congresso, tendo sido a Inglaterra que se ocupou de lhe defender!!! os interesses,
limitando-se o delegado português, o Conde do Funchal, D. Domingos de Sousa
Coutinho, irmão de D. Rodrigo, Conde de Linhares falecido em 1812, a assinar o
Tratado de 30 de Maio de 1814, e mesmo assim só alguns dias depois de o terem feito
os representantes das grandes potências.
Efectivamente, a nossa posição era subalterna em termos políticos, porquanto a
ausência da Corte no Brasil enfraquecia a legitimidade dos nossos direitos e, também,
pelo facto da acção dos nossos diplomatas ter forçosamente de gravitar na órbita
inglesa: «Tal será sempre a sorte de todo o Estado que, para conservar a sua
independência contra o ataque de um inimigo, carece de se entregar nas mãos de um
aliado poderoso e cheio de ambição e orgulho». Porém, este “statu quo” iria sofrer
profundas alterações.
A mais de seis meses da abertura do Congresso de Viena, Araújo de Azevedo,
em breve, Conde da Barca, afastado em 1807, e que
Linhares tanto acusara de alta traição, é chamado de novo
ao Gabinete. Tido, como se sabe, por adversário das
posições
da
Inglaterra,
Strangford,
representante
diplomático britânico, protestou violentamente contra a sua
nomeação. Certamente, por via disso, o Príncipe Regente
não lhe terá confiado a pasta dos Estrangeiros e Guerra,
atribuindo-lhe a da Marinha e Colónias, o que não impediu
Araújo de ser o verdadeiro condutor da política externa
portuguesa.
A esta nova orientação do Governo do Rio, em que se achavam empenhados o
Príncipe Regente e o seu novo ministro, não será de estranhar a nova situação
internacional, pois as perspectivas alimentavam a esperança de Portugal encontrar na
Europa novos pontos de apoio, alargando as nossas relações externas, limitadas desde
1808, no fundamental, aos laços liberais do Gabinete de S. James.
Carlos Jaca
3
A pouco e pouco verificava-se que as relações com a Inglaterra não eram já as
melhores. Significativo é o facto do Príncipe Regente solicitar a S. M. B. a substituição
de Strangford que, devido às suas insolências e ao seu inconveniente envolvimento na
política portuguesa, se viu constrangido a regressar à Europa. Neste caso, será de levar
em conta a influência de Araújo de Azevedo, bem como uma das primeiras decisões
tomadas acerca do Congresso de Viena: o afastamento do Conde do Funchal, do
número dos plenipotenciários, que representariam Portugal em Viena.
Em ofício de 26 de Março, para com o Príncipe Regente, já o Conde da Barca
afirmava que se com tal embaixador em Londres era «impossível terminar negócio
algum favoravelmente à Coroa de Portugal, para os negócios do Congresso seria tão
prejudicial como tem sido para todos os outros». Acabou por ser transferido para
Roma.
Em Viena, Portugal fez-se representar por D. Pedro de Sousa Holstein, Conde,
depois Duque de Palmela, e que então desempenhava as funções de ministro de
Portugal em Londres, cabendo-lhe a chefia da missão; António Saldanha da Gama,
antigo governante de Angola e do Maranhão, que provavelmente desempenharia o papel
de “expert” em matéria de trafico de escravos e D. Joaquim Lobo da Silveira, nosso
ministro em Sampetersburgo. Ainda por indicação de Araújo, foi Ambrósio Reis
nomeado Conselheiro e Secretário Geral da legação.
As questões de grande interesse nacional.
O primeiro obstáculo que se deparou aos representantes de Portugal tinha a ver
com a própria participação no Congresso e, ainda, com a constituição de uma comissão
restrita, os «Quatro Grandes», à qual caberia a preparação das grandes decisões o que, à
partida, excluiria a legação portuguesa da fase preparatória e, consequentemente, da sua
intervenção nos casos mais importantes.
A situação era extremamente complicada, uma vez que Portugal enfrentava a
oposição das outras potências, não só pelo facto da inclusão portuguesa ser considerada
como preocupante pelos Estados de igual dimensão, mas também como uma forma de
reforçar a influência britânica, dada a imagem da dependência do nosso País em relação
à Inglaterra.
Palmela, lutando contra o facto de Portugal ser considerado um protectorado
inglês, ou uma potência de 3ª classe, lançou uma proposta que acabou por ser aceite por
Carlos Jaca
4
todas as partes: a inclusão na comissão restrita de todas as nações signatárias da paz
geral de Paris, isto é, Portugal e a Suécia, obviamente as quatro potências principais e a
França e a Espanha, que ascendiam assim a uma posição de paridade com as nações da
«Quádrupla Aliança» e porque convinha especialmente à Grã-Bretanha, que via assim
contida
influência
a
dos
impérios
continentais.
Depois
de resolvido o
problema
da
presença
de
Portugal
na
direcção formal
do Congresso, os
plenipotenciários
portugueses defrontavam-se, agora, com as questões de fundo que interessavam ao
nosso País e que se limitavam a três: restituição da Guiana à França, com a respectiva
fixação dos limites com o Brasil, a recuperação de Olivença e, sobretudo, com a
abolição do tráfico de escravos. Esta última era uma questão essencial, não só por si
própria, mas também pela influência que viria a ter em algumas compensações obtidas a
partir de cedências da nossa parte, às quais, de qualquer modo, não podíamos fugir.
Abolição do tráfico de escravos – Era forte o desejo da Inglaterra em promover o
movimento abolicionista, tendo o Parlamento votado, em 1801, o tráfico de escravos.
Nas conferências de Paris, de 1814, também este assunto foi tratado e, em Viena,
Talleyrand na sessão de 10 de Dezembro, propôs que as duas potências se
comprometiam ou obrigavam a «unir os seus esforços no Congresso para fazer
declarar por todas as potências da cristandade a abolição do tráfico de negros».
Foi este o primeiro ponto, questão essencial, a tratar pelos plenipotenciários
portugueses, através de contactos bilaterais com os representantes britânicos, num
encontro com Castlereagh, a 9 de Novembro de 1814.
O ministro inglês, «depois de falar em geral sobre o comércio da escravatura,
sobre a popularidade que a abolição deste negócio tinha em Inglaterra e sobre os
Carlos Jaca
5
insultos e invectivas que ele havia sofrido em Londres por não ter conseguido do
governo da França a abolição imediata deste tráfico», informou que a Grã-Bretanha
não abdicava de alcançar do Congresso a extinção definitiva do comércio negreiro, no
prazo máximo de cinco anos já estabelecido pela França no Tratado de Paris, se não
pudesse realizar-se de imediato; devendo, em todo o caso, cessar desde já a exportação
de mão-de-obra africana a norte do equador. E mais, como meio de pressão a utilizar
contra os países que se recusassem a colaborar nestes objectivos, afirmava que «se
propunha a pedir a todas as Potências, que não admitissem os géneros coloniais
daquelas que não
quisessem aceder
ao
sistema
da
abolição
da
escravatura…».
A situação
dificultava
o
campo de acção
dos
nossos
plenipotenciários,
deixando-os
em
maus “lençóis”, essencialmente, pelo seguinte: seis meses antes, a 16 de Junho de 1814,
haviam recebido ordens para se imporem terminantemente ao desejo do governo
britânico que, como se referiu, consistia em terminar definitivamente com o comércio
de escravos. As instruções enviadas aos negociadores portugueses eram, de facto,
absolutamente intransigentes: «A ruína deste vasto e precioso território do Brasil é
infalível, se a Inglaterra consolida com a união de outras Potências. Portanto fará V.
Ex.ª quantas diligências forem praticáveis para a evitar, tratando gravemente sobre
esta matéria com o ministro de Estado que acompanha o Imperador da Rússia, ou com
os seus plenipotenciários, para os sondar ou convencer a este respeito.
Este assunto é tão grave que Sua Alteza Real determina (quando não seja
possível evitá-lo por outro modo) que V. Ex.ª declare que tem ordem positiva para se
recusar à assinatura, e somente na última extremidade poderá assinar “sub spe rati”,
fazendo juntamente com os seus colegas um protesto contra esta exigência forçada».
Considere-se, ainda, que as dificuldades não deixavam de ser agravadas pelas
comunicações Viena – Rio – Viena, pelo facto de impedirem o curso normal das
Carlos Jaca
6
negociações. Mais de quatro meses mediavam entre o momento em que se enviava uma
informação na Europa e aquela em que se recebia a resposta da América. Daí, não
admirar o inevitável desfasamento entre a legação portuguesa em Viena e o Governo
sedeado no Rio, acontecendo até, devido à celeridade dos acontecimentos na Europa,
que boa parte das instruções estivessem já ultrapassadas no momento em que eram
redigidas. Refira-se que só a 8 de Janeiro de 1815 chegou ao Conde de Palmela a
comunicação oficial da Corte do Rio de não ratificar o Tratado de Paris, concluído a 30
de Maio de1814.
Acontece que a entrevista com Castlereagh terá convencido Palmela e os seus
colegas de legação a transigir, afastando-se das instruções enviadas do Rio, visto
retirarem-lhes qualquer espaço de manobra. Assim, dois dias depois, a 11 de Novembro,
os representantes portugueses assinaram uma «declaração» onde se responsabilizavam
pela alteração da linha indicada pelo nosso Governo e dispostos a negociarem com
Castlereagh a «fixação de limites temporais e espaciais ao tráfico de escravos». Os
delegados portugueses concluíam que seria uma difícil e inútil empresa a oposição à
exigência da Grã-Bretanha, pelo que entendiam resultar «um mal menor em fazer pagar
ao Governo inglês a condescendência que exige de Sua Alteza Real o Príncipe nosso
Senhor, do que em permitir que essas concessões nos sejam arrancadas violentamente
pelas negociações da Potências unidas no Congresso…».
Perante esta situação, não havia, consideravam, outra alternativa: embora
reconhecendo que para tanto não tinham mandato, era conveniente tomar a iniciativa
das negociações com a Grã-Bretanha sobre o tráfico de escravos, anuindo em limitá-lo e
aboli-lo a prazo, situação que mais tarde ou mais cedo seria inevitável, mas impondo
condições e obtendo vantagens que de outro modo se não conseguiriam.
Porém, a legação portuguesa apontava para um outro tipo de considerações que
ultrapassava a esfera do tráfico de escravos: a restituição de Olivença, a fixação dos
limites da Guiana e anulação do Tratado de 1810. Perante tão ponderosos motivos,
Palmela, Saldanha da Gama e Lobo da Silveira decidiram “saltar” por cima das
instruções enviadas do Rio de Janeiro e adoptar a orientação possível: «Concordámos,
pois, em condescender em última instância com as vistas da Inglaterra, proibindo o
comércio da escravatura a norte do equador desde a ratificação do Tratado a concluir
entre os dois países, conservando-se por espaço de oito anos ao sul desta linha […]».
Carlos Jaca
7
Estavam as “coisas” nesta conformidade quando, e já o referi, a 8 de Janeiro de
1815, chegou a Viena a comunicação oficial da Corte do Rio de não ratificar o Tratado
de Paris de 30 de Maio de 1814.
Obviamente, que ao terem conhecimento da não ratificação do Tratado, passados
longos meses da sua assinatura, os enviados portugueses a Viena não deixaram de ficar,
justificadamente, apreensivos porquanto as negociações, que então, estavam em curso,
ultrapassavam largamente as instruções enviadas do Rio e, nesta circunstância, os
nossos representantes temiam, naturalmente, a má impressão que a notícia iria causar
aos plenipotenciários estrangeiros.
Perante tão delicada situação, em que as apreensões de Palmela, Saldanha da
Gama e Lobo da Silveira eram tanto mais justificadas quanto estavam convictos que
precisavam de criar um ambiente geral de simpatia, sem o qual não era possível fazer
vingar os pontos de vista portugueses nas questões a debater no Congresso, acordaram
em prosseguir os contactos pendentes com Castlereagh, representante inglês
e…resolveram transigir.
O processo não podia padecer demora, nem era momento para hesitações, por
conseguinte, Palmela, em 12 de Janeiro, avançou com uma proposta à qual o ministro
britânico apenas opôs objecções sem qualquer relevância e que veio a servir de base ao
acordo formalizado na convenção e no tratado assinados a 21 e 22 de Janeiro,
respectivamente.
Pela convenção, a Grâ-Bretanha disponibilizava a Portugal uma soma de
300.000 £, para «satisfazer as reclamações feitas dos navios portugueses apresados por
cruzadores britânicos antes de 1 de Junho de 1814»; quanto ao tratado, o seu principal
objectivo era a proibição do tráfico de escravos por súbditos portugueses, a norte do
equador, a sul o tráfico continuaria a ser permitido, mas apenas a partir dos domínios
portugueses ou nos territórios sobre os quais a Coroa de Portugal reservava os seus
direitos no tratado de aliança de 1810, e com destino às «possessões transatlânticas»
dessa mesma Coroa, ficando interdita a utilização da bandeira portuguesa para fornecer
escravos às colónias de outros Estados. O nosso Governo comprometia-se, ainda, a
«fixar por um tratado separado [com a Grã-Bretanha] o período em que o comércio de
escravos [houvesse] de cessar universalmente e de ser proibido em todos os domínios
de Portugal»; em contrapartida, a Inglaterra aceitava em «desistir da cobrança de todos
os pagamentos que ainda restava fazer para completa solução do empréstimo de
600.000 libras esterlinas, contraído em Londres por conta de Portugal no ano de
Carlos Jaca
8
1809»; anuía a que se declarasse nulo «e de nenhum efeito em todas as partes» o tratado
de aliança de 1810, mas ressalvando a validade dos «antigos tratados de aliança,
amizade e garantia», que se tinham por renovados; conservava-se ainda em vigor o
artigo secreto que impedia o estabelecimento da Inquisição no Brasil.
Ao comentar os dois acordos de 21 e 22 de Janeiro, em ofício remetido para o
Rio, os plenipotenciários portugueses ao Congresso de Viena, consideravam-nos como
uma vitória notável da sua diplomacia.
Terminadas, no essencial, as negociações sobre o tráfico dos escravos, cumpria,
agora, à legação portuguesa tentar resolver no Congresso as questões da Guiana e de
Olivença.
A Guiana Francesa – Quando, em Paris, se reuniram pela primeira vez, os delegados
das várias nações que tinham estado em guerra com Napoleão, o artº 10º do Tratado
estipulava a restituição do território da Guiana Francesa, que uma expedição brasileira,
com o apoio naval da Inglaterra, tomara em começos de 1809. Esta colónia francesa
continuava sob o domínio português, que se desejava conservar a título de
indemnização pelas «exorbitantes extorsões e incomensuráveis danos que por espaço
de vinte e dois anos a França fez a Portugal (e de que a mesma Guiana é ainda não
equivalente compensação), além das avultadas despesas que na presente guerra tem
feito, cooperando com tanta eficácia para a restauração da Monarquia Francesa».
O delegado português, Conde do Funchal, teve de transigir na restituição da
Guiana, em face das imposições que lhe fizeram, declarando, no entanto, que pela
«inserção do artigo 10º não entende desistir em nome da sua Corte do limite do
Oyapock (isto é, do rio que desemboca no Oceano entre o 4º e 5º grau de latitude
Norte) entre as duas Guianas Portuguesa e Francesa, limite que lhe é prescrito nas
suas instruções absolutamente sem interpretação ou modificação alguma,
já como
direito reconhecido pelo tratado de Utrecht, já como indemnização pelas reclamações
de Portugal a cargo da França».
Como era de prever que tal restituição trouxesse consigo novamente a discussão
relativa à fronteira portuguesa na região do Amazonas, o Tratado, prevenindo-a,
determinava: «Fazendo o efeito desta estipulação reviver a contestação existente
naquela época a respeito dos limites, fica convencionado que esta contestação será
terminada por um arranjamento amigável entre as duas cortes, debaixo da mediação de
Sua Majestade Britânica».
Carlos Jaca
9
Efectivamente, o Governo do Rio ao ter conhecimento do Tratado de Paris, pelo
qual no seu artigo 10º, nos obrigávamos a restituir a Guiana à França, decidiu que o
Príncipe Regente o não ratificasse nas condições estipuladas, situação que só veio a
resolver-se durante os trabalhos do Congresso. Assim foi.
Após demorada análise da situação, e ao fim de porfiados esforços, os nossos
plenipotenciários conseguiram que, embora cedendo a Guiana, o limite entre os
territórios portugueses e franceses, ao norte do Amazonas, fosse aquele que nós
pretendíamos, e que ficou estabelecido no artº 107 do Tratado final de Viena, em 9 de
Junho de 1815.
Restituição de Olivença – Quando a 20 de Maio de 1801, as tropas espanholas
violaram a nossa fronteira, consequência das fortes pressões napoleónicas, Olivença
entregou-se sem resistência. Os tratados de Badajoz, (6 de Junho) e de Madrid (29 de
Setembro) daquele ano, ratificaram a conquista, embora ao ser assinado o tratado de paz
entre a França e a Inglaterra se tivesse criado a esperança em recuperar a Praça
fronteiriça, uma vez que o seu artigo 6º determinava que os territórios e possessões de
Sua Majestade Fidelíssima seriam mantidos na sua integridade, só que…um artigo
secreto
sancionava
a
sua
extorsão.
Também, no princípio
de 1810, D. Pedro de Sousa
Holstein,
encontrava
que
em
então
se
Madrid,
instruído para pugnar pelos
direitos de D. Carlota Joaquina
ao trono de Espanha, conseguiu
negociar com o Conselho de Regência, um tratado de aliança que no seu artigo 4º
declarava: «A fin de borrar enteramente la memoria de las funestas disensiones, que
existiam entre las dos monarquias contra los interesses de ambos, consiente el gobierno
español en que la ciudad de Olivenza, su territorio y dependencias sean reunidas de
nuevo á perpetuidad á la corona de Portugal…». Por su parte, Su Alteza Real, el
Principe Regente de Portugal, atendidas las reclamaciones á que la España piensa
tener derecho en la América meridional, fundado en el tratado de limites de 1777,
conviene en que nombren por ambas partes un igual número de comissarios
Carlos Jaca
10
encargados de verificar qualquer infraccion involuntaria, que pueda haver tenido el
referido tratado de limites en las posesiones de las dos coronas, en la América
meridional, debiendose en un plazo indicado restablecer exactamente en su vigor todo
lo que se estipuló en el sobredicho tratado».
A não concretização deste tratado terá ficado a dever-se ao facto da Inglaterra
não ter conveniência numa relação estável entre os dois países ibéricos, mas também ao
desinteresse manifestado pela Corte do Rio de Janeiro.
No Tratado de Paris de 30 de Maio de 1814, Olivença era-nos indirectamente
restituída, porquanto no artigo 3º dos adicionais declarava-se que «especialmente os
tratados assinados em Badajoz e Madrid em 1801, ficam nulos e sem nenhum efeito»
em virtude «de que o estado de guerra entre as duas potências anulava os tratados e
convenções anteriores».
A questão de Olivença viria a ser tratada novamente no decurso dos trabalhos do
Congresso de Viena. Aqui, os plenipotenciários portugueses esforçaram-se por
conseguir o apoio das potências nas suas pretensões, logrando inserir no Tratado um
artigo, o 105, que determinava textualmente: «As Potências, reconhecendo a justiça das
reclamações formuladas por Sua Alteza Real, o Príncipe Regente de Portugal e do
Brasil, sobre a vila de Olivença e os outros territórios cedidos à Espanha pelo tratado
de Badajoz de 1801, e considerando a restituição destes objectos como uma das
medidas adequadas a assegurar entre os dois Reinos da Península aquela boa
harmonia, completa e estável, cuja conservação em todas as partes da Europa tem sido
o fim constante das suas negociações, formalmente se obrigam a empregar por meios
conciliatórios os seus mais eficazes esforços a fim de que se efectue a retrocessão dos
ditos territórios a favor de Portugal. E as potências reconhecem, tanto quanto depende
de cada uma delas, que este ajuste deve ter lugar o mais brevemente possível».
Palmela, Saldanha da Gama e Lobo da Silveira terão ficado convencidos que
esta disposição seria suficiente para obrigar a Espanha à restituição de Olivença, logo
que assinasse o Tratado o que, e como se sabe, nunca veio a acontecer. O Governo
espanhol, por intermédio do seu plenipotenciário, D. Pedro Gomes Labrador, recusou-se
a assinar o Tratado de Viena, de 9 de Junho de 1815, descontente com os seus
resultados, apresentando um protesto contra várias das suas deliberações, entre as quais
a «singular recomendação» relativa à retrocessão, o que retirava qualquer eficácia à
entrega de Olivença.
Carlos Jaca
11
Mais tarde, quando dos enlaces matrimoniais de Fernando VII e de seu irmão D.
Carlos, com as Infantas portuguesas D. Maria Isabel e D. Maria Francisca, em 29 de
Setembro de 1816, é indubitável que a questão de Olivença voltou a ser negociada. Já
anteriormente, em carta de 27 de Outubro de 1815, D. José Luis de Sousa, então nosso
ministro em Madrid, informava para Lisboa: «…sendo de esperar, nesta ocasião em que
vão estreitar-se por novos enlaces os vínculos de sangue e amizade que existem há
tantos séculos entre os Soberanos de Portugal e da Espanha, que Sua Majestade
Católica quererá fazer a restituição da praça de Olivença, seu territorio e povos…». A
situação permaneceu na mesma.
A Espanha só veio a assinar o Tratado, em 10 de Junho de 1817, quando lhe foi
deferida a sua reclamação aos ducados de Parma, Placência e Guastalla, porém, apesar
disso recusou a retrocessão de Olivença. Escamoteando o cumprimento desse dever,
argumentou com um incidente ocorrido no Brasil – a invasão das terras cisalpinas por
tropas portuguesas, que tinham ocupado Montevideu em Janeiro de 1817. Assim, a sua
recuperação ficou sendo – e é-o ainda em nossos dias, passados mais de duzentos anos e
embora afastada das negociações diplomáticas – um problema em aberto.
Em Portugal, sempre que se proporcionou, ou que se pôde, tem-se insistido na
justa devolução da antiga praça portuguesa, quer por meio de instituições de cultura,
com base na força do direito que foram buscar à história quer, ainda, pela voz do
sentimento popular, que nunca deixou de considerar Olivença como terra portuguesa.
Como nota final, em relação ao Congresso, deve destacar-se o extraordinário
esforço dos nossos diplomatas, que conseguiram elevar Portugal a uma posição de
destaque em assembleias onde, quase somente, tinham voz as grandes potências.
De certo, ninguém podia exigir que os plenipotenciários portugueses tivessem
um peso significativo na decisão das questões territoriais que interessavam,
imediatamente, às potências de primeira ordem. De qualquer modo, a actuação da
legação portuguesa não deixou de merecer toda a atenção, granjeando os elogios que lhe
eram devidos. Porém, sempre que se tratava de negócios, ou de chamar a si algumas
vantagens mais satisfatórias, não beneficiámos de verdadeiro apoio de qualquer
Gabinete, sendo obrigados a lutar com as nossas próprias forças, nomeadamente, contra
a Inglaterra, contra a França e a Espanha.
Nota: quando o Congresso se aproximava do final deu-se o regresso de Napoleão da
ilha de Elba para o «Governo dos Cem Dias», perturbando os trabalhos desde Abril de
Carlos Jaca
12
1815. A Europa viu-se forçada a recorrer, de novo, às armas. Poucos dias depois de se
encerrar o Congresso, as tropas aliadas, apertando o cerco militar, derrotam Napoleão
nos campos de Waterloo. Exilado para Santa Helena, uma ilha situada perto da costa da
África meridional, aí veio a falecer em 1821.
Elevação do Brasil à categoria de Reino.
Foi em pleno Congresso de Viena que os nossos plenipotenciários Conde de
Palmela, Saldanha da Gama e Lobo da Silveira, em Janeiro de 1815, escreveram ao
Marquês de Aguiar, então Ministro da Guerra e Estrangeiros, transmitindo a sugestão
que lhes havia feito o representante francês, Príncipe de Talleyrand – a elevação do
Brasil a Reino.
Concordando com a ideia, D. João assinou o documento em que o Estado do
Brasil era elevado à categoria de Reino e unido a Portugal e aos Algarves, para
formarem um só corpo político.
Efectivamente, a Carta de Lei de 16 de Dezembro de 1815, pela qual era criado
o Reino de Portugal, Brasil e
Algarves, fundamentava-se na
«importância devida à vastidão
e
localidade
dos
Meus
Domínios da América, à cópia,
e
verdade
dos
preciosos
elementos de riqueza, que eles
em si contêm: e outrossim
reconhecendo
quanto
seja
vantajosa aos Meus fiéis Vassalos em geral uma
perfeita união, e identidade entre os Meus Reinos de Portugal, e dos Algarves, e os
Meus Domínios do Brasil, erigindo estes àquela graduação, e categoria política, que
pelos sobreditos predicados lhes deve competir, e na qual os ditos Meus Domínios já
foram considerados pelos Plenipotenciários das Potências, que formaram o Congresso
de Viena».
O Brasil viria a ter armas próprias, «para symbolo da União, e identidade dos
referidos três Reynos». Teriam elas uma esfera armilar de ouro em campo azul,
Carlos Jaca
13
passando o escudo real português a inscrever-se na mesma esfera, com a heráldica dos
três reinos «e das mais partes integrantes da Minha Monarquia».
A ideia teria, de facto, partido exclusivamente de Talleyrand? Parece que não.
Segundo a correspondência reservada dos plenipotenciários portugueses,
Talleyrand conversando demoradamente «com um deles» (certamente Palmela), e
depois de esclarecido sobre os recursos, governo e condições do Brasil, teria
aconselhado os delegados de Portugal a convencer D. João das vantagens da Corte se
manter no Rio de Janeiro, pelo menos por algum tempo mais, ficando o Governo de
Lisboa entregue ao Príncipe D. Pedro, a fim de satisfazer os portugueses.
Conforme versão dos plenipotenciários, na referida conversa, Talleyrand, um
político e diplomata de primeira “água”, teria considerado que conviria a Portugal, e
mesmo a toda Europa, por um prazo tão longo quanto fosse possível, a ligação entre as
nossas possessões europeias e americanas. Comentava, ainda, o transtorno causado no
«edifício europeu» pela revolução Americana inglesa, «que nós tão imprudentemente
apoiámos», acrescentando que as colónias espanholas pelo mau governo da actual
monarquia, podiam contar-se como perdidas para a Europa e, nessas circunstâncias, o
representante francês, tinha por excelente que, por todos os meios possíveis, se
estreitasse a ligação entre Portugal e o Brasil, «devendo este país, para lisonjear os seus
povos, para destruir a ideia de Colónia, que tanto lhes desagrada, receber o título de
Reino, e vosso Soberano ser Rei do Reino Unido de Portugal e do Brasil».
«Podeis, – concluía, no dizer dos plenipotenciários, – se julgardes conveniente,
manifestar que vos sugeri estas ideias e que tal é o meu voto bem decidido».
Oliveira Lima aduz uma série de argumentos, que seria fastidioso aqui
desenvolver, rejeitando liminarmente a paternidade da ideia atribuída a Talleyrand.
Acontece é que, como prova o grande estudioso brasileiro, se tratou de um habilidoso
artifício de Palmela para fazer passar um conselho seu como se fosse de outro. Neste
caso, só pode ter havido dissimulação do nome do chefe da legação portuguesa.
Significativo é o facto de, nas suas memórias das questões portuguesas,
Talleyrand apenas fazer referências, e ligeiras, ao tráfico de escravos, assuntos coloniais
e «estado d’alma das populações ultramarinas». E mais, Araújo de Azevedo, autor da
lei de 16 de Dezembro de 1815, ao receber as felicitações de Maler, Encarregado de
Negócios francês, pela deliberação tomada, diz-lhe que a medida da elevação do Brasil
Carlos Jaca
14
a Reino tivera o vivo apoio de Talleyrand, mas que a ideia não partira dele, como consta
de documento existente no Arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros de França.
Mesmo antes de receberem qualquer resposta do Rio de Janeiro, os
plenipotenciários não tiveram qualquer dúvida em assinar diversos actos internacionais,
em Abril de 1815, referindo-se a D. João como «Prince Régent du Royaune de Portugal
et de celui de Brésil», o que permitiria que se aceitasse ou não a fórmula proposta.
Parece não haver quaisquer dúvidas em aceitar que Araújo de Azevedo e os
plenipotenciários de Viena foram os mentores da elevação do Brasil a Reino, que não
foi mais do que a consagração de um facto consumado, o legitimar de uma situação a
que não havia que fugir:
«Quando mesmo Palmela não tivesse astuciosamente posto esta sugestão na
boca de Talleyrand, fatalmente acudiria ela a um homem como Barca, com quem o
instinto público associou desde logo a resolução real, indicando-o como seu inspirador
e assim firmando uma tradição que nada mais abalaria porque corresponde
plenamente à intenção, que em caso tal é quase líquido que prime a realidade.
Barca não podia deixar de ser o primeiro partidário da elevação de categoria
da colónia que a Corte escolhera para sua residência temporária – quiçá definitiva – e
donde estava derivando a monarquia lusitana segurança e grandeza…Tal confiança
inspirava a D. João o talento diplomático de Barca que lhe entregou, apesar de estar
Aguiar encarregado da pasta de Estrangeiros, o preparo das importantes instruções
para os plenipotenciários ao Congresso de Viena».
A elevação do Brasil a Reino, em princípio, parece indicar que não estava nos
propósitos de D. João regressar a Portugal, transferindo novamente a sede da monarquia
para Lisboa, até porque as circunstâncias nacionais e internacionais apontavam para
profundas e irreversíveis transformações em todos os sectores, nomeadamente, o
caminho da sua autonomia. Com efeito, ao atribuir o título de Reino à antiga colónia
americana, dava-lhe, implicitamente, um diploma de independência, que não tardaria a
concretizar-se.
Apesar das instâncias e rogos do povo português, da gente da Corte, dos
insistentes conselhos de nações estrangeiras e até das exigências da Inglaterra, D. João
quis ficar no Brasil mesmo depois de eliminadas as circunstâncias que o haviam
obrigado a sair de Portugal.
Carlos Jaca
15
O choque das influências francesa e inglesa há muito se fazia sentir na Corte do
Rio de Janeiro, porém, após a morte do porta-voz do interesse britânico, D. Rodrigo de
Sousa Coutinho, Conde de Linhares, e com a ascensão de Araújo de Azevedo, Conde da
Barca, as relações com a França saem reforçadas, tornando-se o velho estadista um forte
apoio à política do Príncipe Regente não abandonar tão cedo o Brasil, tal como os
homens do Congresso.
De Viena, a 30 de Junho de 1815, escrevia Saldanha da Gama a D. João
desaconselhando o regresso, pelo facto de a Europa se encontrar submetida a um
directório cujas imposições facilmente se fariam sentir em qualquer parte do continente,
mas que, dificilmente, poderiam exercer na América, onde a distância significava meios
de acção acrescidos, «e muito mais se para esse fim V. A. R. se ligar com o Governo dos
Estados Unidos».
Saldanha da Gama entendia que a Corte devia permanecer no Brasil, porquanto
o Congresso de Viena nada resolvera, «nem lhe era dado resolver, de forma definitiva e
imutável sobre questões que cedo dariam lugar a contestações e guerras, e sobretudo
nada podia haver tentado com êxito para a extinção do espírito revolucionário que
minara a antiga existência política e religiosa da Europa».
A tutela tirânica da Santa Aliança (destinada a reprimir os possíveis movimentos
revolucionários e liberais que viessem a surgir na Europa, e anular qualquer movimento de
carácter separatista, de independência, ou nacional) e o «fermento revolucionário»
adivinhavam, para breve, graves conflitos, o que devia ser considerado motivo de
sobejo para dissuadir de abandonar a América do Sul.
Nas palavras de Oliveira Lima, a elevação do Brasil a Reino além de ser a
afirmação da sua integração territorial, foi a derivação lógica e a consequência
necessária de um “statu quo” criado por «circunstâncias fortuitas mas não menos
imperiosas…obedecendo também, entre seus motivos complexos, de sugestão e de
aceitação, à ideia de pôr obstáculo ao descontentamento que mesmo no Brasil já se
estava formando. As capitanias do Norte queixavam-se por exemplo, ou melhor, nelas
se queixavam alguns dos espíritos que entravam a nutrir aspirações e manifestar
opiniões, de que a residência da Corte podia ser uma honra, mas trazia àquelas terras
encargos adicionais, sem que colhessem comparativamente as vantagens conferidas à
metrópole brasileira pela permanência da família real.
A tal estado de espírito não seria dentro em pouco alheio o movimento
pernambucano de 1817, gerado nas sociedades secretas que passaram a funcionar no
Carlos Jaca
16
Brasil, e do qual foi outro elemento importante o impulso português no intuito de
determinar pelo ressentimento o regresso de Dom João. Em Portugal o azedume
acelerara o seu curso com a equiparação política, tão a propósito aplicada para
estimular o orgulho dos brasileiros e distrair a sua atenção de algumas vexações
existentes, e que contribuíam conjuntamente para o descontentamento nacional». As
próprias festas comemorativas da elevação da colónia que, naturalmente, foram motivo
de grande regozijo para os brasileiros, provocaram um indisfarçável despeito nos
portugueses.
A elevação do Brasil a Reino significou, ainda, uma hábil e inteligente resposta
às insistências levadas a cabo pelas potências coligadas para que, «cimentada a paz
geral» a Corte regressasse a Portugal – uma resolução que o Príncipe Regente se
recusava a tomar, vindo a provocar mesmo uma cisão no Gabinete, onde Araújo de
Azevedo
defendia
tenazmente
a
continuação da capital no Rio de
Janeiro e o Conde de Aguiar, Ministro
dos Estrangeiros, lutava pelo regresso a
Lisboa.
Também a Inglaterra desejava, e
insistia por todos os meios, o retorno da
Corte a Portugal. Provavelmente, a
persistência da velha aliada teria como
objectivo controlar mais facilmente a posição estratégica e as riquezas da grande
metrópole sul-americana; e, assim sendo, era natural que D. João receasse que, caso o
Governo se fixasse em Lisboa, o Brasil se tornasse mais vulnerável.
O interesse britânico pelo regresso à situação política de 1807 levou mesmo o
seu representante, Strangford, a proceder com alguma leviandade, comunicando para
Londres que o Príncipe Regente demonstrava grande desejo em voltar, quando D. João
apenas lhe havia dito, «vaga e matreiramente» que o levaria a cabo, «sempre que as
circunstâncias lho permitissem».
Strangford, e já o referi, era, aliás, desde há muito, “personna non grata” para o
Príncipe Regente. Senhor das suas prerrogativas, exercendo uma ingerência constante
em assuntos de pura administração e até na indicação do alto pessoal governativo, tendo
feito grande obstrução à entrada de Araújo de Azevedo para o Ministério, sem dúvida
devido à “francesia”, ou não “anglofilia” do Conde da Barca.
Carlos Jaca
17
A Inglaterra chegou ao ponto de enviar para o Rio uma esquadra para o
regresso, sem que a mesma lhe tivesse sido requisitada, exasperando de tal modo D.
João que este se retirou para a Ilha do Governador, «donde não intentava vir, enquanto
eles aqui se demorassem, para os não ver mais». Esta reacção é bem significativa do
mau humor que a insistência inglesa havia provocado em D. João, desconsiderando a
firme e inabalável posição do Príncipe, Ministros e Conselheiros, relativamente à sua
recusa ao projecto de abandonar a sede da nova monarquia, que os britânicos
persistentemente desejavam pôr em prática e…lá sabiam porquê.
D. João regressou, de facto, como se sabe, a Portugal, mas só quando as
circunstâncias políticas, tanto no Rio de Janeiro como em Lisboa o determinavam, e se
tornava conveniente a sua presença entre os portugueses, até por exigência das Cortes
Constituintes, mas fê-lo na hora certa, para além de deixar a regência do Brasil entregue
a seu filho mais velho, D. Pedro de Bragança.
Negociações e casamento do Príncipe D. Pedro com a Arquiduquesa de
Áustria D. Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo.
.
Por certo não custará a admitir que a constituição do Reino de Portugal e Brasil
tenha, de certo modo, facilitado o casamento do Príncipe herdeiro, D. Pedro de
Bragança, primogénito de D. João VI, com a
Arquiduquesa de Áustria, Leopoldina de Habsburgo,
filha do imperador Francisco I.
Desde a idade dos nove anos que, o então,
Infante D. Pedro, estava indicado como candidato
político à mão de várias princesas europeias. Assim, já
em 1807, quando D. João procurava impedir por todos
os meios, o avanço das tropas napoleónicas sobre o
nosso País, enviou D. Pedro de Menezes Coutinho, 6º
e último Marquês de Marialva, à Corte parisiense com
milhares de cruzados em diamantes e a proposta para o casamento do Príncipe, ao
chegar à idade própria, com a sobrinha de Bonaparte, filha de sua irmã Carolina e do
General Murat.
Carlos Jaca
18
No intuito de ganhar tempo e retardar a marcha sobre Portugal a proposta de
casamento talvez fosse uma simulação, só que o Marquês ficou-se por Madrid, onde
recebera a notícia da invasão comandada por Junot.
Posteriormente, o Príncipe herdeiro das duas Sicílias mandava um emissário a D.
João oferecendo uma das filhas para esposa de D. Pedro, proposta que foi rejeitada,
chegando, ainda, a pensar-se na filha do Regente da Etrúria e numa princesa russa, irmã
do Czar Alexandre.
Negociações a cargo de Navarro de Andrade – Como as uniões matrimoniais eram
grandes negócios de Estado, visando mais aspectos políticos e económicos, e em que as
razões sentimentais pouco influíam, D. João e os seus Conselheiros apontavam para
horizontes de maior envergadura. Assim veio a acontecer. Viena de Áustria passou a ser
o objectivo. Unir uma princesa austríaca ao sucessor do Reino de Portugal e do Brasil
não deixava de constituir uma honra (e proveito) para a diplomacia de D. João VI. Para
o concretizar, foi ordenado a Rodrigo Navarro de Andrade, Encarregado de Negócios de
Portugal na capital austríaca, que iniciasse as negociações para o ajuste do casamento de
D. Pedro com D. Leopoldina.
A
missão
não
era
fácil,
porquanto
deparavam-se obstáculos susceptíveis de anular as
diligências do nosso representante que, aliás, era
bom diplomata, amigo íntimo de Hudelist, director
da Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da
Chancelaria do Império e pessoa da confiança do
poderoso Metternich. Porém, para além de constar
que D. Leopoldina estava prometida a um
príncipe, sobrinho do rei da Saxónia, havia ainda
que fazer frente à oposição, manifestada por vários
modos, da Inglaterra que, desde 1814, insistia
obstinadamente pelo regresso de D. João, bem como a dúvida sobre a sua demora no
Brasil, situações que prejudicavam e retardavam o êxito da missão portuguesa. Na Corte
do Rio de Janeiro, só D. Carlota apoiava as propostas e os planos daqueles que
desejavam viajar para Lisboa, em opinião contrária à de seu marido, de quem, aliás,
como já se referiu, vivia separada: «…já levei cinco cáusticos e já estive cinco vezes ao
fumeiro feito chouriço, mas agora já estou curada ao fumo, estou capaz de resistir
Carlos Jaca
19
mais, ainda que neste país não resiste nada porque até as carnes salgadas não duram
nada, logo apodrecem…».
Prevenindo, sobre esta última dificuldade, a demora da Corte no Brasil, que os
negociadores iriam encontrar na Corte de Viena, o Governo do Rio transmitiu, em
«ofício secretíssimo», de 15 de Março de 1815, as seguintes instruções a D. Pedro José
de Meneses Coutinho, Marquês de Marialva, embaixador em Paris, que no ano seguinte
alcançou o êxito de negociar o consórcio: «Não escapou à perspicácia de Sua Alteza
Real um embaraço que pode ocorrer nesta negociação e é o desejar Sua Majestade
Imperial, antes de decidir-se, saber com certeza se S. A. R. conta regressar ou não a
Portugal; e para remover este embaraço, manda-me participar a Vossa Mercê (para
fazer discreto uso, segundo as ocorrências) que o seu real intento é regressar à Europa,
logo que haja conseguido preservar este reino do Brasil, do contagioso espírito
revolucionário que conflagra pelas colónias espanholas; e que outrossim tenha
inteiramente estabelecido e consolidado o novo sistema que tem começado a pôr em
prática, para o fim de estreitar o enlace entre Portugal, o Brasil e as demais possessões
da coroa portuguesa…e acrescenta que, no entretanto que S. A. R. completa com a
possível brevidade esta grande obra…e por conseguinte o mesmo senhor poderá então
sem susto de futuras subversões restituir-se à sua Corte de Lisboa. Tais são as graves e
atendíveis razões que Vossa Mercê alegará (se preciso for) para dissolver qualquer
hesitação da parte de S. M. I. a esse respeito».
«Uma iluminada política», como lhe chamou o cronista, justificava a
consistência e a prudência destas instruções que poderiam evitar o insucesso da tão
desejada aliança matrimonial. E mais, conseguida pela aliança sacramental a união da
Casa de Bragança à Casa de Áustria, D. João pretendia diminuir, ou mesmo fazer
desaparecer a pressão britânica sobre a Corte Portuguesa.
O certo é que as dificuldades iam sendo superadas e tudo parecia jogar a favor
do acordo, graças às negociações diplomáticas da regência de D. João e a Navarro de
Andrade, «personna gratíssima» à Corte austríaca e, também, não se poderia desprezar
aquilo que poderíamos considerar valiosos “trunfos”: a nobreza da Casa de Bragança, a
vastidão e apregoada riqueza do Império Português e… até mesmo a garbosa pessoa do
noivo que era conhecido como um “galã”, pois já em 1803, a duquesa de Abrantes,
Laura Junot, a tal verrinosa, dizia «ser a única cara bonita num concurso monstro de
fealdades em que cabiam os primeiros prémios ao Príncipe Regente e a D. Carlota».
Ao contrário do Príncipe, a Arquiduquesa se era «bem aquinhoada» pela inteligência
Carlos Jaca
20
pouco se falava da sua beleza, ou mesmo esquivando-se a referir a ausência de dotes no
que dizia respeito à formosura.
Acrescente-se, ainda, que a aliança de Portugal com a Casa de Áustria
permanecia favoravelmente na Corte de Viena, quando se desenrolavam as negociações
de Navarro de Andrade. Essa aliança remontava aos séculos XV e XVI em que foram
celebrados os casamentos de D. Manuel I com D. Leonor de Áustria e de D. João III
com D. Catarina, filha do Imperador Carlos V. A união das Casas continuou nos séculos
seguintes com os matrimónios de Filipe II e Filipe III (os espanhóis governaram
Portugal entre 1580 e 1640) ambos consorciados com princesas austríacas, estando
ainda viva na memória das duas Cortes o casamento de D. Mariana de Áustria com D.
João V, negociado em Viena pela embaixada portuguesa do Conde de Vilarmaior.
Pelo menos, desde Agosto de 1816 que as negociações estavam bem
encaminhadas. Depois de resolvidas as primeiras dificuldades, o Príncipe de Metternich,
conversando largamente com Navarro de Andrade, reproduzia-lhe as palavras que
ouvira de D. Leopoldina, palavras essas que o nosso Encarregado de Negócios logo se
apressou a comunicá-las para o Rio ao Ministro dos Estrangeiros, conforme consta no
ofício reservado de Agosto de 1816: «Desde que a minha sorte seja ligada à do
Príncipe que o Céu me destinou, meu dever e meus sentimentos me ditarão a lei a que
me devo submeter sem pesar de segui-lo
por toda a parte, de permanecer onde ele
estiver e de nunca desejar que por minha
causa a política da monarquia portuguesa
tenha outra direcção, a não ser a que
possa convir ao e à prosperidade de
Estado».
Para além de outros testemunhos
probatórios da decisão em assumir e
cumprir o seu desejo de casar com D.
Pedro, e passar ao Brasil, saliente-se a
existência, na Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro, de vinte e seis cartas originais,
pertencentes à «Colecção Benedito Otoni», escritas em francês pela Arquiduquesa, de
1816 a 1823, a uma das suas tias, a grã – duquesa da Toscana, confirmando tudo quanto
Carlos Jaca
21
lhe foi atribuído sobre a satisfação que sentia com a sua partida para a América: «A
viagem não me faz medo. Creio até que é predestinação, pois sempre tive singular
pendor pela América e até quando criança eu dizia sempre que queria ir lá».
Concluídas as negociações e logo que ficou decidido o casamento, D.
Leopoldina dedicou-se a estudar não só a língua portuguesa, como a história, geografia
e a economia do país que ia adoptar. Especialmente dedicada à mineralogia e à botânica,
trouxe consigo para o Rio uma colecção mineralógica e espécimes para aclimatar, bem
como alguns «naturalistas pensionados» a fim de se dedicarem no Brasil a
investigações nos seus respectivos ramos.
Efectivamente, o seu coração e a sua cabeça não deixavam dúvidas. Por isso,
quando Navarro de Andrade informou o Marquês de Marialva do bom resultado da
negociação sobre o casamento de D. Leopoldina com D. Pedro, a missão do referido
Marquês em Viena estava facilitada. Quando Marialva se instalou na capital austríaca os
obstáculos estavam todos derrubados, a sua missão seria, e foi, breve e fácil,
constituindo, apenas, em pedir solenemente a mão da Arquiduquesa, redigir o «tratado
de desponsório», celebrar o casamento por procuração e receber a futura Imperatriz do
Brasil a bordo da esquadra portuguesa, onde viajaria para o seu novo Reino.
O Marquês de Marialva em Viena – embora tivesse chegado a Viena em Novembro,
o embaixador português só a 17 de Fevereiro do ano seguinte fez a sua entrada oficial
para pedir em «audiência pública a mão da Arquiduquesa». Numa entrada espectacular,
o Marquês apresentou-se, e seus acompanhantes, como se fosse a «comitiva de um
sultão e a pompa de um pontífice». As ordens do Rio mandavam fazer figura, gastar
muito para parecer bem. E o impacto foi tal, que o próprio Marialva escrevia
transbordante de entusiasmo, «ainda se não havia visto em Viena uma tão aparatosa
embaixada, como aquela que S. M. me confiou». De facto, nunca Viena havia assistido
a uma embaixada tão rica e aparatosa, muito superior à do Conde de Vilarmaior, quando
em 1708, pediu a mão de D. Mariana de Áustria para D. João V.
Os gastos da embaixada portuguesa, que contemplavam a distribuição de jóias e
barras de ouro para o pessoal da Corte e para o Ministério dos Estrangeiros, inclusive o
príncipe de Metternich, subiram a mais de milhão e meio de francos e, segundo refere o
embaixador, gastou da sua fortuna pessoal mais de cento e seis contos de que nunca
pediu restituição.
Carlos Jaca
22
A principal despesa foi por conta de uma verdadeira festa de “arromba” dada nos
jardins imperiais de Augarten, onde o Marquês de Marialva mandou edificar um salão
que, depois, serviu para várias festas de caridade. Estavam presentes a família real
austríaca, o corpo diplomático e toda a nobreza.
Após o baile, foi servida a ceia, de quarenta talheres, a mais de quatrocentas
pessoas. O Imperador e a família foram servidos em baixela de ouro e os restantes
convidados em baixela de prata.
Nessa ocasião, como presente de noivado, o embaixador entregou a D.
Leopoldina um retrato emoldurado numa cercadura de brilhantes raros. Ao descrever a
impressão causada na Corte de Francisco I pela riqueza dessa jóia, Marialva
comunicava para o Rio de Janeiro, em 8 de Abril, ao Conde da Barca: «… o príncipe de
Metternich, a quem depois mostrei aquele precioso donativo, me observava que só nas
fabulosas crónicas orientais é que se poderia encontrar a descrição de algum objecto
análogo que lhe fosse comparado». Ainda sobre o régio presente, e em carta de 12 de
Abril, conservada na Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, a Arquiduquesa escrevia:
«…sabendo que tomais parte em tudo o que dá prazer, ouso anunciar-vos que o retrato
do príncipe chegou há poucos dias. Acho-o agradável e a sua fisionomia exprime
bondade e espírito. Todos asseguram que ele é bom, querido pelo povo e muito
diligente. O único fim que me proponho é de fazer o possível para o tornar feliz e
espero conseguir, procurando a minha própria felicidade no cumprimento dos meus
deveres…».
A nova princesa do Reino de Portugal, Brasil e Algarves.
No dia 13 de Maio, por coincidência, ou não, dia do aniversário de D. João VI,
realizou-se, com a ostentação habitual nas cerimónias da Corte austríaca, o casamento
por procuração, representando o noivo o Arquiduque Carlos, irmão do Imperador.
Depois de tanta solenidade, era a hora de a «nababesca embaixada» se despedir
levando consigo a futura Imperatriz do Brasil. Assim, a 2 de Junho partia a noiva e seus
acompanhantes em direcção a Florença, onde chegaria a 14, a fim de aguardar a
esquadra portuguesa que, a partir de Livorno, a conduziria ao Rio de Janeiro.
Entretanto, a comitiva teve conhecimento da rebelião pernambucana de 1817, o
que contribuiu para retardar o embarque, bem como a pressão britânica junto a Viena
para que a Corte portuguesa regressasse a Lisboa. A diplomacia anglófila intrigava na
capital austríaca para que a nova princesa permanecesse em Viena ou, pelo menos, em
Carlos Jaca
23
vez de se dirigir para o Brasil, tomasse o rumo de Portugal, com o objectivo de aí
esperar o regresso, inevitável, da Família Real de que passara a fazer parte.
O embaixador britânico procurando “levar a água ao seu moinho”, era
persistente, batia na mesma “tecla”: o estado de agitação, dizia ele, que se vivia no
Brasil, aconselhando que a presença de Leopoldina em Lisboa teria o condão de
contentar os portugueses «ansiosos por abrigarem outra vez a sua velha Corte, e de
desvanecer os enredos espanhóis tendentes à incorporação do Reino e consequente
unificação peninsular». Porém, Metternich recusando entrar no jogo da Inglaterra, não
aceitando os apelos do Foreign Office, garantindo que a princesa cumpriria o acordo, foi
ele próprio, em nome do Imperador a Livorno, confiá-la ao Marquês de Castelo Melhor,
comissário especial de D. João VI, que para tal fim embarcara na esquadra enviada de
Lisboa pelo Conselho de Regência. Mais tarde, já por ocasião do casamento no Rio, D.
João confidenciou ao representante da França quanto trabalhou o embaixador inglês em
Viena para impedir a sua nora de viajar para o Brasil e que, consultado a esse respeito, o
Imperador da Áustria respondera que sua filha passara a ser filha do Rei de Portugal,
cabendo, portanto a Sua Majestade designar-lhe a residência.
Só no dia 13 de Agosto foi efectuado o embarque e, dois dias depois, a esquadra
fazia-se à vela para o Brasil.
Acompanharam a princesa as três damas austríacas, as condessas de Kunburg,
Sarentheim
e
Lodron, além de
outras
pessoas
do seu serviço
particular,
criados e criadas,
um capelão, um
bibliotecário,
todos
da
nacionalidade de
D.
Leopoldina.
Os
médicos
eram portugueses, porque a Regência de Lisboa despachara para esse fim o cientista
Francisco de Melo Franco e o abalizado clínico Bernardino António Gomes. O chefe de
cozinha exigiu o Marquês de Marialva que fosse austríaco, justificando, num dos seus
Carlos Jaca
24
ofícios, que «os cozinheiros que vieram de Lisboa talvez sejam bons, porém num jantar
feito por eles que me deram a bordo, tinha péssima cara e pior gosto…enfim tenho
passado por algumas vergonhas».
A princesa Leopoldina chegou ao Rio de Janeiro a 5 de Novembro de 1817.
Logo que, de Viena, chegaram as primeiras notícias sobre o matrimónio iniciaram-se os
preparativos para a recepção à nova princesa. Aqui, era aguardada com alguma
ansiedade, tendo sido recebida com as habituais festas, cada vez mais requintadas.
Precisamente por serem habituais, creio, neste caso, não se justificar uma descrição
pormenorizada
que,
obviamente,
existe.
A princesa aportou no Arsenal
da Marinha e, no momento em que
pisou terra brasileira, pela primeira vez,
foram disparadas salvas de canhão
pelas
fortalezas
e
pelos
navios
ancorados no porto, ao que se seguiu o
repicar, ao mesmo tempo, dos sinos de
todas as igrejas. Depois de cumprimentar a Família Real, foi levada pela mão de D.
Pedro, integrando-se no cortejo que desfilou até ao Largo do Paço, «por entre duas alas
de povo e duas filas de tropas, cujos soldados vestiam uniformes de grande gala»,
sendo a procissão real seguida por grande e natural, curiosidade, pois ninguém queria
deixar de ver e “medir” a nova princesa.
Pelas três da tarde, o casal dirigiu-se para a Real Capela do Carmo, onde o
aguardava o Bispo Capelão-Mor, D. José Caetano da Silva Coutinho, com o Cabido e o
Senado da Câmara, procedendo-se às «bênçãos nupciais», ao memo tempo que Marcos
Portugal regia um grandioso «Te Deum Laudamus».
À noite, com a cidade toda iluminada e depois de um jantar de gala, dirigiram-se
para o Palácio de S. Cristóvão, onde se realizou uma serenata para a Arquiduquesa. O
príncipe D. Pedro, a princesa Maria Teresa e a infanta D. Maria Isabel cantaram
sucessivamente uma arieta, e os músicos da Real Câmara com os da Real Capela
executaram uma peça dramática, «Augúrio de Felicitá», que Marcos Portugal arranjou
em italiano e adaptou a uma composição musical.
Como se deve calcular foi um período de festas consecutivas.
Carlos Jaca
25
Dois meses depois, a futura Imperatriz não deixava de manifestar, para Viena, os
seus sentimentos de bem-estar e a sua tranquila felicidade no começo de uma vida,
totalmente diferente: «O meu coração sente uma satisfação muito doce, podendo já
falar-vos, dois meses depois da minha chegada, da minha felicidade junto de um esposo
que eu adoro pelas excelentes qualidades…gozo, longe do mundo, daquela tranquila
felicidade cujos encantos sempre apreciei e ardentemente ambicionei».
Com o tempo tornou-se cada vez mais solitária, mas criando uma boa relação
com o Rei: «ele teve a bondade de me dizer que ficaria muito contente por me ter
sempre perto de si». Registe-se uma das muitas amabilidades do sogro: quando a nova
princesa, após a cerimónia do casamento, chegou ao Palácio de S. Cristóvão, que tinha
sido preparado para receber os nubentes, encontrou nos seus aposentos particulares o
busto do Imperador da Áustria, seu pai, e o Rei fez-lhe entrega, para que lesse e se
distraísse, de um livro que, ao abrir e folhear, verificou comovida conter os retratos de
toda a sua família ausente. Por ter adoptado os hábitos da Corte portuguesa, D. João
referia-se-lhe, muitas vezes: «Parece-me que ela nasceu entre nós».
A princesa era uma mulher de espírito, calma, culta, dedicada às «boas letras e
belas artes», atraída para as curiosidades científicas, «lia Sismondi», coleccionava
animais e plantas e, tudo isto, não era mais do que a consequência de na Corte de Viena
levar uma vida recolhida de amor ao estudo.
D. Leopoldina trouxe consigo para o Brasil o gosto pelos livros, pelo estudo
metódico, pela boa cultura literária e científica, bem como foi um estímulo constante de
todas as animações artísticas, pelas quais Linhares e o Conde da Barca se haviam
interessado.
Por alguma razão, sua filha Maria da Glória, depois Rainha D. Maria II, foi
conhecida na história pelo cognome de «A Educadora», o que não admira…tinha a
quem sair.
Morte de D. Maria I. Novo Ministério.
A Rainha D. Maria I veio a falecer, no Palácio da Boavista, aos 20 de Março de
1816, quando já atingira oitenta e um anos de idade e vividos cerca de trinta «nos
umbrais da demência», fazendo da oração e da piedade a única maneira de estar no
mundo.
Carlos Jaca
26
Na véspera do falecimento, quando se declarou o «artigo de morte», (no último
momento da vida) «o povo viu como embaçado, pela primeira vez um espectáculo tão
tocante, como capaz de arrancar lágrimas aos mais duros, e insensíveis corações, o
clero das quatro paróquias, os religiosos beneditinos, carmelitas, e franciscanos, as
ordens terceiras e outras corporações com a imagem de Jesus Cristo Crucificado
saírem das suas respectivas igrejas, e discorrendo pelas ruas da cidade, e entoando as
ladaínhas, e preces, que se costumam fazer em Portugal no imediato perigo de vida dos
nossos soberanos, indo conclui-las na Real Capela ante o Santíssimo Sacramento,
recitando-se ali as antífonas, versos, e orações competentes, e voltarem ao depois para
onde tinham vindo, rezando a ladainha de
Nossa Senhora».
Embora a Rainha tivesse sido dada
como morta para a vida pública havia muito
tempo, vegetando, D. João não deixou de
imprimir às cerimónias fúnebres de sua mãe a
mesma grandiosidade que era devida se
tivesse governado até ao fim, sendo-lhe, pois,
reservadas as honras inerentes à sua posição.
Confirmado o óbito, e depois de
dobrarem os sinos da Capela Real e demais
igrejas da Corte, anunciando a morte de D.
Maria I ao povo da cidade, vestiram de negro
o corpo morto da Rainha com a banda das três ordens militares e da Torre e Espada, e
passaram-lhe o manto de carmesim bordado de estrelas de ouro e forrado de cetim
branco. Seguidamente, procedeu-se ao beija-mão da defunta na presença do novo Rei,
«o qual está na maior desolação possível de mágoa e de saudade, perdeu o comer e
ainda persiste em contínuo pranto». No dia seguinte foi o corpo colocado no caixão,
com drogas aromáticas secas a perfumar o ambiente, sendo depois transferido para a
Capela Real.
No dia 23 de Março, foi celebrada missa pela alma de D. Maria. O Núncio, que
presidiu ao ofício fúnebre, rezou o responso final, seguindo o cortejo até à porta em que
figuravam a Família Real, a camareira-mor e as damas «vestidas de donaire» e todos os
circunstantes segurando tochas. Depois de uma breve cerimónia de encomenda da alma
da Rainha, o corpo foi colocado no coche, escoltado por regimentos de linha e de
Carlos Jaca
27
milícias, que o transportou até ao Convento das Religiosas de Nossa Senhora da Ajuda.
À porta da Igreja baixou o caixão, que primeiro foi levado sobre o esquife da
Misericórdia, «aos ombros de irmãos pobres, num belo símbolo da igualdade humana
perante a morte, e então carregado para o interior pelos grandes do Reino...».
As preocupações com a saúde de D. João obrigaram a reduzir o nojo a oito dias,
decorridos os quais a Família Real recebeu pêsames e saiu a ouvir missa e aspergir o
caixão, sendo recebido dentro do coro pela comunidade do Convento, com a Abadessa à
frente, de pluvial (capa usada em actos solenes) negra.
A 27 de Março, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro saiu para publicar o luto
geral. Em procissão de luto carregado, os vereadores seguiram de praça em praça,
convocando o povo que cercava cada palco…Recolheram-se depois à igreja para assistir
à missa por intenção de D. Maria, antes de regressarem ao Paço, onde decretaram um
ano de luto, sendo seis meses de luto carregado e outros seis aliviado.
Terminado o seu período de recolhimento, D. João recebeu os cumprimentos de
pêsames do corpo diplomático, da Corte, dos Tribunais e outras pessoas distintas.
As solenes exéquias realizaram-se a 23 de Abril, após o trigésimo dia da morte
da Rainha, na Real Capela, forrada de alto a baixo de negro e ouro, «com uma pompa, e
grandeza jamais vista no Rio de Janeiro», tendo sido construído um mausoléu
octogonal, com emblemas majestáticos e inscrições latinas, que provocou enorme
admiração, conservando-se em exposição, durante alguns dias, para que pudesse ser
contemplado por todos que o desejassem.
A cerimónia prolongou-se ao longo do dia. Houve missa de pontifical e
satisfazendo o gosto de D. João pela música sacra, os músicos da Real Câmara e Capela
entoaram uma composição, dirigida pelo seu autor, «maestro Portogallo», (Marcos
Portugal) proferindo o sermão o Deão de Braga.
No regresso a Portugal, D. João VI mandou transportar os restos mortais de sua
mãe, fazendo-lhe prestar as maiores honras na trasladação para Igreja do Coração de
Jesus (Basílica da Estrela).
Poucos meses depois, o Rei via-se obrigado a remodelar o seu Ministério. Dois
dos melhores colaboradores acabaram os seus dias no primeiro semestre de 1817. Em
24 de Janeiro falecia D. Fernando José de Portugal e Castro, Marquês de Aguiar,
ministro e secretário de Estado de Negócios do Reino, e que se impunha pela sua
Carlos Jaca
28
cultura jurídica e boa experiência dos assuntos do Ultramar, por ter sido Governador da
Baía e vice-rei do Brasil. Porém, talvez, a perda mais importante tenha sido a do Conde
da Barca, a 21 de Junho, que, desde a morte de Aguiar, era ministro de todas as pastas e
um dos mais notáveis colaboradores e orientadores do Governo de D. João no Brasil,
para além de ter sido relevante a sua participação no desenvolvimento da antiga colónia
sul-americana.
Três dias depois da morte deste grande diplomata e homem de Estado, era
constituído o novo ministério. Na composição do novo Gabinete, foi nomeado para os
Negócios Estrangeiros o Conde de Palmela, D. Pedro de Sousa Holstein, antigo
plenipotenciário em Viena e, por conseguinte, com amplo conhecimento da situação
europeia. Palmela permaneceu na Europa até 1820, por ordem de D. João VI,
trabalhando, primeiramente, junto da Corte de Madrid para resolver o diferendo
suscitado por via da ocupação de Montevideu pelas tropas portuguesas; depois em
Londres, na qualidade de embaixador, onde continuou a conduzir as negociações sobre
o mesmo conflito. Saiu de Londres na Primavera de 1820 para ocupar, finalmente, o seu
lugar de ministro na Corte do Rio de Janeiro, chegando, ainda, a assistir em Lisboa à
Revolução Constitucional; para a pasta da Marinha e Ultramar foi chamado D. Marcos
de Noronha da Costa, último Vice-rei do Brasil e que depois servira como Governador
da Baía, onde desenvolvera as obras públicas, a instrução e a cultura; a pasta de ministro
e secretário do Reino foi confiada a Tomás António de Vila Nova Portugal, jurista
distinto e homem de consensos, que se incumbia também da administração da Casa de
Bragança.
Revolução republicana de Pernambuco.
Os anos de permanência da Corte no Rio de Janeiro não podiam deixar de
provocar alterações de grande profundidade na organização social e política do Brasil,
que viriam a culminar na sua elevação a Reino, levando este facto a pensar que a
perspectiva do regresso da Família Real a Lisboa era uma hipótese cada vez mais
remota.
Naturalmente, as consequências de tais mudanças tiveram diferentes efeitos,
consoante as regiões e os grupos sociais; inclusivamente a autonomia económica,
tomada, imediatamente, à chegada e que, de modo aparente, havia sido igual para todos,
«tinha diferentes graus de realização, segundo a força dos grupos mercantis locais, a
Carlos Jaca
29
frequência e a oportunidade das relações directas com o estrangeiro». Obviamente, em
tão vasto território, que os meios de comunicação da época tornavam muito difícil de
controlar, a permanência da Corte tinha consequências muito diferenciadas. Assim, em
algumas regiões foram profundas, noutras nem por isso, sendo limitadas pela distância
física, mas sobretudo política, relativamente à Corte. A este propósito, Oliveira Lima
refere que «o governo das províncias continuou a ser o das capitanias: o governo do
bom ou do mau tirano».
Sublinhe-se que, do ponto de vista de algumas regiões da antiga colónia, ao
contrário do que aconteceu no «Centro-Sul», (áreas do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas
Gerais…) a presença do Rei, da Corte e até a elevação do Brasil a Reino, longe de
enfraquecerem o espírito colonial, acabaram por reforçá-lo e, nessa perspectiva, o
sentimento imperante no Nordeste era que, com a vinda da Família Real, o domínio
“escorregara” de uma cidade distante para outra: de Lisboa para o Rio de Janeiro. Deste
modo, as elites letradas, incluindo boa parte do clero, continuavam receptivas à
doutrinação anticolonial «a que, por maiores que fossem os esforços da Real Mesa
Censória e da polícia, tinham fácil acesso e o “vírus” revolucionário era pois de uma
verdade específica, não apenas liberal, mas sobretudo anticolonial».
A
conjuntura
pernambucana. Desenvolvia-se
uma
situação
latente
de
descontentamento, nomeadamente no Nordeste onde os chamados “pedreiroslivres”encontravam terreno propício às suas maquinações. Registe-se que, além disso,
em Pernambuco existia também o peso de uma tradição, de sede de autonomia, de
agitação, particularmente de gente da terra contra os reinóis. De facto, como escreveu o
historiador Francisco Adolfo Varnhagen, Pernambuco era a capitania onde
permaneciam mais vivas e enraizadas as antigas rivalidades entre os colonos nascidos
no Brasil e os nascidos em Portugal e, para além da sua importância económica, os
pernambucanos lograram fama pelas lutas libertárias, das quais a primeira, e mais
importante tinha sido a expulsão dos holandeses em 1654.
A situação agudiza-se quando, com o fim da guerra anglo-americana e a
regularização do comércio internacional depois da paz geral, a recessão provocada pela
flutuação no preço dos produtos exportados, o açúcar e o algodão pernambucanos
vivem momentos de baixa nos campos financeiros europeus; apesar do aumento da
procura, tiveram de suportar a concorrência de outras regiões produtoras.
Ao mesmo tempo o aumento da pressão dos abolicionistas da Europa criava
restrições progressivas ao tráfico de escravos, uma mão-de-obra cada vez mais cara e
Carlos Jaca
30
que era, por essa época, o motor de toda a economia pernambucana. Acrescente-se,
ainda, a intensa seca de 1816 que assolou o Nordeste e deixara de rastos a já precária
lavoura de subsistência. Perante tal situação, o povo, que sentia na pele a carestia,
atribuía à Corte e aos seus impostos a responsabilidade de tantos males.
Pairava no ar um sentimento de insatisfação generalizado, particularmente, nas
províncias do Norte e do Nordeste, as mais lesadas «pela voracidade fiscal de D. João
VI». Escrevia o inglês Henry Koster, residente no Recife, quando da revolução: «Pagase em Pernambuco um imposto para a iluminação das ruas do Rio de Janeiro, enquanto
as do Recife ficam em completa escuridão», acrescentando, ainda, que os salários dos
numerosos funcionários públicos eram baixos e mal garantiam a sobrevivência das
famílias.
Assim, a crise económica e o descontentamento com a administração portuguesa
foram contribuindo para que as ideias liberais francesas e americanas encontrassem
campo fértil em Pernambuco.
Efectivamente, o papel da Maçonaria não oferece dúvida quanto ao desenrolar
dos acontecimentos; “lojas” e “clubes” tinham-se criado não apenas no Recife mas
também na Baía, agregando adeptos em todas as classes sociais. Todos defendiam os
ideais da concórdia universal, mas com variantes, que iam da revolução pacífica à
ditadura jacobina.
Sem dúvida que, toda uma situação favorável à perturbação e ao tumulto,
proveniente de uma conjunção particular de circunstâncias, só poderia ter criado
condições para a eclosão de uma revolta que, a partir de dado momento, nem sequer
estava já no segredo dos deuses.
Revolução de 1817. Desde 1 de Março de 1817 que o próprio Capitão-General de
Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, tinha conhecimento de que algo se
tramava no Recife, tendo como objectivo «uma revolta de carácter nativista».
Precisamente por este motivo, a conjura, que estava marcada para a Páscoa, foi
antecipada para 6 de Março. Com efeito, neste dia estalou no Recife uma revolta contra
a soberania portuguesa, que depois se alargou a várias capitanias do Nordeste. Tratavase de uma sublevação provincial de nítido cariz republicano e com ligações no plano das
ideias à Europa e aos Estados Unidos da América. De facto, o movimento caracterizavase por forte oposição à Coroa e de marcada inspiração separatista, visando formar uma
república semelhante às que se iam esboçando na América espanhola.
Carlos Jaca
31
A insurreição reunia uma série dispersa de sectores. Eram cabeças da revolta
pessoas de variada formação: os comerciantes Domingos José Martins e António
Gonçalves da Cruz, os capitães Pedro Pedroso, Domingos Teotónio Jorge e José de
Barros Lima, os tenentes José Mariano Cavalcanti e António Henriques, o magistrado
José Luis de Mendonça, os padres João Ribeiro Pessoa de Montenegro e Miguel
Joaquim de Almeida e Castro, mestre de Retórica e mais conhecido por padre
Miguelinho, o médico Guimarães Peixoto e outros.
Ao tratar este assunto, e para simplificar, considerei dispensável entrar nos
“bastidores” da revolução, considerando, isso sim, necessário e suficiente, referir os
sucessos de maior projecção que se seguiram a partir de 6 de Março de 1817, dia em
que os revolucionários ocuparam o Recife.
No dia seguinte, após negociada a capitulação do Governador, Caetano Pinto, a
quem foi permitida a retirada para o Rio de Janeiro, os revoltosos, senhores da situação,
implantaram um governo provisório, baseado numa “lei orgânica”, que proclamou a
República e estabelecia a separação dos poderes. Tratava-se de um governo
heterogéneo, envolvendo radicais e moderados e que era apoiado pelo Conselho de
Estado, formado na sua maioria por letrados. Seguindo o exemplo da Revolução
Francesa, elaborou-se uma Constituição e desenhou-se uma nova bandeira, criando-se
também uma nova forma de tratamento, substituindo o habitual tratamento português de
senhor pelo de vós ou patriota.
As liberdades eram asseguradas a todos, mas considerando-se como religião
oficial a católica, embora as demais igrejas cristãs fossem toleradas. Foi estabelecida a
liberdade de imprensa (novidade no Brasil) e a escravatura era mantida para não bulir
com os interesses dos senhores de engenho. A fim de conquistar a simpatia da tropa e
do povo, a Junta Governativa aumentou o soldo aos militares e aboliu certos impostos.
Os militares que tinham participado na rebelião foram beneficiados com
«promoções-relâmpago», alguns subiram dois e três cargos – um dos chefes da nova
Junta, Domingos Teotónio, autopromoveu-se de capitão a coronel. Ao fim e ao cabo
segundo refere Oliveira Lima, a revolução de Pernambuco seguiu a marcha de todos os
pronunciamentos militares.
Pretendendo dar significado internacional ao movimento, e conseguir apoio
militar e político, enviaram emissários aos Estados Unidos e a Inglaterra, porém, tanto
um como outro, logo legislaram no sentido de ser proibido qualquer fornecimento de
armas e munições aos rebeldes.
Carlos Jaca
32
Reacção portuguesa. Repressão oficial. Com o decorrer do tempo, a revolução
começou a cair por dentro. O Directório pernambucano não se entendia, encontrando-se
dividido entre a tendência moderada de pendor girondino, de Domingos Martins, e a
posição extremista, jacobina e republicana do capitão Pedroso.
Assim, por falta de suporte doutrinário e de apoio externo, o movimento
pernambucano estava, irremediavelmente, votado ao insucesso, o que veio a acontecer
quando a Coroa, em Maio de 1817, decidiu actuar enviando tropas para Pernambuco.
Do Rio de Janeiro, da Baía e de Lisboa vários contingentes seguiram para o Recife, não
encontrando oposição capaz de impedir o estabelecimento da ordem.
No Recife coube à esquadrilha proveniente do Rio proceder ao bloqueio da
cidade, tornando insustentável a situação; a rendição era inevitável e a 20 de Maio
desembarcaram os marinheiros restabelecendo a autoridade real. Pouco antes, o receio
de que a esquadra bombardeasse o Recife provocou o despovoamento parcial da cidade,
tendo os principais chefes fugido para o interior, onde acabaram por ser detidos. A
repressão seria implacável, não tardando que fossem presos os principais responsáveis,
logo transferidos para a Baía, a fim de se sujeitarem ao inexorável julgamento a que
estavam sujeitos os réus do crime de lesa-majestade, de acordo com a legislação da
época.
Não só no Recife, como em Salvador e na Paraíba, a sentença foi exemplar,
determinando que «depois de mortos» [os rebeldes] serão cortadas as mãos, e
decepadas as cabeças e se pregarão em postes […] e os restos de seus cadáveres serão
ligados às caudas de cavalos e arrastados até ao cemitério».
Na Baía foram julgados, condenados e prontamente executados Domingos
Martins, o magistrado José Luis de Mendonça e o Padre Miguelinho; no Recife foram
sentenciados e condenados à pena capital Domingos Teotónio Jorge e José de Barros
Lima, além do Padre Pedro de Sousa Tenório, vigário em Itamaracá; igualmente
sofreram a pena última seis implicados no movimento da Paraíba. Fizeram-se centenas
de prisões no Nordeste, tendo os réus aguardado, ao longo de penosos meses, o castigo
ou o perdão da Coroa.
Mesmo derrotada, a sublevação pernambucana não deixou de alterar alguns
planos da Corte portuguesa. Para além de abalar a confiança na construção do império
americano, projecto que, certamente, ocupava e preocupava o espírito de D. João,
Carlos Jaca
33
provocou o adiamento da sua própria sagração oficial como Rei de Portugal, Brasil e
Algarves. Atendendo ao estipulado, a coroação deveria ocorrer após um ano de luto por
sua mãe, D. Maria, falecida em Março de 1816, só que o Rei, perante tais
circunstâncias, decidiu adiá-la por mais um ano, «não queria passar ao mundo a
imagem de um rei coroado enquanto o seu poder era contestado e dividido». Outro
acontecimento importante que esteve para ser adiado foi o casamento de D. Pedro; tal
cerimónia só não foi adiada porque, quando as notícias sobre o movimento
pernambucano chegaram à Europa, a noiva, a futura imperatriz Leopoldina, já tinha
casado por procuração em Viena e viajava a caminho do Brasil.
Sufocada a rebelião, em Maio de 1817, era o momento de celebrar, a 6 de
Fevereiro do ano seguinte, a aclamação de D. João, o qual determinou, num gesto de
clemência que a hora impunha, a suspensão das devassas e de novas prisões:
«Hei por bem, que as devassas a que se estava procedendo em Pernambuco, ou
em outras quaisquer terras pelos crimes, que alguns malvados trazendo de longe o
veneno de opiniões destruidoras, e querendo corromper a Nação Portuguesa, que
acabo de ver que se acha ilesa, cometeram contra o Estado, conspirando-se e
rebelando-se contra ele; cessem no seu prosseguimento e se hajam por fechadas e
concluídas…Não se procederá consequentemente a prender, ou sequestrar a mais
nenhum réu, ainda que pelas mesmas devassas já se lhe tenha formalizado culpas,
excepto tendo sido dos cabeças da rebelião. Os que tiverem sido presos e sequestrados
depois da data deste dia, serão soltos, e relaxados os sequestros; pois que é minha
intenção que a justiça somente prossiga contra aqueles que já se acham presos, e todos
os mais fiquem perdoados, ainda que tenham cometido culpa provada…».
Com esta demonstração de tolerância (D. João foi apelidado de «O Clemente»)
talvez fosse sua intenção silenciar aqueles que, eventualmente, poderiam acusar o seu
governo de absoluto e não já de carácter paternalista, como se pretendia fazer crer na
Corte do Rio de Janeiro.
Não restam dúvidas de que a revolução de 1817 terá afectado as fundações do
sistema vigente, a estrutura da autoridade não deixou de ser abalada, até porque os
elementos da sociedade mais identificados com a Coroa tinham colaborado activamente
no movimento subversivo de Pernambuco. A acção nordestina não deixou de exercer
marcada influência no espírito de muitos brasileiros, levando-os a afeiçoar-se aos ideais
Carlos Jaca
34
de liberdade e, curiosamente, a curto prazo, cinco anos depois, era proclamada a
independência do Brasil, de que a crise de 1817 veio a ser considerada como preâmbulo.
Aclamação e coroação de D. João VI.
Parece haver, hoje, unanimidade, entre os historiadores, reconhecer como bom
fundamento o facto de a coroação de D. João VI ter ocorrido no Brasil, em vez de voltar
a Lisboa, para aqui dar continuidade à tradição dos seus antecessores. Para além de
outros factores que, eventualmente, podem não estar bem esclarecidos, e das intenções
secretas do próprio monarca, este debatia-se com o problema da sublevação
pernambucana de 1817 que, caso não
fosse sufocada, poderia deixar o Brasil
à mercê de vontades estranhas.
Referi há pouco, ter sido a
revolução em Pernambuco a alterar a
ordem das coisas, porquanto não era
conveniente celebrar tal cerimónia com
o território em efervescência e perante
as ameaças de uma república, bem no coração da monarquia. Este, sim, terá sido,
objectivamente, o factor determinante que desaconselhava, em tal situação, o regresso
de D. João VI a Lisboa. Efectivamente, a derrota dos revoltosos foi considerada pela
realeza como um sinal de abertura para tempos mais calmos e estáveis. Assim, a
aclamação ganharia um novo sentido, representando o momento próprio para celebrar a
concórdia entre D. João VI e os seus vassalos, concórdia essa rematada,
estrategicamente, com os decretos de 6 de Fevereiro, que punham termo «às
investigações sobre os revoltosos pernambucanos, reafirmando a magnanimidade do
soberano, silenciando a discórdia» e desvalorizando a extensão da revolta.
De todas as festas reais celebradas no Rio de Janeiro, as mais solenes e
deslumbrantes foram, de facto, as da aclamação de D. JoãoVI, financiadas pelos
mercadores locais que, desse modo, reiteravam o apoio ao Rei e «reafirmavam as bases
do seu Governo…».
Embora o dia 6 de Fevereiro fosse a data marcada para a realização do «Acto da
Gloriosa Aclamação» de D. João VI, como rei de Portugal, Brasil e Algarves, as
Carlos Jaca
35
comemorações iniciaram-se no dia anterior com o anúncio público da celebração, que o
Senado da Câmara do Rio de Janeiro fez ecoar pelas ruas da cidade.
Efectivamente, na véspera, os membros da referida magistratura, «todos a
cavalo, e ricamente vestidos, trazendo capas de seda preta com bandas de seda branca,
bordadas as dos senadores, e almotacés com muito primor, e com chapéus ornados com
plumas brancas, e jóias de muito valor», com grande acompanhamento da Guarda Real
da Polícia abrindo caminho a duas azémolas «carregadas de fogo do ar, e cobertas com
mantas de veludo agaloadas de ouro», dirigiram-se ao Paço Real da Boavista onde a
proclamação foi lida perante o próprio rei. Seguidamente, a «cavalgada» percorreu as
ruas da cidade, com grande ruído, afixando-se os editais da grande cerimónia real, para
que, assim, se desse a conhecer aos habitantes da cidade que a aclamação do monarca
teria lugar na data marcada.
A aclamação iniciou-se, naturalmente, por um ofício religioso, realizando-se a
Missa do Espírito Santo na Real
Capela, onde ao Evangelho Frei
José
de
Nossa
Senhora
do
Monserrate pregou um sermão
sobre a Nação e a Igreja.
O Terreiro do Paço estava
repleto, uma multidão nunca vista,
gente que viera de longe, de S.
Paulo e até de Minas, portugueses e estrangeiros, entre os quais «até chinas», como
refere o cronista, todos queriam ser testemunhas da «Aclamação».
Para a coroação de D. João VI, os pintores, escultores e arquitectos da «Missão
Francesa» apuraram-se ainda mais, dando à Praça grandeza e monumentalidade, com
arcos fingidos, construções artificiais e «cenográficas decorações».
À beira do cais mandara o Senado da Câmara levantar por Grandjean de
Montigny um templo de Minerva, em que se via a estátua da deusa protegendo o Rei e
na entrada, em relevo, as figuras da Poesia, da História e da Fama. Em frente ao chafariz
colonial, Debret desenhou uma cópia do Arco do Triunfo, erguido pela Junta Real do
Comércio, ostentando as suas figuras, alegorias e baixos-relevos. No centro da Praça,
havia um Obelisco egípcio desenhado por Auguste Taunay. Obviamente, tratava-se de
uma grande habilidade dos artistas, revestindo esses monumentos da aparência
necessária à circunstância, mesmo que à custa de falsos mármores, bronzes e granitos.
Carlos Jaca
36
Para a cerimónia pública, construiu-se uma varanda monumental desenvolvida
em 18 arcos de frontaria que se adiantavam à frente do Palácio, da parte que, outrora,
fora o Convento do Carmo. No centro da varanda, sobressaía um pavilhão com 3 arcos,
sendo o arco maior encimado pelas armas do Reino Unido e tendo mais alto a figura da
Fama, embocando a trombeta.
Na nave central, elevava-se o trono sobre alcatifas preciosas e degraus
enfaixados com pano verde. Ao lado do trono, via-se uma mesa «coberta de um rico
pano de brocado encarnado» com um tinteiro monumental – que serviria para o
escrivão da Câmara lavrar o auto da aclamação.
Horas antes da cerimónia, já o Largo do Paço apresentava um aspecto festivo.
Entre a massa compacta, aglomerada diante da galeria, destacavam-se os pelotões de
infantaria e os esquadrões de cavalaria prontos a actuar no caso de qualquer
manifestação de descontentamento da parte do elemento português, por via da
cerimónia da aclamação ter lugar no Brasil.
Três génios, sobre o trono, seguravam a coroa imperial; debaixo do dossel, a real
cadeira «sobredourada»; ao lado do dossel, uma mesa com a coroa real, o ceptro, o
crucifixo e o missal, «tudo coberto com um riquíssimo véu de seda de ouro». Uma
guarda de imponentes archeiros e a música de timbaleiros da casa real ladeavam o
trono.
Eram quatro horas da tarde, quando as charamelas, as trombetas e atabales
(tambores) anunciaram a aproximação do Rei que, pelo lado interior do Palácio entrou
na varanda, sendo logo festejado pelo povo que gritava vivas e acenava com lenços. Por
baixo da varanda central tocava a orquestra de músicos alemães que tinha acompanhado
da Europa a Arquiduquesa Leopoldina.
O Rei apresentava-se aos seus vassalos com todo o aparato e esplendor da
realeza, ostentando, preso ao peito, «por um atacador de diamantes», um longo manto
real com as armas «admiravelmente bordadas» de Portugal, Brasil e Algarves, o escudo
com as cinco quinas, a esfera armilar e os sete castelos e as insígnias de todas as Ordens
rebrilhando no seu peito.
Após o desembargador do Paço, Luís José de Carvalho e Melo, ter recitado a
oração aclamatória, o Bispo Capelão-Mor, com o missal aberto pelo crucifixo, ajoelhou
diante de Sua Majestade e o mesmo fizeram os bispos adjuntos, designados como
testemunhas do Juramento Real. D. João dobrou os joelhos sobre uma almofada,
«mudou o ceptro para a mão esquerda, e pondo a direita sobre o crucifixo e missal fez
Carlos Jaca
37
o Juramento, que lhe foi lendo o Ministro e Secretário de Estado, também de joelhos
junto à cadeira». Sobre o mesmo missal lhe prestaram os Príncipes de sangue o
juramento de obediência.
Terminado o Juramento, o alferes-mor desenrolou a bandeira e aclamou o
soberano: «Real, Real, Real, pelo Muito Alto e Muito Poderoso Senhor Rei D. João VI
Nosso Senhor»; então, o alferes-mor adiantando-se até ao parapeito da varanda repetiu o
pregão que o povo recebeu com aplausos estrondosos.
Da varanda passou S. M. e toda a Corte para a Capela onde os músicos da Real
Câmara, sob a regência de Marcos Portugal, compositor da música, entoaram um «TeDeum» muito solene. Seguiram-se dias festivos de programa apoteótico.
A Quaresma veio interromper as manifestações congratulatórias da Aclamação
e, em vez das paradas militares, representações teatrais e exteriorização de júbilo oficial
e particular, «passavam lentamente as procissões litúrgicas, em honra do Senhor de
todos os soberanos».
Em Maio, foi reatado o cerimonial da Aclamação com as homenagens prestadas
pelos lentes enviados da Universidade de Coimbra e pelos representantes da Academia
Real das Ciências de Lisboa, constituindo, assim, o epílogo, doutoral e académico, das
comemorações.
Breve relance sobre alguns aspectos da emancipação científica,
artística e cultural durante o reinado “americano” de D. João VI.
«Colonizar a Terra de Santa Cruz, também denominada Brasil, não significou
apenas recolher os troncos da árvore tintureira, ou produzir açúcar, ou explorar o ouro
das minas. Significou também transplantar para a América portuguesa uma língua,
uma religião e uma organização eclesiástica, instituições administrativas, leis e uma
máquina judiciária, uma estrutura familiar, formas de convivência e de sociabilidade».
A Corte portuguesa trouxera para o Brasil homens de superior sensibilidade e
cultura, alguns dos quais procuraram promover, o mais breve possível, a emancipação
intelectual do novo Estado. Visitaram e fixaram-se no Brasil artistas e cientistas de todo
o mundo, arquitectando-se toda uma construção europeia de vida civilizada no
continente americano.
Carlos Jaca
38
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, de 1808 a 1812, e o seu sucessor no Ministério,
o Conde da Barca, de 1814 a 1817, procuraram pôr em prática um plano de ensino
científico, artístico e literário que ajudasse à emancipação brasileira.
Instituições de ensino. Antes da chegada da Corte pode dizer-se que as condições da
instrução pública no Brasil eram deficientes, tendo recebido um rude golpe com a
expulsão dos jesuítas, os quais ensinavam, gratuitamente, as matemáticas elementares,
gramática latina, teologia dogmática e moral e retórica, conferindo aos alunos, ao
terminar o curso, o diploma de mestre em artes (magister in artibus); noutras partes do
Brasil, onde existiam colégios da Ordem, ou mesmo simples hospícios, ensinavam as
primeiras letras e gramática latina.
O ensino no Brasil, ao tempo de D. João, continuava a reger-se pelas normas
estabelecidas pelo Marquês de Pombal, depois da expulsão dos jesuítas, porém, foi
aumentado o número das denominadas “escolas régias” e aulas isoladas que,
funcionando nas principais cidades e vilas da colónia, se podiam considerar, hoje, como
de segundo grau. Eram escolas especialmente dedicadas ao ensino do latim, gramática,
geografia, matemática, filosofia, retórica, mecânica e desenho. Após concluído esse
estudo, os escolares, mediante um exame (de aptidão) podiam ser admitidos á
frequência nas escolas superiores do Reino, nomeadamente na Universidade de
Coimbra, ou mesmo em outras Universidades europeias.
Também foi permitida, a quem tivesse condições, a abertura de escolas de
primeiras letras, independentemente do exame de licença, a fim de ser incentivado o
ensino primário, tal como foram criadas cadeiras de artes e ofícios em várias povoações.
Nas sedes dos Bispados funcionavam seminários sendo notável o número de
brasileiros que se ordenava; porém, neste caso, o ensino estava fundamentalmente
concentrado nos seminários de São José e São Joaquim, no Rio de Janeiro, fundados em
1739 pelo Bispo D. Frei António de Guadalupe e que se fundiram em 1817. Estes
seminários preparavam clérigos e funcionários públicos, servindo ao mesmo tempo a
Igreja e o Estado, ensinando latim e cantochão, sendo esta última uma especialidade do
Seminário de São Joaquim, menos leigo e destinado a órfãos desvalidos e, por isso
mesmo, a educação aqui era gratuita. No de São João, onde nem todos os alunos se
destinavam à religião, uns pagavam e outros recebiam instrução sem qualquer encargo,
acolhendo-se os pobres do mesmo modo e ao mesmo título que os ricos.
Carlos Jaca
39
Instalada a Corte, procurou o primeiro ministério, dirigido por D. Rodrigo de
Sousa Coutinho (Linhares) organizar oficialmente os serviços de instrução pública.
A Medicina. Efectivamente, a transferência da Corte para o Brasil rasgou, desde logo,
novos horizontes ao ensino, e a verdade é que o anterior empirismo veio a ceder o lugar
à investigação científica.
Veja-se o caso da Medicina em que, até então, não existiam cirurgiões práticos
fora das cidades do litoral onde eram substituídos pelos curandeiros. As operações mais
fáceis costumavam no Brasil ser praticadas pelos barbeiros sangradores e, para as mais
difíceis, recorria-se a «indivíduos mais presunçosos, porém, no geral, igualmente
ignorantes de anatomia e patologia realmente científicas». O tratamento das crianças
era feito pelos farmacêuticos, de acordo com velhos formulários e, estrangeiro que
aparecesse com fama de investigador científico, como aconteceu com os naturalistas
que visitaram o Brasil no tempo de D. João, era assaltado por chusmas de doentes,
vindos de todos os lados, a pedir diagnósticos e receituários.
Assim que a Corte se fixou a medicina e a cirurgia mereceram, de imediato, a
atenção dos governantes. Quando ainda se encontrava na Baía determinou o Príncipe
Regente criar uma escola de cirurgia no Real Hospital Militar, juntamente com as
cadeiras de Anatomia e Obstetrícia, lançando, assim, os fundamentos do ensino médico
no Brasil.
A introdução da ciência médica, ou pelo menos do ensino médico, na colónia sul
americana deve-se a um pernambucano, o Dr. José Correia Picanço, o qual, após fazer
estudos em Lisboa, os fora completar a Paris e aí se casara com uma filha do célebre
anatomista Professor Sabatier. De regresso a Portugal, foi sucessivamente nomeado
lente de anatomia e cirurgia na Universidade de Coimbra, 1º cirurgião da Real Casa e
Cirurgião-Mor do Reino, sendo nessa dupla qualidade que regressou às origens
acompanhando a Família Real, propondo, então, ao Príncipe Regente as já referidas
criações médico-cirúrgicas.
Por Aviso de 18 de Março de 1813, o Príncipe Regente mandava criar o curso de
Cirurgia no Hospital da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, o qual abrangia
cinco anos, sendo condição de frequência os alunos saberem ler e escrever e possuírem
rudimentos das línguas francesa e inglesa. No final dos cinco anos os alunos recebiam a
carta de aprovação em Cirurgia, tendo os diplomados entrada imediata no Colégio
Carlos Jaca
40
Cirúrgico, como opositores às cadeiras da Escola do Rio de Janeiro e das que a Coroa
pretendia fundar nas cidades da Baía e Maranhão.
Visando uma prática eficiente, podiam muitos cirurgiões fazer depois exame das
cadeiras médicas, o que lhes abria o acesso à formatura e, mesmo, ao doutoramento em
Medicina. Há conhecimento de várias cartas de cirurgião passadas entre 1815 e 1820,
com a assinatura do Doutor Correia Picanço, que mantinha o cargo de Cirurgião-Mor do
Reino.
Ensino profissional - Comércio. Quer para aumento da riqueza do Estado, quer para a
melhoria das condições de vida dos indivíduos, pouco depois da chegada da Corte,
foram instituídas Aulas de Comércio, uma no Rio de Janeiro em 1810 e outra na Baía
em 1811, passando os negociantes e os seus caixeiros a dispor de uma formação
profissional até então inexistente.
O ensino nestas escolas compreendia a Aritmética, a Álgebra, a Geometria, a
Geografia, e várias matérias como moedas e câmbios, seguros, leis e usos, e
escrituração mercantil. A propósito da criação destas Aulas de Comércio, são
significativas as palavras do redactor da gazeta baiana: «homens analfabetos sem
princípios de educação, e mesmo de civilidade, dirigidos só pelo bem sucedido instinto
de ganhar dinheiro, podem vir a ser muito ricos e a abranger com as suas especulações
ainda mais que as quatro partes do mundo, porém nunca jamais poderão ser
negociantes na própria, e completa significação do termo».
Ainda durante a sua passagem pela Baía, o Príncipe Regente determinou que
fosse criada uma cadeira de Economia Política no Rio de Janeiro, entregando a sua
regência ao Dr. José da Silva Lisboa, deputado da Mesa da Inspecção da Agricultura e
Comércio da Baía. Com esse objectivo convidou este magistrado e economista a fixarse na capital do Brasil, a fim de o auxiliar «a levantar o império do Brasil».
Ciências. A reforma da Universidade de Coimbra, levada a cabo pelo Marquês de
Pombal, com a colaboração, entre outros, dos irmãos brasileiros João Pereira Ramos de
Azevedo Coutinho e D. Francisco de Lemos Faria Pereira Coutinho, Bispo de Coimbra
e Reitor daquela instituição, proporcionou a oportunidade para a formação científica de
muitos jovens que iriam emergir no período de permanência da Capital no Rio e,
mesmo depois, no período do Império.
Carlos Jaca
41
De facto, com a vinda da Corte para o Rio, o Brasil tornou-se objecto de muitas
expedições científicas, empreendidas por naturalistas e viajantes que, para as realizar,
obtinham licenças e favores do Governo de D. João.
Foi bem notório na cultura deste período, o interesse por todos os ramos da
História Natural, mas muito especialmente pela Botânica e Mineralogia. Na Botânica,
disciplina simultaneamente ligada à Medicina, à Agricultura e às Artes, procuravam-se
conhecer todas as espécies de plantas existentes no Brasil, não só para a classificação
dentro do sistema lineano, (Lineu, naturalista sueco, especialmente conhecido pelos
seus trabalhos de Botânica) mas para descobrir os seus usos medicinais, alimentares e
tecnológicos.
Botânico de grande mérito foi Manuel de Arruda Câmara, sócio da Academia
Real das Ciências de Lisboa, natural dos sertões de Pernambuco, que deixou entre os
seus escritos inéditos, as «Centúrias dos novos géneros e espécies das plantas
pernambucanas» e, para cuja elaboração contara com a ajuda do Padre João Ribeiro
Pessoa, professor de desenho no Seminário de Olinda, «o qual foi discípulo do autor e
viajou com ele pelos sertões, herborizando e trabalhando juntamente na Flora».
Em 1796, fora criado o primeiro Jardim Botânico, o de Belém do Pará, o qual
deveria servir de modelo a todos os outros que viessem estabelecer-se no Brasil. Porém,
foi a obra publicada pelo já referido naturalista, Arruda da Câmara, no Rio de Janeiro,
em 1810, intitulada «Discurso sobre a utilidade da instituição de jardins nas principais
províncias do Brasil», que deu novo impulso à criação destas instituições científicas.
Nesse mesmo ano, o botânico Kancke foi nomeado director das culturas dos
jardins e quintas reais, tendo-se já em vista o estabelecimento de um Jardim Botânico
«no lugar que por ele for escolhido por mais próprio para este destino». A Fazenda
Real cobriria todas as despesas que se fizessem em «alguma exploração botânica no
interior deste continente».
Quanto à Mineralogia, o outro ramo da História Natural mais desenvolvido no
Brasil deste período, embora se tivessem feito tentativas de classificação mineralógica
nas várias capitanias, e principalmente em Minas Gerais, dificilmente podiam passar por
uma análise química no próprio local, por via da falta de condições e de especialistas.
Assim, as amostras eram enviadas para o Rio de Janeiro, ou para a metrópole, a fim de
se poder detectar com maior rigor a riqueza mineralógica das regiões exploradas.
O Bispo Azevedo Coutinho, no seu «Discurso sobre o estado actual das minas
do Brasil», publicado em 1814, era apologista das escolas de Mineralogia,
Carlos Jaca
42
principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Cuiabá e Mato Grosso,
argumentando: «não é fácil de achar, nem ainda à custa de muitas diligências e
despesas, os tesouros que a natureza tem ocultos debaixo da terra e pelas serras e
brenhas intratáveis; o acaso, pela maior parte é que os descobre».
Segundo Azevedo Coutinho, o meio mais conveniente de se progredir nos
estudos mineralógicos naquelas Capitanias seria o de enviar «homens práticos»,
conhecedores das terras metálicas, recolher amostras que, depois, seriam enviadas aos
peritos na arte existentes nas grandes povoações, onde existissem laboratórios bem
apetrechados de instrumentos necessários para a análise e exames dos metais.
A melhor prova de que o anterior empirismo ia dando lugar à investigação
científica é o facto de que, por decreto de 25 de Janeiro de 1812, se fundava no Rio um
laboratório prático, «tendo em consideração as muitas vantagens, que devem resultar,
em beneficio dos meus fieis vassalos, do conhecimento das diversas substâncias, que às
artes, ao comércio e indústria nacionais podem subministrar os diferentes produtos dos
três reinos da natureza, extraídos dos meus domínios ultramarinos».
Em consequência da nova aliança celebrada entre a Corte do Brasil e a de Viena,
vieram ao Brasil duas missões de naturalistas que percorreram parte do território
brasileiro. D. Leopoldina de Áustria, que era muito dada ao estudo das ciências naturais,
esteve na base da visita ao Brasil desse notável grupo de cientistas, dele fazendo parte
os austríacos Mikan, Pohl e Von Natterer, o toscano Raddi e os bávaros Spix e Martius,
autores, todos eles, de trabalhos referentes à botânica, zoologia, mineralogia e etnologia
brasileiras; os dois últimos escreveram a valiosa «Viagem pelo Brasil», tornando-se
Von Martius, cognominado o “amigo das palmeiras”, coordenador da monumental
edição da «Flora Brasiliensis», considerada no dizer de Hélio Viana, a mais volumosa
obra até hoje escrita sobre a botânica brasileira.
Imprensa. Estranhamente, ou talvez não, (esclareça-se que a montagem de oficinas
tipográficas não estava autorizada na colónia e as tímidas iniciativas nesse sentido
tiveram existência efémera, uma vez que eram prontamente reprimidas) a produção
tipográfica era desconhecida no Brasil colonial e, assim, a sua «elite ilustrada» para
poder divulgar os seus escritos via-se obrigada a recorrer à imprensa metropolitana ou,
então, a fazer circular cópias manuscritas do seu labor literário ou científico. Só a vinda
da Corte alterou esta dependência da metrópole.
Carlos Jaca
43
Efectivamente, a instalação da actividade tipográfica só foi possível devido ao
facto de o equipamento ter sido trazido para o Brasil por António de Araújo de
Azevedo, Conde da Barca, que o encomendara em Londres, para funcionar e ser
aplicado em Lisboa, na Secretaria dos Estrangeiros e da Guerra, que ele dirigira como
ministro até à saída da Corte para o Rio.
Assim, por decreto de 13 de Maio de 1808, foi estabelecida na Corte do Rio de
Janeiro a Impressão Régia que devia publicar, além da documentação oficial, todas e
quaisquer obras e, principalmente, aquelas que contribuíssem para divulgar e
engrandecer a imagem oficial da monarquia
O decreto que criava a imprensa no Brasil era do seguinte teor: «Tendo-me
constado que os prelos que se acham nesta capital eram destinados para a Secretaria
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra; e atendendo à necessidade que há
de oficina de impressão nestes meus Estados; sou servido que a casa onde eles se
estabeleceram sirva interinamente de impressão régia, onde se imprimam
exclusivamente toda a legislação, e papéis diplomáticos que emanarem de qualquer
repartição do meu real serviço; e se possam imprimir todas e quaisquer outras obras;
ficando interinamente pertencendo o seu governo e administração à mesma secretaria.
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, do meu Conselho de Estado, Ministro e Secretário de
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra o tenha assim entendido, e procurará
dar ao emprego da oficina a maior extensão, e lhe dará todas as instruções e ordens
necessárias, e participará a este respeito tudo
o que mais convier ao meu real
serviço».
No próprio dia da fundação, a Impressão Régia fazia publicar, em homenagem
ao Príncipe Regente, que celebrava o aniversário, a sua primeira obra: «Relação dos
despachos publicados na Corte da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e
da Guerra, no faustíssimo dia dos anos de S. A. R., o Príncipe Regente N. S., e de todos
os mais, que tem expedido pela mesma Secretaria desde a feliz chegada de S. A. R. aos
Estados do Brasil até o dito dia. Rio de Janeiro, 13 de Maio de 1808. Na Impressão
Régia. Vende-se na loja de Manuel Jorge da Silva, livreiro na Rua do Rosário».
Entre as atribuições da Junta Directora constava o exame de tudo quanto se
mandasse publicar, impedindo a impressão de papéis e livros cujo conteúdo
“beliscasse” o Governo, a religião ou os bons costumes. Era a censura “colada” à Real
Tipografia, anulando a divulgação de ideias que ameaçassem a já frágil estabilidade da
Coroa.
Carlos Jaca
44
As obras que o Governo mandava publicar chegavam à oficina trazendo «ao pé
de página de rosto» a seguinte indicação: «Por Ordem de S. A. R.». No caso de serem
enviadas pelos próprios autores, e depois de passarem pela “peneira” da censura,
apunha-se-lhe a indicação: «Com Licença de S. A. R.».
Até 1822, foram publicados 1427 documentos oficiais e, ainda, pequenas
brochuras, folhetos, opúsculos, sermões, prospectos, obras científicas, literárias,
traduções de textos franceses e ingleses versando sobre agricultura, comércio, ciências
naturais, matemática, história, economia política, filosofia, teatro – óperas e dramas,
romance, oratória sacra, poesia, literatura infantil – ao fim e ao cabo, ali tudo se
imprimia desde que visado pela censura.
Registe-se, também, que a gravura em cobre e aço veio completar a obra da
Impressão Régia, a qual foi introduzida no Rio de Janeiro por Frei José Mariano da
Conceição Veloso, antigo director da Oficina Tipográfica do Arco do Cego, com a
colaboração dos artistas gravadores Ferreira Souto e Romão Elói de Almeida.
Em 1816, a Impressão Régia fez publicar a «Colecção de retratos de todos os
homens, que adquiriram nome pelo génio, talento e virtudes… desde o princípio do
mundo até nossos dias. Desenhados das medalhas e dos retratos pintados pelos mais
célebres artistas».
O nome original, Impressão Régia, foi sofrendo alterações, consoante os
acontecimentos políticos: em 1815, ano da elevação da colónia a Reino Unido de
Portugal, Brasil e dos Algarves, denominou-se Régia Oficina Tipográfica e, quando, em
1818, D. João foi aclamado rei, a oficina mudou o nome para Tipografia Real.
Pouco tempo depois do aparecimento da Imprenssão Régia, saía dos seus prelos
o primeiro periódico brasileiro, a “Gazeta do Rio de Janeiro”, cujo número inaugural
começou a circular a 10 de Setembro de 1808. Composta por quatro páginas, as suas
dimensões seguiam o padrão dos jornais estrangeiros: 19x13,5 com formato “in quarto”.
Em princípio seria semanal, mas a partir do segundo número passou a “biebdomadário”
(duas vezes por semana), instalando-se a direcção e a redacção nas oficinas da própria
Imprensa Régia.
Como órgão oficioso, tutelado pela Secretaria dos Estrangeiros e Guerra, e
redigida pelo frade Tibúrcio José da Rocha, oficial da referida Secretaria, era,
obviamente, o veículo indicado para fazer a propaganda da monarquia, transmitindo,
Carlos Jaca
45
através dos seus feitos, a imagem que lhe convinha. Enfim, “fazer ondas” sobre a
política governamental, estava, completamente, fora de causa.
No geral, descrevia as grandes e frequentes festas públicas, elogios e reverências
à Família Real, transcrevia as notícias das gazetas europeias e publicava diversos
anúncios e avisos que constituíam a publicidade da época. Até à queda de Napoleão,
noticiava acerca dos fluxos e refluxos do conflito que se desenrolava na Europa,
vibrando com as vitórias alcançadas sobre o futuro exilado de Santa Helena. Neste caso,
(e noutros) a “Gazeta do Rio de Janeiro” não deixava, naturalmente, de demonstrar
alguma parcialidade: os franceses eram considerados «pragas que assolavam a Europa»
e a saída de D. João para o Brasil, um plano magistral.
Parece ter sido o viajante Armitage, segundo Lília Moritz Schwarcz, quem
melhor definiu o jornal, afirmando nas suas páginas que «o Brasil parecia um paraíso
terrestre, onde ninguém reclamava nada». Porém nem todos “embarcavam” nessa
direcção. Era o caso do prestigiado, e temido, Hipólito José da Costa, brasileiro de
nascimento, exilado em Londres onde fundou o “Correio Braziliense”, e nele escreveu
acerca da “Gazeta”: «Gastar tão boa qualidade de papel em imprimir tão ruim matéria,
que melhor se empregaria se fosse usado para embrulhar manteiga».
Hipólito da Costa viveu em Portugal onde foi director da Junta de Imprensa
Régia, vindo a tornar-se, posteriormente, crítico do Governo português. Perseguido pela
Inquisição, acusado de maçon, esteve preso entre 1802 e 1804, ano em que conseguiu
fugir e passar a viver em Inglaterra. Aqui, três meses antes da oficial “Gazeta do Rio de
Janeiro”, lançou o já citado “Correio Braziliense”, cuja publicação, que era mensal,
terminou quando da Independência, em 1822.
Sem “papas na língua”, Hipólito da Costa, muito bem informado, «livre de
censura e com inspiração iluminista, redigia notícias, resumos analíticos, comentários
e críticas sobre os acontecimentos políticos da época, destacando sempre os erros e
acertos do governo português».
Por via da sua linha editorial, o “Correio” foi proibido de entrar no Brasil, onde
afinal circulava, clandestinamente, em larga escala, em todas as Capitanias e, constando,
que D. João VI era o primeiro a lê-lo.
No que respeita à Baía o grande passo para o avanço da tipografia deveu-se à
iniciativa de um negociante reinol, Manuel António da Silva Serva que, em 1811,
conseguiu autorização para «cooperar no aumento e progresso dos conhecimentos
literários e instrução pública». Da sua oficina saíram a gazeta baiana, com o título de
Carlos Jaca
46
“Idade d’Ouro do Brazil”, que se publicou até 1823, bem como o “Plano” destinado a
montar uma biblioteca pública em Salvador.
Artes e Letras. A chegada da Corte ao Rio de Janeiro, em 1808, não podia ter deixado
de promover uma europeização no Brasil. Entre as múltiplas modificações ocorridas na
nossa antiga colónia e que, aqui e agora, interessa salientar, referirei, apenas, o essencial
sobre Artes e Letras.
Teatro. Do legado cultural do período joanino, deve destacar-se como iniciativa
meritória para a renovação do cotidiano do Rio de Janeiro a criação do Real Teatro de
São João, um marco da arte dramática na nova capital. Por decreto de 28 de Maio de
1810, D. João determina a criação de um teatro que levava o seu nome e seria edificado
na Praça do Rossio:
«Fazendo-se absolutamente necessário nesta Capital que se erija um teatro
decente, e proporcionando à população e ao maior grau de elevação e grandeza em
que se acha pela minha residência nele, e pela concorrência de estrangeiros e outras
pessoas que vêm das extensas Províncias de todos os meus Estados, fui servido
encarregar o doutor Paulo Fernandes Viana, do meu Conselho e Intendente de Polícia,
do cuidado e diligência de promover todos os meios para ele se erigir».
Inaugurado a 12 de Outubro de 1813, começou a dar espectáculos com artistas
portugueses amadores, depois substituídos por profissionais dos teatros europeus. Neste
novo espaço representavam-se comédias e tragédias, além de peças líricas, óperas e
servindo, ainda, de palco a representações que projectassem o poder do Príncipe
Regente.
Nos dias de gala, a Família Real comparecia no Teatro e, nessas ocasiões, o
interior do São João era engalanado com «sanefas de seda, grinaldas de flores,
arandelas, lustres, e na tribuna real eram dispostas cortinas de veludo franjadas de
ouro». No início de cada espectáculo, a Família Real recebia um elogio dramático e
aparecia ainda representada no novo pano da boca de cena que homenageava a sua
entrada na Baía de Guanabara.
No Real Teatro de São João foram representadas, entre outras, as óperas «O
Juramento dos Numes», de Bernardo José de Souza Queiroz, «Axur, Rei de Ormuz», de
Salieri, «Merope», de Marcos Portugal e «La cenenterola», de Rossini. Em 1819,
saliente-se a apresentação das óperas «Tancredo» e a «Caçada de Henrique IV»,
cantadas pelas artistas estrangeiras Faschiotti e Sabini e por um tenor «magríssimo e
Carlos Jaca
47
afectado». Aqui, organizou-se também uma Companhia de Canto dirigida por Ruscollu
e outra de Bailados, sob a direcção de monsieur e madame Lacombe, «em geral bons,
tanto os cómicos como os dramáticos», sendo os bailarinos, no dizer do cronista
Pizarro, admirados pela «agilidade, delicadeza e perfeição do seu ofício».
Embora o Teatro fosse considerado um espaço público, era realmente restrito, de
patrocínio régio, onde a realeza se apresentava e…representava, tanto no camarote real
como no próprio palco. Isto acontecia quando as obras, especificamente, se lhe dirigiam,
como «O Himeneu», dedicada ao Príncipe D. Pedro e a D. Leopoldina, transformandose em protagonistas da própria peça.
Sublinhe-se que, para além do papel que exerceu enquanto lugar de
sociabilidade da Corte e, até, como um espaço privilegiado de manifestações políticas, o
teatro adquirira novas feições, funcionando como «dispositivo disciplinador de atitudes
e comportamentos», proporcionando mudanças nos hábitos da população da cidade.
Nas peças que se representavam, ridicularizavam-se as maneiras, vícios, dialecto
e outras peculiaridades da colónia. Visando corrigir certos comportamentos, o teatro
dava indicações precisas, a todos aqueles que o frequentavam, quanto ao «bom gosto» e
às «boas maneiras» que deviam adoptar se quisessem fazer parte do mundo da
respeitabilidade que agia, e se identificava, em conformidade com as normas de uma
sociedade de Corte.
Música. Spix e Martius, célebres naturalistas, já referidos, desembarcados no Rio de
Janeiro em Julho de 1817, precedendo a embaixada austríaca da Arquiduquesa D.
Leopoldina, testemunharam, e por escrito, aliás, como outros estrangeiros, que a música
era muito cultivada na Corte do Brasil. E, nada há de estranho nisso, porquanto, a
música era a arte preferida pela Família Real. Sublinhe-se que, ainda no Reino, D. João
passava longas temporadas no Palácio e Convento de Mafra onde, em recolhimento,
desfrutava, nomeadamente, a música sacra, arte que sempre fora do seu agrado.
Efectivamente, D. João, na esteira dos seus antecessores brigantinos, dispensou
grande protecção à arte musical, rodeando-se de cantores e executantes de alto nível,
para maior solenidade da Capela Real; espaço privilegiado do cenário musical do Rio,
entre outros melhoramentos, deu-lhe uma orquestra mais rica que incluía músicos idos
de Portugal e dotando-a de um coro adequado em número e qualidade.
Estimou-se que, em 1815, D. João, disponibilizava cerca de 300.000 francos
anuais na manutenção da Capela Real e do seu elenco de artistas, que incluíam
«cinquenta cantores, entre eles magníficos “virtuosi” italianos, dos quais alguns
Carlos Jaca
48
famosos “castrati”, (eunucos) e 100 excelentes executantes, dirigidos por dois mestres
de capela».
Em 1808, com a chegada da Corte, o Príncipe Regente chamou o Padre José
Maurício Nunes Garcia para mestre da Capela Real e que dirigira, até então, os serviços
de música da Sé Catedral. O Padre José Maurício pontificou em todas as funções
musicais, sacras e profanas, até 1811, quando
chegou ao Rio o maestro Marcos Portugal,
formado pela Escola Italiana e com larga
experiência de batuta na regência de São Carlos,
em Lisboa.
A
actuação
do
Padre
Maurício
correspondeu a uma poderosa aliança entre a
música de tipo clássico e de inspiração nativa,
compondo cerca de 70 músicas até ao momento da
chegada do maestro lisboeta. Registe-se ter sido
sob a sua regência que se tocou pela primeira vez
no Brasil o “Requiem” de Mozart, em Dezembro de 1819, durante as festas anuais
promovidas pela Irmandade de Santa Cecília. Já em 1809, havia composto a música
para o drama “ O Triunfo da América”, de D. Gastão Fausto da Câmara Coutinho, que
se representou a 13 de Maio, data do aniversário do Príncipe Regente.
O compositor Marcos Portugal terá decidido vir para o Brasil quando se
convenceu que a Corte não regressaria tão cedo a Lisboa e que, «cantores e músicos,
sobretudo italianos, já gravitavam em torno da nova Corte brasileira».
Marcos Portugal, logo que desembarcou no Brasil, em 1811, foi nomeado
mestre da Capela Real, passando o Padre José Maurício a inspector de música da Corte.
Autor de missas solenes, de sinfonias, de concertos, de hinos e de óperas e de outras
composições religiosas e profanas, Marcos Portugal preenche, por completo, esse
período musical do Brasil.
Em todas as cerimónias e celebrações, especialmente naquelas que eram levadas
a efeito na Capela Real, as principais peças eram compostas e dirigidas por Marcos
Portugal, que foi sem dúvida a primeira figura do panorama musical luso-brasileiro
durante o tempo em que a Corte permaneceu no Brasil, onde veio a falecer em 1830.
Este brilhante período foi ainda enriquecido pela vinda, em 1816, de Neukomm,
músico austríaco, discípulo preferido de Haydn e que, imediatamente, foi nomeado
Carlos Jaca
49
professor de piano da Infanta D. Maria e do Príncipe D. Pedro. O futuro Imperador do
Brasil foi autor de muitas composições musicais, algumas solenes, como o «Te Deum»
que foi elaborado para o seu segundo casamento, uma ópera em português executada em
1832 no Teatro Italiano de Paris, uma sinfonia para grande orquestra, as músicas para o
Hino Constitucional português e para o Hino da Independência brasileira.
Para o progresso da arte musical muito concorreu D. Leopoldina, que trouxe até
uma orquestra alemã na sua comitiva e promoveu a vinda de artistas, bem como a
divulgação de obras de Bontempo, impressas em Paris e Londres.
Embora longe de se comparar a Londres ou a Paris, o Rio de Janeiro, graças ao
mecenato da Corte, tornou-se um centro poderoso da arte musical.
Concluindo esta breve notícia sobre a
música na Corte do Rio de Janeiro referirei,
ainda que parcialmente, uma oportuna e
interessante
informação
Suplemento
“Tele.Escolha”,
publicada
no
da
do
edição
“Diário do Minho”, de 24 de Agosto do ano
findo, intitulada, «Músicas do período do rei D.
João VI nos palcos do Brasil».
Segundo a referida informação, o Rio de
Janeiro iria ser palco, durante os meses de Setembro e Outubro, de concertos de câmara
itinerantes com a intenção de apresentar ao público “carioca” músicas do período do rei
D. João VI, espectáculos inseridos nas comemorações da chegada da Corte portuguesa
ao Brasil.
Conforme anunciava o maestro Edino Krieger, «que assina a direcção geral dos
concertos dedicada à música sacra e profana, o objectivo é resgatar a memória musical
e as identidades culturais do Rio de Janeiro durante os 13 anos de permanência da
Família Real na cidade».
O maestro refere, ainda, que a programação dos concertos itinerantes sintetiza a
produção da música clássica da época, não só a religiosa mas também a popular, como
as “modinhas” e os “lundus”, estes últimos, de origem africana que os escravos
trouxeram para o Brasil e Portugal.
Quatro grupos vocais e instrumentais – o “Coro de Câmara Pro-Arte”, o
“Quarteto Colonial” o “Quadro Cervantes” e o “Grupo Retoques” – apresentariam
Carlos Jaca
50
músicas religiosas, bem como “modinhas” e “lundus” dos mais consagrados
compositores da época: Padre José Maurício, Marcos Portugal, Neukomm, Henrique
Alves de Mesquita, António José da Silva, Xisto Baía e Domingos Caldas Barbosa.
Krieger sublinha que o estilo musical no período joanino foi «um casamento da
melodia portuguesa com a música africana».
A «Missão Artística Francesa». – A ideia da fundação de uma Universidade em
território brasileiro não deixou de ser um projecto muito acarinhado por D. João VI
que, já desde Lisboa, se revelara um grande amigo e protector de artistas nacionais e
estrangeiros.
O projecto teria sido tão a sério que o Príncipe Regente chegou a convidar José
Bonifácio para director da futura escola superior, só que nem todos os seus ministros
apoiavam a ideia, consequência da «tenaz oposição do ainda preponderante elemento
português, o qual assim receava ver desaparecer uma das principais bases sobre que a
metrópole assentava a sua superioridade».
Em compensação deu-se início a uma Academia de Belas Artes, organizada com
artistas franceses de mérito e reputação. Foi, sem dúvida, António de Araújo de
Azevedo, homem culto e inteligente, e que mantinha relações com a alta roda intelectual
europeia, quem idealizara a formação da futura Academia. Conseguida a autorização do
Governo, Barca encarregou o Marquês de Marialva, embaixador em Paris, de tratar da
ida de uma «missão artística» para o Brasil.
Efectivamente, em Março de 1816, chega ao Rio de Janeiro a «missão artística
francesa», como veio a ser conhecida. O grupo que desembarcou na Guanabara era
dirigido por Lebreton (secretário perpétuo da classe de Belas Artes do Instituto de
França), acompanhado por alguns dos mais renomados artistas da época: Debret (pintor
de história e decoração), Nicolas Tauney (escultor), seu irmão, Auguste Tauney
(escultor), Montigny (arquitecto), Pradier (gravador), François Ovide (professor de
mecânica) e François Bonrepos (ajudante do escultor Tauney). A «missão» fazia-se
ainda acompanhar de 54 quadros de pintores ingleses e franceses, com o objectivo de
criar uma pinacoteca no Rio de Janeiro; embora a maioria fosse composta por
reproduções de obras renascentistas, bem ao estilo da época, a ideia era «suprir a
colónia americana, carente de boa arte».
O Governo francês não viu com bons olhos essa emigração de grandes
capacidades artísticas, organizada pelo embaixador português. O representante francês
Carlos Jaca
51
no Rio de Janeiro, Maler, chegou a insinuar tratar-se de um exílio disfarçado de
indivíduos afectos ao Império, o que não era a opinião do próprio Ministério dos
Negócios Estrangeiros, afirmando ser voluntariamente a expatriação e não se acharem
os artistas em questão “debaixo d’olho” da polícia ou ameaçados pelas leis de segurança
da monarquia restaurada.
Embora fosse claro o desejo de impor uma nova cultura artística mais de acordo
com o que se passava na Europa, a «missão» tinha objectivos mais amplos, conforme
ressalta do decreto da fundação, publicado em 12 de Agosto de 1816:
«Atendendo ao bem comum que provem aos meus fieis vassalos de se
estabelecer no Brasil uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios em que se
promovam e difundam a instrução e conhecimentos indispensáveis aos homens
destinados não só aos empregos públicos de administração do Estado, mas também ao
progresso da agricultura, mineralogia, indústria e comércio de que resultam a
subsistência, comodidade e civilização dos povos mormente neste continente cuja
extensão não tendo ainda o devido e correspondente número de braços indispensáveis
ao trabalho e aproveitamento do terreno, precisa de grandes socorros da estatística
para aproveitar os produtos, cujo valor e preciosidade podem vir a formar do Brasil o
mais rico e opulento dos Reinos conhecidos; fazendo-se, portanto, necessário aos
habitantes o estudo das belas-artes com aplicação e referência dos ofícios mecânicos,
cuja prática, perfeição e utilidade dependem dos conhecimentos teóricos daquelas artes
e de efusivas luzes das ciências naturais, físicas e exactas […]
Refira-se que, como está patente no decreto, o primeiro nome da instituição foi
«Escola Real da Ciências, Artes e Ofícios» mostrando, assim, como a sua inserção se
daria em diversos campos de actuação. E mais, note-se que, com a «missão», vieram
técnicos de construção naval, de construção de veículos, curtidores de peles, um
serralheiro, um mestre de obras de ferro… «atendendo a outros interesses do Estado e
formando homens não só destinados aos empregos públicos, mas também à agricultura,
mineralogia, indústria e comércio».
Se, de facto, o principal objectivo da «missão francesa» era a criação de uma
Academia de Arte e Ciências no Brasil, esse plano foi por “água abaixo”, isto é, não
saiu do papel e só em 1826, depois de proclamado o Império se procedeu à sua abertura.
Porquê?
Carlos Jaca
52
Entre outros factores que possam ter existido, salientarei aqueles que mais
contribuíram para o “emperramento” do projecto:
O Conde da Barca, principal inspirador e mecenas da futura Academia, faleceu
pouco depois da chegada da «Missão»; Lebreton, chefe da «Missão», perseguido por
Maler, cônsul de França, seu patrício e inimigo político, retirou-se para a praia do
Flamengo, um arrabalde de recreio, onde morreu «tristemente» em 1819; acrescente-se,
também, desde início, os ódios e as intrigas dos poucos mestres e artistas nacionais,
despeitados, que consideravam os seus talentos inexcedíveis; por fim, os problemas de
ordem política que se abriram com a insurreição pernambucana de 1817 e se
prolongaram com a revolução liberal de Portugal em 1820, bem como o movimento
nacional da Independência em 1821 e 1822. A «Missão» estava de tal modo
desarticulada, e sem apoios, que, nos anos decorridos de 1816 a 1826, o palácio da
Academia, de cuja construção fora encarregado Montigny, não conseguiu, por falta de
meios postos à disposição do arquitecto, passar do andar térreo com um pavilhão ou
templo grego no centro.
Apesar das contrariedades, entre 1816 1826, a «Missão Artística Francesa»
ganhou espaço e notoriedade. Embora os seus propósitos iniciais não tivessem sido
cumpridos no plano pictórico, deve-se-lhe a «transformação radical, que aos poucos
relegou o barroco a segundo plano e permitiu que o neoclassicismo passasse a
imperar, ao menos na Corte do Rio de Janeiro». De facto, os elementos que a
constituíam não deixaram de ter sucesso enquanto permaneceram à sombra da Corte e
bem desfrutaram dela, pois coube-lhes organizar e ornamentar as grandes celebrações
que a monarquia fez no Brasil durante os quatro anos que antecederam o regresso a
Portugal: depois das exéquias e cerimónias pelo luto de D. Maria I, sucederam-se as
galas, em que os ornatos fúnebres foram substituídos por arcos triunfais, obeliscos,
pinturas e iluminações, por ocasião do casamento do Príncipe D. Pedro com a
Arquiduquesa D. Leopoldina, o aniversário, a aclamação e a coroação de D. João VI.
Da «Missão Francesa», Debret, que se manteve 15 anos no Brasil, foi o artista
mais conhecido, deixando a melhor e mais completa iconografia da época transpondo
para a sua obra pictórica, de modo mais criativo, as cerimónias sociais, os costumes, os
tipos e as cenas do cotidiano do Rio de Janeiro. Debret executou, além de outros, os
retratos do Rei e do Príncipe, os quadros da aclamação de D. João, o do desembarque de
D. Leopoldina e o do embarque das tropas para Montevideu.
Carlos Jaca
53
Por sua vez, Montigny deixou inúmeros projectos arquitectónicos, alguns
concretizados, como a Praça do Comércio, além de inúmeros riscos de decorações
festivas intituladas “arquitecturas efémeras”, a exemplo do Arco do Triunfo alegórico,
na rua Direita, projectado para a chegada da Arquiduquesa e das alegorias
arquitectónicas contíguas à varanda projectada para a cerimónia da aclamação de D.
João VI.
A «Missão», como seria natural, viria a repetir os passos da sua matriz europeia,
tal como ocorreu na França napoleónica, sendo a grande responsável por uma série de
obras urbanísticas e grandes monumentos, «todos formados nos rígidos preceitos
neoclássicos», bem como veio a interferir no urbanismo da Corte, criando uma espécie
de «espaço de festa”, onde se levavam a efeito comemorações públicas associadas ao
Estado.
Letras. Alguns autores consideram que a produção literária dos primeiros anos do
século XIX, embora abundante, não é rica em originalidade criadora. A época é o que se
pode chamar de proto-romântica, principalmente a partir de 1820, quando o
constitucionalismo começa a entrar na política autonomista brasileira, na oratória, no
jornalismo e até na poesia.
Ao lado dos nomes de José Bonifácio de Andrade e Silva, Mont’Alverne e José
da Silva Lisboa, surgem nessa época de «agitação, dúvida e tentativa de reforma»..., de
que a cidade do Rio de Janeiro, como capital do novo Império português se fizera o
centro, os de António Pereira de Sousa Caldas, «o maior poeta do tempo», Fr. Francisco
de S. Carlos, José da Natividade Saldanha, Francisco Ferreira Barreto, José Elói Ottoni,
Fr. Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio e outros mais, de cuja actividade muito
lucrou a poesia, a história, a eloquência profana e sagrada, as ciências e as artes.
Além destes escritores, «últimos árcades e primeiros românticos», merecem
atenção, embora sem atingir grandes voos, Monsenhor José de Sousa Azevedo, Pizarro
e Araújo, Padre Luis Gonçalves dos Santos, Inácio Accioli de Cerqueira e Silva, Padre
Manuel Alves do Casal, António Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva, Marturi
Ribeiro de Andrade e outros.
Em posição cimeira, com grande interesse literário e obras escritas com um certo
fôlego, independência e elevado nível cultural, muito acima dos seus coetâneos, «que
são quase todos bajulatórios, ou tímidos e pacientes, serventuários de letras pesadas»,
Carlos Jaca
54
encontramos José Bonifácio de Andrade e Silva, que marca
a transição do
neoclassicismo para o romantismo.
José Bonifácio, Patriarca da Independência, «o mais culto dos brasileiros do seu
tempo», é identificado, no tempo da primeira Imperatriz do Brasil, como o “líder” do
«proto-romantismo libertador». Orador, político, estadista, poeta, cientista, era um
homem familiarizado com todos os problemas e sensibilidade do seu tempo:
«Doutor pela Universidade de Coimbra, conhecedor da Europa, onde esteve em
contacto directo com todos os centros de cultura, que percorreu demoradamente, era
possuidor de uma mentalidade universal. Cursou química e mineralogia em Paris;
estudou matemáticas puras, química mineral, metalurgia e outras ciências com as
maiores sumidades de Freiberg; refutou teses académicas e colaborou nas maiores
revistas europeias». Publicou trabalhos científicos, históricos e políticos. A sua vocação
literária surgiu precocemente, em 1779, aos 16 anos de idade, quando escreveu o soneto
«Improvisado».
Na prosa utilizou um estilo impetuoso e vernáculo de doutrinador e agitador
político, colaborou na reforma dos costumes, na legislação constitucional da Regência e
do período inicial do Império de D. Pedro, que o viria a desterrar, ao dissolver a
Constituinte, em 1823.
Quando se encontrava exilado, para além de traduzir Hesíodo, Píndaro e Virgílio
publicou, com o pseudónimo de Américo Elísio, em 1825, a sua primeira obra poética:
«Poesias Avulsas de Américo Elísio». Uma segunda edição, póstuma, de 1861, está
acrescida dos poemas «Ode aos Baianos», «Ode aos Gregos», «O Poeta Desterrado» e
«Cantigas Báquicas».
Depois da vinda da Corte para o Rio de Janeiro, a poesia ganhou um espaço na
revista “O Patriota”, divulgando uma lira inédita de Tomás António Gonzaga, um
soneto de Cláudio Manuel da Costa e uma canção e uma ode de Manuel Inácio da Silva
Alvarenga. Porém, a maior parte da produção poética publicada era de autores
contemporâneos, que escreviam odes a aniversários reais ou outros eventos.
No género poético da época as obras podem caracterizar-se por um arcadismo
(de Arcádia, planalto da Grécia, que em poesia se tornou o símbolo da simplicidade
pastoril) “lírico-teológico”, em que os autores são na sua maioria sacerdotes, teólogos e
frades: Padre Sousa Caldas, Fr. Francisco de São Carlos, Padre Januário da Cunha
Carlos Jaca
55
Barbosa, Fr. Francisco Xavier de Santa Rita Bastos Barauna, Virgílio Francisco Barreto,
e outros mais. Entre eles distinguem-se os dois primeiros.
António Pereira de Sousa Caldas (1762-1814), poeta insigne, nasceu no Rio de
Janeiro, mas foi em Portugal que fez os estudos primários e secundários, matriculandose, ainda, no Curso de Direito da Universidade de Coimbra. Viaja pela França e passa à
Itália, onde resolve abraçar a carreira eclesiástica.
Em 1807, acompanha a Corte para o Brasil, logo ganhando fama de orador
inspirado. Ao mesmo tempo prossegue na actividade literária, sendo autor da «Ode ao
homem selvagem», compositor místico de obras seráficas e poemas religiosos, como a
«Imortalidade da alma», «Ao Criador», «A necessidade da revelação» e «A existência
de Deus».
Sousa Caldas traduziu os «Salmos de David», “vertidos em ritmo português” e
«entregou-se a uma espécie de “filosofismo religioso” que revela muita e perfeita
sensibilidade». A sua poesia apresenta duas fases históricas: embora as «Obras
Poéticas» principiem pelos «Salmos» e terminem pelos poemas de índole profana, estas
é que representam a fase juvenil da sua trajectória literária, anterior ao ingresso na vida
sacerdotal.
Fr. Francisco de São Carlos (1768-1828), destinado, precocemente, à carreira
eclesiástica, ingressou, aos treze anos no Convento da Imaculada Conceição. Ordenado,
depressa granjeou fama de pregador que o levaria, posteriormente, a professor de
Eloquência e orador da Casa Real. Foi um poeta da especial estima de D. João VI e,
como pregador, ficou célebre a oração fúnebre que proferiu por ocasião do falecimento
de D. Maria I e a oração de Graças pelo nascimento da Princesa da Beira. No domínio
da poesia foi autor do extenso poema «A Assunção da Virgem», onde se encontram
versos de certo colorido profano e descritivo, como os que dedicou ao Rio de Janeiro:
«……………………………………
Por uma e outra parte ao céu subindo,
Vão mil rochas, e picos, que existindo
Desde o berço do mundo, e de então vendo
Os sec’los renascer, e vir morrendo;
Por tanta duração, tanta firmeza
Deuses parecem ser da natureza:
… ……………………………………………».
Carlos Jaca
56
Ainda no quadro da literatura poética, devem recordar-se os nomes daqueles
que, na época, cultivaram a poesia sem pertencerem ao clero: José da Natividade
Saldanha (1795-1832), formado em Direito pela Universidade de Coimbra, poeta
político, (desterrado, por via disso) autor de várias poesias lírico-patrióticas; Domingos
Borges de Barros, poeta galante, autor das «Poesias às senhoras brasileiras por um
baiano» e do poemeto «Os Túmulos». Borges de Barros foi um típico representante do
pré-romantismo e, apenas, não se tornou romântico em razão de alguns vestígios
neoclássicos.
Com o movimento constitucional de 1821, surgiram composições poéticas de
tema vincadamente político. Na Baía, foram escritos sonetos e odes aos «heróis
restauradores da pátria» e hinos patrióticos foram cantados no Teatro de São João. Dos
prelos da Impressão Régia saíram as «Poesias em aplauso dos heróicos feitos do
memorável dia 26 de Fevereiro de 1821», que incluíam sonetos a D. João VI, a D.
Pedro e à Nação portuguesa.
No Brasil de D. João VI, a oratória teve óptimas condições para o seu
desenvolvimento, porquanto, não havia festividade pública, solenidade ou cerimónia
fúnebre que não merecesse uma oração do púlpito.
Efectivamente, nos «Te Deum» em acção de graças, nas comemorações dos
aniversários, baptizados e casamentos reais, nos funerais e datas festivas, desde a
chegada de D. João VI, até à coroação de D. Pedro I, os sermões são peças de oratória
política, de sacra “brasilidade” (consciência nascente da nacionalidade) «entoadora de
hinos de louvor à Providência Divina pela eleição da primeira Corte americana».
Para além de Fr, Francisco de São Carlos, já referido, e de Fr. Francisco de
Mont’ Alverne saliente-se Inácio José de Macedo, presbítero secular, autor da «Oração
congratulatória ao Príncipe Regente», publicada na tipografia baiana, em 1815.
Proferida no dia do aniversário de D. João, esta peça retórica é, fundamentalmente, uma
apologia das “luzes”, do Príncipe Regente e, sobretudo, do fim da situação colonial em
que o Brasil, até então, se encontrava.
Com efeito, alguns sacerdotes pregadores, historiógrafos e poetas deste ciclo
entraram, por vezes demasiadamente, no campo da política «conspirando, promovendo
revoltas, organizando rebeliões». Elucidativo é o caso de Fr. Joaquim do Amor Divino
Caneca, frade pernambucano, que se tornara liberal, implicado na revolta de 1817 e
Carlos Jaca
57
organizador da revolução do Recife de 1824, e que é considerado por alguns críticos «a
mais nítida encarnação do espírito revolucionário do começo do século XIX no Brasil».
Igualmente, muitos outros clérigos passaram a ser adeptos e defensores do
liberalismo e da autonomia, pelo que a oratória se tornou profana, tribunícia e
parlamentar, perdendo, desse modo, interesse literário.
Quanto aos estudos históricos pode dizer-se que foram cultivados com maior ou
menor subserviência, o que não deverá causar espanto, se atendermos ao contexto
sociocultural e nos integrarmos nas circunstâncias históricas da época. Como quer que
seja, os memorialistas não deixaram de nos legar «apreciáveis e abundantes
repositórios de notícias verídicas».
Entre os historiadores da época em questão, registem-se os nomes de Monsenhor
José de Sousa Azevedo Pizarro e Araújo, autor dos sete volumes que constituem as
«Memórias Históricas do Rio de Janeiro e das Províncias Anexas à jurisdição do vicerei do Estado do Brasil»; O Padre Luis Gonçalves dos Santos (Padre “Perereca”),
deixou-nos em dois volumes, «Memórias para servir à História do Reino do Brasil»; a
crónica, em oito tomos, «Anais do Rio de Janeiro» deve-se a Baltazar da Silva Lisboa,
juiz de fora, no Rio, irmão de José da Silva Lisboa; José Feliciano Fernandes Pinheiro
foi o autor de «Anais da Capitania de São Pedro», «Dissertação sobre os limites
meridionais do Brasil», «Os irmãos Gusmão» e «A influência do Instituto Histórico»;
Inácio Accioli de Cerqueira e Silva, redactor de «As Memórias Históricas da Baía».
Como criador da Geografia do Brasil, embora aqui não tivesse nascido, refira-se,
ainda, o Padre Manuel Aires do Casal, autor da notável obra «Corografia Brasílica, ou
relação histórica e geográfica do reino do Brasil».
Terminando, e retrospectivando este capítulo, julgo ter sido bem formulada a
opinião autorizada de Oliveira Lima, quando afirma que a emancipação intelectual de
uma minoria restrita, ou mesmo ínfima, já existia antes da chegada da Corte, só que
faltava divulgá-la, quando não entre a grande massa, alheia a «estudos mais sérios» e
cuja situação socioeconómica não permitia cultura, pelo menos entre as camadas
superiores, às quais competia a função directiva. Esta terá sido a obra, em tal domínio,
dos treze anos do reinado de D. João VI.
Carlos Jaca
58
A Revolução de 1820 e a sua repercussão no Brasil. O regresso da
Corte a Lisboa.
As ideias políticas liberais, oriundas da Revolução Francesa, divulgavam-se em
Portugal, apesar de todas as proibições, inclusive por intermédio de sociedades secretas
e da maçonaria, da imprensa luso-brasileira em Londres, (“Correio Braziliense”) de
pasquins impressos e manuscritos.
A ausência da Família Real e as dificuldades económicas causadas pelas
invasões francesas contribuíram para aumentar o descontentamento e, mesmo depois de
“varrido” o inimigo napoleónico, D. João não se mostrava desejoso de regressar à
Europa.
A crise que se ia agudizando, provocou, finalmente, em 24 de Agosto de 1820,
no Porto, a eclosão de um pronunciamento militar que saiu vitorioso. Nos dias seguintes
houve, igualmente, pronunciamentos noutras povoações do Reino, seguindo-se, a partir
do Porto, uma marcha em direcção a Lisboa, onde a Regência e os ingleses (com o
detestado Marechal Beresford fora do País) haviam tido consciência da situação
explosiva que se apresentava, todavia incapaz de conter o movimento liberal.
Em 15 de Setembro Lisboa aderiu ao movimento, sendo destituídos os
Governadores nomeados pelo Rei, criando-se, então, a 27 do referido mês, uma Junta
Carlos Jaca
59
Provisional do Governo Supremo do Reino, enquanto uma outra Junta começou a
preparar a convocação de Cortes a fim de redigir uma Constituição.
No dia 17 de Outubro chegou ao Rio a notícia da revolução do Porto, levada
pelo bergantim “Providência”, notícia essa que não terá causado total surpresa,
porquanto, havia pouco tempo que o Marechal Beresford partira para a Europa com os
plenos poderes que solicitara, e com os meios que pedira para ocorrer às mais urgentes
necessidades do País e serenar o descontentamento que se manifestava. Assim, não se
podia, por conseguinte, considerar completamente imprevista a notícia. Sabia-se no Rio
de Janeiro que lavrava profundo descontentamento no ânimo das tropas (atrasos no
pagamento dos soldos e prepotências de Beresford) e no público em geral.
Obviamente, a situação não deixava de causar alguma perturbação e sobressalto,
que a distância tendia a avolumar, embora se tratasse de um movimento de carácter
moderado que jurava fidelidade à Coroa e ao Rei como ressaltava das proclamações: «É
em nome e conservando o nosso augusto soberano, o senhor D. João VI, que há-de
governar-se... Jurai pois obediência á Junta – Provisional do Governo Superior do
Reino, que se acaba de instaurar, e que em nome de El-Rei Nosso Senhor, o Senhor D.
João VI, há-de organizar a Constituição Portuguesa; jurai obediência a essas Cortes,
que fizerem, mantida a Religião Católica Romana, e a Dinastia da Sereníssima Casa de
Bragança… O nosso Rei e Senhor D. João VI como bom, como benigno e como amante
de um povo, que o idolatra, há-de abençoar nossas fadigas. Viva o nosso bom Rei!
Vivam as Cortes, e por elas a Constituição!
O problema que se levantava agora a D. João VI consistia em aceitar a
Constituição em projecto, o que implicava, em data muito próxima, o seu regresso a
Portugal, tanto mais que a Junta do Porto já lhe escrevera nesse sentido. Também em
Lisboa, quando se formou a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, os seus
membros voltaram a exprimir a D. João VI o sentimento «do amor que todos professam
à Sagrada Pessoa de Vossa Majestade e à Soberania da sua Augusta Casa».
De facto, o regresso do Rei era o que mais acirrava os ânimos, pois, desde 1814,
fazia parte da correspondência trocada frequentemente entre a colónia e a metrópole. O
Rei que sempre protelara a tomada de qualquer decisão, após 17 de Outubro de 1820,
quando chegaram as primeiras notícias de Portugal, reconheceu (ou fizeram-lhe
reconhecer) que o momento não podia ser mais de resistência, antes era de concessões e,
quando muito, dialogar sobre a extensão de liberdades.
Carlos Jaca
60
D. João pediu pareceres a ministros, conselheiros e magistrados sobre o rumo a
seguir. Alguns sugeriram que fosse o Príncipe D. Pedro a viajar para Portugal; outros,
que fosse o próprio Rei, sendo o objectivo que a ida de um membro da Família Real – o
Rei ou o Príncipe – pudesse de algum modo, sossegar as populações e, assim, deter a
marcha
da
revolução
em
Portugal.
Porém, entre
os mais próximos
colaboradores de D.
João, havia quem se
opusesse
ao
regresso de qualquer
membro da Família
Real, como era o
caso do ministro do Reino, Tomás António de Vilanova que entendia Portugal não
reunir condições «para se sustentar separado do Brasil e que, pelo simples decorrer do
tempo, a revolução acabaria por definhar», defendendo, por isso, uma orientação que
permitisse combater a revolução, mesmo que à distância. Depois, e em primeiro lugar,
tratava-se de declarar que as Cortes convocadas pelos Governadores do Reino eram
ilegais, «e é necessário dizer que o são, para que elas não digam aos Povos que têm
Autoridade de dar Leis ao Trono». Em segundo lugar, e uma vez que essas Cortes já
haviam sido convocadas, «faria maior mal o dissolvê-las», pelo que se tornava
«necessário também autorizá-las», mas apenas para «representarem tudo o que for
bom, e para ser sancionado o que não for contrário aos costumes e Leis do Reino».
Tomás António pretendia que as Cortes tivessem funções meramente consultivas e,
assim, evitar que surgisse uma Constituição, feita e elaborada, que se aplicasse também
ao Brasil, o que seria motivo de preocupação dos brasileiros e do próprio Rei excluídos
do processo da sua elaboração. Finalmente, sobre a terceira questão a da eventual
partida para Lisboa de um dos membros da Família Real – o ministro defendia que em
Carta Régia se prometesse o regresso a Portugal do próprio soberano ou do seu filho
primogénito, mas uma vez «terminadas as Cortes com Dignidade», só que a referida
Carta, enviada a 29 de Outubro, e recebida em Lisboa a 16 de Dezembro, não fazia já
qualquer sentido, porquanto, os seus destinatários, os Governadores do Reino, há muito
Carlos Jaca
61
tinham sido destituídos e as Cortes estavam prestes a ser convocadas «segundo as
instruções eleitorais da Constituição espanhola de 1812». Era a consequência
inevitável, já referida, nos intervalos da comunicação no trajecto Brasil - Portugal e
vice-versa.
Durante algumas semanas o governo brasileiro manteve-se silencioso, não
definindo a sua posição face à vitória dos liberais portugueses. De facto, a Corte, e
sobretudo o Rei, estava praticamente imobilizada, incapaz de encontrar uma resposta
que lhe permitisse alguma capacidade de intervenção sobre o desenrolar dos
acontecimentos em Portugal.
Palmela e Tomás António. Divergências – Entretanto, neste contexto, a 20 de
Dezembro de 1820, chega ao Rio o Conde de Palmela, um liberal moderado, para
assumir a pasta dos Estrangeiros e Guerra, e que trazia notícias “frescas” de Lisboa,
acerca dos projectos “vintistas”.
O Conde, durante a sua estada em Portugal, simultânea com os primórdios da
revolução, sentia que a única via para D. João VI era «acompanhar o passo pela
política da Europa». De Lisboa, o novo ministro não trazia só notícias recentes sobre a
«amplitude e profundidade» do movimento revolucionário português como era portador
de novos argumentos à defesa de uma solução de compromisso com as autoridades
rebeldes do País e procurando pôr em causa a influência que Tomás Vilanova gozava
junto do soberano.
Em ofício de 2 de Janeiro de 1821, solicita a D. João VI a reunião de um
«Conselho do seu Gabinete» para discutir o assunto, devendo, entretanto, adiar-se a
partida do paquete para Lisboa, até que se determinasse o plano a seguir.
Palmela tentava rebater a ideia, adoptada na Corte do Rio, de que a revolução
portuguesa se devia unicamente a motivos circunstanciais e que se poderia resolver por
providências de alcance limitado.
O Conde pensava em pôr termo, o mais depressa possível, à revolução de
Portugal para evitar outra pior no Brasil, entendendo que àquela só se chegaria a uma
boa solução através de inteligentes medidas liberais, «porque tais movimentos não eram
tanto expressões de descontentamentos locais como manifestações de um estado d’alma
geral, ao qual somente se acudiria com a outorga de uma Carta para fugir a uma
Constituição elaborada em Cortes».
Carlos Jaca
62
A fim de impedir, em todo o caso, que a concessão ultrapassasse certos limites, o
que, naturalmente, aconteceria se os revolucionários fossem deixados «sem freio e sem
receio», Palmela afirmava ser necessário o Rei ir para Lisboa «ou mandar o seu filho
primogénito para inspirar respeito e servir de centro de união aos bons portugueses», o
que tinha a vantagem de permitir ao monarca resistir melhor ao impulso popular, «o
qual poderia querer emprestar à Constituição uma orientação em extremo
democrática», ao mesmo tempo que prevenia quaisquer consequências fatais no Brasil,
indo talvez até à dissolução da monarquia.
Como o futuro duque refere, o seu voto encontrava-se em «oposição directa ao
de outro ministro, cujo parecer foi apoiado, ou por «convicção, ou por
condescendência, pela maior parte dos conselheiros» consultados. Tratava-se, como se
calcula, do Ministro do Reino, Tomás António de Vilanova Portugal, «o mais inepto e
lisonjeiro de todos os homens», segundo Luis Norton, que não cita a fonte de tal
afirmação.
Como era sabido, Tomás António opunha-se com “unhas e dentes” à ideia da
outorga das bases da Constituição, vendo nela uma ruptura decisiva dos princípios da
legitimidade monárquica: «A minha opinião é diametralmente contrária, porque Vossa
Majestade não se deve sujeitar aos Revolucionários; não deve largar o ceptro da mão;
compete-lhe conservar a Herança de seus Pais, até à última extremidade; não lhe
convém aprovar a Revolução, e desanimar todo o partido Realista; não lhe é decente
seguir os malvados, e desamparar os honrados [...]. Com esta medida [da outorga das
bases], vai perder-se a esperança do sistema...vai perder-se a esperança da Contrarevolução em Espanha e vai perder-se a obediência de Portugal, quando os actuais
intrusos perderem a popularidade...».
Quanto à sugestão de Palmela acerca do envio do filho primogénito do Rei,
Tomás Vilanova recusava-a igualmente, limitando-se a repetir as razões já expendidas
anteriormente: «...a vantagem que Vossa Majestade tem, é o estar aqui a salvo toda a
Família Real; a dependência que têm os Portugueses é de pedir uma Pessoa Real:
portanto não se deve conceder enquanto não voltarem à obediência...estou pois no
mesmo parecer em que estava. Vossa Majestade deixe-se estar no Seu Trono; nem falar
em Constituição; prometa todos os bens, e as mudanças de leis que forem prudentes ou
úteis: escreva aos Povos de Portugal, nomeie desses mesmos do governo intruso
alguns; e espere os sucessos; (a vertigem Revolucionária não pode durar muito tempo),
para que quando passar a vertigem o achem Rei e não Presidente».
Carlos Jaca
63
A situação complicou-se com o aparecimento de um folheto anónimo escrito em
francês, que acabou por ter larga divulgação. O impresso, cuja paternidade parece
discutível, se bem que haja quem afirme que Tomás António estava por trás, ao ter
conseguido autorização do Rei para que se publicasse através da Impressão Régia,
intitulado «Le Roi et la Famille Royale de Bragance doivent-ils, dans les circonstances
présentes, retourner en Portugal ou bien rester au Brésil?», colocava em debate a
separação do Brasil e era, abertamente, inspirado nas posições do Ministro do Reino. O
autor, (ou autores, navegavam, sem dúvida no mesmo “barco” de Tomás António)
apresentava seis proposições que, no fundo, não eram nem mais nem menos do que
provocações: Portugal precisava mais do Brasil do que o contrário; a partida da Família
Real para a Europa seria o prelúdio (julgo que o prelúdio já tinha sido “escrito”) da
independência do Brasil; D. João não manteria o seu domínio sobre o Brasil governando
de tão longe; em Lisboa o Rei estaria nas mãos dos
rebeldes; do Brasil o monarca controlaria o florescente
Império Português; D. João teria tempo, quando
quisesse, de fazer a mudança que lhe pediam naquele
momento.
A resposta era, previsivelmente, que a Família
Real devia continuar no Brasil, pela grandeza e riqueza
do seu território, que contrastava com o de Portugal
europeu e muito difícil de defender.
A
divulgação
do
panfleto
foi
enorme.
Distribuído no Brasil e até na Europa, pretendia
influenciar a opinião pública, só que a sua repercussão foi tão negativa que o Governo
resolveu recolher a respectiva edição, tornando extremamente raros os seus exemplares.
Hesitando na orientação a seguir, D. João esteve até Fevereiro de 1821 sem
definir a política mais conveniente para o seu Governo procurando, ou esperando,
possivelmente, que os seus ministros se entendessem, ou pelo menos, reduzissem o
espaço das suas divergências.
Adesão ao constitucionalismo português – A revolução liberal portuguesa, como se
vem constatando, provocou um eco retumbante no Brasil e, mais uma vez, foram as
Carlos Jaca
64
capitanias do Norte a lançar o grito de autonomia, bastando que na cidade do Pará se
acendesse a mecha para que as “explosões” se sucedessem.
Efectivamente, a primeira capitania a pronunciar-se foi a do Grão-Pará, onde na
cidade capital, a 1 de Janeiro de 1821, o estudante de Coimbra, Filipe Alberto Patroni
Martins Maciel Parente, conseguiu o pronunciamento da tropa e a formação de uma
junta constitucional sob a chefia de D. Romualdo António de Seixas, então vigário
capitular em Belém e, mais tarde, Arcebispo da Baía. A ordem acabou por ser
restabelecida, mas o “vírus” liberal manteve-se activo naquela capitania.
Não tardou muito que a Baía imitasse o Pará, tornando-se o palco das
manifestações contra o absolutismo.
Com os ânimos exaltados, o Governador, Conde da Palma, considerou prudente
pedir para o Rio de Janeiro reforços e instruções. Sabedores desta diligência, os liberais
resolveram precipitar os acontecimentos. Assim, em 10 de Fevereiro, o tenente-coronel
Manuel Pedro de Freitas Guimarães, conseguindo o apoio do regimento de artilharia
proclamou a adesão ao movimento revolucionário português, ao que se seguiu a
formação de uma junta provisória, indicada pelo Conselho Militar, que assumiu
imediatamente o Governo da Província e, com o apoio do povo, jurou ser fiel a D. João
VI e, ao mesmo tempo, à Constituição que viesse a estabelecer-se em Portugal.
Precisamente uma semana depois, a 17 de Fevereiro, chegava ao Rio a notícia do
movimento baiano, o que veio a desencadear uma crise política de vastas
consequências, não se admitindo, desde logo, como possível que o regresso de D. João
fosse capaz de fazer parar a revolução em curso.
Recebidas as notícias da rebelião triunfante, o Conde de Palmela oficiou, nesse
mesmo dia, a El-Rei, mostrando-lhe os inconvenientes que resultavam de se não terem
seguido os seus conselhos, e de se estar adiando, indefinidamente, a resolução de uma
crise grave e séria: «O momento é o mais crítico e terrível: verá Vossa Majestade que,
ainda mal, eram fundados os receios que eu lhe manifestava, e as súplicas de tomar
quanto antes em consideração o estado do Brasil... O fogo revolucionário vem
aproximando-se rapidamente e, se V. M. não conseguir dar-lhe uma direcção
conveniente, em breve se achará envolvido por todos os lados pelo incêndio...». E o
ofício continuava: «Não há agora um momento a perder: deve Vossa Majestade reunir,
logo, logo, um Conselho dos seus Ministros e de alguns brasileiros aqui, em quem
tenha maior confiança. Creio que as medidas de força e vigor não se podem já adoptar,
Carlos Jaca
65
por não haver quem queira executá-las, e nem seriam a propósito no estado de
efervescência em que vai achar-se brevemente esta cidade com a notícia de hoje».
A situação exposta pelo Conde demonstrava que, um dos princípios onde se
baseava a estratégia do Ministro do Reino, Tomás António, (que o Brasil se mantinha a
salvo do contágio revolucionário) caía por terra.
A urgente reunião pedida por Palmela realizou-se, de facto, logo no dia seguinte,
a 18 de Fevereiro, confirmando a decisão já tomada em fins de Janeiro, de enviar D.
Pedro a Portugal, considerando que seria o meio mais adequado para mostrar o interesse
da Coroa pelo trabalho da Assembleia Constituinte.
Por decreto saído da reunião, informava-se que o Príncipe iria, em breve,
credenciado para o desempenho de tal missão: «...pôr logo em execução as medidas e
providências que julgo convenientes, a fim de estabelecer a tranquilidade geral daquele
Reino; para ouvir as representações e queixas dos Povos; e para estabelecer as
reformas e melhoramentos e as Leis que possam consolidar a Constituição Portuguesa;
e tendo sempre por base a justiça e o bem da Monarquia, procurar a estabilidade e a
prosperidade do Reino Unido; devendo ser-me transmitida pelo Príncipe Real a mesma
Constituição, a fim de receber, sendo por mim aprovada, a minha real sanção».
Como, porém, a futura Carta poderia não ser perfeitamente adaptável às
condições específicas do Brasil, o decreto de 18 de Fevereiro, efectivamente publicado a
23, determinava a reunião de outras Cortes no Rio de Janeiro e, para preparar os
respectivos trabalhos, criou-se uma comissão composta de vinte membros «quase todos
brasileiros natos».
Palmela, escandalizado com a publicação precipitada do decreto, não esteve
pelos ajustes e, no dia seguinte, alegando estar afectado por «uma grande dor de
cabeça» e «sumamente transtornado» pedia ao Rei a sua demissão da pasta da Guerra e
Estrangeiros.
A estratégia defendida por Tomás António revelava-se um rotundo fracasso,
pois, em vez de serenar a grande agitação no Rio de Janeiro acabou por excitá-la e, de
modo, que se tornaria incontrolável. Naturalmente, o Governo não era estranho a essa
agitação, porquanto, conhecia-a, bem, através dos relatórios do Intendente Geral da
Polícia, dando conta de que na opinião pública existia uma forte pressão para que se
fizesse referência expressa à Constituição e, que no Brasil, «se adoptasse a Constituição
que se desse a Portugal».
Carlos Jaca
66
O pronunciamento de 26 de Fevereiro – A publicação do decreto que, de facto, previa
uma solução constitucional diferente para Portugal e para o Brasil, causou grande
efervescência nas tropas portuguesas, nomeadamente no núcleo mais operacional da
guarnição militar do Rio de Janeiro, que temiam qualquer medida susceptível de
afrontar as Cortes de Lisboa e viesse a causar a separação entre os dois reinos,
impedindo o seu regresso a Portugal; além disso, a ideia de que os brasileiros não
viessem a usufruir dos mesmos direitos cívicos e políticos dos portugueses, e que os
regimes fossem diferentes nos dois reinos, era inconcebível aos olhos de “muito boa
gente”, em particular da «caxeirada que se nutre com a leitura dos folhetos de
Londres».
Prestes a findar o mês de Fevereiro
rebentou a revolução na capital do Brasil e, de
mistura com o povo amotinado, os regimentos
vieram para as ruas. Deve esclarecer-se que este
pronunciamento militar não causou grande
surpresa
na
Corte
nem
no
aparelho
governamental, pois existe correspondência onde
aparece uma indicação entre Palmela e os
«regimentos», aos quais teria prometido a
publicação de uma carta constitucional à maneira
inglesa. Um outro ofício, de Tomás António, refere a «necessidade de se chamarem
certas personalidades para assegurarem os “batalhões” dos bons propósitos do
governo». Apesar de muito sintéticas, essas referências são suficientes para dar a
entender que os ministros estavam alertados para o perigo de um levantamento militar,
embora não lhe tivessem calculado as proporções, nem a proximidade.
A sucessão de indecisões, inquietando a prestigiada Divisão Auxiliar
Portuguesa, sedeada no Rio, levou a que os acontecimentos se precipitassem.
Com efeito, na manhã de 26 de Fevereiro as tropas, em especial os militares
portugueses, concentraram-se no Largo do Rossio (actual Praça Tiradentes), sob o
comando do Brigadeiro Francisco Joaquim Carretti, exigindo a demissão dos ministros
reaccionários e o reconhecimento régio da Constituição de Portugal, tal como viesse a
ser aprovada pelas Cortes de Lisboa.
D. João VI, preocupado, ou mesmo assustado, (lembrando-se, talvez, dos
acontecimentos de Paris) que até aí sempre mantivera o primogénito afastado dos
Carlos Jaca
67
conselhos do governo, resolveu apelar para a popularidade que o Príncipe desfrutava,
encarregando-o de ir serenar os ânimos.
O futuro Imperador do Brasil compareceu na Praça e, (ao que parece tinha já
entrado, anteriormente, em contacto com os oficiais revoltosos) aceitou as exigências
apresentadas, em nome de seu pai. Seguidamente, dirigiu-se ao Palácio de São
Cristóvão a informar o Rei da exaltação dos espíritos e a aconselhá-lo a não se opor à
vontade popular, que poderia provocar «um funesto conflito de paixões políticas»,
fazendo-lhe sentir que naquela situação já não era possível procurar subterfúgios, mas
seria necessário ceder.. João não hesitou um momento, aceitando o inevitável como lhe
aconselhara Palmela, sendo, ainda, obrigado a comparecer na Praça a fim de confirmar
as promessas e ratificar todos os compromissos que o filho assumira em seu nome.
A hábil intervenção de D. Pedro, que nesse dia iniciava verdadeiramente a sua
actividade política, aceitando as pretensões dos militares revoltosos, terá impedido
problemas de alta gravidade, nomeadamente a transferência do poder para uma Junta
Governativa, a adopção interina da Constituição de Cadiz de 1812 e eliminando o risco
da
cisão
em
repúblicas
independentes, como estava a
suceder na América espanhola.
Prestado o juramento à
futura Constituição por D. João
VI e toda a Família Real, à
tarde já estavam demitidos os
ministros
que
tanto
se
opunham às aspirações liberais
da Nação e nomeado o novo
Ministério, que passou a ter os
seguintes
titulares:
Vice-
Almirante Inácio da Costa
Quintela, na pasta do Reino;
Joaquim José Monteiro Torres,
igualmente Vice-Almirante, Ministro da Marinha e Ultramar; o publicista Silvestre
Pinheiro Ferreira, na pasta dos Estrangeiros e da Guerra; o Conde da Louzã, D. Diogo
de Meneses, Presidente do Real Erário, dias depois denominado Ministério da Fazenda.
Dois brasileiros natos tiveram cargos de relevo: António Luis Pereira da Cunha, depois
Carlos Jaca
68
Marquês de Inhambupe, nomeado Intendente Geral da Polícia, e José da Silva Lisboa,
futuro Visconde de Cairu, designado Inspector Geral dos Estabelecimentos Literários.
Perante os novos acontecimentos não era mais aconselhável a presença do Rei
no Brasil e, de facto, o regresso de D. João entrou imediatamente na ordem do dia, pelo
que aos olhos de muitos se tornava inevitável.
Logo a 28 de Fevereiro, o Ministro dos Estrangeiros e Guerra, Silvestre Pinheiro
Ferreira, dirige um ofício ao governo de Lisboa comunicando que o Rei «tinha
resolvido aprovar [...] a constituição que pelas cortes actualmente convocadas nessa
cidade foi feita e aprovada» e que «toda a real família, o povo e a tropa» do Rio
haviam jurado observarem e manterem essa mesma Constituição. Mais declarava, a
intenção do monarca de partir para Portugal, «com toda a sua real família, logo que sua
alteza sereníssima a princesa real do reino unido, restabelecida do seu feliz parto, que
se espera em poucos dias, se ache em estado de empreender a viagem de mar».
Dias depois, nos começos de Março, a questão foi discutida e decidida em
Conselho de Ministros, dando origem ao decreto de 7 do referido mês, cumprindo a
determinação de D. João VI de: «transferir de novo a minha Corte para a cidade de
Lisboa, antigo berço e berço original da monarquia, a fim de ali cooperar com os
deputados procuradores dos povos na gloriosa empresa de restituir à briosa Nação
Portuguesa aquele grau de esplendor, com que tanto se assinalou nos antigos tempos: e
deixando nesta Corte ao meu muito amado e prezado filho, o Príncipe Real do Reino
Unido, encarregado do Governo Provisório deste Reino do Brasil, enquanto nele se
não achar estabelecida a Constituição Geral da Nação».
O próprio decreto indicava a razão de ordem política que determinava o regresso
do Rei: o dever que caberia ao soberano, como a «primeira e sobre todas essencial
condição do pacto social» agora jurado, de «assentar a sua residência no lugar onde se
ajuntassem as Cortes, para lhe serem apresentadas as leis que se forem discutindo, e
dele receberem sem delongas a indispensável sanção».
A notícia de que a Família Real regressaria brevemente a Portugal desagradou a
alguns sectores da sociedade brasileira, receando que o Brasil voltasse à sua antiga
situação de colónia o que significava passar “de cavalo a burro”. Porém, a declaração
oficial de que D. Pedro ficaria como Regente diminuiu bastante esse receio, pois o
jovem Príncipe amava o Brasil e o povo tinha por ele enorme simpatia.
A propósito da partida da Família Real sublinhe-se que, conhecido o decreto de
7 de Março, foram muitas as representações que se fizeram para impedir tal decisão,
Carlos Jaca
69
sem que obtivessem, como se sabe, qualquer efeito. Oliveira Lima refere que
«choveram requerimentos do comércio, do clero, de proprietários, de empregados
públicos, implorando a permanência de D. João VI que os escutava comovido, trémulo
o grosso lábio e as lágrimas a correrem-lhe pelas gordas bochechas, sem ousar
contudo pronunciar um “fico”».
Igualmente, no mesmo sentido da sua permanência, dirigiu-lhe o Senado da
Câmara uma petição, reconhecido por tantos benefícios que havia proporcionado ao
Brasil, durante 13 anos, ao que D. João retribuiu com calorosos agradecimentos e dando
explicações acerca da impossibilidade de aceder àqueles desejos.
D. João VI já se resignara à partida pressionado pelas circunstâncias e pelo
interesse dos militares portugueses, que esperavam melhoria de oportunidades com a
dispensa dos oficiais ingleses e o pagamento pontual dos soldos, bem como pelo desejo
dos fidalgos que nunca, verdadeiramente, se integraram na sociedade brasileira. E mais,
prevenindo a tentação de uma união ibérica em que, eventualmente, o regime liberal
poderia envolver-se.
Ao mesmo tempo que o decreto que anunciava o regresso do Rei a Lisboa,
ficando o Príncipe no Rio, o que punha “ponto final” às súplicas, intrigas e suspeitas
originadas no boato de D. Pedro acompanhar o pai, outro decreto do mesmo dia 7 de
Março, determinava proceder à escolha dos deputados brasileiros às Cortes portuguesas,
que deveriam seguir no mais curto espaço de tempo a fim de tomarem assento nessa
assembleia deliberativa e constituinte. A Regência, tal como a partida, estava, então,
iminente. Assim aconteceu.
A 22 de Abril, D. João VI provia o filho primogénito no governo do Brasil, com
os títulos de Regente e Lugar-tenente, para que usasse do cargo durante a ausência régia
e enquanto a Constituição não determinasse «outro sistema de Regímen».
D. João outorgava ao Príncipe D. Pedro «todos os poderes para a administração
da justiça, fazenda e governo económico», cabendo-lhe também resolver «todas as
consultas relativas à administração pública». Atribuía-lhe igualmente, a faculdade de
prover «os lugares e ofícios de justiça ou fazenda» vagos ou a vagar, bem como os
«empregos civis ou militares» e, ainda, os «benefícios curados ou não curados, e mais
dignidades eclesiásticas, à excepção dos bispados», para os quais poderia, no entanto,
propor quem considerasse digno. Era-lhe também conferido o poder, majestático por
excelência, de «comutar ou perdoar» a pena de morte aos réus a ela sentenciados.
Finalmente, competia-lhe inclusivamente «fazer guerra ofensiva ou defensiva» contra
Carlos Jaca
70
qualquer inimigo que atacasse o Brasil e poderia conferir os hábitos das três ordens
militares às pessoas que entendesse dignas de tal distinção.
Estes poderes deveriam ser exercidos por D. Pedro em Conselho, formado pelos
dois ministros de Estado, o Conde dos Arcos nas pastas do Reino e Negócios
Estrangeiros, o Conde da Lousã na Fazenda e pelos dois secretários de Estado, marechal
Carlos Frederico de Caula na “repartição” da Guerra e o Major-general da armada,
Manuel António Farinha, na Marinha.
Não havia dúvida de que D. João VI sentia (ou fizeram-lhe sentir) que a hora da
independência não tardaria, estava na própria lógica dos acontecimentos políticos e, até,
porque o Rei não deixava de ter consciência do estado de desenvolvimento a que o
Brasil chegara.
A separação era irreversível, daí que, a 24 de Abril, de acordo com o testemunho
epistolar, posterior, do próprio Príncipe Real, ter-lhe dito o pai, na previsão de futuros e
próximos acontecimentos: «Pedro se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me
hás-de respeitar, do que para alguns desses aventureiros».
Confiada a Regência a D. Pedro, o Rei despedia-se dos habitantes do Rio de
Janeiro não escondendo a saudade que levava das terras de Santa Cruz: «Sendo
indispensável prover acerca do governo e administração desse reino do Brasil, donde
me aparto com vivos sentimentos de saudade, voltando para Portugal, por exigirem as
actuais circunstâncias políticas enunciadas no decreto de 7 de Março do corrente
ano...».
Dois dias depois, a 26 de Abril, D. João VI, deixando para trás um país
completamente transformado, e fundado um Império no Continente americano, rumava
a caminho de Lisboa viajando na esquadra real acompanhado por cerca de 4000 pessoas
e 50 milhões de cruzados. «A maré carregava o que a maré trouxera», no dizer de
Oliveira Lima. O Erário ficava, de facto, esgotado. Ao embarcar, D. João VI
“esvaziou”os cofres do Banco do Brasil e levou consigo o que ainda restava do tesouro
real que trouxera de Lisboa, para além das jóias da Coroa por si penhoradas, ao referido
Banco, como garante da dívida da Corte e que estariam agora nos porões da frota. Não
faltam testemunhos, e até oculares, a garantir que «a realeza que acabava de viver na
corrupção, fizera um verdadeiro assalto ao erário brasileiro», um autêntico
“sangradouro”, o que veio a provocar consequências dramáticas na economia brasileira.
Carlos Jaca
71
Após 68 dias de viagem, a esquadra, que trazia D. João VI, a Família Real e
muitos nobres e servidores que o tinham acompanhado, entrava na barra do Tejo a 3 de
Julho de 1821. O Rei foi recebido pelas autoridades liberais com respeito e cordialidade,
esperando, no entanto, que o monarca viesse já bem (e sinceramente) identificado com a
nova ordem, e dando a entender que os poderes absolutos pertenciam ao passado, só
que, e não seria de estranhar, uma boa “dose” de conservadorismo, longe de estar
completamente enterrado, ainda estava presente em alguns sectores da sociedade
portuguesa.
Por via disso, e receando manifestações susceptíveis de perturbar a ordem
pública, as Cortes proibiram qualquer tipo de ajuntamento, sendo punido todo aquele
que pronunciasse palavras de ordem, ou outros vivas, «que não fossem à Religião,
Cortes, Constituição, Rei Constitucional e Sua Real Família», o que levava a crer, ou a
desconfiar, que alguns teriam a intenção de saudar, em D. João VI, o monarca absoluto.
E, de facto, parece, que as aclamações feitas a D. João eram mais dirigidas ao soberano
durante longos anos ausente e que, desde 1814, em Portugal, se insistia pelo seu
regresso, do que ao Rei que prometera jurar a Constituição e... jurou, porquanto vinha
preparado para a realidade do País, o que lhe valeu alcançar uma bem necessária e
oportuna popularidade na opinião pública.
Bibliografia Consultada.
Nota: Uma parte, bem significativa, da presente bibliografia serviu de apoio aos trabalhos publicados
no Suplemento «Cultura» de 9 e 16 de Julho, 29 de Outubro e 5 e 12 de Novembro de 2008.
Barreiros, Coronel José Baptista – «Ensaio de Biografia do Conde da Barca». Edição da Delegação
Bracarense da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.
Carlos Jaca
72
Bennassar, Bartolomé e Marin Richard – «História do Brasil». Tradução de Serafim Ferreira. Teorema,
2000.
Calmon, Pedro – «O Rei do Brasil». Vida de D. João VI. Rio de Janeiro, 1935
Diário do Minho», Suplemento «Tele.Escolha», 24 / 8 / 2008 – «Músicas do período do rei D. João V
nos palcos do Brasil.
Gomes, Laurentino – «1808 – Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta
enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil». Publicações Dom Quixote, 2007.
Light, Kenneth e outros – «A Transferência da Capital e da Corte para o Brasil» – Tribuna da História.
Edição de Livros e Revistas, Lda. 2007.
Malafaia, Eurico de Ataíde – «António de Araújo de Azevedo, Conde da Barca – Diplomata e Estadista».
Subsídios documentais sobre a época e a personalidade. Arquivo Distrital de Braga / Universidade do
Minho, 2004.
Martins, Oliveira – «História de Portugal». Vol. II, Texto Integral. Publicações Europa – América.
Massaud, Moisés – História da Literatura Brasileira. Vol. I. Origens, Barroco, Arcadismo. Editora
Cultrix, São Paulo, MCMLXXXV.
Norton, Luis – «A Corte de Portugal no Brasil». Companhia Editora Nacional / INL – MEC. São Paulo,
1979.
Nova História da Expansão Portuguesa – «O Império Luso-Brasileiro, 1750-1822». Vol. VIII.
Direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques. Coordenação de Maria Beatriz Nizza da Silva.
Editorial Estampa, 1986.
Oliveira Lima, Manuel – «Dom João VI no Brasil». 3 Vols. 2ª Edição. São Paulo, 1945
Pedreira, Jorge e Costa, Fernando Dores – «D. João VI». Direcção de Roberto Carneiro. Círculo de
Leitores e Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica
Portuguesa, 2006.
Peres, Damião – «História de Portugal». Vol. VI. Edição Monumental, Barcelos, MCMXXVIII.
Sacchetti, António Emílio – «D. João VI e Napoleão». Revista da Armada, nº 413, Novembro de 2007.
Santos, Coronel Nuno Valdez dos – «A Viagem da Família Real Para o Brasil». «Baluarte» – Revista das
Forças Armadas Portuguesas, nº 6, 1989.
Serrão, Joaquim Veríssimo – «História de Portugal» – Vol. VII. Editorial Verbo, 1982.
Silva, Maria Beatriz Nizza da – «Cultura Portuguesa na Terra de Santa Cruz», (Coordenação). Editorial
Estampa, 1995.
Schwarcz, Lília Moritz – «A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis». Assírio & Alvim.
Outubro, 2007.
Valentim, Alexandre – «Os Sentidos do Império», Questão Nacional na Crise do Antigo Regime
Português. Biblioteca das Ciências do Homem. Edições Afrontamento. Porto.
Varnhagen, Francisco Adolfo de – «História Geral do Brasil». Tomo Quinto, 3ª edição integral. São
Paulo, 1936.
Viana, Hélio – «História do Brasil». Vol. II, 6ª edição, revista e actualizada. Edições Melhoramentos.
WilcKen, Patrick – «Império à deriva». Editora Civilização, 2007.
Carlos Jaca
73