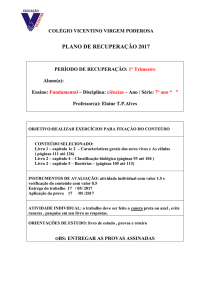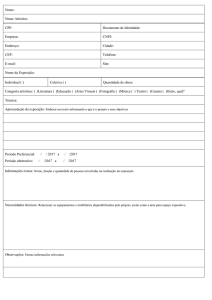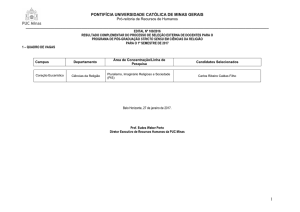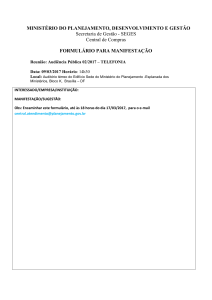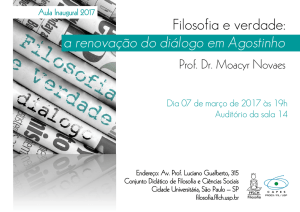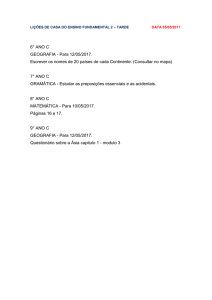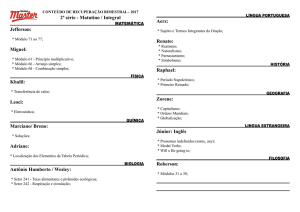REUNIÃO DE CONJUNTURA
20/03/2017
Conjuntura Local
Pressão estrutural por gastos públicos (Pedro Malan - 14/03/2017) ......................................... 1
Para evitar o pior (Raul Velloso - 14/03/2017) .......................................................................... 2
Fechando a questão (Paulo Guedes - 13/03/2017) ................................................................... 4
Gastos previdenciários no Brasil são altos na comparação com OCDE(Samuel Pessoa - 13/03/2017)
................................................................................................................................................ 4
DR com a indústria (Zeina Latif - 09/03/2017) ........................................................................... 5
A heterodoxia na raiz da crise (Pedro Cavalcanti e Renato Fragelli- 15/03/2017) ...................... 7
O câmbio de volta à baila (Marcio Garcia - 10/03/2017) ........................................................... 8
Políticas fiscal e monetária (Yoshiaki Nakano- 14/03/2017) .................................................... 10
0
Pressão estrutural por gastos públicos (Pedro Malan - 14/03/2017)
Pedro Malan cursou engenharia elétrica pela Escola Politécnica da PUC-Rio e é
doutor economia pela Universidade de Berkeley. Foi Ministro da Fazenda, presidente
do Banco Central do Brasil e do conselho de administração do Unibanco. Também
participou do conselho administrativo do Ponto Frio e da Alcoa Alumínios.
***
Este é o primeiro de uma série de três artigos sobre três processos de
mudanças de longo prazo que marcaram nossa experiência ao longo de décadas
passadas e continuarão a marcar décadas vindouras. Muito além dos debates de
2017-2018 e dos próximos mandatos presidenciais de 2019-2022 e 2023-2026.
As três mudanças de longo prazo estão na raiz da pressão estrutural por
maiores gastos públicos no Brasil. Uma pressão que acabou por tornar imperativa a
emenda constitucional sobre limites à expansão continuada desses gastos e da
reforma da Previdência, ora no Congresso, sem a qual, entre outras, o Brasil não terá
condições de retomar o crescimento sustentado com inflação sob controle e maior
justiça social.
O primeiro processo, como pano de fundo, é o elo crucial entre mudanças
demográficas e urbanização: o Brasil é hoje a terceira maior democracia de massas
urbanas do mundo. O Brasil será um “case” (estudo de caso) de relevância e interesse
global, dada a sua extraordinariamente rápida transição nessa área.
O segundo processo diz respeito às nossas flagrantes necessidades e
carências de infraestrutura “física” (transporte, energia, portos, saneamento) e à força
histórica do apelo ao “desenvolvimento nacional”, tido por muitos como “intensivo em
Estado”.
O terceiro processo de mudança de longo prazo está ligado às nossas não
menos flagrantes necessidades e carências de “infraestrutura humana” (educação,
saúde, segurança) e às legitimas pressões por menor desigualdade na distribuição de
renda e de oportunidades.
Esses três processos de mudança exigem respostas de sucessivos governos –
democráticos (como no Brasil de 1946-1964 e de 1985 ao presente) ou
centralizadores e autoritários (como em 1937-1945 e 1964-1985). Todos, sem
exceção, tentando responder aos desafios postos por essas mudanças nas
circunstâncias e restrições sob as quais operam.
Regimes democráticos permitem uma ampla gama de expressões dessas
demandas. Mas nas suas respostas a elas estão sujeitos a ritos do Parlamento e a
decisões judiciais, enquanto regimes centralizadores/autoritários podem restringir a
expressão dessas demandas, por um lado, e, por outro, ser mais seletivos no
atendimento daquelas a que decidem responder – ou ignorar. O restante deste artigo
trata da extraordinária singularidade brasileira no quesito demografia/urbanização.
O Brasil é o quinto maior país do mundo em termos de população (e extensão
territorial) e o quarto maior país em termos de população urbana. É o terceiro em
termos do aumento, em números absolutos, da população urbana entre 1950 e o
presente, superando o aumento equivalente dos EUA no período. Enquanto nossa
população total aumentou cerca de quatro vezes entre 1950 e 2017 (de 51,9 milhões
para 207,6 milhões estimados), a nossa população urbana passou de 36% do total em
1950, para cerca de 86% em 2017 (isto é, de 18,7 milhões para 178 milhões, um
aumento de 9,5 vezes). Nem nos EUA o aumento absoluto da população urbana no
período chegou aos nossos 160 milhões (178-18) no período. Nem as populações
urbanas da China e da Índia no período se multiplicaram 9,5 vezes. Somos hoje a
terceira maior democracia de massas urbanas do mundo, após Índia e EUA.
Mais importantes são a rapidez vertiginosa com que cresceu a nossa
população (total e urbana) desde o pós-guerra e a velocidade não menos vertiginosa
com que nossas taxas de crescimento populacional vieram declinando no curto
espaço de pouco mais que uma geração, desde os anos 90. De taxas de crescimento
que chegaram a superar os 3% ao ano nos anos 50 e 60 (média de 2,8% ao ano entre
1
1950 e 1980) passamos hoje, em 2017, a uma taxa de crescimento populacional da
ordem de 0,77% e declinará para menos de 0,4% na segunda metade da próxima
década.
Nossa população total, hoje de 207,6 milhões, chegará aos 218 milhões por
volta de 2025, alcançará seu ponto máximo de pouco mais de 228 milhões no início
dos anos 2040 e começará a declinar, voltando aos 218 milhões em 2060. A partir de
2050 só a faixa etária dos 60 anos de idade ou mais estará crescendo.
A expectativa de vida ao nascer de um brasileiro em meados na década dos
1940 era da ordem de 45 anos. Hoje a expectativa de vida ao nascer é de mais de 75
anos (79 para mulheres e 72 para homens). Mas para quem chega aos 55 anos
(próximo da idade média de quem se aposenta por tempo de contribuição) a
expectativa de vida é de 81 anos, ou seja, 26 anos mais. Para quem chega aos 65
anos, a expectativa é de 82 anos para homens e 85 para mulheres.
Os idosos representam hoje 12 dentre cada 100 trabalhadores. Em meados da
próxima década devemos chegar a 18 para cada 100. Em 2050 chegaremos a 30%.
Em 2060, dado que só a faixa etária dos 60 anos ou mais estará crescendo, e todas
as outras diminuindo, os idosos representarão cerca de 45% do total. Parece longe?
Infelizmente, não.
Sem mudanças como as contempladas na PEC ora em discussão, os
benefícios previdenciários e os déficits da área cresceriam, aceleradamente, nos
próximos dez anos, reduzindo a participação de outras áreas no Orçamento, incluídos
os gastos com educação, segurança e serviços na área de saúde, exatamente quando
estarão aumentando as demandas derivadas do crescimento rápido da população
relativa de idosos no conjunto da população.
É muito real o risco de ficarmos “velhos” muito antes de ficarmos “ricos”, por
exemplo: chegar, pelo menos, ao nível de renda per capita de países do sul da
Europa, que têm de 50% a 66% da renda per capita dos EUA (o Brasil tem hoje pouco
menos de 30%, na mesma base de comparação). Corremos o risco de um “futuro
adiado” – mais uma vez –, e por vários anos, se não nos erguermos à altura dos
conhecidos e nada triviais desafios do presente. Como estamos tentando – forçados
por uma crise, que veio sendo contratada muitos anos antes de 2014.
Para evitar o pior (Raul Velloso - 14/03/2017)
Raul Velloso é consultor econômico e ex-secretário de Assuntos Econômicos do
Ministério do Planejamento. É Ph.D em economia pela Universidade de Yale, nos
EUA. Foi membro do Conselho de Administração do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), membro do Conselho de
Administração da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e membro do
Conselho Técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
***
A divulgação dos 3,6% negativos do PIB do ano passado trouxe à tona os
difíceis ajustes que segmentos importantes, mas despreparados para essa dificílima
tarefa, têm de fazer. Somando os dois últimos anos, trata-se de uma queda acumulada
de perto de 8%, a pior recessão para dois anos registrada em nossas estatísticas.
Destaco os casos das concessões rodoviárias aprovadas em 2013 e o das
finanças estaduais. Em ambos, pode haver problemas de natureza estrutural por
resolver, mas diante do que será detalhado a seguir, não dá para ter uma atitude
meramente contemplativa dos aspectos conjunturais, deixando cada um se virar como
pode.
No tocante às concessões, uma vez assinados os contratos, o serviço tem de
ser executado, seja como for, a menos que se decrete a caducidade do contrato, pior
dos mundos para as partes envolvidas, ou se o renegocie, coisa que o governo não
demonstra disposição para fazer. Não há como fazer o que o setor privado faz em
outras áreas. Lá, pode desistir de atuar, reduzir drasticamente investimentos, ajustar
preços para cima etc.
2
Partindo das duas parcelas acima citadas, chega-se a uma impressionante
frustração de receita dos projetos licitados em 2013 entre 19% e 20%, somando-se a
elas o crescimento positivo acumulado que se projetava para 2014-16, ao redor de
11,4%. Adicionem-se a isso as perdas relativas a outras variáveis macroeconômicas
relevantes para o cálculo da taxa de retorno dos projetos de concessão. O custo do
dinheiro, por exemplo, representado pela taxa Selic, poderá aumentar 54% em 20142017, em relação às projeções feitas em 2013.
Outras intervenções governamentais que prejudicaram as concessionárias
incluem o atraso nas concessões de licenças ambientais e o descumprimento das
promessas de financiamento por parte do BNDES. Com a intenção de reduzir a tarifa
ao mínimo imaginável para o usuário, o governo assumiu o compromisso de o BNDES
financiar 70% dos projetos com juros subsidiados, o que reduziria substancialmente o
custo de capital. Sob essa importante premissa, as concessionárias fizeram seus
lances no leilão, só que, uma vez assinados os contratos, o governo voltou atrás, e a
participação do BNDES caiu para 45%, afetando fortemente sua rentabilidade.
Isso tudo representou, sem dúvida, um tiro no coração dos contratos de
concessão. Até o momento, o governo assiste passivamente à destruição desses
importantes empreendimentos numa área crítica para a retomada, como a de
infraestrutura. À medida que não são cumpridos determinados compromissos, como o
de investir “x” numa determinada data, as autoridades aplicam multas milionárias, que
obviamente contribuem para acentuar o problema. Nessas condições, para evitar o
pior, é preciso renegociar adequadamente os contratos acima referidos, devendo-se
salientar que a medida provisória em discussão no Congresso, destinada a ajustar as
concessões, está longe de endereçar da melhor forma os principais problemas
existentes.
Passando aos estados, onde há serviços essenciais bem próximos dos
usuários que não podem ser abandonados, tenho mostrado o alto grau de rigidez dos
gastos, esse sim um grave problema estrutural, ficando o governador com uma
parcela mínima da receita para administrar. Foi em cima disso que desabou a
megarrecessão de 2015-16, com o agravante, no caso do Rio de Janeiro, da forte
queda de receita decorrente da queda no preço externo do petróleo, ambos
impossíveis de prever.
Acabo de apurar, com base em dados de balanço para 2015, para o caso de
Minas Gerais, segundo ou terceiro estado em maior dificuldade financeira, que no
mínimo 27,1% da receita corrente líquida de transferências (RCLT) têm de ser
destinados legalmente à educação e saúde, e, mesmo sem uma exigência legal
específica, 15,7% à segurança pública e 11,3% aos poderes autônomos (Legislativo,
Judiciário etc.). Adicionando-se a parcela de 10,7% da RCLT destinada ao serviço da
dívida (basicamente à União), chega-se a 64,8% do total. Nesses itens não estão
incluídos os gastos com aposentados, de 28% da RCLT, o que eleva a parcela
altamente rígida a 92,8%. Ou seja, restam apenas 7,2% da RCLT para cobrir gastos
de pessoal nas demais secretarias, de 4,8% e mais um custeio mínimo de 2,4% do
total. Em 2015, na verdade, o custeio antes referido foi de 14,2%, e os investimentos
mínimos, de 3,2% da RCLT. Dada uma receita de capital de 1% da RCLT, restou um
déficit orçamentário de 14%, obviamente empurrado para a frente sob a forma de
“restos a pagar”.
Assim, sob uma grave recessão e gastos muito rígidos, os percentuais do
grupo mais rígido se elevam, e o governador, sem margem para se endividar, vai
jogando os problemas para frente enquanto não chega o final do mandato, quando a
Lei de Responsabilidade Fiscal exige que ele zere os atrasados.
Em vez de construir soluções razoáveis, como a que sugeri o ano passado, o
governo só conseguiu até agora enfrentar, e de forma parcial, o caso mais grave, do
Rio de Janeiro, faltando ainda evitar o pior em outros estados igualmente complicados.
3
Fechando a questão (Paulo Guedes - 13/03/2017)
Paulo Guedes possui Ph.D em economia pela Universidade de Chicago, EUA. É
fundador e sócio majoritário do grupo financeiro BR Investimentos e um dos quatro
fundadores do Banco Pactual. Foi professor de macroeconomia na PUC-Rio, na FGV
e no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) no Rio de Janeiro.
***
A hesitação dos partidos da base em aprovar a reforma da Previdência pode
custar caro ao governo Temer e muito mais caro ao país.
As taxas de juros, que já estão em forte queda pelo desabamento das
expectativas de inflação, poderiam cair muito mais rápido pela garantia de desarme do
endividamento público em bola de neve que resulta do atual descontrole sobre os
gastos previdenciários.
A tímida recuperação ensaiada pela atividade econômica receberia ventos
extremamente favoráveis. Pois uma desaceleração simultânea nas trajetórias das
despesas fiscais com a Previdência e com os juros da dívida deflagraria um círculo
virtuoso de maior controle de gastos públicos, juros em queda, reversão da queda do
dólar, mais estímulo aos investimentos e às exportações, recuperação da economia e
do emprego, com aumento orgânico de arrecadação tributária.
Se o presidente quer avançar com as reformas e não teme a impopularidade,
precisa encaminhar com seus aliados a aprovação dessa proposta “fechando questão”
dentro de seu próprio partido e também entre os partidos de sua base de apoio
parlamentar. Em matéria tão decisiva para o futuro das finanças públicas, é
imprescindível essa cláusula de votação partidária em bloco. É claro que esse ajuste
fiscal na Previdência não é a reforma ideal.
Que deveria exibir no mínimo um gradual nivelamento dos benefícios recebidos
pelos próprios congressistas, militares e funcionários públicos, quando comparados
aos recebidos por nossa população de idosos. Fingir lutar pelos menos favorecidos
sem abrir mão de seus privilégios é demagogia sem nenhum apoio na aritmética dos
orçamentos públicos ou na ética republicana.
A temperatura vai subir substancialmente com o avanço das investigações da
Lava-Jato sobre os praticantes da Velha Política. Existem agora duas possibilidades
abertas para essas criaturas do pântano, sejam políticos corruptos ou piratas privados.
São as clássicas soluções da moral estabelecida pela civilização judaico- cristã.
A primeira é confessem e se arrependam em busca do perdão, contribuindo
por colaborações premiadas com nosso aperfeiçoamento institucional. A segunda,
para psicopatas antissociais e ladravazes incorrigíveis, é a danação eterna, com
cadeia e ostracismo na cidade dos homens.
Gastos previdenciários no Brasil são altos na comparação com
OCDE(Samuel Pessoa - 13/03/2017)
Samuel de Abreu Pessôa é professor da pós-graduação em economia da EPGE/FGV,
chefe do Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia
(IBRE/FGV) e editor da revista “Pesquisa e Planejamento Econômico”. É doutor em
economia pela Universidade de São Paulo (USP), bacharel e mestre em física pela
mesma universidade.
***
O quadro representa o gasto previdenciário para diversos países. Os dados
foram obtidos no site da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico). No eixo horizontal, está representada a razão de dependência de
diversas sociedades. Trata-se da razão entre a população com 65 anos ou mais e a
população economicamente ativa, isto é, com idade entre 20 e 64 anos.
4
No eixo vertical está representado o gasto do setor público com aposentadorias
e pensões de servidores e trabalhadores do setor privado, além de benefícios não
contributivos, e outros benefícios para a terceira idade, como gastos com mobilidade
de idosos e subvenção pública para asilos. Foram excluídos os gastos com
aposentadoria por invalidez.
Para o Brasil, empregamos os dados públicos, do Tesouro e do Ministério da
Previdência Social, sobre os gastos com aposentadorias e pensões dos servidores e
do setor público, rurais e urbanos, além dos benefícios da Lei Orgânica da Assistência
Social (Loas).
Nosso gasto se equipara ao da França e é pouca coisa menor do que o da
quebrada Grécia, apesar de a razão de dependência por lá ser quase três vezes maior
do que a nossa.É óbvio que as regras de concessão de benefício previdenciário são
no Brasil totalmente fora do razoável em comparação aos países da OCDE. Diversas
simulações indicam que, quando tivermos a estrutura demográfica da Grécia, se nada
fizermos, o gasto atingirá 22% do PIB. Antes disso, nossa economia perderá a
capacidade de crescer e nossos filhos serão ainda mais pobre do que somos.
A reforma da Previdência, além de ter importante impacto de longo prazo sobre
o Orçamento, aumentará no médio prazo a taxa de poupança, contribuindo para a
redução de forma sustentada das taxas de juros.
Trata-se da reforma mais importante para recuperarmos a solvência fiscal e
com ela a estabilidade macroeconômica e o crescimento econômico.
DR com a indústria (Zeina Latif - 09/03/2017)
Zeina Latif é doutora em economia pela Universidade de São Paulo (USP) e
economista-chefe da XP Investimentos. Trabalhou no Royal Bank of Scotland (RBS),
ING, ABN-Amro Real e HSBC.
***
A indústria é o setor mais sensível ao custo Brasil, sendo um setor importante
para um país de renda média e heterogêneo. A fraqueza da indústria não é um bom
sinal. A carga tributária é mais elevada na indústria (segundo a Firjan, em 45% em
5
2012), trazendo consigo os percalços da cumulatividade de impostos, que penaliza
cadeias de maior valor agregado, e da complexidade de regras, que desvia recursos
para o atendimento das leis tributárias.
A indústria é mais penalizada pela baixa qualificação da mão de obra. Sofre
também com a complexidade de regulações e regras que impactam o setor.
A agropecuária é menos sensível ao custo Brasil, enquanto o setor de serviços
consegue repassar mais facilmente pressões de custos a preços finais, pois concorre
menos com o importado. A indústria sofre dos dois lados.
Assim, a indústria se mostra também mais sensível ao ciclo econômico. A
desarrumação da economia no passado recente, com inflação elevada e salários
subindo em ritmo incompatível com a estagnação da produtividade do trabalho,
prejudicou particularmente o setor. O primeiro a sentir as consequências de políticas
equivocadas e o que mais sofreu na crise.
Como agravante, o tratamento dado aos vários segmentos da indústria não é
uniforme. Alguns são mais beneficiados com políticas setoriais que outros. Como não
existe almoço grátis, o benefício de poucos prejudica os demais, pela elevação de
custos, e os consumidores pagam mais caro pelo produto.
Exemplo disso é o tratamento tarifário. Alguns são mais beneficiados com tarifa
de importação elevada sobre o produto final e baixa sobre insumos. O índice de
proteção efetiva, que mede esses efeitos, difere muito entre os setores. Segundo a
Fiesp, a indústria automobilística é a mais protegida. Muito mais protegida, com índice
médio em torno de 130%, enquanto a tarifa efetiva média na indústria é de 26%
(dados de 2014). Veículos mais caros, por exemplo, afetam o custo de transporte de
toda a economia.
A fragilidade da indústria precisa ser enfrentada. Mas é necessário discutir as
medidas de estímulo. O País é prolífero de políticas industriais fracassadas.
Muitos países recorrem a políticas setoriais. Políticas de conteúdo nacional, por
exemplo, têm sido utilizadas mais intensamente desde a crise global de 2008.
Há recomendações gerais para sua eficácia. Metas de investimento precisam
ser estabelecidas; as medidas não devem ser muito restritivas a ponto de exacerbar
gargalos do lado da oferta; a política deve estar inserida em conjunto amplo de
medidas que melhorem o ambiente de negócios e estimulem ganhos de produtividade;
e não se pode descuidar do ambiente macroeconômico, cuja estabilidade é condição
necessária para eficácia de qualquer política pública. Outro cuidado é o de
atendimento à regulação do comércio mundial.
O Brasil falhou em todas essas recomendações; na política de conteúdo local
para indústria petrolífera e para a indústria automobilística (Inovar Auto), esta última
violando regras da OMC.
Além disso, a eficácia das políticas de conteúdo local é discutível. Ganhos de
curto prazo muitas vezes se revertem no médio prazo, prejudicando o potencial de
crescimento dos países, por conta das distorções geradas na economia. É o que
revelam as pesquisas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Preços nos setores contemplados sobem, devido ao aumento do
custo de produção, afetando os demais setores na cadeia produtiva e os
consumidores. Setores não contemplados ficam menos competitivos e sofrem quedas
nas exportações.
Esse instrumento precisa ser utilizado com critérios adequados (metas e
prazos), parcimônia e cautela. Desmontar posteriormente é difícil, pois setores
contemplados sofrem com a mudança de regras.
A indústria precisa de políticas horizontais que melhorem o ambiente de
negócios e reduzam o custo Brasil. É o setor que mais irá se beneficiar com essa
agenda.
6
A heterodoxia na raiz da crise (Pedro Cavalcanti e Renato Fragelli15/03/2017)
Pedro Cavalcanti Ferreira possui graduação e mestrado pela PUC-RJ e Ph.D. em
economia pela Universidade da Pensilvânia. Atualmente coordena o mestrado em
Finanças e Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ).
Renato Fragelli é professor da EPGE-FGV.
***
Os números do PIB de 2016, liberados pelo IBGE na semana passada,
revelaram um quadro de terra arrasada, uma crise como nunca ocorreu antes neste
país. Trata-se da pior recessão da história, deixando para trás a “década perdida” dos
anos 1980 e a crise de 1929.
A queda do PIB acumulada nos dois últimos anos superou 7%. A renda per
capita caiu mais de 9% desde 2014. O PIB encontra-se hoje no nível de meados de
2010, enquanto a renda per capita está três pontos percentuais abaixo do valor
observado nesse mesmo ano. A crise disseminou-se por todos os setores produtivos.
Agricultura, serviços e indústria enfrentaram queda da produção no ano passado. O
consumo das famílias caiu 4,2% e o investimento despencou abissais 10,2%, levando
a taxa de investimento a apenas 16,9% do PIB, o menor valor em 21 anos.
Qualquer que seja o indicador — produto, emprego, renda, investimento, etc.
— o quadro é muito negativo. Isto, claro, dentro do Brasil, porque lá fora as coisas não
vão mal. A expansão do PIB nos Estados Unidos no ano passado foi de 1,6%, no
Reino Unido, de 1,8% e na Espanha, de 3,2%. O México cresceu 2,3% e a China
“somente” 6,7%. Assim, não há crise externa para justificar a crise brasileira, como a
presidente Dilma Rousseff e sua equipe econômica diziam. O fato de Venezuela e
Argentina, outros dois países que seguiram ou seguem políticas heterodoxas
intervencionistas, também estarem em recessão aponta o possível culpado: as
políticas desastradas adotadas no país a partir do final do segundo mandato do
presidente Lula.
Não foi por falta de aviso. Em que pese a euforia lulista finda em 2010 e a
própria eleição — e reeleição! — de Dilma Rousseff, para nós e para alguns poucos
analistas — como Alexandre Schwartsman, Armando Castelar, Rogério Werneck e
Roberto Ellery — estava claro, desde meados de 2011, que o conjunto de políticas
denominadas Nova Matriz Econômica não poderia dar certo e levaria o Brasil a uma
crise inédita.
Os fundamentos teóricos eram absolutamente equivocados, o respeito aos
dados e à evidência empírica era inexistente, não havia qualquer estudo prévio sobre
o impacto das políticas adotadas e, como se fosse pouco, qualquer grupo de pressão
— alguns representando interesses nada republicanos — conseguia transformar em
políticas públicas seus objetivos particulares. Somem-se a isso a fraude explícita nas
contas públicas, decorrentes do total desprezo pelo equilíbrio orçamentário e do mais
deslavado oportunismo político, e o resultado final foi o caos em que se jogou o país a
partir de 2014.
Já em 2010 os números de produtividade, especialmente produtividade total de
fatores, davam sinais de estagnação e queda. E, para quem não se formou repetindo
chavões políticos ou ideias dos anos 50, o resultado não poderia ser outro. Distorções
como controle de preços e câmbio, subsídios sem critérios e proteção comercial
agressiva geram sempre ineficiências que mais cedo ou mais tarde impactam
negativamente o crescimento da economia. Basta estudar introdução à economia em
uma boa escola para saber que a desorganização das contas públicas, por diferentes
e vários motivos, vem acompanhada de baixo crescimento de longo prazo.
Ainda assim, muitos acharam que esses eram problemas menores e que
fazendo tudo errado o Brasil daria certo.
As escolas heterodoxas, de onde saíram todos os formuladores das políticas
econômicas adotadas no país a partir de 2008, em particular a própria presidente
Dilma Rousseff, deveriam neste momento estar fazendo uma profunda revisão de
7
seus métodos, fundamentos teóricos e práticas políticas. Afinal, o apoio à Nova Matriz
foi unânime entre seus membros, em que pese uma discordância de ênfase, mas não
de direção, aqui e ali. Não se ouve, entretanto, qualquer autocrítica. Ao contrário,
aparentemente quase todos os heterodoxos teriam sido contrários ou tinham críticas à
Nova Matriz. Alguns dizem que “essa não era a verdadeira política heterodoxa”. Filho
feio não tem pai.
É verdade que muitos desses economistas estão mais interessados em fazer
suas pesquisas e nem todos são a favor de se arrebentar as contas públicas.
Entretanto, no que toca ao debate de política econômica daquele momento, o
equilíbrio fiscal parecia uma preocupação menor, ou rudimentar, quando comparado a
questões como o volume ideal de dinheiro público que o BNDES deveria doar para
esse ou aquele setor, ou o nível ótimo de manipulação do câmbio.
Há também, por parte de um grupo algo vocal, grande desonestidade
intelectual. Uma das explicações favoritas é que as políticas de ajuste de Joaquim
Levy em 2015 teriam provocado a recessão. A atribuição de culpa peca duplamente.
Primeiro por incompatibilidade com a cronologia dos eventos, afinal a recessão
começou em 2014, antes da chegada de Levy. Segundo por impossibilidade
quantitativa, pois o multiplicador dos gastos públicos sobre o produto teria que ser de
uma ordem de grandeza muito acima das maiores estimativas existentes para que a
recessão pudesse ser explicada pelo ajuste fiscal iniciado por Levy. Esse fato é
provavelmente sabido, mas convenientemente ignorado.
Outros se assanharam com os números de 2016, pois com eles puderam
atacar seus adversários políticos, jogando a culpa no atual governo. É o tipo de
comportamento que se espera — mas não se aceita — de um político oportunista, ou
em uma conversa de botequim, mas por agredir os fatos e o mais básico saber
econômico, jamais se esperaria de professores de economia. Teme-se pelo futuro de
seus alunos.
O país paga agora o preço dos erros da mais equivocada política econômica
jamais implementada por aqui. A reação dos economistas heterodoxos às críticas do
passado, bem como suas respostas à crise atual, sequer permite o único consolo
possível – o de que a magnitude do estrago impediria a repetição dos mesmos erros.
Aparentemente não houve aprendizado.
O câmbio de volta à baila (Marcio Garcia - 10/03/2017)
Márcio G. P. Garcia é formado em engenharia de produção pela UFRJ e Ph.D. por
Stanford. Hoje é professor do departamento de economia da PUC-Rio.
***
Com a apreciação cambial que trouxe a taxa de câmbio, em fevereiro, a
valores próximos de 3 R$/US$, ressurgiram clamores por medidas que "protejam a
produção nacional". Como o Brasil já é dos países com tarifas e restrições às
importações quase proibitivas, não seria razoável pedir ainda maior proteção. Há que
se registrar que a manutenção do status quo altamente protecionista já representa
dano suficiente à competitividade e à produtividade de nossa economia, que
compromete seu crescimento de longo prazo.
Nesse quadro, é sobre a taxa de câmbio que recaem os queixumes quanto à
perda de competitividade da indústria nacional. Há algo que o governo e o Banco
Central devam e possam fazer em relação à apreciação recente da taxa de câmbio?
Leia mais 1. Aritmética e ideologia 2. Reformas e taxa de câmbio 3. Metas reais
para a política macroeconômica? Ao se analisar se é desejável ter uma taxa de
câmbio mais depreciada, há que se levar em conta que isso seria equivalente a um
salário em dólar mais baixo para os trabalhadores brasileiros. É até provável que a
maioria se dispusesse a trocar salários menores em dólar por mais empregos e
crescimento, caso tal escolha fosse possível. Infelizmente, não há evidências de que
esse seja o caso, pelo menos não sem grandes modificações na economia brasileira.
8
Tentar aumentar o crescimento via depreciação da taxa (real) de câmbio em
um país com baixa taxa de poupança interna (privada e, principalmente, pública),
como o Brasil, acabaria redundando em elevação da inflação. Além disso, são bem
conhecidos os demais limitadores ao crescimento da produtividade no Brasil, que nada
tem a ver com a taxa de câmbio.
Reformas, sobretudo na parte fiscal, é o único caminho para ter juros
civilizadamente baixos e câmbio menos volátil
Quando passamos ao terreno do que poderia fazer o governo e o Banco
Central para depreciar a taxa de câmbio, tornam-se claras as limitações existentes. Na
prática, as opções para se depreciar o câmbio seriam basicamente três. A primeira é
usar a política monetária, reduzindo os juros mais rapidamente. Isso implicaria, de
fato, abandono do sistema de metas para inflação e volta ao regime de câmbio
controlado, como tivemos até 1999. Dado que isso elevaria a inflação, justamente
quando, afinal, estamos conseguindo cumprir a meta, seria um belo tiro no pé.
A segunda opção seria realizar compras esterilizadas de câmbio, seja no
mercado de câmbio spot, ou no mercado de derivativos (swaps cambiais). O BC vem
reduzindo a posição de swaps cambiais (equivalente à compra de divisas), e pode
continuar a aproveitar os momentos de apreciação para eliminar o estoque
remanescente. Mas dado o alto custo das reservas cambiais e seu já elevado nível, o
BC não deveria estender sua intervenção além disso.
A terceira opção para depreciar a taxa de câmbio seria impor controle de
capitais. Nesse aspecto, nossa experiência recente tem muito a ensinar, pois fizemos
largo uso de controles de entrada de capitais, tanto no período de câmbio controlado
dos anos 90, como, mais recentemente, entre 2009 e 2012.
O que tais experiências nos ensinaram?1 Que controles de entrada de capitais,
se muito abrangentes, podem até ser eficazes em depreciar a taxa de câmbio por
algum tempo, mas se durarem muito, acabam perdendo eficácia. A perda de eficácia
advém do fato de que os controles de capitais tipicamente tentam separar
investimentos externos "produtivos" (supostamente associados ao aumento da
capacidade produtiva doméstica) dos investimentos "especulativos". Dado que
dinheiro é fungível, é uma questão de tempo até que os agentes afetados concebam
formas criativas de disfarçar as entradas de capital.
Assim, o uso de controles de entrada de capital deveria estar reservado a
situações nas quais estivesse havendo uma enxurrada de entrada de capitais,
provavelmente na expectativa de mudanças positivas que estariam prestes a ocorrer
na economia brasileira. Mesmo nesse caso, o uso eventual de controles de entrada de
capitais tem de levar em conta que tais controles não lograrão obter uma depreciação
perene da taxa (real) de câmbio.
Uma situação hipotética para o uso de controles de capital ocorreria caso o
ajuste fiscal, na esteira da PEC do teto no ano passado, venha a ser reforçado com a
aprovação da PEC da Previdência e a configuração de condições políticas favoráveis
à eleição de um presidente da República, em 2018, que apoie a continuidade do
programa de reformas da economia. Nesse caso, e supondo uma conjuntura mundial
sem grande aperto monetário nos EUA, controles de entrada de capital poderiam ser
usados temporariamente até que se manifestassem dois dos efeitos cruciais da nova
postura fiscal: redução mais acentuada das taxas de juros e a depreciação da taxa
(real) de câmbio. Um bom cenário, mas ainda longe da realidade atual.
A verdade é que a alta incerteza remanescente no cenário político continua
dificultando a retomada do investimento e do crescimento. Embora a apreciação
cambial recente tenha ocorrido apesar de tais dificuldades, não há muito que possa
ser feito a respeito. A continuidade do programa de reformas econômicas, sobretudo
na parte fiscal, é o único caminho para termos juros civilizadamente mais baixos e
câmbio menos volátil, propícios à retomada do crescimento.
1- Analisei a experiência recente em artigo coautorado com Marcos Chamon,
"Capital controls in Brazil: Effective?", Journal of Internacional Money and Finance,
2015; e a experiência dos anos 90, em artigo coautorado com Bernardo Carvalho,
9
"Ineffective controls on capital inflows under sophisticated financial markets: Brazil in
the nineties", NBER Working Paper No. 12283, 2006
Políticas fiscal e monetária (Yoshiaki Nakano- 14/03/2017)
Yoshiaki Nakano possui mestrado e doutorado na Cornell University, é professor e
diretor da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/EESP).
***
Com o título "Aritmética monetarista desagradável" tratei no mês passado da
relação básica entre as políticas monetária e fiscal na visão convencional aceita pelos
economistas. O objetivo era chamar atenção para a necessidade de coordenar a
política monetária e a fiscal, apontando as consequências fiscais da política monetária.
Por sua vez, a política monetária seguida pela maioria dos bancos centrais assume
que a autoridade fiscal automaticamente ajusta a geração de superávits fiscais futuros
às necessidades da política monetária, mantendo a dívida pública sob controle.
Neste modelo convencional, o aumento da taxa nominal de juros é o principal
instrumento de controle da inflação. A sua elevação reduziria a taxa de inflação e sua
redução a aumentaria. Acontece que no período pós--crise financeira de 2008, os
bancos centrais, particularmente nos Estados Unidos e na Europa, têm mantido a taxa
de juros muito baixa, próxima de zero, e a taxa de inflação ao invés de aumentar tem-se mantido muito baixa, com risco de deflação. O mesmo acontece desde o início da
década de 90 com a crise financeira no Japão.
Este fenômeno deflacionário ficou conhecido como "balance sheet recession".
Na verdade, de forma mais simplificada e geral possível, podemos afirmar que as
crises financeiras são causadas por expansão excessiva do crédito e quando esta
bolha de crédito estoura inicia--se o processo de desalavancagem e contração da
demanda agregada por longo período, o que tem levado alguns economistas a falarem
em estagnação secular. Neste quadro, a política monetária perde a sua potência em
função daquilo que Keynes chamou de "armadilha da liquidez".
Diante deste quadro, de juros baixos ou até negativos, forte expansão
monetária com "quantitative easing", alguns membros do Federal Reserve regional
nos Estados Unidos lançaram mão de pesquisas acadêmicas marginais, defendendo
que a relação entre taxa de juros e inflação teria uma causalidade inversa da
convencionalmente aceita: só o aumento da taxa de juros aumentaria a taxa de
inflação e afastaria o risco de deflação.
Em teoria tudo é possível, depende dos pressupostos. É possível gerar
proposições lógicas ou analíticas, cujas conclusões estão logicamente corretas, pois
derivam dos pressupostos, e permitem explicar fatos. Por isso, a ciência deve
privilegiar proposições com conteúdo oriundo de percepção da realidade e que sejam
verificáveis empiricamente. Vejamos então quais os pressupostos e "mecanismos
dramaticamente novos" que economistas com Cochrane têm defendido como
"revolucionários" e que geraram celeuma recente no Brasil.
Em primeiro lugar, a teoria fiscal de nível de preços. Primeiro, a oferta real de
moeda M/P deve ser igual à demanda real de moeda L(i), se o banco central fixa a
taxa de juros controla a demanda real de moeda. Portanto, qualquer par de M/P pode
ser consistente com o equilíbrio. Se a quantidade de M for dada existem múltiplos
níveis de P consistente para equilibrá--los com a demanda.
Aí entra a teoria fiscal, descartando outras soluções teóricas para determinar P,
utilizando para isto a restrição orçamentária intertemporal do governo, reinterpretada
como condição de equilíbrio, e não uma restrição que vale para todos os níveis de
preços. Assim interpretado alguns níveis de preços violariam a restrição intertemporal.
Desta forma, no equilíbrio existe um nível de preços que igualaria o valor real da dívida
pública B/P com o valor presente dos superávits reais futuros.
Em outras palavras, o governo recorreria a ajuste na inflação depreciando o
valor real da dívida para atender a restrição orçamentária ao invés de elevar os
superávits primários futuros. Isto poderia ocorrer se a chamada equivalência ricardiana
10
for válida, isto é, os indivíduos veem a dívida como imposto futuro, se a dívida cai eles
poupam menos. Como a dívida real diminui os superávits primários futuros também
cairiam, portanto, com menos impostos no futuro os indivíduos consumiriam mais,
gerando aumento no nível de preços até equilibrar a restrição.
Outro mecanismo dramaticamente novo é a chamada teoria neo-fisheriana nos
modelos macroeconômicos. Partindo da indeterminação do nível de preços pela
simples condição de equilíbrio entre oferta e demanda de moeda ou em versão
sofisticada, a existência de múltiplos equilíbrios num modelo com expectativas
racionais. Nesta teoria parte--se da definição de taxa real de juros de Fisher, em que a
taxa nominal de juros é igual à taxa real de juros mais a expectativa de inflação.
Aqui, partindo--se do pressuposto de que o Banco Central não tem controle
sobre a taxa real de juros, determinada no longo prazo por outras variáveis, a simples
definição é transformada numa teoria em que, se a taxa real de juros for dada, a
elevação da taxa nominal de juros pelo banco central redundaria num aumento da
expectativa de inflação para que a relação de igualdade seja verdadeira.
11