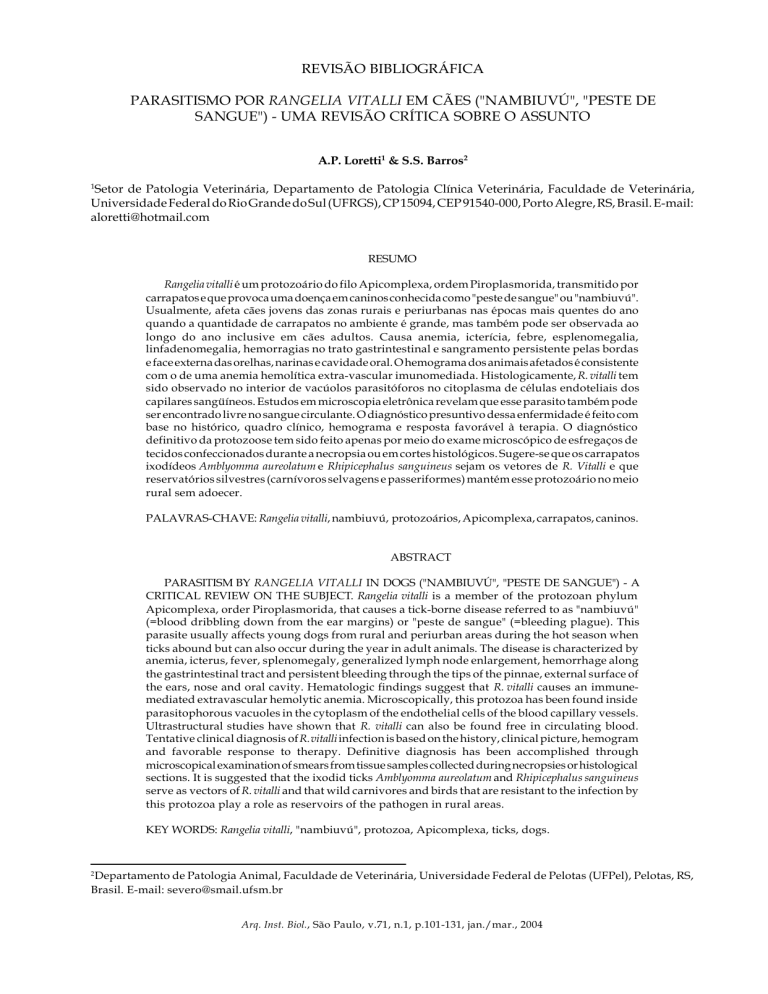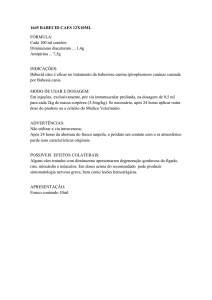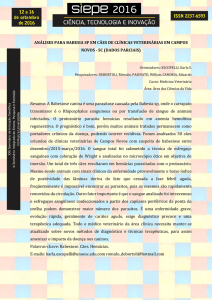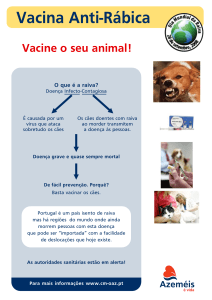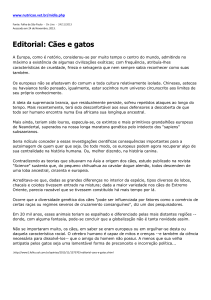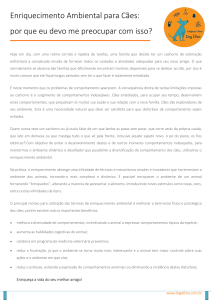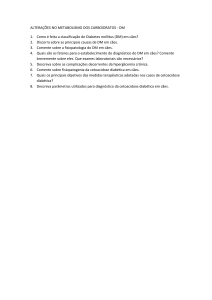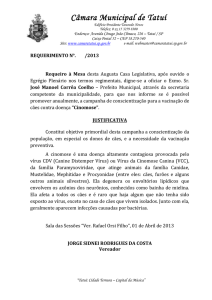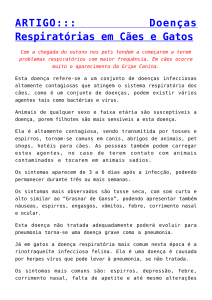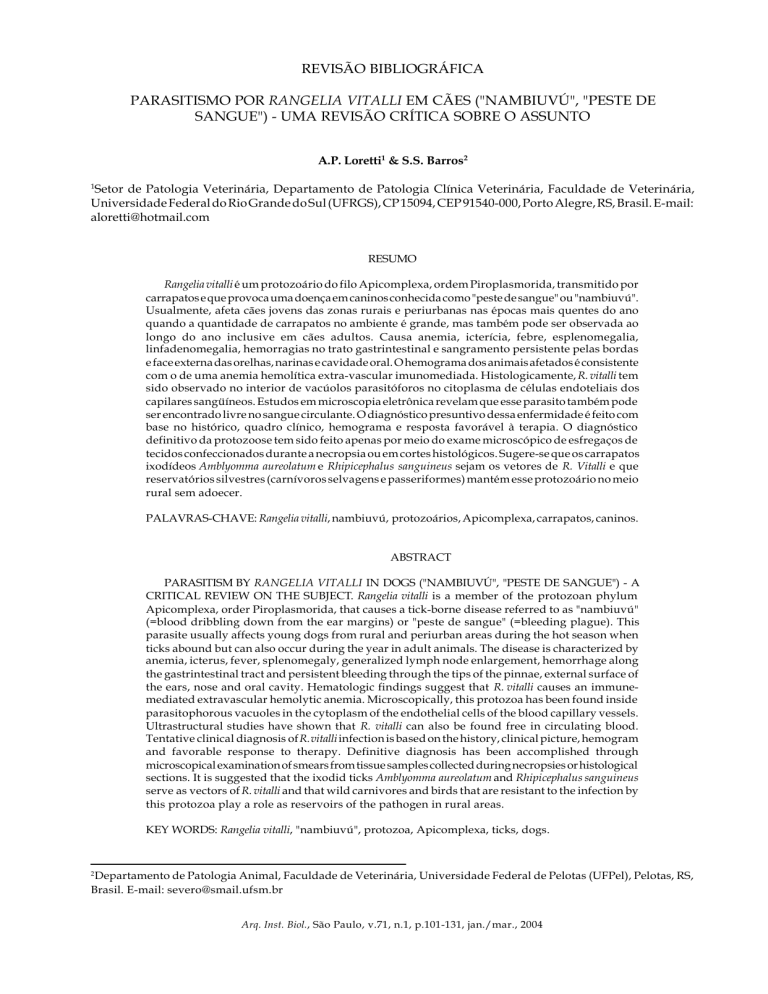
REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães
("nambiuvú",
"peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
PARASITISMO POR RANGELIA VITALLI EM CÃES ("NAMBIUVÚ", "PESTE DE
SANGUE") - UMA REVISÃO CRÍTICA SOBRE O ASSUNTO
A.P. Loretti1 & S.S. Barros2
Setor de Patologia Veterinária, Departamento de Patologia Clínica Veterinária, Faculdade de Veterinária,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), CP 15094, CEP 91540-000, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail:
[email protected]
1
RESUMO
Rangelia vitalli é um protozoário do filo Apicomplexa, ordem Piroplasmorida, transmitido por
carrapatos e que provoca uma doença em caninos conhecida como "peste de sangue" ou "nambiuvú".
Usualmente, afeta cães jovens das zonas rurais e periurbanas nas épocas mais quentes do ano
quando a quantidade de carrapatos no ambiente é grande, mas também pode ser observada ao
longo do ano inclusive em cães adultos. Causa anemia, icterícia, febre, esplenomegalia,
linfadenomegalia, hemorragias no trato gastrintestinal e sangramento persistente pelas bordas
e face externa das orelhas, narinas e cavidade oral. O hemograma dos animais afetados é consistente
com o de uma anemia hemolítica extra-vascular imunomediada. Histologicamente, R. vitalli tem
sido observado no interior de vacúolos parasitóforos no citoplasma de células endoteliais dos
capilares sangüíneos. Estudos em microscopia eletrônica revelam que esse parasito também pode
ser encontrado livre no sangue circulante. O diagnóstico presuntivo dessa enfermidade é feito com
base no histórico, quadro clínico, hemograma e resposta favorável à terapia. O diagnóstico
definitivo da protozoose tem sido feito apenas por meio do exame microscópico de esfregaços de
tecidos confeccionados durante a necropsia ou em cortes histológicos. Sugere-se que os carrapatos
ixodídeos Amblyomma aureolatum e Rhipicephalus sanguineus sejam os vetores de R. Vitalli e que
reservatórios silvestres (carnívoros selvagens e passeriformes) mantém esse protozoário no meio
rural sem adoecer.
PALAVRAS-CHAVE: Rangelia vitalli, nambiuvú, protozoários, Apicomplexa, carrapatos, caninos.
ABSTRACT
PARASITISM BY RANGELIA VITALLI IN DOGS ("NAMBIUVÚ", "PESTE DE SANGUE") - A
CRITICAL REVIEW ON THE SUBJECT. Rangelia vitalli is a member of the protozoan phylum
Apicomplexa, order Piroplasmorida, that causes a tick-borne disease referred to as "nambiuvú"
(=blood dribbling down from the ear margins) or "peste de sangue" (=bleeding plague). This
parasite usually affects young dogs from rural and periurban areas during the hot season when
ticks abound but can also occur during the year in adult animals. The disease is characterized by
anemia, icterus, fever, splenomegaly, generalized lymph node enlargement, hemorrhage along
the gastrintestinal tract and persistent bleeding through the tips of the pinnae, external surface of
the ears, nose and oral cavity. Hematologic findings suggest that R. vitalli causes an immunemediated extravascular hemolytic anemia. Microscopically, this protozoa has been found inside
parasitophorous vacuoles in the cytoplasm of the endothelial cells of the blood capillary vessels.
Ultrastructural studies have shown that R. vitalli can also be found free in circulating blood.
Tentative clinical diagnosis of R. vitalli infection is based on the history, clinical picture, hemogram
and favorable response to therapy. Definitive diagnosis has been accomplished through
microscopical examination of smears from tissue samples collected during necropsies or histological
sections. It is suggested that the ixodid ticks Amblyomma aureolatum and Rhipicephalus sanguineus
serve as vectors of R. vitalli and that wild carnivores and birds that are resistant to the infection by
this protozoa play a role as reservoirs of the pathogen in rural areas.
KEY WORDS: Rangelia vitalli, "nambiuvú", protozoa, Apicomplexa, ticks, dogs.
Departamento de Patologia Animal, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, RS,
Brasil. E-mail: [email protected]
2
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
101
102
A.P. Loretti & S.S. Barros
Rangelia vitalli é um protozoário do filo
Apicomplexa, ordem Piroplasmorida (LORETTI et al.,
2003; SPAGNOL et al., 2003) transmitido por carrapatos
e que provoca uma doença em caninos conhecida
popularmente como "peste de sangue", "nambiuvú"
ou "febre amarela dos cães". Trata-se de uma enfermidade que, ao longo dos anos, tem sido descrita apenas
no Brasil (CARINI, 1908; P ESTANA 1910a; PESTANA 1910b;
CARINI & MACIEL, 1914b; KNUTH & DU TOIT , 1921; W ENYON,
1926; D OFLEIN, 1929; BRAGA, 1935; C ARINI, 1948; R EZENDE,
1976; KRAUSPENHAR et al., 2003a; KRAUSPENHAR et al.,
2003b; LORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003). Apesar
de a primeira descrição do parasitismo por R. vitalli
ter sido feita no início do século passado (CARINI,
1908), há poucos estudos a respeito desse protozoário
em nosso país. Controvérsias a respeito do ciclo
evolutivo e sobre a real identidade de R. vitalli povoaram o meio científico brasileiro durante muitos anos.
Clinicamente, a infecção por R. vitalli tem sido confundida com outras doenças infecciosas de cães que
causam anemia, icterícia, febre, esplenomegalia,
linfadenomegalia e hemorragias. R. vitalli também
tem sido confundido na histopatologia por pesquisadores brasileiros e estrangeiros com outros
protozoários e riquétsias que causam enfermidade
em cães e que ocorrem no sangue e em diversos órgãos
e tecidos dos animais afetados. Todas essas questões
polêmicas e equívocos sucessivos criaram uma situação de total descrédito no meio científico ao redor do
tema R. vitalli de modo que esse tópico foi abandonado pela maioria dos pesquisadores de nosso país a
partir da década de 50. Durante a década de 70,
alguns estudos a esse respeito foram desenvolvidos,
mas infelizmente não foi dada continuidade à pesquisa a respeito desse protozoário (REZENDE , 1976;
MASSARD, Comunicação pessoal; R EZENDE, Comunicação pessoal). Recentemente, um grupo de pesquisadores divulgou o resultado de seus estudos a respeito
de R. vitalli que incluíram casos que, durante as
décadas de 80 e 90, foram diagnosticados como
leishmaniose visceral (POCAI et al., 1998, KRAUSPENHAR
et al., 2003b). Os autores dessa revisão também vêm
desenvolvendo nos últimos anos (2002-2004), junto a
profissionais de diferentes setores e instituições, estudos sobre os aspectos epidemiológicos, clínicos e
patológicos da infecção por R. vitalli empregando
inclusive técnicas que, em tempos remotos, (1908-1950)
não estavam prontamente disponíveis para os pesquisadores p.ex. microscopia eletrônica de transmissão
e imuno-histoquímica mas que na atualidade são
rotineiramente empregadas no estudo de diversos
patógenos inclusive protozoários (CHEVILLE, 1994;
DUBEY & HAMIR, 2000). Até o presente momento, R.
vitalli ainda não foi reconhecido oficialmente pela
comunidade científica internacional. Tentativas têm
sido feitas para validar R. vitalli como um protozoário
pertencente ao Filo Apicomplexa, ordem
Piroplasmorida, baseado nos resultados de estudos
ultra-estruturais (LORETTI et al., 2003).
O objetivo do presente trabalho é o de fazer uma
revisão de literatura completa a respeito de R. vitalli
e sobre a enfermidade causada por esse protozoário.
Por meio dessa compilação de dados, tenta-se
desmistificar esse tópico polêmico e resgatar um assunto que desapareceu por completo dos livros e
revistas científicas de medicína veterinária do Brasil
apesar de diversas evidências apontarem para o fato
de que esse patógeno é uma causa importante de
doença clínica e morte em cães das zonas rurais e
periurbanas no Estado do Rio Grande do Sul, Região
Sul do Brasil e provavelmente em outras regiões do
país.
EPIDEMIOLOGIA
Rangelia vitalli afeta principalmente cães jovens
(PESTANA, 1910a) e, menos freqüentemente, cães adultos das zonas rurais, ou seja, do interior, ou cães que
têm acesso a esses locais periodicamente (PINTO, 1938;
CARINI, 1948). A doença também tem sido observada
em cães utilizados para a caça p.ex. nos cães lebreiros,
em especial os de raça nos quais a enfermidade usualmente se manifesta após uma caçada, ocasião em
que os animais têm acesso a áreas infestadas por
carrapatos (CARINI & MACIEL, 1914a; CARINI & MACIEL,
1914b). Ocorre ainda em cães das zonas periurbanas
(PESTANA, 1910a) e, pelo menos no Estado do Rio
Grande do Sul, Região Sul do Brasil, em cães que têm
acesso a áreas com matas nativas, regiões com serras
ou montanhas ou então locais próximos a mini-zôos.
Também ocorre em cães de guarda e companhia
mantidos em sítios afastados dos grandes centros
urbanos ou nos pátios de casas situadas na periferia
da cidade, em locais próximos a matos e morros
(KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al., 2003; SPAGNOL
et al., 2003). Publicações veterinárias lançadas pelo
Exército Brasileiro, força armada que movimenta em
seus canis os"cães-de-guerra", também fazem menção
ao parasitismo por R. vitalli (BRAGA, 1935; OLIVEIRA,
1990). A infecção por R. vitalli tem sido observada
apenas em cães. Essa doença não tem sido observada
em outras espécies de animais ou em aves. Estudos
experimentais não conseguiram reproduzir essa enfermidade em animais de outras espécies (CARINI &
MACIEL 1914b).
A distribuição geográfica da doença está associada
àqueles locais onde as espécies de carrapatos capazes
de infestar o cão estão presentes. Sugere-se que, nas
zonas rurais, R. vitalli seja mantido no ambiente por
alguns hospedeiros desses carrapatos (animais
silvestres e passeriformes) e que, nas zonas
periurbanas, os carrapatos funcionariam tanto como
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
vetores como reservatórios do patógeno (LORETTI et al.,
2003) da mesma maneira que ocorre em outras doenças
infecciosas de cães transmitidas por carrapatos tais
como a babesiose canina e a hemobartonelose canina
(HARVEY, 1998; LOBETTI, 1998). Cães que se recuperam
da infecção por R. vitalli se tornariam portadores
assintomáticos do patógeno, condição essa que se
manteria por vários meses mesmo após a cura da
doença. Dessa forma, esses animais também poderiam
funcionar como reservatórios desse protozoário
(CARINI & MACIEL, 1914b). Descreve-se que um cão
clinicamente curado da infecção por R. vitalli permanece como portador desse patógeno por muito tempo
e que, uma vez levado para uma região indene, esse
animal pode infectar os carrapatos daquela área
criando um novo foco da protozoose (BRAGA, 1935). A
esse respeito, deve ser mencionado que, de um modo
geral, no caso das doenças transmitidas por carrapatos,
quando um patógeno causa doença aguda em um
determinado hospedeiro vertebrado e não há infecção
persistente, o reservatório do agente causador da
doença será o carrapato que perpetuará o patógeno
em questão de geração à geração (transmissão
transovarina). Por outro lado, quando um patógeno
causa uma enfermidade crônica em um hospedeiro
vertebrado e a infecção é prolongada, o reservatório
do agente patogênico geralmente será o próprio animal
infectado ( LABRUNA,Comunicaçãopessoal).Paraaquelas
doenças de cães causadas por protozoários ou
riquétsias do sangue e que são transmitidas por
carrapatos, têm sido desenvolvidos ao longo dos anos
numerosos estudos sobre o mecanismo de transmissão
desses agentes patogênicos pelos carrapatos (transmissão transovariana e/ou transestadial),
infectividade desses carrapatos em seus diferentes
estágios evolutivos (larvas, ninfas e adultos), ocorrência
de vetores mecânicos para esses agentes causadores
de moléstias e existência de linhagens (cepas) vetorespecíficas desses patógenos em diferentes regiões
geográficas (LEWIS et al., 1996). Não foram encontradas informações a esse respeito no caso de R. vitalli.
O parasitismo por R. vitalli já foi descrito no interior do Estado de São Paulo (PESTANA 1910a; PESTANA
1910b; CARINI & MACIEL, 1914b), no Estado do Rio de
Janeiro, inclusive em cães pastores alemães capa
preta da polícia militar empregados no patrulhamento
de zonas rurais (REZENDE, 1976) e, no Estado do Rio
Grande do Sul (KRAUSPENHAR et al., 2003a; KRAUSPENHAR
et al., 2003b; LORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003), na
zona rural, na região limítrofe entre a cidade e a zona
rural (em sítios) e também na periferia da cidade,
naquelas áreas em que os cães são mantidos em pátios
fechados e onde as casas vizinhas também têm cães,
ou então naqueles locais onde os cães têm acesso
direto às á reas de mato e morros que circunvizinham as
habitações humanas (LORETTI et al., 2003; SPAGNOL etal.,
103
2003). Essa enfermidade pode ser observada durante
todo o ano, sendo, porém, mais freqüente na época
mais quente (verão) (CARINI & MACIEL, 1914b). Na
Região Sul do Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul,
um grande número de casos clínicos e de necropsia de
infecção por R. vitalli tem sido observados durante os
meses de novembro a março (KRAUSPENHAR et al., 2003a;
KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al., 2003; SPAGNOL
et al., 2003). A quantidade de carrapatos no ambiente
é grande durante esse período em função da temperatura ambiental ser mais elevada o que estimula as
fêmeas ingurgitadas a realizarem a oviposição. Nessa
mesma região, casos dessa moléstia também têm sido
diagnosticados durante os meses de maio a agosto
embora menos freqüentemente (LORETTI, 2002; LORETTI
et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003). Apesar dos relatos de
casos dessa enfermidade publicados na literatura se
concentrarem nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil,
acredita-se que essa doença ocorra em todo o território
nacional, nas mesmas condições observadas naquelas
áreas de onde vêm os primeiros registros da enfermidade (PESTANA 1910a; PESTANA 1910b; CARINI &MACIEL,
1914b). No Estado de Santa Catarina, Região Sul do
Brasil, há histórico de doença que ocorre em cães das
zonas rurais e sítios e que tipicamente causa
sangramento bilateral profuso através das orelhas e
com frequência, a morte.
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A BIOLOGIA DOS CARRAPATOS IXODÍDEOS EM CÃES NO
BRASIL E A IMPORTÃNCIA DESSES ARTRÓPODES
NA EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO POR
RANGELIA VITALLI
Amblyomma aureolatum (A. striatum), A. cajennense,
A. ovale, A. tigrinum (A. maculatum) e Rhipicephalus
sanguineus são os carrapatos ixodídeos que têm sido
encontrados em caninos acometidos pela infecção
por Rangelia vitalli (CARINI & MACIEL, 1914b; BRAGA,
1935; R EZENDE, 1976; L ORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al.,
2003). Em estudos recentes sobre a epidemiologia
dessa protozoose realizados na zona rural e
periurbana do Estado do Rio Grande do Sul, foi feita
a colheita e identificação dos carrapatos de cães
domésticos daqueles estabelecimentos onde havia
históricos da ocorrência da "peste de sangue", de
pacientes afetados por R. vitalli atendidos no hospital
veterinário universitário local (Hospital de Clínica
Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul - HCV-UFRGS, Porto Alegre, RS) ou então de
carcaças dos animais acometidos por essa protozoose
que eram encaminhadas para necropsia. Resultados
preliminares desse levantamento (LORETTI et al., 2003;
SPAGNOL et al., 2003) sugerem que os principais
artrópodes vetores envolvidos na transmissão de R.
vitalli são os carrapatos ixodídeos de três hospedeiros
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
104
A.P. Loretti & S.S. Barros
(trioxenos) A. aureolatum e R. sanguineus como já mencionavam os primeiros trabalhos sobre esse
protozoário (CARINI & MACIEL, 1914b; BRAGA, 1935). A.
aureolatum, o "carrapato amarelo do cão", tem o escudo
dorsal, estrutura típica dos ixodídeos, amarelado ou
acobreado e, no caso da fêmea, ornamentado, e tem o
aparelho bucal longo (FLECHTMANN, 1990) enquanto R.
sanguineus, o "carrapato vermelho (marrom) do cão",
tem o escudo dorsal marrom-avermelhado e apresenta um aparelho bucal curto (FLECHTMANN, 1990; LABRUNA
& P EREIRA, 2001). No Estado do Rio Grande do Sul, A.
aureolatum tem sido encontrado naqueles casos de
infecção por R. vitalli oriundos da zona rural ao passo
que R. sanguineus tem sido observado em casos de
infecção por R. vitalli vindos da periferia da cidade
(LORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003). Nesse Estado,
há históricos de que a "peste de sangue" é uma doença
freqüente em cães da zona rural. Nessa área, foi
constatada uma prevalência elevada de carrapatos
adultos da espécie A. aureolatum em cães utilizados na
caça a animais silvestres (especialmente o tatu e o
veado) (MASSARD, 1979). Acredita-se que essa categoria de cão (cão de caça ou cão lebreiro) é uma das mais
propensas ao desenvolvimento da infecção por R.
vitalli pelo fato de estar mais exposta, durante as
caçadas, a um ambiente onde a infestação por carrapatos, vetores do patógeno, é elevada. Carrapatos do
gênero Amblyomma usualmente são encontrados na
cabeça, orelhas e pescoço dos cães enquanto R .
sanguineus ocorre principalmente na cabeça, pescoço,
dorso, orelhas e espaços interdigitais desses animais
(LABRUNA & P EREIRA, 2001). Epidemiologia semelhante
a de R. vitalli também tem sido observada em outras
enfermidades causadas por hemoparasitos que têm
um ciclo de vida silvestre e que afetam cães das áreas
rurais ou periurbanas de nosso país tal como a infecção por Hepatozoon canis nos Estados do Rio Grande
do Sul (MASSARD, 1979), Rio de Janeiro (O'DWYER et al.,
2001) e São Paulo (ALENCAR et al., 1997; GONDIM et al.,
1998) em que os animais afetados estão infestados por
A. aureolatum, A. cajennense, A. ovale e R. sanguineus. A.
cajennense é apontado como o principal vetor do agente causador da hepatozoonose nas zonas rurais do
Estado do Rio de Janeiro (O'DWYER et al., 2001).
Alguns aspectos sobre a biologia das infestações
por carrapatos que ocorrem em cães em nossa região
merecem ser comentados para um melhor entendimento da epidemiologia da infecção por R. vitalli. A.
aureolatum ocorre nos ambientes silvestres e tem
particular afinidade por carnívoros das zonas rurais
(LABRUNA & PEREIRA, 2001; GUGLIELMONE etal., 2003). Há
poucas informações a respeito dos aspectos
bionômicos de A. aureolatum (RODRIGUES et al., 2002).
No Brasil, esse carrapato tem sido encontrado infestando animais silvestres tais como o graxaim-docampo e o graxaim-do-mato (cães selvagens que
ocorrem na Região Sul do Brasil), o guaxinim (mãopelada), o veado, o gambá, a capivara, o quati e o rato
silvestre. A. aureolatum também ocorre em animais
domésticos p. ex. cães, gatos, porcos e cavalos e em
pássaros (FONSECA, 1935; ARAGÃO, 1936; LUCAS et al.,
1999; EVANS et al., 2000; RUAS et al., 2003). Sabe-se que
os estágios de larva e ninfa de A. aureolatum geralmente
são encontrados em passeriformes mas também
podem infestar roedores e canídeos silvestres. A capacidade que as larvas e ninfas de A. aureolatum têm de
alimentarem-se em diferentes tipos de hospedeiros
aumenta as chances dessas formas imaturas atingirem a fase adulta (GUGLIELMONE et al., 2003). Formas
adultas (machos e fêmeas) de A. aureolatum têm sido
encontrados em caninos domésticos das zonas rurais
e periurbanas do Estado do Rio Grande do Sul (RIBEIRO
et al., 1997; EVANS et al., 2000), inclusive naquelas
propriedades em que há casos de infecção por R.
vitalli confirmados por meio da histopatologia (LORETTI
et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003). A prevalência de A.
aureolatum em cães de rua da cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, Região Sul do Brasil, é
baixa sendo que apenas carrapatos adultos dessa
espécie são ocasionalmente observados nesses a nimais
(RIBEIRO et al., 1997). Apesar de A. aureolatum ser um
carrapato encontrado tipicamente nas zonas rurais e
que infesta tanto animais selvagens como cães
domésticos, deve ser ressaltado que esse artrópode
pode ocorrer também em áreas urbanas pouco populosas ou áreas situadas nos limites destas com a zona
rural (RIBEIRO et al., 1997).
Sabe-se que a infecção por R. vitalli ocorre predominantemente nas zonas rurais e que A. aureolatum é
o carrapato usualmente envolvido nesses casos sendo apontado como principal vetor desse patógeno
nessas áreas (CARINI & MACIEL, 1914b; BRAGA, 1935;
LORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003). Assim, paraR.
vitalli se manter no meio rural, tem sido sugerido que
esse patógeno teria um ciclo de vida em que houvesse
a participação de um animal silvestre. Acredita-se
que animais selvagens infestados por A. aureolatum
funcionariam como reservatórios de R. vitalli no campo, que albergariam o protozoário em seu organismo
sem adoecer ou desenvolveriam apenas a forma branda
da enfermidade. Sugere-se que A. aureolatum se alimenta de sangue contaminado com R. vitalli no animal selvagem, que é resistente à ação desse parasito
intra-celular e que carreia esse protozoário na circulação sangüínea, e que depois esse mesmo carrapato
faz uma nova refeição de sangue (repasto sangüíneo)
em um cão doméstico, sensível à ação nociva de R.
vitalli, quando então esse patógeno é inoculado na
corrente sangüínea desse cachorro comum, susceptí vel
à ação desse agente patogênico, causando a doença
(LORETTI et al., 2003). No Estado do Rio Grande do Sul,
A. aureolatum tem sido encontrado infestando princi-
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
palmente canídeos silvestres - o graxaim ou sorro [o
graxaim-do-mato ou "zorro de monte" - Cerdocyon
(Dusicyon) thous - e o graxaim-do-campo ou "zorro de
campo" - Pseudalopex (Dusicyon) gymnocercus] - e o
guaxinim (mão-pelada, Procyon cancrivorus). Nos
Estados Unidos, hipótese semelhante tem sido
sugerida para a infecção por E. canis que teria a raposa,
o coiote e o chacal como reservatórios em potencial
dessa riquétsia em áreas rurais ou suburbanas cohabitadas por canídeos silvestres e cães domésticos
que são infestados pela mesma espécie de carrapato
(R. sanguineus) (AMYX & H UXSOLL, 1973; N EER, 1998). O
mesmo tem sido sugerido para a babesiose canina
(Babesia canis) que, no Estado do Rio de Janeiro, Região
Sudeste do Brasil, teria o cachorro-do-mato (graxaim-domato) C. thous como reservatório desse patógeno
(MASSARD et al., 1981). É interessante mencionar que a
epidemiologia de outras protozooses que ocorrem em
animais domésticos também têm sido relacionadas à
presença de canídeos silvestres no território gaúcho
p.ex. abortos por Neospora caninum em bovinos
(CORBELLINI et al., 2002; FRANCO et al., 2002) e a infecção
por Toxoplasma gondii em animais e no homem (FRANCO
et al., 2002). O parasitismo por Babesia sp. também já
foi descrito no graxaim no Estado do Rio Grande do
Sul, Região Sul do Brasil (RUAS et al., 2003).
Alguns autores afirmam que não há informações
a respeito do potencial de A. aureolatum como vetor de
patógenos para cães (EVANS et al., 2000). Outros pesquisadores já sugerem que esse carrapato tem um
papel definido na epidemiologia do ciclo evolutivo
silvestre de algumas doenças causadas por
hemoparasitos tais como a hepatozoonose em cães
(O'DWYER et al., 2001; RODRIGUES et al., 2002), a febre
maculosa das Montanhas Rochosas em seres humanos,
causada por Rickettsia ricketsii, patógeno que também
é transmitido por outras espécies de Amblyomma p.ex.
A. cajennense e A. ovale e por R. sanguineus (FLECHTMANN,
1990; ROZENTAL et al., 2002), e a piroplasmose
(babesiose) canina (ARAGÃO, 1936; F LECHTMANN, 1990).
A esse respeito, deve ser mencionado que A. ovale, A.
tigrinum e A. maculatum são as outras espécies de
carrapatos que têm sido descritas no Estado do Rio
Grande do Sul infestando canídeos silvestres e domésticos (FREIRE et al., 1990; RIBEIRO et al., 1997; EVANS
et al., 2000; GUGLIELMONE et al., 2003) e também devem
ser considerados como vetores em potencial de R.
vitalli como já foi sugerido em publicação anterior
(BRAGA, 1935). A. cajennense, "o carrapato estrela
(rodoleiro) do cavalo" e Boophilus microplus, o "carrapato sul-americano do boi", (A RAGÃO, 1936;
FLECHTMANN, 1990) são encontrados ocasionalmente
infestando cães domésticos da zona rural e também
animais silvestres p. ex. veados e lebres (B. microplus)
e capivaras (A. cajennense) mas são considerados como
hospedeiros acidentais desses carrapatos (Evans et
105
al., 2000) e aparentemente não teriam importância
alguma na epidemiologia da infecção por R. vitalli.
Alguns pesquisadores também apontam R .
sanguineus como vetor de R. vitalli (BRAGA, 1935;
REZENDE, 1976). Estudos experimentais demonstraram que esse ixodídeo é capaz de transmitir a infecção
por R. vitalli a caninos susceptíveis a esse patógeno
(REZENDE, 1976; REZENDE, Comunicação pessoal). R.
sanguineus é uma espécie de carrapato de três hospedeiros. Todos os estágios parasitários desse carrapato
usualmente ocorrem no cão doméstico que é o único
hospedeiro importante para a manutenção das populações desse ixodídeo no ambiente urbano. Descreve-se
que R. sanguineus pode infestar uma única espécie
animal ou um único indivíduo durante todo o seu
ciclo de vida ou pode usar diferentes espécies durante
os seus três estágios evolutivos (larva, ninfa e adulto).
Assim, todas essas fases evolutivas podem ocorrer em
um mesmo cão ou em cães diferentes (KRAJE, 2001).
Durante a sua fase parasitária, as larvas e ninfas
fixam-se no pescoço do animal ao passo que os adultos freqüentemente se localizam na parte interna do
pavilhão auricular e entre os dedos (FLETCHMANN,
1990). R. sanguineus tem hábitos nidícolas. Durante a
fase de vida livre, esse carrapato pode ser encontrado
dentro de canis, no interior das residências e nos
quintais das casas, escondendo-se em frestas e buscando abrigo em buracos das próprias instalações
(LABRUNA & P EREIRA , 2001; P EREIRA, 2003). R. sanguineus
também tem sido ocasionalmente observado junto a
A. aureolatum no mesmo cão que vive nas zonas rurais.
Nesses casos, esses são cães mantidos em áreas cercadas durante o dia (o que permite o estabelecimento
de populações de R. sanguineus) que, à noite, são soltos
tendo livre acesso às matas e outros ambientes habitados por animais silvestres quando então podem ser
infestados pelos carrapatos que usualmente são parasitos de mamíferos silvestres da fauna brasileira
(LABRUNA & PEREIRA, 2001) p. ex. A. aureolatum que
ocorre originalmente nos graxains. No Estado do Rio
Grande do Sul, R. sanguineus é apontado como vetor
da babesiose canina e da ehrlichiose canina (EVANS et
al., 2000; RUAS et al., 2003). A esse respeito, deve ser
mencionado que não há evidências convincentes de
que a infecção por B. canis e/ou Ehrlichia canis sejam
causas importantes de doença clínica e morte em cães
nessa região apesar dos diagnósticos laboratoriais
freqüentes dessas enfermidades feitos a partir do
exame microscópico de esfregaços de sangue. A relevância dessas moléstias nessa área do país (RS) é
questionável uma vez que ambos patógenos não têm
sido observados à necropsia, citologia post-mortem
ou histopatologia durante as atividades de rotina
desenvolvidas pelos principais laboratórios de diagnóstico em patologia veterinária da região (UFPel,
Pelotas, UFRGS, Porto Alegre e UFSM, Santa Maria).
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
106
A.P. Loretti & S.S. Barros
Na zona urbana, caninos usualmente são infestados por R. sanguineus. Em raras ocasiões, R. sanguineus
e A. aureolatum podem ocorrer simultaneamente no
mesmo cão vadio da cidade ( RIBEIRO et al., 1997). Sabe-se
que, apesar de R. sanguineus ocorrer tipicamente em
cães da cidade (cães da zona urbana, cães de rua)
(REGENDANZ & MUNIZ, 1936), local onde a infecção por
R. vitalli não tem sido observada, esse carrapato também ocorre em cães da zona periurbana (periferia das
cidades) em locais próximos a matos e morros (RIBEIRO
et al., 1997), onde a doença tem sido diagnosticada
com freqüência (LORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al.,
2003). R. sanguineus é o carrapato usualmente observado na pelagem de cães afetados por R. vitalli que
vem da zona periurbana e também tem sido encontrado no local onde esses animais são mantidos. Em um
dos casos de parasitismo por R. vitalli oriundo da
periferia da cidade de Porto Alegre, RS, foi observado
uma grande quantidade de carrapatos da espécie R.
sanguineus do lado de fora da casa do proprietário que
tinha o seu cão doente devido a infecção por esse
protozoário. Os carrapatos escalavam as paredes
dessa habitação humana o que demonstra a alta
infestação daquele local por esses ixodídeos. Havia
uma região de mato imediatamente ao lado dessa
moradia onde os cães adquiriam grande quantidade
de carrapatos durante suas visitas periódicas àquela
área. Deve ser frisado que a maior prevalência de R.
sanguineus na população de cães estudada pode estar
ligada ao fato de que a faculdade de veterinária da
universidade local (FAVET-UFRGS) é de mais fácil
acesso para aqueles proprietários que têm seus animais de guarda e companhia na zona periurbana
comparado àqueles que têm seus animais na zona
rural (LORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003).
CICLO EVOLUTIVO
A questão do ciclo evolutivo de Rangelia vitalli é
polêmica e cercada de muitas dúvidas, desconfianças
e lacunas a serem preenchidas. Na literatura pertinente ao assunto, consta que R. vitalli tem um estágio
de desenvolvimento eritrocitário, em que o protozoário
se replica nas hemácias, e um estágio de desenvolvimento exo-eritrocitário no qual o parasito se multiplica
no interior de um vacúolo parasitóforo situado no
citoplasma das células endoteliais dos capilares
sangüíneos (PESTANA, 1910b; CARINI & MACIEL, 1914b;
CARINI, 1948), à semelhança do que ocorre no ciclo de
vida dos protozoários de aves Haemoproteus spp. e
Plasmodium spp. (PARAENSE, 1944, SOULSBY, 1982).
Publicações sobre R. vitalli descrevem a presença do
parasito em esfregaços sangüíneos onde ele é visto no
interior dos eritrócitos ou livre no sangue circulante
(PESTANA 1910a; PESTANA 1910b; CARINI &MACIEL,1914b;
REZENDE, 1976; MASSARD, 1979; MOURA et al., 2001).
Relata-se que esse patógeno também ocorre em
macrófagos (P ESTANA , 1910b; B RAGA , 1 9 3 5 ) e
fibroblastos (CARINI & MACIEL, 1914b; BRUMPT , 1936).
Todavia, há pesquisadores que não têm encontrado
R. vitalli em esfregaços de sangue mas apenas em
cortes histológicos onde esse protozoário está localizado no endotélio (LORETTI et al., 2003; KRAUSPENHAR et
al., 2003b). Estudos ultra-estruturais confirmam que
esse protozoário está de fato localizado no interior de
vacúolos parasitóforos no citoplasma de células
endoteliais e revelam que esse parasito também pode
ser encontrado livre na circulação sanguínea (LORETTI
et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003). Sugere-se que os
vacúolos parasitóforos que albergam grande quantidade de parasitos em replicação rompem-se (BRAGA,
1935) e liberam os protozoários na corrente sangüínea
que permanecem então livres no sangue circulante até
penetrarem em uma célula endotelial intacta de um
capilar sangüíneo iniciando uma nova multiplicação
(LORETTI et al., 2003). Naqueles casos de infecção por
R. vitalli estudados pelos autores dessa revisão de
literatura, não foram encontrados exemplares de R.
vitalli parasitando hemácias seja em esfregaços de
sangue, esfregaços de tecidos (onde são recuperadas
não apenas células epiteliais mas também eritrócitos),
em cortes histológicos (onde é possível visualizar,
além das células endoteliais, as hemácias preenchendo
a luz dos vasos sangüíneos) ou na microscopia eletrônica de transmissão (LORETTI et al., 2003). Essa discrepância entre os achados microscópicos de diferentes
estudiosos do assunto tem colocado em dúvida a
ocorrência de R. vitalli no interior dos eritrócitos. Até
o presente momento, não há evidências convincentes
de que esse protozoário se replique no interior de
hemácias, células fagocitárias e células conjuntivas
como tem sido descrito por uma série de autores
(PESTANA 1910a; PESTANA, 1910b; CARINI & MACIEL,
1914b; BRAGA, 1935; REZENDE, 1976; MASSARD, 1979;
MOURA et al., 2001).
Relata-se que R. vitalli seria mais facilmente observado no interior de hemácias em amostras de sangue
colhidas na fase inicial da infecção e que há mais
chances de se recuperar o parasito e visualizá-lo em
esfregaços sangüíneos dentro dos eritrócitos quando
o sangue é colhido durante os picos febris da enfermidade. Alguns pesquisadores alegam que hemácias
parasitadas por R. vitalli ou as formas livres desse
protozoário na corrente sangüínea são achados raros
em especial na forma crônica da doença. (PESTANA,
1910b; CARINI & MACIEL, 1914b). Há autores que
afirmam que as formas de R. vitalli visualizadas no
interior de eritrócitos seriam, na verdade, exemplares
de Babesia canis, ou seja, na opinião desses pesquisadores, no passado casos de babesiose canina foram
diagnosticados erroneamente como casos de
parasitismo por R. vitalli (WENYON, 1926; MOREIRA,
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
1938; PARAENSE & VIANNA, 1948; MEJÍA, 1949; P ARAENSE,
1950). Deve ser frisado que os próprios pesquisadores
que descreveram esse protozoário pela primeira vez
no século passado, na década de 10 (PESTANA, 1910b;
CARINI & MACIEL, 1914b), ressaltam que, nos esfregaços
sanguíneos, dentro das hemácias, R. vitalli e B. canis
são morfologicamente semelhantes. No entanto,
esses mesmos estudiosos afirmam categoricamente
que R. vitalli é uma espécie distinta de protozoário e
propõem a criação de uma nova espécie. Levando em
conta a precariedade dos microscópios de luz no
Brasil no início do século passado, em 1908, ano em
que foi publicado o primeiro relato da ocorrência de
R. vitalli em caninos em nosso país, essa colocação
deve ser levada em consideração. Estudos em
microscopia eletrônica de transmissão de casos
espontâneos e de casos experimentais dessa enfermidade onde foi feita a inoculação de sangue infectante
colhido de caninos com a doença espontânea e injeção de emulsão de orgãos parasitados colhidos à
necropsia em cães jovens, susceptíveis à ação desse
patógeno, corroboram a hipótese de que R. vitalli
ocorre na corrente sangüínea (PESTANA, 1910a; PESTANA ,
1910b; CARINI & MACIEL, 1914b; REZENDE, 1976;
KRAUSPENHAR et al., 2003a; KRAUSPENHAR et al., 2003b;
LORETTI et al., 2003; SPAGNOL et al., 2003).
A infecção por R. vitalli já foi confundida na clínica,
necropsia e histopatologia com casos de babesiose
(PARAENSE & VIANNA, 1948), ehrlichiose (SILVA et Al.,
1985), hepatozoonose (mencionado por CARINI, 1948),
leishmaniose visceral (calazar) (POCAI et al., 1998;
FIGHERA, 2001), toxoplasmose (MOREIRA, 1938, P ARAENSE
& VIANNA, 1948) e tripanossomose (COLODEL, Comunicação pessoal). Infecções mistas por R. vitalli e
Hepatozoon canis ou por R. vitalli, H. canis e Ehrlichia
canis já foram descritas em cães jovens em um estudo
sobre a hepatozoonose canina (MASSARD, 1979).
Durantes as décadas de 80 e 90, diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros que trabalhavam com
protozoologia e microscopia eletrônica foram consultados na tentativa de elucidar o assunto R. vitalli.Não
se chegou a uma conclusão após consulta a esses
especialistas. Ao longo de todos esses anos, esses
diagnósticos infundados e equívocos sucessivos na
interpretação de R. vitalli em cortes histológicos foram
sendo divulgados à comunidade científica brasileira
através de revistas científicas e congressos criando
mais confusões em relação a esse tópico. Assim, obras
clássicas sobre doenças infecciosas e parasitárias da
autoria de estudiosos do Brasil e do exterior passaram
a tratar R. vitalli como sinônimo para B. canis,
desconsiderando a proposta originalmente formulada por CARINI (1908, 1948), CARINI & MACIEL (1914b) e
PESTANA (1910a, 1910b) da criação de uma espécie
nova de protozoário que vinha sendo observada regularmente em cães apenas no Brasil (LINS , s/ano;
107
WENYON, 1926; P INTO, 1944; L EVINE , 1973; C ORRÊA, 1983;
SILVA et al., 1985; CORRÊA & CORRÊA, 1992). Um livro
consagrado sobre protozoologia traz as informações
de que, na América do Sul, a babesiose canina era
conhecida vulgarmente como "nambiuvú", que na
linguagem guarani significava "orelhas sangrentas",
e que B. canis (que, segundo a obra, tinha em nossa
região o sinônimo de R. vitalli) provocava uma doença
hemorrágica, como o próprio nome popular já s ugeria,
caracterizada pelo sangramento pelas orelhas e focinho, afetava particularmente em cães jovens durante
o verão e causava hemorragias internas (LEVINE , 1973).
Uma outra obra estrangeira, também de reconhecimento e penetração mundiais, coloca que aquele parasito que havia sido observado no interior de células
endoteliais e descrito inicialmente como uma nova
espécie de protozoário (R. vitalli) (CARINI, 1908)
correspondia, na verdade, ao protozoário Toxoplasma,
e emprega o termo Babesia vitalli como sinônimo de R.
vitalli (WENYON, 1926). Com relação à toxoplasmose,
deve ser mencionado que, na doença espontânea, T.
gondii usualmente ocorre no interior de macrófagos e
de células alveolares pulmonares (G REENE &
PRESTWOOD, 1984) e, na infecção experimental, em
macrófagos, células da micróglia, fibroblastos, em
todos tipos de células dos pulmões (com exceção dos
eritrócitos que circulam nos vasos sanguíneos pulmonares) e raramente nas células endoteliais (PARKER
et al., 1981; BJERKAS, 1990; D UBEY et al., 1996). Essa série
de controvérsias, questões polêmicas e diagnósticos
equivocados criaram uma situação de total descrença
ao redor do assunto R. vitalli e o "nambiuvú". Tal
condição também estimulou discursos inflamados de
cientistas céticos que seguidamente promoviam, por
meio de diversas publicações (WENYON, 1926; M OREIRA,
1938; PARAENSE &V IANNA, 1948; M EJÍA, 1949; P ARAENSE,
1950), ataques impetuosos contra aqueles pesquisadores que afirmavam de forma veemente que R. vitalli
era uma espécie única de protozoário e que merecia
atenção especial da comunidade científica brasileira
(CARINI, 1948; R EZENDE, 1976).
SINAIS CLÍNICOS
Cães infectados por Rangelia vitalli podem apresentar os seguintes sinais clínicos: palidez das
mucosas oral e conjuntival (anemia), amarelecimento
das mucosas visíveis, da pele do abdome e da face
interna dos pavilhões auriculares (icterícia), febre
interminente (crises febris), apatia, anorexia, desidratação, fraqueza, emagrecimento progressivo,
esplenomegalia, aumento generalizado dos
linfonodos, hepatomegalia, paraplegia, edema dos
membros posteriores, dispnéia após esforço físico
leve e breve, taquipnéia, hemorragias puntiformes
(petéquias) nas mucosas visíveis, hematemese, diar-
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
108
A.P. Loretti & S.S. Barros
réia sanguinolenta e sangramento persistente pelas
narinas, cavidade oral, locais de coleta de sangue
(punção venosa), olhos, e bordas e face externa das
orelhas (daí o termo popular "nambiuvú", palavra da
língua tupi-guarani que significa “orelha que sangra” e que era empregada pelos indígenas da família
tupi que habitavam a região tropical sul-americana
para se referir a essa enfermidade). A face externa das
orelhas de animais afetados por R. vitalli pode apresentar extensas áreas recobertas por sangue coagulado
com a formação de crostas vermelho-escuras, ressequidas e que aglutinam os pêlos dessa região ("nambiuvú
de orelha"). Há situações em que o sangue goteja
ininterruptamente pelas margens das orelhas (CARINI,
1908; P ESTANA 1910a; PESTANA 1910b; CARINI & MACIEL;
1914a; CARINI & MACIEL, 1914b; BRAGA, 1935; CARINI,
1948; REZENDE , 1976; KRAUSPENHAR et al., 2003a;
KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al., 2003; SPAGNOL
et al., 2003). Alguns proprietários comentam que cães
infectados por R. vitalli sangram através dos poros da
pele. Essas dermatorragias espontâneas são descritas como hemorragias capilares que ocorrem através
de orifícios cutâneos muito reduzidos de onde brota
sangue (PESTANA 1910a; PESTANA 1910b; CARINI &
MACIEL , 1914b; BRAGA, 1935). Relata-se que os caçadores ,
já conhecedores dessa enfermidade, confirmam a
suspeita de que os seus cães estão atacados pelo
"nambiuvú" por meio da palpação dos gânglios
linfáticos do pescoço que mostram-se aumentados
de volume. A linfadenomegalia é tida como um dos
primeiros sinais clínicos observados na infecção por
R. vitalli. A doença espontânea pode ter evolução
clínica que varia de alguns dias até 3 meses dependendo da forma de apresentação da enfermidade. O
quadro clínico dessa protozoose foi classificado, de
acordo com a duração da doença e sinais clínicos
mais evidentes, em (i) forma aguda ou ictérica, (ii)
forma subaguda ou hemorrágica e (iii) forma crônica
leve, benigna ou mitigada (PESTANA, 1910b; CARINI &
MACIEL, 1914b). O quadro clínico-patológico daqueles
casos de infecção por R. vitalli estudados pelos autores
do presente trabalho muitas vezes se sobrepunha e
abrangia as três formas da doença p.ex. um mesmo
animal apresentava marcada icterícia e hemorragias
múltiplas em diferentes órgãos e tecidos além de
sangramento pelas orelhas e diarréia sanguinolenta.
Esses casos não se encaixam perfeitamente à classificação originalmente proposta pelos pesquisadores
que descreveram essa doença no início do século
passado (PESTANA, 1910b; CARINI & MACIEL, 1914b). A
sobreposição das formas clínicas inicialmente descritas
no parasitismo por R. vitalli também tem sido observada por outros autores (KRAUSPENHAR et al., 2003b).
Em geral, a infecção por R. vitalli culmina com a
morte do animal se o paciente não for tratado a tempo
e de forma adequada (PESTANA, 1910a). Estudos expe-
rimentais mostram que o curso clínico dessa
protozoose pode variar de 3 dias (forma aguda da
doença) a 8-15 dias (forma subaguda) ou até 18-25
dias (forma crônica) (CARINI & MACIEL 1914b). Tem
sido observado por meio de estudos da doença espontânea que aqueles animais que são acometidos pela
"peste de sangue" e que se recuperam da enfermidade
adquirem imunidade contra uma nova infecção por
R. vitalli. Esse estado de imunidade frente à ação desse
patógeno tem sido confirmada através de estudos
experimentais em que cães adultos inoculados com
sangue contaminado por R. vitalli não desenvolveram a enfermidade. Acredita-se que esses animais de
idade um pouco mais avançada já teriam sido expostos
a esse protozoário no ambiente através do repasto
sangüíneo de um carrapato infectado, desenvolveram a forma benigna (branda) da doença, que passou
despercebida, recuperaram-se espontaneamente e
então adquiram resistência ao agente causador da
moléstia. Descreve-se que R. vitalli permanece durante
vários meses no sangue circulante daqueles cães
tratados com medicamento anti-protozoário ou que
tiveram recuperação espontânea da enfermidade
(CARINI & MACIEL 1914b; CARINI, 1948).
ACHADOS LABORATORIAIS
O perfil hematológico apresentado por caninos
infectados por Rangelia vitalli é consistente com o de
uma
anemia
hemolítica
extra-vascular
imunomediada (auto-imune), ou seja, eritrólise imunomediada associada à ativação do sistema complemento e remoção de eritrócitos opsonizados ou
antigenicamente alterados pelo sistema monócitofagócito. Tem sido sugerido que esse patógeno induz
um distúrbio hemolítico mediado pelo sistema imune
(hemólise imunomediada) (KRAUSPENHAR et al., 2003a,
KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al., 2003, SPAGNOL
et al., 2003). Alterações usualmente encontradas nos
hemogramas desses animais incluem: (i) no
eritrograma, anemia regenerativa macrocítica
hipocrômica acentuada, esferocitose, eritrofagocitose,
reticulocitose, policromasia (policromatofilia),
anisocitose, poiquilocitose, metarrubricitemia e a presença de corpúsculos de Howell-Jolly e (ii) no
leucograma, linfocitose (associada à estimulação
antigênica) e monocitose. Os níveis de hemoglobina
e a contagem de eritrócitos revela valores baixos e o
Volume Corpuscular Médio (VCM) mostra-se normal
ou levemente aumentado (PESTANA, 1910b; CARINI &
MACIEL, 1914b; KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al.,
2003). Raramente se observa trombocitopenia que
pode estar associada à coagulopatia de consumo
(CID). Um grande quantidade de macroplaquetas
também tem sido vista em esfregaços sanguíneos de
cães afetados por R. vitalli. Anemia regenerativa (com
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
reticulocitose e esferocitose) e eritrofagocitose são
tidos como achados sugestivos (mas não diagnósticos )
de anemia hemolitica imunomediada (anemia
hemolítica extra-vascular auto-imune) inclusive na
infecção por R. vitalli. O plasma de cães afetados por
esse protozoário usualmente está ictérico. A urina tem
aspecto turvo e apresenta grande quantidade de
pigmentos biliares (bilirrubinúria acentuada secundária à hemólise) em especial naqueles casos em que
a icterícia é intensa (C ARINI & MACIEL , 1914b;
KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al., 2003).
ACHADOS DE NECROPSIA, CITOLOGIA,
HISTOPATOLOGIA, IMUNOISTOQUÍMICA E
ULTRA-ESTRUTURA
Achados de necropsia na infecção por Rangelia
vitalli incluem palidez (anemia) ou amarelecimento
(icterícia) generalizado da carcaça, das mucosas visíveis, orgãos internos e pele p.ex. da face interna do
pavilhão auricular e do abdome, sangue mais claro e
aquoso (fino), aumento de volume do baço e dos
linfonodos externos e internos (que ao corte mostram-s e
avermelhados ou castanho-escuros e úmidos e
podem apresentar extensas áreas esbranquiçadas
que correspondem histologicamente à hiperplasia
linforreticular) (esplenomegalia e linfadenomegalia),
tonsilas avermelhadas e aumentadas de tamanho,
presença de bastante sangue coagulado ou fluido na
luz dos intestinos ("nambiuvú das tripas") e, em
menor quantidade, na luz do estômago que também
pode estar preenchida por muito muco, pêlos da
região perianal sujos e aglutinados por fezes diarréicas
e sanguinolentas, fígado pálido, aumentado de volume
e com acentuação do padrão lobular (que microscopicamente corresponde à necrose centrolobular associada à hipóxia tecidual em função da anemia),
difusamente amarelado (degeneração gordurosa) ou
amarelo-alaranjado (retenção biliar - fragmentos de
fígado assumem coloração esverdeada após serem
colocados no formol a 10%), vesícula biliar repleta e
com a bile espessa e grumosa, pulmões úmidos, pesados e não-colapsados (edema pulmonar com presença
de espuma esbranquiçada na luz da traquéia e
brônquios), hemorragias de diferentes tamanhos
(petéquias, equimoses, sufusões) afetando diversos
órgãos e tecidos e também as mucosas p.ex. oral e
vaginal, medula óssea pastosa ou liquefeita e de
coloração vermelha intensa indicando estimulação
da hematopoiese (medula óssea ativada), edema
subcutâneo gelatinoso, translúcido e amarelado nos
membros pélvicos, presença de coágulos lardáceos
(amarelados) ou mistos (parte amarelados, parte
vermelhos) nas câmaras cardíacas e acúmulo de quantidade moderada de líquido citrino e amarelo (efusão)
nas cavidades corporais p.ex. saco pericárdico e cavi-
109
dade abdominal (CARINI & MACIEL, 1914b; PESTANA
1910a, 1910b; KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al.,
2003).
Na citologia, os parasitos têm sido observados
mais freqüentemente na medula óssea por meio
da confecção de esfregaços e "imprints" desse tecido
hematopoiético durante a necropsia. Esses organismos intracelulares são arredondados ou ovais,
medem 2,0-2,5 µm, têm o citoplasma abundante que se
cora fracamente na coloração de panóptico rápido
assumindo um tom azul claro, têm 1-2 núcleos pequenos, arroxeados, redondos e excêntricos, e formam aglomerados de 20-30 parasitos no interior do
citoplasma de células endoteliais . Aqueles
protozoários que têm 2 núcleos correspondem àqueles
que estão em divisão. Tentativas para recuperar exemplares de R. vitalli através de aspirados de medula
óssea e linfonodos feitos em pacientes trazidos aos
estabelecimentos veterinários locais ou em carcaças
de animais recém-mortos têm sido infrutíferas (SPAGNOL
et al., 2003). Exemplares de R. vitalli não têm sido
encontrados em esfregaços de outros órgãos e tecidos
confeccionados à necropsia (linfonodos, baço, fígado,
rim, plexo coróide e sangue) (LORETTI et al., 2003;
KRAUSPENHAR et al., 2003b).
Histologicamente, o parasito é observado em
vacúolos parasitóforos intra-citoplasmáticos em
células endoteliais de capilares sangüíneos de diversos órgãos e tecidos. Esse protozoário intra-celular
não tem sido observado no endotélio das arteríolas,
artérias, veias e vênulas apesar de relato que descreve
a presença de R. vitalli no interior das células
endoteliais da aorta e jugular (REZENDE, 1976).
Linfonodos, tonsilas, medula óssea, plexo coróide,
rins, pulmões e região medular da glândula adrenal
são os locais onde R. vitalli é mais freqüentemente
encontrada em cortes histológicos (PESTANA, 1910b,
CARINI & MACIEL, 1914b, CARINI, 1948, KRAUSPENHAR et
al., 2003b, LORETTI et al., 2003, SPAGNOL et al., 2003). Um
estudo experimental onde linfonodos externos
(poplíteos) foram retirados cirurgicamente 17 dias
após a inoculação endovenosa de 3 mL de sangue
contendo R. vitalli demonstrou que, apesar desses
gânglios linfáticos não apresentarem alterações
macroscópicas (não havia alterações no tamanho e no
aspecto desses linfonodos externamente e ao corte),
foram encontrados na histologia miríades desses
protozoários nas células endoteliais dos capilares
sangüíneos (LORETTI et al., 2003). Na citologia e
histologia, podem ser observados 20-30 exemplares
de R. vitalli no interior de um único vacúolo
parasitóforo no citoplasma das células endoteliais de
capilares sanguíneos. Além da presença dos parasitos
de localização intra-celular, outras lesões microscópicas observadas nessa protozoose incluem
hiperplasia linforreticular, em especial dos linfonodos,
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
110
A.P. Loretti & S.S. Barros
que também podem ter células gigantes
multinucleadas, com localização preferencialmente
perivascular, e macrófagos que preenchem os seios
medulares e contêm hemácias em seu citoplasma
(eritrofagocitose) ou hemossiderina resultante da degradação da hemoglobina dos eritrócitos fagocitados.
Células gigantes multinucleadas também têm sido
vistas no plexo coróide. Observa-se também infiltrados
linfoplasmocitários intersticiais nos rins, de localização predominantemente periglomerular, e também
no miocárdio e plexo coróide, células fagocitárias com
hemossiderina na medula óssea, focos de
hematopoiese extra-medular no fígado, medula óssea
hipercelular com acentuada hiperplasia eritróide,
necrose hepatocelular centrolobular devido à hipóxia
causada pela anemia, bilestase canalicular, necrose
fibrinóide dos folículos linfóides do baço e presença
de trombos na luz de vasos sangüíneos de pequeno
calibre (KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al., 2003).
Nos animais tratados com medicamentos antiprotozoários, as lesões macro e microscópicas são
semelhantes àquelas vistas nos animais não-tratados
que morrem espontamente ou são eutanasiados em
função do prognóstico reservado da enfermidade. No
entanto, nesses animais submetidos a terapia
protozoocida, usualmente não são observados exemplares de R. vitalli no endotélio de diferentes órgãos e
tecidos e, quando esses parasitos são encontrados na
histologia, estão em quantidade muito reduzida
(LORETTI, 2002; KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al.,
2003).
Estudos por meio do microscópio eletrônico de
transmissão revelam que a ultra-estrutura de R. vitalli
é similar a de outros protozoários do filo Apicomplexa,
ordem Piroplasmorida, e que o vacúolo parasitóforo
onde esse parasito é encontrado é morfologicamente
semelhante ao de outros membros do filo
Apicomplexa. O exame ultra-estrutural de diversas
amostras de diferentes órgãos de um cão inoculado
experimentalmente com R. vitalli revelaram que há
marcada variação na ultra-estrutura desse
protozoário dependendo do tecido examinado e fase
evolutiva do parasito. R. vitalli não se cora por meio
da imuno-histoquímica para Leishmania donovani
(KRAUSPENHAR et al., 2003b), Leishmania chagasi (LORETTI
et al., 2003) e Toxoplasma gondii (KRAUSPENHAR et al.,
2003b; LORETTI et al., 2003), protozoários com os quais
R. vitalli já foi confundido (MOREIRA, 1938; P ARAENSE &
VIANNA , 1948; P ARAENSE, 1950; P OCAI etal., 1998; FIGHERA,
2001).
A microscopia eletrônica de transmissão e a
imunoistologia demonstram que R. vitalli é um
protozoário distinto de todos os outros já conhecidos
e descritos na literatura nacional e internacional. Isso
mostra também que os pesquisadores que estudaram
esse parasito no início do século passado (CARINI,
1908; PESTANA, 1910a; PESTANA, 1910b, CARINI & MACIEL,
1914b) acertaram ao conferir uma denominação única a esse patógeno que infelizmente caiu em total
esquecimento no âmbito da comunidade científica
brasileira e estrangeira a partir da década de 50.
MECANISMOS PATOGENÉTICOS ENVOLVIDOS NO DESENVOLVIMENTO DE (I) ANEMIA
HEMOLÍTICA IMUNOMEDIADA E (II) OCORRÊNCIA DAS HEMORRAGIAS NA INFECÇÃO POR R.
VITALLI
Não se conhecem os mecanismos patogenéticos
responsáveis pelo desenvolvimento de anemia
hemolítica imuno-mediada na infecção por R. vitalli
em caninos. No entanto, sabe-se que nas anemias
hemolíticas imuno-mediadas dos cães de um modo
geral, associadas a diferentes etiologias ou aquelas
de causa desconhecida, as hemácias ficam com a
superfície de suas membranas parcialmente
revestidas por imunoglobulinas e/ou proteínas do
sistema complemento, ou seja, ocorre a produção de
auto-anticorpos contra a membrana dos eritrócitos
autólogos, promovendo a opsonização desses
eritrócitos e a remoção dessas células da linhagem
vermelha do sangue por células fagocitárias. Os
eritrócitos são reconhecidos como estranhos pelo
sistema fagocítico mononuclear e então retirados da
circulação sangüínea em sítios extra-vasculares p.
ex. o baço e os linfonodos o que justifica a ocorrência
de esplenomegalia em casos de anemia hemolítica
imunomediada (DA Y, 2003; MC CULLOUGH, 2003).
Médicos veterinários clínicos de pequenos animais
relatam que o emprego de corticóides em associação
a uma droga protozoocida no tratamento da infecção
por R. vitalli tem bons resultados o que fortalece a
hipótese de que esse protozoário induz uma hemólise
extra-vascular mediada pelo sistema imunológico.
A terapia imunossupressora a base de corticosteróides
tem sido utilizada no tratamento da anemia
hemolítica imuno-mediada primária ou secundária
(BÜCHELER & COTTER, 1995, MCCULLOUGH, 2003) ou
secundária à babesiose (TA B O A D A , 1995). Os
corticóides usualmente têm um efeito rápido e eficaz
nos casos de hemólise extra-vascular imunomediada
devido à marcada ação anti-inflamatória e
imunossupressora, bloqueando a síntese de
anticorpos contra as hemácias, além de estabilizar
as membranas celulares dos eritrócitos e estimular a
eritropoiese (S EARCY, 1976, BÜCHELER & COTTER, 1995).
Nas anemias hemolíticas imuno-mediadas, um segmento das membranas das células sanguíneas vermelhas é opsonizado e então fagocitado por células
do sistema fagocítico mononuclear (eritrofagocitose
parcial) se tornando esferócitos (SCHALM, 1993). Os
esferócitos, que são pequenos eritrócitos esféricos,
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
promovem a diminuição do VCM. A liberação de
células jovens (imaturas) (reticulócitos ou
policromatófilos) pela medula óssea (reticulocitose
ou policromasia) em decorrência da hemólise extravascular aumenta o VCM. Desta forma, a diminuição
no VCM promovido pela esferocitose é contra-balançado pelo aumento do VCM associado à
reticulocitose. Assim, o que se tem na infecção por R.
vitalli é um VCM normal ou levemente elevado mesmo com a intensa resposta regenerativa da medula
óssea que ocorre nessa protozoose (anemia
regenerativa com desvio à esquerda) (FIGHERA, 2001;
KRAUSPENHAR et al., 2003b). A intensa regeneração
medular pode ser confirmada na histologia da medula óssea que se apresenta hipercelular com um
grande número de precursores eritróides. A grande
quantidade de esferócitos e a eritrofagocitose observadas nesses pacientes são achados hematológicos
bastante sugestivos de um distúrbio imunomediado.
Células fagocitárias com hemácias em seu citoplasma
têm sido observadas em cortes histológicos de
linfonodos (macrófagos) e ocasionalmente em
esfregaços sangüineos (monócitos). A presença de
macroplaquetas na circulação sanguínea é um achado hematológico comum nessa doença e pode estar
relacionada à estimulação inespecífica da medula
óssea levando à exacerbação da trombocitopoiese.
Trombocitose com a presença de grande quantidade
de plaquetas no sangue também tem sido observado.
Trombocitopenia é um achado raro nos hemogramas
de cães afetados por R. vitalli e pode estar associada
à coagulopatia de consumo (Coagulação
Intravascular Disseminada - CID) (KRAUSPENHAR et
al., 2003b; LORETTI et al., 2003). Trombocitopenia autoimune também tem sido apontada como possível
mecanismo patogenético responsável pela redução
moderada na quantidade de plaquetas vista em
alguns casos de parasitismo por R. vitalli
(KRAUSPENHAR et al., 2003b).
Desconhece-se o mecanismo patogenético envolvido no desenvolvimento de hemorragias vistas no
parasitismo por R. vitalli. A ocorrência de hemorragias em diferentes órgãos e tecidos e o sangramento
através dos orifícios naturais e pele que recobre as
orelhas são achados relativamente comuns no
parasitismo por R. vitalli. A CID tem sido sugerida
como o mecanismo patogenético envolvido na ocorrência dessas hemorragias. Uma evidência
morfológica de CID na infecção por R. vitalli é a
presença de microtrombos na luz de arteríolas, capilares e vênulas observados ao microscópio de luz e
a ocorrência de depósitos de fibrina (fibrina
polimerizada) no lúmen dos vasos sanguíneos
visualizados através do microscópio eletrônico de
transmissão (LORETTI et al., 2003). Achado histológico
semelhante tem sido observado na CID associada a
111
outras etiologias (S LAPPENDEL , 1998). Essa
coagulopatia de consumo seria desencadeada pela
lesão endotelial causada pela replicação continuada desse parasito intra-celular em vacúolos
parasitóforos promovendo a ruptura do endotélio
dos capilares sangüíneos. Essa lesão vascular disseminada promoveria então a ativação da cascata de
coagulação sangüínea. Além disso, a presença do
patógeno no sangue circulante poderia induzir a
formação de imunocomplexos que também ativariam
diretamente a cascata de coagulação. Esses
imunocomplexos circulantes causariam lesão
endotelial estimulando a agregação plaquetária. A
liberação massiva de antígenos durante a lise de
parasitos induzida pelo tratamento a base de droga
protozoocida favoreceria a ocorrência de CID. Mecanismos patogenéticos semelhantes têm sido sugeridos
para explicar o desenvolvimento de CID em outras
doenças parasitárias e infecciosas p.ex. malária,
tripanossomose, leishmaniose, ehrlichiose e
babesiose (REARDON & PIERCE , 1981; FONT et al., 1994;
TABOADA, 1995; LOBETTI, 1998; FELDMAN, 2000). Testes
laboratoriais tais como dosagem da concentração de
fibrinogênio no plasma, tempo de tromboplastina
parcial ativada (APTT), tempo de protrombina (PT),
tempo de trombina (TT) e mensuração da quantidade de produtos de degradação da fibrina (FDP) podem ser feitos para confirmar a suspeita de CID
(SLAPPENDEL, 1988). Esses testes laboratoriais não têm
sido realizados em casos de infecção por R. vitalli.
Deve ser ressaltado que, nessa protozoose, a
trombocitopenia, raramente observada, em geral não
é grave o bastante para induzir uma diátese
hemorrágica capaz de promover sangramento acentuado pelas orelhas, nariz e fezes (KRAUSPENHAR et al.
2003b). Além disso, somente a CID, fenônemo cuja
ocorrência ainda não foi confirmada na infecção por
R. vitalli por meio de exames laboratoriais, e a
trombocitopenia, achado raro nessa protozoose, ou
ambos eventos não explicariam de forma convincente
e irrefutável o sangramento persistente e profuso
pelas orelhas que ocorre especificamente no
"nambiuvú ". Sugere-se que essas hemorragias
auriculares características da infecção por R. vitalli
tenham uma etiologia multifatorial e ocorreriam a
partir da combinação dos seguintes fatores: (i) CID,
(ii) trombocitopenia, (iii) picada de moscas (p.ex.
Stomoxys calcitrans) e (iv) o hábito dos cães de coçarem energicamente as orelhas quando mordidas por
insetos hematófagos.
DIAGNÓSTICO
O diagnóstico presuntivo da infecção por Rangelia
vitalli é feito com base no histórico, quadro clínico e
resposta favorável à terapia. O diagnóstico definitivo
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
112
A.P. Loretti & S.S. Barros
do parasitismo por R. vitalli é problemático uma vez
que esse protozoário não tem sido observado nos
esfregaços sangüineos de casos espontâneos e experimentais dessa enfermidade. Esse parasito
intracelular tem sido encontrado na citologia e
histologia em células endoteliais de capilares
sangüíneos a partir de amostras colhidas à necropsia
(KRAUSPENHAR et al., 2003; LORETTIet al., 2003). As observações de pesquisadores pioneiros que descreveram
R vitalli no interior de eritrócitos (CARINI, 1908; PESTANA
1910a; PESTANA 1910b; CARINI & MACIEL, 1914b) foram
muito contestadas ao longo dos anos (MOREIRA, 1938;
PARAENSE & VIANNA, 1948; PARAENSE, 1950) e até hoje
não há evidências convincentes de que esse
protozoário ocorra no interior das hemácias. A reprodução bem sucedida da infecção por R. vitalli através
da inoculação, em cães experimentais, de sangue
colhido de animais espontaneamente afetados pela
doença e os estudos ultra-estruturais que revelam a
presença do parasito livre no sangue circulante mostram que este protozoário de fato está no sangue
circulante (PESTANA 1910a; PESTANA 1910b; CARINI &
MACIEL, 1914b; REZENDE , 1976; KRAUSPENHAR et al.,2003b;
LORETTI et al., 2003). Levando em consideração que R.
vitalli pode ocorrer livre na corrente sangüínea sem
estar associado a qualquer tipo de célula sangüínea
(BRAGA, 1935; REZENDE, 1976; LORETTI et al., 2003), sugere-se que as dimensões extremamente reduzidas desse protozoário (2,5 µm) tornaria a pesquisa desse
patógeno em esfregaços sangüíneos uma tarefa laboriosa para o patologista clínico veterinário envolvido
na rotina de um laboratório que presta serviços à
comunidade veterinária local.
O diagnóstico definitivo de uma anemia imunomediada consiste na realização do teste de Coombs
(direto ou indireto) ou do teste de antiglobulina (direto)
sendo que esse último revela a presença de fatores do
complemento ou imunoglobulinas ligados à membrana dos eritrócitos (DAY, 2003). Recentemente (20002001), um teste de citometria de fluxo por
imunofluorescência direta foi elaborado para confirmar
o diagnóstico de anemias hemolíticas imuno-mediadas
em cães (MCCULLOUGH, 2003). Infelizmente esses testes
não têm sido feitos para os casos de infecção por R.
vitalli uma vez que tais exames não estão prontamente
disponíveis para fins diagnósticos (casos de rotina)
nos laboratórios de patologia clínica veterinária de
nosso país (FIGHERA, 2001). Alterações hematológicas
consistentes com uma anemia regenerativa hemolítica
extra-vascular imunomediada (esferocitose,
eritrofagocitose, policromasia, metarrubricitose e a
presença de corpúsculos de Howell-Jolly) também
têm sido observadas em outras doenças infecciosas e
parasitárias que ocorrem em diversas espécies
domésticas tais como a anaplasmose bovina, a
tripanossomose bovina (CONNOR, 1994), a anemia
infecciosa felina [infecção por Haemobartonella felis
(Mycoplasma haemofelis)] (HARVEY, 1998), a babesiose
canina (TABOADA , 1998), a ehrlichiose canina (FELDMAN ,
2000) e a leishmaniose visceral (KEENAN et al., 1984a,
FIGHERA, 2001).
Esforços de profissionais de diversas áreas devem
ser concentrados na realização de estudos
multidisciplinares adicionais a respeito da infecção
por R. vitalli de modo a se conhecer melhor essa
protozoose. Faz-se mister a padronização de um exame laboratorial complementar acurado que permita
um diagnóstico ante-mortem definitivo da enfermidade (diagnóstico etiológico) de forma que o clínico
veterinário possa proceder com mais segurança e
embasamento científico no tratamento, controle e
profilaxia dessa protozoose.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
No diagnóstico diferencial da infecção por Rangelia
vitalli, devem ser incluídas aquelas doenças infecciosas e parasitárias que ocorrem em cães no Brasil e que
cursam com anemia, icterícia, febre, esplenomegalia,
linfadenopatia e hemorragias. Devem ser consideradas principalmente (i) a babesiose (piroplasmose), (ii)
a ehrlichiose, (iii) a leishmaniose e (iv) a leptospirose
que têm sido as enfermidades mais freqüentemente
confundidas com a infecção por R. vitalli em nosso
meio. Outras causas de anemia p.ex. doenças que
cursam com perda de sangue através do tubo digestivo tais como as verminoses gastrintestinais e as
úlceras gástricas e a anemia hemolítica imunomediada
secundária associada a diferentes etiologias e a anemia hemolítica imunomediada primária (idiopática)
também devem ser levadas em conta no diagnóstico
diferencial do parasitismo por R. vitalli.
Na babesiose, os seguintes sinais clínicos podem
ser observados: febre, anorexia, apatia, vômito,
mucosas pálidas (anemia) ou amareladas (icterícia),
aumento de volume do baço e dos linfonodos, em
parte dos casos urina escura (hemoglobinúria), ocasionalmente sinais nervosos e, em raras ocasiões,
hemorragias (petéquias e equimoses, epistaxe). Na
hematologia há anemia hemolítica – intra-vascular e
extra-vascular (= hemólise imunomediada), inicialmente normocítica normocrômica que se torna, à
medida que a doença evolui clinicamente, macrocítica
hipocrômica e regenerativa, sendo caracterizada por
reticulocitose, anisocitose, esferocitose e policromasia.
Há também trombocitopenia, hemoglobinemia e
bilirrubinemia (BRAGA, 1935; FELDMAN et al., 1982;
ABDULLAH et al., 1990; TABOADA, 1995; LOBETTI et al.,
1996; TABOADA, 1998; BOOZER & MACINTIRE , 2003). As
alterações leucocitárias são inconsistentes e incluem
leucopenia (neutropenia) nos estágios iniciais da
doença e leucocitose neutrofílica na fase de recuperação
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
da moléstia além de linfocitose e eosinofilia (ABDULLAH
et al., 1990; TABOADA, 1995; TABOADA, 1998). Ocasionalmente, uma resposta leucemóide semelhante àquela
observada na anemia hemolítica imunomediada é
observada (TABOADA, 1998). Há relatos esporádicos de
infecção mista (simultânea) por B. canis e Leishmania
infantum (DAY, 2003), Ehrlichia canis e B. canis (GREENE
& HARVEY, 1984), e E. canis, B. canis e Hepatozoon canis
(TABOADA , 1998). Há marcada eritrofagocitose naqueles
casos em que a parasitemia é extrema de modo que
monócitos contendo hemácias fagocitadas,
parasitadas ou não por B. canis, podem ser observadas
nos esfregaços sanguíneos (EWING , 1965). A urinálise
revela hemoglobinúria, bilirrubinúria, proteinúria e a
presença de cilindros granulares e células epiteliais
tubulares renais (LOBETTI et al., 1996; LOBETTI, 1998;
TABOADA, 1998). Há autores que afirmam que a ocorrência de icterícia e a hemoglobinúria são raras na
babesiose canina ao passo que a trombocitopenia é
um achado comum nessa protozoose (JAIN, 1993) mas,
que em geral, não é grave o suficiente para causar
hemorragias espontâneas (coagulopatia) (TABOADA,
1995; LOBETTI, 1998). Sabe-se que a ruptura das
hemácias resultante da multiplicação de Babesia spp.
no interior dos eritrócitos é a principal causa da
anemia (anemia intra-vascular) (ABDULLAH, 1990).
Hemólise auto-imune (anemia hemolítica imunomediada) também tem sido proposta como um dos
mecanismos de produção da anemia na babesiose
(WOZNIAK et al., 1997; BOOZER & MACINTIRE , 2003; DAY,
2003). Hemoglobinúria e e eritrofagocitose/
hemossiderose são achados que sugerem que na
babesiose canina ocorre hemólise intravascular e
hemólise extravascular (WOZNIAK et al., 1997; BOOZER
& MACINTIRE , 2003). Todavia, um perfil hematológico
típico de uma anemia imunomediada não tem sido
consistentemente observado na infecção por B. canis
e dessa forma não é considerado como um achado
característico da babesiose canina (LOBETTI, 1998;
TABOADA, 1998; DAY, 2003) como o é no caso da infecção por R. vitalli (KRAUSPENHAR et al., 2003a; KRAUSPENHAR
et al., 2003b; LORETTIet al., 2003; SPAGNOL et al., 2003). As
principais lesões macroscópicas observadas no
parasitismo por B. canis incluem palidez ou
amarelecimento da carcaça e dos órgãos,
esplenomegalia, linfadenopatia generalizada, rins
escurecidos devido à impregnação pela hemoglobina,
hepatomegalia, bile grumosa e espessa, hemorragias
multifocais em diferentes órgãos p.ex. fígado, pulmões, rins e musculatura estriada esquelética,
enterorragia, infartos no baço, quemose, e vermelhidão
e tumefação difusa do encéfalo (congestão) que, ao
corte, apresenta lesões escurecidas de malácia e hemorragia aleatórias e que ocorrem na substância
cinzenta subcortical, na base dos sulcos cerebrais, no
núcleo caudato e corpo estriado (BASSON & PIENAAR,
113
1965; PARDINI, 2000). Histologicamente, podemos
observar hiperplasia linforreticular dos linfonodos e
do baço, hematopoiese extra-medular, necrose
hepatocelular centrolobular (secundária à anemia),
hiperplasia eritróide da medula óssea e, em parte dos
casos, proteinose tubular, gotículas de hemoglobina
no citoplasma das células do túbulos contorcidos
renais, e células de Kupffer e macrófagos dos
linfonodos contendo eritrócitos fagocitados em seu
citoplasma (eritrofagocitose) ou então hemossiderina
(DORNER, 1969; IRWIN & HUTCHINSON, 1991; WOSNIAK et
al., 1997). Há empilhamento ("sludging") dos eritrócitos
parasitados por B. canis com obstrução da luz dos
capilares (IRWIN & H UTCHINSON, 1991), principalmente
no encéfalo (BASSON & PIENAAR, 1965; TABOADA, 1998).
Animais jovens são os indivíduos mais afetados
(TABOADA, 1998; GUIMARÃES et al., 2002). Há histórico de
infestação por carrapatos (R. sanguineus) que usualmente são encontrados em quantidades variáveis na
pelagem do animal doente. O diagnóstico etiológico
definitivo é feito a partir do exame de esfregaços de
sangue ou de tecidos ou então em cortes histológicos
onde se observa Babesia spp. no interior de eritrócitos
(TABOADA, 1995; LOBETTI, 1998; TABOADA, 1998). É interessante mencionar que esses hematozoários usualmente não são encontrados na circulação sanguínea
após 24-48 horas da instituição do tratamento a base
de droga protozoocida (JACOBSON et al., 1996).
A babesiose canina tem sido confundida clinicamente com a infecção por R. vitalli uma vez que ambas
enfermidades apresentam alguns aspectos em
comum tais como febre, anemia, icterícia,
esplenomegalia e linfadenopatia e a presença de
carrapatos da espécie R. sanguineus na pelagem do
animal. Os achados de necropsia e histopatológicos
de ambas as doenças também apresentam algumas
similaridades p.ex. palidez ou amarelecimento generalizado da carcaça, aumento de volume do baço e dos
linfonodos, hiperplasia linforreticular e
eritrofagocitose. A morfologia e localização de B. canis
e de R. vitalli é distinta. Nos esfregaços sanguíneos e
em cortes histológicos, exemplares de B. canis usualmente aparecem sob a forma de estruturas piriformes,
bilobadas, arroxeadas, dispostas em pares, situadas
no interior dos eritrócitos. R. vitalli não tem sido
observada em esfregaços sanguíneos (KRAUSPENHAR et
al., 2003b; LORETTI et al., 2003) e, na histologia, exemplares desse protozoário aparecem sob a forma de
estruturas arredondadas basofílicas intracitoplasmáticas em células endoteliais dos capilares
sangüíneos. No Estado do Rio de Janeiro, pesquisas
sobre a infecção por R. vitalli desenvolvidas durante
a década de 70 (REZENDE, 1976) mostraram que R.
vitalli e B. canis podem ser encontrados simultaneamente em um mesmo animal criando problemas no
diagnóstico e confusão na interpretação dos dados
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
114
A.P. Loretti & S.S. Barros
sobre a doença espontânea e experimental (REZENDE,
Comunicação pessoal). Hemoglobinúria não tem sido
observada na infecção por R. vitalli uma vez que a lise
de eritrócitos ocorre apenas em sítios extra-vasculares
(anemia hemolítica extra-vascular imunomediada)
ao contrário da babesiose canina onde a parasitemia
usualmente provoca hemólise intra-vascular através
da ação direta do parasito no eritrócito havendo então
a liberação de hemoglobina no sangue (hemoglobinemia) e na urina que assume coloração vermelhoescura ou vinho (ABDULLAH, 1990; TABOADA, 1995). No
Estado do Rio Grande do Sul, o local de origem do
paciente e a espécie de carrapato que infesta o animal
(cães da zona rural usualmente são infestados por
Amblyomma aureolatum e cães da periferia da cidade
em geral são parasitados por Rhipicephalus sanguineus)
são informações que auxiliam no diagnóstico clínico
presuntivo da infecção por R. vitalli (LORETTI et al.,
2003; SPAGNOL et al., 2003).
É interessante mencionar que apenas no Brasil o
sangramento profuso pelas pontas, margens e face
externa das orelhas tem sido considerado (de forma
equivocada) como um sinal clínico típico da babesiose
canina. Dados compilados da literatura brasileira
(CORRÊA, 1983; SILVA et al., 1985; CORRÊA & CORRÊA;
1992, BRANDÃO & HAGIWARA, 2002) e de publicações
estrangeiras que fazem referência a trabalhos de nosso
país sobre B. canis (WENYON, 1926, LEVINE , 1973) são
conflitantes quando se comparam as informações a
respeito a babesiose canina do Brasil com aquelas
sobre a mesma doença, causada pelo mesmo agente
etiológico, que também afeta cães em outros países.
Estranhamente, a eliminação de sangue através do
pavilhão auricular, sinal tido como característico da
babesiose canina em nosso país e que a fez merecer o
nome popular "orelha que sangra" a partir da década
de 40, não tem sido descrita nos outros países onde
essa protozoose também ocorre o que nos faz pensar
em um erro grave na interpretação da epidemiologia
e quadro clínico-patológico da infecção por B. canisem
nosso país. Esse erro vem se perpetuando desde
tempos remotos, mais precisamente a partir de 1938
quando da publicação do trabalho de Moreira
(MOREIRA, 1938), até os dias de hoje. Alguns autores
brasileiros têm sugerido que a diminuição do número
de plaquetas em cães infectados por B. canis poderia
justificar a ocorrência de sangramento do pavilhão
auricular, hemorragia essa desencadeada provavelmente pela picada de moscas hematófagas p. ex.
Stomoxys calcitrans ou ácaros ou então devido à anemia
e conseqüente fragilidade capilar (MOREIRA, 1938;
SILVA et al., 1985; HAGIWARA & Y AMAGA, 1987; CORRÊA&
CORRÊA, 1992). De acordo com MOREIRA (1938), essas
hemorragias auriculares, tidas como patognômicas
para a babesiose canina, cessariam após transferir os
animais afetados para um local fechado onde o acesso
de insetos hematófagos não é possível, protegendo
esses pacientes contra as mordidas desses muscídeos
nas margens das orelhas. A literatura estrangeira cita
que, na babesiose canina, hemorragias clinicamente
evidentes p.ex. epistaxe ocorrem em conseqüência de
uma coagulopatia de consumo (DIC e trombocitopenia)
mas que raramente são observadas (LOBETTI, 1998;
TABOADA, 1998). Para as outras espécies de Babesia dos
cães que ocorrem nos demais países - B. canis, B.
gibsoni, B. rossi e B. vogeli (que até recentemente eram
consideradas como cepas ou suptipos dentro da espécie
B. canis) (LOBETTI, 1998; TABOADA, 1998), não se descreve
em momento algum o sangramento pelas orelhas
como um sinal clínico da doença, nem mesmo no caso
de B. rossi que ocorre na África do Sul e que é considerada como a espécie de Babesia de maior
patogenicidade para caninos (BOOZER & MACINTIRE ,
2003). B. canis e B. gibsoni são as espécies de Babesia
descritas no Brasil, tendo sido diagnosticadas pela
primeira vez no Estado do Rio Grande do Sul através
do exame de esfregaços sangüíneos (BRACCINI et al.,
1992). A partir da década de 40 (PINTO, 1944), a
babesiose canina passou a ser chamada de
"nambiuvú" apesar de esse termo ter sido originalmente resgatado da cultura e linguagem indígenas do
nosso país para referir-se à infecção por R. vitalli,
quando a doença foi inicialmente descrita no ano de
1908 (CARINI, 1908). Trabalhos de revisão sobre a
babesiose canina escritos por autores brasileiros e
publicados em nosso país descrevem a ocorrência de
hemorragias nas orelhas como um dos sinais clínicos
típicos do parasitismo por B. canis mas referenciam
unicamente trabalhos do Brasil para sustentar essa
informação (HAGIWARA & YAMAGA, 1987; CORRÊA &
CORRÊA, 1992; BRANDÃO & H AGIWARA, 2002). No Brasil,
estudos retrospectivos sobre a babesiose canina de
ocorrência espontânea (SILVA et al., 2000) e estudos
experimentais onde cães foram inoculados com amostras de B. canis isoladas de algumas regiões do país
não mencionam, em momento algum, a ocorrência de
qualquer tipo de hemorragia (HAGIWARA & YAMAGA,
1990; BICALHO et al., 2002). No Brasil, a babesiose
canina tem sido descrita principalmente em cães que
vivem na cidade (DELL 'PORTO et al., 1990, GUIMARÃES et
al., 2002) e R. sanguineus, um carrapato tipicamente
observado na zona urbana, inclusive no Estado do
Rio Grande do Sul (RIBEIRO et al., 1997), tem sido
apontado como o vetor desse hematozoário. A.
aureolatum, carrapato que ocorre em cães domésticos,
animais silvestres e pássaros na zona rural (FONSECA,
1935; ARAGÃO, 1936), tem sido incriminado como transmissor da piroplasmose (babesiose) canina
(FLECHTMANN, 1990; RIBEIRO et al., 1997) mas, pelo menos
no Estado do Rio Grande do Sul, não há evidências
convincentes do papel de que esse carrapato seja o
vetor de B. canis. Ademais, nessa região não há regis-
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
tros anátomo-patológicos de casos de babesiose canina
oriundos das zonas rurais, periurbanas ou urbanas.
Casos de babesiose canina não têm sido diagnosticados
à necropsia e histopatologia pelos principais laboratórios de diagnóstico em patologia veterinária das
universidades federais do Estado do Rio Grande do
Sul (UFPel, UFRGS e UFSM) durante os últimos 40
anos apesar dos diversos diagnósticos clínicos e
laboratoriais de B. canis em nossa região (SILVA et al.,
1985; BRACCINI et al., 1992; SEIBERT et al., 1996; HENNEMANN
et al., 2002; OLICHESKI, 2003). Sugere-se uma revisão
criteriosa de todos os casos de babesiose canina diagnosticados clinicamente ou através de esfregaços
sangüíneos no Estado do Rio Grande do Sul, Região
Sul do Brasil (BRACCINI et al., 1992; SEIBERT, 1996;
HENNEMANN et al., 2002; OLICHESKI, 2003).
A ehrlichiose canina é uma doença que também
deve ser incluída no diagnóstico diferencial da infecção por R. vitalli. No Estado do Rio Grande do Sul, essa
riquetsiose tem sido muito confundida com a infecção
por R. vitalli principalmente devido ao fato de que
ambas enfermidades cursarem com hemorragias como
um dos sinais clínicos mais marcantes apesar de as
localizações desses sangramentos serem distintos
para cada uma dessas moléstias. A infecção por
E. canis pode manifestar-se sob as formas aguda,
subaguda e crônica. Clinicamente, observa-se, dependendo da fase da enfermidade, prostração, letargia,
perda de peso, esplenomegalia, linfadenopatia, febre,
anorexia, palidez das mucosas, sangramentos, edema
de um ou de ambos membros pélvicos e também do
escroto, inflamação da úvea e retina, sinais neurológicos tais como ataxia, sinais de dor na região cervical
e tóraco-lombar, dorso arqueado, convulsões (devido
à meningite) e claudicação (devido à poliartrite).
Infecções bacterianas secundárias oportunistas ocorrem na fase terminal da doença em função da
pancitopenia que diminui a resistência do animal. As
alterações hematológicas usualmente encontradas
nessa riquetsiose incluem trombocitopenia (achado
comum nessa enfermidade e que é responsável pela
diátese hemorrágica), tempo de coagulação prolongado, leucopenia (linfopenia ou neutropenia),
pancitopenia (que ocorre na fase crônica e mais grave
da doença em função da depleção da medula óssea
que mostra-se hipocelular) e anemia normocítica,
normocrômica (em geral não-regenerativa)
(HILDEBRANDT et al., 1973; GREENE & HARVEY, 1984;
NEER, 1998; HARRUS et al., 2001; BEUGNET et al., 2002;
GUIMARÃES et al., 2002; PREZIONI & COHN, 2002). A
anemia usualmente é arregenerativa mas pode ser
regenerativa naqueles casos em que há infecção
simultânea por E. canis e B. canis (GREENE & HARVEY,
1984). Infecção simultânea por E. canis, B. canis e
Hepatozoon canis também tem sido descrita (DU PLESSIS
et al., 1990; TABOADA , 1998) inclusive no Brasil (MASSARD ,
115
1979; GONDIM et al., 1998; O' DWYER et al., 2001; MOREIRA
et a l., 2003). Anemia hemolítica imuno-mediada
secundária também tem sido ocasionalmente observado na infecção por E. canis (BÜCHELER & COTTER,
1995). Síndrome hemofagocítica (anemia hemolítica
imuno-mediada) associada à infecção por E. canis
também tem sido descrita esporadicamente no Brasil
(ALENCAR et al., 2000; SOUZA & MOTTA, 2000). Na
urinálise, encontra-se proteinúria e hematúria. A principal alteração bioquímica é a hiperproteinemia
(hipergamaglobulinemia que usualmente é policlonal)
(NEER, 1998). Epistaxe é a forma de hemorragia mais
freqüente na infecção por E. canis seguida de petéquias
e equimoses na pele e nas mucosas, melena, hemorragias vaginais e penianas, hematoquezia, hematúria,
hematese, hifema e sangramento prolongado em incisões cirúrgicas e locais de punção de veia (HARRUS et
al., 1997). À necropsia, observam-se petéquias na
gengiva e conjuntiva ocular, mau estado corporal,
presença de coágulos sanguíneos exuberantes nas
cavidades nasais, aumento de volume generalizado
dos linfonodos, do baço e das tonsilas, petéquias nas
serosas de diferentes órgãos e tecidos, presença de
sangue fluido na luz intestinal e fígado pálido e com
acentuação do padrão lobular (HILDENBRANDT et al.,
1973). Histologicamente, observa-se infiltrado
mononuclear perivascular localizado preferencialmente ao redor das veias de diversos órgãos e tecidos.
Esses manguitos perivasculares são mais freqüentes
na forma crônica da enfermidade e são mais
comumente vistos no sistema nervoso central (em
geral afetando as meninges), rins e pulmões. Outros
achados microscópicos incluem pneumonia
intersticial, hiperplasia (na fase aguda da doença) ou
depleção (na fase crônica da enfermidade) do tecido
linfóide (exaustão dos centros germinativos dos
folículos linfóides) no baço, tonsilas e gânglios linfáticos acompanhada de eritrofagocitose, plasmocitose
e histiocitose nesses linfonodos, hipercelularidade
(hiperplasia) da medula óssea na fase aguda da doença ou depleção (hipocelularidade, hipoplasia) desse tecido hematopoiético na fase crônica da enfermidade, e necrose (isquêmica anóxica) hepatocelular
centrolobular devido à anemia (HILDEBRANDT et al.,
1973; REARDON & PIERCE , 1981). R. sanguineus é o
artrópode vetor de E. canis. Esse carrapato pode ser
encontrado na pelagem do animal doente ou então há
histórico de contato com esse ixodídeo. A doença é
mais grave em animais jovens. A raça Pastor Alemão
é descrita como mais predisposta à infecção por essa
riquétsia e, nessa raça, E. canis usualmente provoca
uma síndrome hemorrágica grave (NEER, 1998). Deve
ser mencionado que exemplares de E. canis dificilmente
são observados em cortes histológicos fixados em
formol a 10% ou em solução de Bouin. Em cortes
histológicos corados pela hematoxilina e eosina (H.-
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
116
A.P. Loretti & S.S. Barros
E.), dificilmente são encontradas mórulas de E. canis
no interior de células mononucleares fagocitárias
(NEER, 1998; PANCIERA, 2001) e raramente se encontra
E. canis no interior do citoplasma de células endoteliais
dos vasos sangüíneos pulmonares menos calibrosos
(HILDENBRANDT et al., 1973). Há autores que sugerem
que o diagnóstico da infecção por E. canis deve ser feito
por meio do exame microscópico de "imprints" de
fragmentos de pulmão confeccionados à necropsia
(NEER, 1998). A visualização de E. canis nos leucócitos
é mais fácil quando se fazem esfregaços a partir de
"papa" leucocitária ("buffy coat") ou exame citológico
de esfregaços de linfonodos (NEER, 1998; MYLONAKIS et
al., 2003).
Sangramento pela borda das orelhas tem sido
considerado como um dos sinais clínicos típicos da
ehrlichiose no Estado do Rio Grande do Sul, Região
Sul do Brasil. Dados a respeito da epidemiologia da
enfermidade nessa região revelam que a doença é
observada em cães das zonas periurbanas infestados
por R. sanguineus mantidos em casas que têm pátios
(SEIBERT, 1996). O primeiro relato da infecção por E.
canis nesse Estado (SILVA et al., 1985) traz um caso
clínico de apresentação bastante incomum de acordo
com o que consta na literatura a respeito dessa
riquetsiose (NEER, 1998). O quadro clínico-patológico
desse caso insólito de infecção por E. canis diagnosticado no Município de Santa Maria, RS, caracterizava-se por anorexia, icterícia, aumento de volume
dos linfonodos poplíteos, sangramento pela borda
da orelha, anemia macrocítica hipocrômica,
policromasia, corpúsculos de Howell-Jolly,
leucocitose, e a presença de mórulas de E. canis encontradas em monócitos a partir do exame de esfregaços
sangüíneos. Na infecção por E. canis, pode haver
epistaxe ao passo que na infecção por R. vitalli ocorre
não apenas epistaxe mas também sangramento pelas
orelhas. Hemorragias profusas através das margens
auriculares não têm sido observado na ehrlichiose
canina. Apesar de o hematoma auricular (oto-hematoma) ser descrito por alguns autores como um sinal
clínico típico da infecção por Ehrlichia canis em áreas
endêmicas (BEUGNET et al., 2002), esse oto-hematoma é
distinto do sangramento profuso através da pele do
pavilhão auricular observado no parasitismo por R.
vitalli e que no Estado do Rio Grande do Sul tem sido
incorretamente atribuído à infecção por E. canis. O
perfil hematológico do primeiro registro de ehrlichiose
canina no Rio Grande do Sul também não é consistente
com àquele observado na infecção por E. canis (NEER,
1998).
Estudos de casos espontâneos de ehrlichiose canina
no Estado do Paraná, Região Sul do Brasil, revelaram
que o desenvolvimento de sangramentos e
trombocitopenia, tidos como achados comuns da
ehrlichiose em outros países, não são freqüentes nos
casos dessa riquetsiose vistos em nosso país e, quando
observados, ocorrem apenas naqueles cães que são
sororeagentes não apenas para E. canis mas também
para B. canis. Sugere-se que o quadro clínico observado
na ehrlichiose canina pode variar de acordo com a
região geográfica em questão e que cepas brasileiras
de E. canis não causam trombocitopenia e hemorragias
tão freqüentemente como em outros países (DAGNONE
et al., 2003). Nos chama a atenção o fato de não haver
um único diagnóstico de necropsia irrefutável de
ehrlichiosecanina em nossa região, RS, ao longo de
todos esses anos. Adicionalmente, o sangramento
continuado pelas margens e face externa das orelhas
não têm sido observado em casos de ehrlichiose canina descritos em outros países (HARRUS et al., 1997;
NEER, 1998) o que levanta ainda mais desconfiança
com relação à real importância do parasitismo de E.
canis como causa de doença clínica e morte nos cães
do Estado do Rio Grande do Sul.
Deve-se levar em consideração também a existência
dos portadores assintomáticos de E. canis (infecção
subclínica) que tipicamente são soropositivos para
esse patógeno mas têm uma quantidade muito reduzida de riquétsias no sangue periférico o que torna a
detecção desses agentes através do exame microscópico de esfregaços sanguíneos muito difícil ou inviável
em termos práticos (DU PLESSIS et al., 1990; PREZIONSI &
COHN, 2002; MYLONAKIS et al., 2003). A ocorrência
desses portadores assintomáticos oferece riscos nos
hospitais veterinários que mantêm bancos de sangue
e um grupo de doadores. Exames de esfregaços
sangüíneos e testes sorológicos para E. canis devem
ser feitos em cães doadores de sangue para evitar a
contaminação acidental de cães receptores susceptíveis (FRANÇOIS et al., 2002). Para evitar diagnósticos
falso positivos de infecção por E. canis, as mórulas
dessa riquétsia, encontradas no interior de leucócitos,
não devem ser confundidas com grânulos azurófilos
linfocíticos (que podem se assemelhar a corpos elementares de E. canis), material nuclear fagocitado por
monócitos, corpos linfoglandulares (que devem ser
diferenciados de mórulas de localização extra-celular)
e plaquetas sobrepostas incidentalmente em
monócitos. A observação cuidadosa de esfregaços
sanguíneos por um profissional experiente no ramo
da patologia clínica veterinária também é essencial
para que não sejam dados diagnósticos falso positivos
de ehrlichiose canina (MYLONAKIS et al., 2003).
A ehrlichiose canina pode ser diferenciada do
parasitismo por R. vitalli por meio do histórico, sinais
clínicos, hemograma e achados histopatológicos.
Icterícia é um sinal clínico raramente observado na
infecção por E. canis (HARRUS et al., 1997) e, quando
observada, usualmente está associada a uma infecção
simultânea por B. canis (GREENE & HARVEY, 1984).
Icterícia caracterizada por amarelecimento das
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
mucosas, da carcaça e dos órgãos e tecidos devido à
bilirrubinemia e bilirrubinúria são relativamente comuns na infecção por R. vitalli (KRAUSPENHAR et al.,
2003b; LORETTI et al., 2003). Na infecção por E. canis,
usualmente há uma anemia normocítica
normocrômica arregenerativa acompanhada de
leucopenia e trombocitopenia (NEER, 1998) ao passo
que na infecção por R. vitalli ocorre tipicamente uma
anemia macrocítica hipocrômica regenerativa extravascular do tipo imuno-mediada associada à
leucocitose e raramente trombocitopenia (KRAUSPENHAR
et al., 2003b; LORETTI et al., 2003). A presença de
infiltrados inflamatórios linfoplasmocitários
perivenulares afetando as meninges é tido como uma
lesão histológica comumente observada na ehrlichiose
canina (HILDENBRANDT et al., 1973). Na infecção por R.
vitalli, infiltrados mononucleares, quando observados, são vistos principalmente nos rins mas são de
localização intersticial, não formam manguitos
perivasculares e usualmente vêm acompanhados da
presença do parasito intra-celular no endotélio
(KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al., 2003).
Recentemente, no Estado do Rio de Janeiro, Região
Sudeste do Brasil, organismos semelhantes àEhrlichia
("Ehrlichia-like") foram observados em esfregaços de
baço e fígado confeccionados à necropsia de um caso
isolado de dermatite em um canino associada a um
parasito não-identificado semelhante à Toxoplasma
gondii ("Toxoplasma gondii-like"). Tratava-se de um
cadela de 6 anos de idade da raça Dogue Alemão que
clinicamente apresentava fraqueza, anemia,
trombocitopenia, icterícia e nódulos ulcerados que
sangravam. O curso clínico dessa enfermidade foi de
3 meses e culminou com a morte espontânea do animal. Na histopatologia, havia depleção dos centros
germinativos dos folículos linfóides dos linfonodos
com atrofia das zonas paracorticais ou aumento de
volume dos linfonodos devido à plasmocitose nos
cordões medulares além de hemorragia multifocal,
histiocitose e eritrofagocitose. Havia também
infiltrados inflamatórios plasmocitários nos
linfonodos, rim, coração, baço, fígado, pâncreas e
bexiga e necrose isquêmica hepatocelular periacinar
acompanhada de infiltração por neutrófilos. Parasitos
"Toxoplasma-like" de 2-3 µm foram encontrados em
maior número na pele, formando aglomerados no
interior do citoplasma de macrófagos, de células
epiteliais que circundavam as glândulas sebáceas e
de células não-identificadas, e estavam associados à
acentuada dermatite piogranulomatosa com a formação de microabscessos. Alguns exemplares desse
patógeno também foram encontrados no interior de
hepatócitos. Estudos em imuno-histoquímica e
microscopia eletrônica confirmaram a identidade dos
parasitos da pele como sendo protozoários do filo
Apicomplexa similares à Toxoplasma gondii. Os resul-
117
tados da imunoistologia dos organismos observados
dentro dos hepatócitos foi inconclusiva (DUBEY et al.,
2003).
É interessante mencionar que, durante o período
de 1995 a 2002, o parasitismo por R. vitalli foi erroneamente diagnosticado como infecção por E. canis pela
equipe do Setor de Patologia Veterinária da UFRGS,
Porto Alegre, RS. Este equívoco foi corrigido apenas
recentemente (2002-2003) quando um estudo sobre os
aspectos epidemiológicos e clínico-patológicos da
infecção por R. vitalli (incluindo estudos ultra-estruturais que até então ainda não tinham sido feitos para
esse protozoário) começou a ser desenvolvido nessa
instituição de ensino e pesquisa com a colaboração de
profissionais que atuam em diferentes áreas da medicina veterinária (patologia, patologia clínica,
parasitologia) e em diferentes universidades e instituições de pesquisa do Brasil (UFPel, Pelotas, RS;
UFSM, Santa Maria, RS; USP, São Paulo, SP; FEPAGRO,
Eldorado do Sul, RS). Esse estudo incluiu também a
revisão dos diagnósticos de ehrliquiose, leptospirose
e babesiose em cães emitidos nos últimos anos por
esse laboratório de diagnóstico e pesquisa em patologia veterinária. Sugere-se uma revisão sensata dos
diagnósticos clínicos e laboratoriais (pesquisa de
hematozoários e riquétsias que ocorrem em cães através do exame de esfregaços sangüíneos) de ehrlichiose
canina feitos no Estado do Rio Grande do Sul (BRACCINI
et al., 1992; SEIBERT, 1996; OLICHESKI, 2003).
No Estado do Rio Grande do Sul, a leishmaniose
visceral canina foi confundida durante cerca de 15
anos consecutivos (de 1985 até 2000) com a infecção
por R. vitalli devido à interpretação equivocada de
cortes histológicos (POCAI et al., 1998; BARROS, Comunicação pessoal; GRAÇA, Comunicação pessoal). Alguns
autores alegam que R. vitalli e Leishmania spp. são
morfologicamente semelhantes à microscopia de luz
o que levou à interpretação errônea de R. vitalli na
histologia ao longo de aproximadamente duas décadas
(KRAUSPENHAR et al., 2003b). Deve ser frisado que a
epidemiologia e o quadro clínico-patológico da infecção por R. vitalli e da leishmaniose visceral canina são
distintos. A leishmaniose visceral geralmente causa
emagrecimento progressivo acompanhado de atrofia
muscular (apesar da polifagia), palidez das mucosas,
febre intermitente, anorexia, polidipsia, lesões de pele
(dermatite exfoliativa, seca, usualmente nãopruriginosa), aumento de volume de todos os
linfonodos, do baço e do fígado, diarréia episódica,
onicogripose (crescimento anormal, exagerado das
unhas que ficam longas e encurvadas), onicorrexia
(unhas quebradiças), conjuntivite e pode provocar
apenas ocasionalmente epistaxe e melena e raramente icterícia (SLAPPENDEL, 1988; SLAPPENDEL & FERRER,
1998). Achados laboratoriais incluem anemia
normocítica normocrômica, hiperproteinemia
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
118
A.P. Loretti & S.S. Barros
(hiperglobulinemia), leucocitose (neutrofilia com desvio
à esquerda), disproteinemia, hipoalbuminemia,
trombocitopenia, trombopatia, tempo de trombina
prolongado, aumento na quantidade dos produtos de
degradação da fibrina, teste de Coombs positivo, níveis elevados de alanino aminotransferase, atividade
da fosfatase alcalina sérica elevada e proteinúria
(SLAPPENDEL & FE R R E R, 1998; FELDMAN, 2000). À
necropsia, observa-se caquexia, lesões de pele
descamativas e hiperqueratóticas distribuídas por
toda a supefície tegumentar (mais freqüentemente
observadas no nariz, ao redor dos olhos e nas orelhas),
linfadenomegalia generalizada, espleno e
hepatomegalia e medula óssea difusamente vermelha
e abundante (apesar da eritropoiese ineficiente) e,
raramente petéquias e equimoses sobre as serosas e
mucosas (SLAPPENDEL, 1988; SLAPPENDEL & FERRER,1998).
O exame citológico de aspirados de linfonodos e
medula óssea revela a presença de formas amastigotas
de Leishmania sp. livres ou no citoplasma de
macrófagos. Leishmania spp. não tem sido observado
em esfregaços de sangue periférico (KEENAN et al.,
1984a). Na histopatologia, além da presença dos
protozoários intra-celulares fagocitados por
macrófagos em diferentes órgãos e tecidos p.ex. baço,
linfonodos, medula óssea, há hiperplasia folicular
(na fase aguda da doença) acompanhada de proliferação de macrófagos nos seios dos linfonodos (que
podem conter ou não os parasitos) (histiocitose
sinusal), atrofia dos folículos linfóides (na fase crônica da enfermidade) e, em parte dos casos,
glomerulonefrite induzida pela deposição de
imunocomplexos circulantes, nefrite intersticial e
ocasionalmente amiloidose (KEENAN et al., 1984b;
SLAPPENDEL & FERRER, 1998; COSTA et al., 2003). A
leishmaniose visceral tem sido descrita mais
freqüentemente em cães adultos (SLAPPENDEL, 1988). A
demodicose (Demodex canis), a ehrlichiose canina (E.
canis), a hepatozoonose e a neosporose têm sido descritas como doenças oportunistas que podem estar
associadas à leishmaniose visceral (KEENAN, 1984b;
CIARAMELLA et al., 1997; TARANTINO et al., 2001).
Diversos casos de leishmaniose visceral em
humanos (calazar) e em cães causadas por Leishmania
(Leishmania) chagasi têm sido descritos no Brasil não
apenas em zonas rurais mas também em áreas suburbanas e urbanas (RIBEIRO, 1997; SANTAROSA &O LIVEIRA,
1997; FEITOSA et al., 2000) mas não no Estado do Rio
Grande do Sul com exceção dos casos de infecção por
R. vitalli que inicialmente foram diagnosticados como
infecção por Leishmania spp. (POCAI et al., 1998). Material referente a esses casos foi enviado para um laboratório de protozoologia no exterior com a suspeita de
leishmaniose visceral (BARROS, Comunicação pessoal;
GRAÇA, Comunicação pessoal). Nessa instituição
internacional, esse material foi então revisado por
especialistas mundialmente reconhecidos pela realização de diversos estudos sobre protozooses e
aclamados pela publicação de numerosos trabalhos
científicos a esse respeito. Nesse mesmo local também
foi realizada a técnica de imunoistoquímica para
Leishmania donovani para confirmar a suspeita de
leishmaniose uma vez que naquela época (década de
80-90) essa técnica não estava prontamente disponível
para fins diagnósticos nos laboratórios veterinários
de nosso país. Estranhamente, o diagnóstico de
leishmaniose visceral (infecção por L. donovani) foi
confirmado através do exame de cortes histológicos e
imunoistologia (P OCAI et al., 1998) apesar da
disparidade entre a epidemiologia e quadro clínicopatológico desses casos suspeitos de leishmaniose
visceral oriundos da Região Sul do Brasil, local onde
até então a infecção por Leishmania spp. ainda não
tinha sido diagnosticada, com aquilo que já havia
sido publicado sobre leishmaniose em cães na literatura (SLAPPENDEL, 1988; SLAPPENDEL & FERRER, 1998).
Recentemente, os dados sobre a epidemiologia e quadro
clínico-patológico desses casos de leishmaniose
visceral em cães do Rio Grande do Sul foram revisados (KRAUSPENHAR et al., 2003b). Constatou-se então
que aqueles casos publicados anteriormente como
infecção por L. donovani eram, na verdade, casos de
infecção por R. vitalli. Uma série de equívocos foram
constatados durante essa revisão prudente e oportuna
a começar pela própria identificação morfológica
errônea do patógeno em questão através da
histopatologia e imuno-histoquímica. No primeiro
trabalho publicado a esse respeito, onde casos de
parasitismo por R. vitalli ("nambiuvú", "peste de sangue") foram descritos de forma equivocada como
casos de infecção por Leishmania spp. (leishmaniose
visceral, "calazar"), os resultados da imuno-histologia
foram positivos para Leishmania donovani (POCAI et al.,
1998). Em uma publicação posterior, onde esses
mesmos casos foram revisitados, desta vez a imunohistoquímica foi negativa para L. donovani e o diagnóstico e a descrição da doença reformulados
(KRAUSPENHAR et al., 2003). Infelizmente os autores não
deixam claro a razão para os resultados contraditórios
da imunoistologia apresentados em duas publicações
diferentes sobre a mesma série de casos. Nos cinco
casos descritos no primeiro trabalho (POCAI et al.,
1998), a apresentação clínica da leishmaniose visceral
era bastante atípica e caracterizava-se por icterícia,
hematúria, ausência de lesões na pele e presença de
formas amastigotas de L. donovani livres ou no interior
de macrófagos e de células endoteliais, formas essas
observadas ao microscópio de luz e que melhor evidenciadas através da técnica de imunoistoquímica. A
esse respeito, deve ser mencionado que a presença de
Leishmania spp. no interior de células endoteliais são
achados raros na leishmaniose visceral canina
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
(SLAPPENDEL & FERRER, 1998; TARANTINO et al., 2001). A
icterícia, sinal clínico descrito como freqüente nos
casos de infecção por Leishmania spp. do Rio Grande
do Sul (POCAI et al., 1998) também é tida como rara na
leishmaniose visceral. Em um trabalho de revisão de
80 casos de leishmaniose canina diagnosticados
durante um período de 15 anos em um hospital veterinário universitário em pacientes que ainda não tinham
sido tratados, apenas dois animais (1,5%) apresentavam icterícia (SLAPPENDEL, 1988). Em um outro estudo
retrospectivo onde 150 casos da infecção por L. infantum
em cães foram analisados durante os anos de 1994 a
1996, não foi observado icterícia em um caso sequer
(CIARAMELLA et al., 1997). A literatura pertinente ao
assunto também não menciona hematúria como sinal
clínico observado na infecção por Leishmania spp. em
cães. Hematúria também não tem sido descrita na
infecção por R. vitalli. Alterações cutâneas são observadas em aproximadamente 90% dos casos de
leishmaniose visceral canina (SLAPPENDEL & FERRER,
1998). Em nenhum dos cinco casos da infecção por L.
donovani em cães estudados no Estado do Rio Grande
do Sul são descritas lesões de pele (POCAI et al., 1998).
Alterações cutâneas na infecção por R. vitalli se restringem àquelas associada à doença sistêmica, ou
seja, amarelecimento da pele acompanhado da presença de hemorragias através da superfície tegumentar
(PESTANA 1910a; PESTANA 1910b; CARINI & MACIEL,
1914b). Sabe-se que os flebotomíneos são os vetores da
leishmaniose em nosso país (SANTA ROSA & OLIVEIRA,
1997). Lutzomyia (Diptera: Phlebotominae) é um gênero
de flebotomíneo descrito no Estado do Rio Grande do
Sul e que, nesse Estado, tem sido apontado como vetor
de Leishmania (Viannia) braziliensis, agente etiológico
da leishmaniose tegumentar americana em seres
humanos (SILVA & G RUNEWALD, 1999), e de Leishmania
(Leishmania) enriettii, agente causador da leishmaniose
mucocutânea em cobaios (FIGHERA et al., 2003). A infecção por L. (V.) braziliensis também tem sido descrita
esporadicamente no Brasil em caninos (MADEIRA etal.,
2003) e felinos (SCHUBACH et al., 2004) mas não no
Estado do Rio Grande do Sul. Levantamento
epidemiológico na região de Santa Maria e Itaara, RS,
à procura do vetor flebótomo de Leishmania spp. ("mosquito palha", "birigui") na época em que os diagnósticos de leishmaniose visceral foram feitos (19851997) forneceu resultados negativos (POCAI et al., 1998).
Casos de leishmaniose visceral em humanos e cães
têm sido notificados em 19 estados do Brasil nas
Região Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste mas
não na Região Sul do país (SANTA ROSA & OLIVEIRA,
1997). O perfil hematológico da infecção por R. vitalli
(KRAUSPENHAR et al., 2003b; LORETTI et al., 2003) apresenta
diferenças marcantes quando comparado ao da
leishmaniose visceral (SLAPPENDEL, 1988; CIARAMELLA
et al., 1997; SLAPPENDEL & FERRER, 1998). Deve ser men-
119
cionado que a leishmaniose visceral (calazar) é uma
zooantroponose (doença de animais que também pode
acometer o homem) e, portanto, tem grande importância
em saúde pública (SANTA ROSA & OLIVEIRA, 1997;
SLAPPENDEL, 1998). Até recentemente, essa doença era
tida como uma enfermidade limitada ao meio rural e
ambientes silvestres. Hoje se sabe que ela também
pode ser contraída em zonas suburbanas e urbanas
(SANTA ROSA & OLIVEIRA, 1997).
A leptospirose, em sua forma aguda, causada por
Leptospira interrogans sorovar icterohaemorrhagiae,tem
sido confundida com a infecção por R. vitalli uma vez
que ambas as doenças cursam tipicamente com icterícia. Na forma aguda da leptospirose, há febre,
prostação, icterícia (devido à lesão hepática e/ou
anemia hemolítica), hemorragias (petéquias) nas
mucosas visíveis e na pele, descarga oculonasal, dor
abdominal, vômitos (incluindo hematemese), melena
e epistaxe. Na forma crônica da enfermidade, causada
pelo sorovar canicola, ocorre um quadro de uremia
renal cujo que consiste na presença de ulcerações na
língua e na cavidade oral, hálito com odor amoniacal,
oligúria e anúria. Achados hematológicos incluem
anemia hemolítica principalmente extra-vascular. A
anemia é do tipo macrocítica hipocrômica,
regenerativa, onde se observa policromasia,
anisocitose e metarrubricitemia. O distúrbio hemolítico
ocorre em conseqüência da liberação de hemolisinas
pela bactéria podendo haver ainda um componente
imune envolvido. Alguns autores descrevem crise
hemolítica acompanhada de hemoglobinúria na infecção pelo sorovar icterohaemorrhagiae em cães. Na
experiência dos autores, hemoglobinúria não tem
sido observada na leptospirose dos cães. Há
leucopenia na fase de leptospiremia e, com a progressão da enfermidade, leucocitose (neutrofilia) com
desvio à esquerda e trombocitopenia secundária à
lesão endotelial, agregação plaquetária e CID. A ocorrência de CID está associada à liberação de linfocinas.
Exames bioquímicos do sangue podem revelar insuficiência renal (aumento dos níveis séricos de uréia e
creatinina, azotemia) dependendo do sorovar envolvido. No exame de urina, há bilirrubinúria, proteinose
tubular e glicosúria além da presença de cilindros
granulares e leucócitos. Na urina, as leptospiras são
observadas apenas através de coloração especial ou
técnica especial de microscopia (campo escuro). Na
necropsia de animais que desenvolveram a forma
aguda da leptospirose, observa-se amarelecimento
generalizado da carcaça (icterícia), hemorragias em
múltiplos órgãos e tecidos, na pele e nas membranas
mucosas e serosas (múltiplas petéquias e equimoses
são usualmente observadas nos pulmões e também
nos rins), fígado aumentado de tamanho, friável e
amarelo-alaranjado, rins tumefeitos e pálidos ou
amarelo-alaranjados, mucosa e serosa gástricas com
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
120
A.P. Loretti & S.S. Barros
avermelhamento focalmente extenso ou difuso
(hemorragia), estômago preenchido por conteúdo fluido
sanguinolento e baço pálido. Algumas obras relatam
que ocasionalmente os linfonodos podem estar
aumentados de tamanho, edematosos e hemorrágicos
e que pode haver esplenomegalia e intussuscepção
intestinal. Na forma crônica da enfermidade, as
lesões são típicas de um quadro de insuficiência
renal. Os rins estão manchados de branco (nefrite
intersticial) e há estomatite, glossite e gastrite
ulcerativas, calcificação dos tecidos moles p.ex.
região subpleural da musculatura intercostal,
endocárdio do átrio esquerdo e parênquima pulmonar,
e os pulmões estão úmidos, pesados e não-colapsados
(edema e mineralização). Há casos em que o animal
apresenta simultaneamente icterícia marcada e insuficiência renal com lesões extra-renais de uremia.
Microscopicamente, na forma aguda da doença, que
cursa tipicamente com icterícia, há dissociação dos
cordões de hepatócitos e, na forma crônica da enfermidade, em que usualmente ocorre insuficiênciarenal,
observa-se nefrite intersticial crônica (infiltrados
inflamatórios linfoplasmocitários localizados entre
os túbulos renais) que pode estar acompanhada de
lesões extra-renais de uremia p.ex. mineralização dos
septos dos alvéolos pulmonares e da parede das
arteríolas e vênulas do estômago e pulmões. Alguns
autores descrevem marcada eritrofagocitose, depleção
de linfócitos e aumento na quantidade de células
reticulares dos capilares sinusóides do fígado (MAXIE
& PRESCOTT, 1993).
O quadro clínico-patológico da leptospirose é mais
grave em animais jovens do que nos adultos. A taxa
de mortalidade dessa moléstia bacteriana é elevada.
A epidemiologia da doença envolve o contato dos
animais com urina de ratos ou de outros animais
infectados que eliminam as leptospiras pela urina
inclusive cães que se recuperaram da doença clínica
causada por essa espiroqueta. O diagnóstico da
leptospirose está baseado no histórico, quadro clínicopatológico, exame sorológico e identificação do
microrganismo em amostras de urina examinadas
através da microscopia de campo escuro ou através
da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR),
imunofluorescência em "imprints" de tecidos (rim e
fígado) ou em cortes histológicos corados com a prata
ou imunoistoquímica (GREENE et al., 1998; MCDONOUGH,
2001). No Brasil, a doença tem sido observada tanto
em cães da cidade como os da zona rural (CORRÊA &
CORRÊA, 1992). A forma aguda da leptospirose causada
pelo sorovar icterohaemorrhagie tem um curso clínico
típico de uma doença septicêmica e provoca choque
e morte após 2-3 dias do surgimento súbito dos primeiros sinais clínicos.
A infecção por R. vitalli pode ser confundida com
a lepstopirose fulminante em função da marcada
icterícia, febre alta, hemorragias (epistaxe, melena e
hematemese) e evolução clínica aguda semelhante.
Aumento de volume dos linfonodos, esplenomegalia,
achados de necropsia usualmente observados na
infecção por R. vitalli, são lesões macroscópicas que
não têm sido descritas pela maioria dos autores na
leptospirose (GREENE et al., 1998). Sangramento através das orelhas, achados típicos do parasitismo por
R. vitalli, não tem sido observado na leptospirose. Na
leptospirose aguda, as hemorragias observadas à
necropsia são muito mais extensas, freqüentes e
numerosas comparadas àquelas observadas no
parasitismo por R. vitalli em especial nos pulmões. O
mesmo pode ser dito para a icterícia que em geral é
muito mais intensa na lepstopirose aguda do que na
infecção por R. vitalli. Insuficiência renal acompanhada ou não de lesões extra-renais de uremia e
alterações bioquímicas do sangue ou na urinálise
consistentes com doença renal não têm sido observadas na infecção por R. vitalli mas usualmente estão
presentes na leptospirose em especial na forma crônica dessa doença bacteriana. Leucocitose moderada
resultante de neutrofilia com desvio à esquerda, achado
típico de uma reação inflamatória aguda, é um achado
relativamente constante no hemograma de cães com
leptospirose mas não tem sido visto na infecção por R.
vitalli.
As mordidas da mosca Stomoxys calcitrans (L.)
(Diptera: Muscidae) (a "mosca dos estábulos") na
ponta das orelhas provoca em cães uma dermatite
auricular caracterizada pela presença de crostas
escuras que se formam a partir do sangue e soro que
exudam dessas lesões traumáticas. Sangramento
intermitente através dessas lesões ocorre devido ao
ato de os cães coçarem as orelhas freneticamente e
chocalharem de forma compulsiva a cabeça na tentativa de aliviar o incômodo naquela região (ANGARANO,
1988). Essas lesões não devem ser confundidas com
aquelas observadas nos casos de "nambiuvú" onde o
sangramento através das orelhas é profuso, intenso e
persistente e afeta não só as pontas mas também as
bordas e face externa dos pavilhões auriculares. Além
disso, a infecção por R. vitalli causa uma doença
sistêmica ao passo que S. calcitrans provoca apenas
dermatite nas orelhas além da irritação do animal. A
ocorrência sazonal de ambas as condições (tanto a
infecção por R. vitalli como a dermatite auricular
causada pela "mosca dos estábulos" ocorrem tipicamente durante a época mais quente do ano) e o
sangramento através dessas lesões auriculares causa
confusões e interpretações equivocadas.
A infecção por Mycoplasma haemocanis
(Haemobartonella canis) em caninos tem sido descrita
esporadicamente no Estado do Rio Grande do Sul
(BRACCINI et al., 1992; SEIBERT, 1996; BORTOLINI et al.,
2002) e pode ser confundida com a infecção por R.
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
vitalli em função da anemia clinicamente evidente
que ocorre em ambas enfermidades. A hemobartonelos e
é transmitida pelo carrapato R. sanguineus. A doença
clínica é rara em cães não-esplectomizados. A
hemobartonelose usualmente é observada em cães
experimentais que sofreram remoção cirúrgica do
baço. Também tem sido observada em cães que apresentam imunossupressão devido a alguma doença
viral, bacteriana, riquetsial (p.ex. a ehrlichiose), parasitária (babesiose), neoplasia ou corticoterapia. Clinicamente, o animal afetado pode apresentar letargia e
palidez das mucosas visíveis. Não há febre na
infecção por M. canis. Achados hematológicos na
hemobartonelose incluem anemia (macrocítica
hipocrômica) hemolítica extra-vascular que pode ter
um componente imunomediado (anemia auto-imune)
induzindo a formação de esferócitos (esferocitose).
Essa anemia é positiva no teste de Coombs. A anemia
usualmente é regenerativa havendo reticulose,
policromasia, anisocitose e eritrócitos nucleados
circulantes. Pode haver também trombocitopenia
assim como bilirrubinemia e bilirrubinúria mas esses
não são achados usualmente observados nessa doença.
Achados de necropsia incluem palidez generalizada
da carcaça, sangue aquoso e mais claro ("fino") e
medula óssea vermelha e gelatinosa. Na
histopatologia, há hiperplasia do sistema fagocítico
mononuclear. O diagnóstico da hemobartonelose
canina é baseado no histórico, quadro clínico,
hemograma e presença do patógeno em esfregaços
sangüíneos. M. haemocanis pode ser um achado
incidental e em geral poucos desses micoplasmas
hemotrópicos são encontrados no interior das
hemácias (HARVEY, 1998; KRAJE, 2001). Apesar da
hemobartonelose dos cães apresentar alguns pontos
em comum com a infecção por R. vitalli, M. canis causa
uma doença branda mesmo naqueles animais
esplenectomizados ou imunossuprimidos. O quadro
clínico da infecção por R. vitalli é bem mais grave
Aparentemente a hemobartonelose não é uma doença
importante para cães em nossa região.
Recentemente, um microrganismo semelhante à
riquétsia Neorickettsia helminthoeca, agente etiológico
da "intoxicação por salmão" ("salmon poisoning
disease"), enfermidade cuja ocorrência se restringe a
algumas áreas da América do Norte (GORHAM &FOREYT,
1998), foi descrito em cães no Norte do Paraná, Região
Sul do Brasil (HEADLEY et al., 2003). Atribuiu-se o termo
"N. helminthoeca-like" a esse patógeno, até então inédito
em nosso país, em função da semelhança morfológica
entre o microrganismo observado em nessa região do
país com aquele descrito no exterior. Pesquisadores
estrangeiros envolvidos em diversos estudos sobre
Neorickettsia, Anaplasma e Ehrlichia (microrganismos
estes que fazem parte do grupo de bactérias
intracelulares obrigatórias que residem no interior de
121
vacúolos situados no citoplasma de células
eucarióticas) também participaram desse estudo.
Achados de necropsia nos 10 casos dessa doença
descritos nesse trabalho consistiam em acentuado
aumento de volume dos linfonodos pré-escapulares,
axilares e mesentéricos, que ao corte mostravam-se
edematosos e com os folículos linfóides da região
cortical mais evidentes, hipertrofia das placas de
Peyer e do tecido linfóide intestinal, esplenomegalia,
com a polpa branca do baço mais visível ao corte, e
colite hemorrágica aguda. Na histologia, foi observada
hiperplasia do tecido linfóide dos intestinos (placas
de Peyer) e depleção dos folículos linfóides do baço e do
córtex dos linfonodos mesentéricos. Pequenos microrganismos intracitoplasmáticos morfologicamente
semelhantes à N. helminthoeca foram visualizados por
meio da coloração de Giemsa no interior de macrófagos
situados nas placas de Peyer, glândulas intestinais,
centros germinativos dos folículos linfóides dos
linfonodos mesentéricos e nos corpúsculos esplênicos.
Em um desses casos, foi observado na histologia do
intestino grosso trematódeos comparáveis àAscocotyle
(Phagicola) arnaldoi. Achados em comum entre a infecção por "N. helminthoeca-like" e a infecção por R. vitalli
incluem linfadenomegalia, esplenomegalia e marcada
hemorragia intestinal. Nesse relato isolado, infelizmente não há informações sobre a epidemiologia e
quadro clínico manifestado pelos cães acometidos o
que nos impede de fazer mais comparações entre
essas duas enfermidades. Na América do Norte, a
"intoxicação por salmão" é causada por N.helminthoeca
e tem um ciclo evolutivo que envolve o trematódeo
Nanophyetus salmincola, o caramujo Oxytrema silicula
e peixes, principalmente os salmonóides. A principal
célula alvo de N. helminthoeca é o macrófago (GORHAM
& FOREYT, 1998).
Outras causas de anemia hemolítica
imunomediada secundária em caninos que devem
ser consideradas no diagnóstico diferencial do
parasitismo por R. vitalli incluem as infecções
(babesiose, ehrlichiose, leishmaniose, hemobartonelose,
dirofilariose),
neoplasias
(linfossarcoma,
hemangiossarcoma, distúrbios mieloproliferativos),
processos inflamatórios crônicos (p.ex. colites), doenças
granulomatosas, doenças hemolíticas hereditárias
(deficiências de piruvato quinase ou de
fosfofrutoquinase), exposição recente a drogas (p.ex.
administração de sulfonamida-trimetropim em cães
da raça Doberman Pinscher), toxinas (p.ex. picadas
de abelhas) e vacinas (DAY, 2003). Anemia hemolítica
imunomediada primária idiopática (anemia
hemolítica auto-imune) também deve ser levada em
consideração. Raças caninas mais predispostas
ao desenvolvimento de anemia hemolítica
imunomediada incluem a Cocker Spaniel, Old English
Sheepdog, Poodle, Pastor Alemão, Doberman Pinscher
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
122
A.P. Loretti & S.S. Barros
e Setter Irlandês. Alguns autores mencionam que a
icterícia, esplenomegalia e linfadenomegalia,
achados freqüentes na infecção por R. vitalli, nem
sempre são observadas na anemia hemolítica
imunomediada (BÜCHELER & COTTER, 1995; DAY, 2003;
MC CULLOUGH, 2003). Trombocitopenia pode estar
presente em casos de anemia hemolítica auto-imune
e tem sido associada à ocorrência de uma coagulopatia
de consumo (DIC). Hemoglobinemia e hemoglobinúria
são observadas apenas naqueles casos em que a
anemia hemolítica imunomediada é intra-vascular.
Hemoglobinemia e hemoglobinúria não têm sido
observadas no parasitismo por R. vitalli em caninos
uma vez que a anemia hemolítica imunomediada é
extra-vascular. Trombocitopenia também é rara na
infecção por R. vitalli. A ocorrência de esferócitos é
altamente sugestiva de anemia hemolítica auto-imune
uma vez que são raras outras doenças que causam
esferocitose em cães. Eritrofagocitose também é um
forte indício de hemólise imunomediada. O diagnóstico definitivo de anemia hemolítica auto-imune é
feito por meio de um resultado positivo no teste de
auto-aglutinação, no teste de Coombs ou no método
de citometria de fluxo por imunofluorescência direta
(MCCULLOUGH, 2003). Deve ser frisado que o teste de
Coombs não distingue a anemia hemolítica
imunomediada primária (idiopática) da anemia
hemolítica imunomediada secundária (DAY, 2003).
Eritrofagocitose exacerbada usualmente está associada à destruição exagerada e acelerada de hemácias ou
então diminuição do tempo de vida do eritrócito e tem
sido observada não apenas nas anemias hemolíticas
imunomediadas e em doenças causadas por parasitos
de hemácias mas também em casos de transfusão
sangüínea, neoplasias histiocitárias e histioctiose
hemofagocítica (GRINDEM et al., 2002). Naqueles casos
de anemia hemolítica imunomediada em que a
poliartrite, lesões de pele e glomerulonefrite fazem
parte do quadro clínico-patológico, lúpus eritematoso
e outras doenças auto-imunes devem ser levadas em
consideração no diagnóstico diferencial (DAY, 2003).
Outras doenças que devem ser diferenciadas da
infecção por R. vitalli incluem (i) a ancilostomose
(parasitismo por Ancylostoma caninum e A. braziliensis),
verminose que usualmente é observada em filhotes de
cães, causa uma anemia do tipo ferropriva (FIGHERA,
2001) e provoca melena acompanhada do acúmulo de
grande quantidade de conteúdo sanguinolento e
viscoso na luz do intestino delgado; são observados
quantidades variáveis de nematódeos do gênero
Ancylostoma aderidos à mucosa do intestino delgado,
se alimentando de sangue naqueles pontos onde se
fixam à superfície mucosa por meio de dentes em
forma de gancho localizados em sua cápsula bucal
anterior (SOULSBY, 1982); parasitismo acentuado por
Ancylostoma com a presença de conteúdo sanguino-
lento na luz intestinal tem sido observado como um
achado incidental de necropsia em casos de infecção
por R. vitall; nesses casos onde R. vitalli e Ancylostoma
spp. ocorrem simultaneamente no mesmo indivíduo,
a presença dos vermes hematófagos pode dificultar a
interpretação do hemograma e das lesões
macroscópicas (hemorragias intestinais) observadas
naqueles animais afetados pelo "nambiuvú das
tripas"; (ii) endocardite bacteriana, doença septicêmica
que ocorre tipicamente em raças caninas de grande
porte p.ex. Pastor Alemão, Dogue Alemão, usualmente
associada a feridas contaminadas que servem de
porta da entrada para o patógeno; causa doença de
curso clínico agudo, usualmente fatal, caracterizada
por febre, epistaxe, hemoptise, hematúria e diarréia
com sangue devido à coagulopatia (CID) (GREENE ,
1998); casos de endocardite bacteriana têm sido
observados com relativa frequência em cães atendidos no Hospital de Clínica Veterinária (HCV) e
necropsiados no Setor de Patologia Veterinária da
UFRGS, Porto Alegre, RS, e já foram confundidos com
ehrlichiose canina, riquetsiose que aparentemente
não ocorre nessa região; (iii) parvovirose que ocorre
tipicamente em cães jovens e que provoca diarréia
sanguinolenta profusa além de vômitos freqüentes
com grande quantidade de muco, febre, anorexia e
prostação ( GREENE , 1998). Todas essas três enfermidades
apresentam alta taxa de mortalidade. Todas essas
doenças apresentam lesões macroscópicas características à necropsia que permitem a diferenciação com
a infecção por R. vitalli.
TRATAMENTO, CONTROLE E PROFILAXIA
Clínicos veterinários que têm diagnosticado a
infecção por R. vitalli com base no histórico, quadro
clínico e resultados do hemograma têm empregado a
doxiciclina, o dipropionato de imidocarb ou o aceturato
de diminazeno na terapia dessa protozoose. Tem se
empregado a mesma posologia usada na terapia de
outras protozooses e riquetsioses sangüíneas de caninos (p.ex. babesiose e a ehrlichiose) a base de drogas
protozoocidas. Corticóides também têm sido empregados n o tratamento do parasitismo por R. vitalli seguindo
a mesma indicação de doses recomendadas na terapia
da anemia hemolítica imunomediada primária ou
secundária (BÜCHELER & COTTER, 1995) R. vitalli tem se
mostrado sensível a todas as drogas anti-protozoário
acima enunciadas e o tratamento dessa doença tem
sido bem sucedido com o uso desses medicamentos
quando adequadamente utilizados. A corticoterapia
também tem tido bons resultados no tratamento da
anemia hemolítica imuno-mediada induzida por R.
vitalli. Quando necessário, transfusão sangüínea e
fluidoterapia também são incluídas no protocolo de
tratamento dessa protozoose.
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
No Estado do Rio Grande do Sul, o aceturato de
diminazeno (diaceturato tetraidrato de 4,4'diamidinodiazoaminobenzeno) é uma diamidina
aromática que vem sendo recomendada para o tratamento da "doença do carrapato dos cães" principalmente nas agropecuárias. Nesses estabelecimentos,
os clientes têm livre acesso à compra dessa droga
protozoocida. Quando seus cães de guarda, caça,
trabalho no meio rural ou companhia são acometidos
pela "peste de sangue" ("nambiuvú"), esses proprietários lançam mão do medicamento anti-protozoário
aplicando-o a sua maneira nesses animais que estão
doentes, tristes, fracos, febris, sem apetite e sangrando
profusamente pelas orelhas. O aceturato de
diminazeno é uma droga de baixo índice terapêutico,
ou seja, a dose terapêutica desse medicamento é próxima da doença que intoxica, e tem efeito neurotóxico
para caninos nas seguintes situações: (i) quando é
administrada uma dose acima daquela recomendada
pelo fabricante; (ii) quando doses terapêuticas repetidas
da medicação são dadas em um intervalo de tempo
inferior a 6 semanas; (iii) quando uma única dose
terapêutica é administrada em cães afetados por
doenças causadas por hematozoários ou (iv) quando
utilizada de forma profilática em animais saudáveis
na dose recomendada para a prevenção de enfermidades causadas por hematozoários. Susceptibilidades
racial e individual para esse medicamento também
têm sido descritas (GEHRING & NAIDOO, 2002). Em
caninos, a intoxicação por aceturato de diminazeno
provoca ataxia com incoordenação do trem posterior,
fraqueza, incapacidade de permanecer em estação,
sinais de dor manifestados pela emissão continuada
de ganidos, rigidez extensora dos membros, nistagmo,
convulsões, cegueira e coma. Cães intoxicados com
essa diamidina podem morrer até sete dias após os
primeiros sinais clínicos da toxicose. Em geral, o
curso clínico dessa toxicose é mais rápido (48-72
horas) e, na maior parte dos casos, o animal intoxicado morre espontaneamente ou é eutanasiado devido
ao prognóstico desfavorável da toxicose. A recuperação
dessa intoxicação é rara. À necropsia, observa-se, na
superfície de cortes seriados do encéfalo,
encefalomalácia hemorrágica simétrica focal bilateral
afetando o mesencéfalo, tálamo e cerebelo e poupando
o córtex cerebral. Essas lesões são avermelhadas,
deprimidas e bem circunscritas e podem, em alguns
casos, ser muito evidentes a olho nu e afetar de forma
extensa o tronco encefálico. Em outros casos, essas
lesões podem ser discretas e diminutas ocorrendo
apenas em uma região restrita da base do cérebro ou
cerebelo (NAUDÉ et al., 1970). Em países como Estados
Unidos, França e Alemanha, essa droga não está mais
disponível no mercado devido ao grande risco que ela
oferece à saúde dos cães. No entanto, aceturato de
diminazeno ainda é comercializado legalmente na
123
África do Sul para ser usado em caninos visto que essa
é a droga mais eficaz no tratamento da babesiose
canina causada pela Babesia rossi. B. rossi é uma espécie
extremamente patogênica de Babesia comparada a
outras cepas de Babesia tais como B. canis (França) e B.
vogeli (Norte da África) e pode causar uma doença
muito grave e fulminante em cães. Naquele país, onde
a babesiose canina corresponde a 10-20% da casuística
dos médicos veterinários clínicos de pequenos animais (JACOBSON et al., 1996), essa diamidina aromática
ainda é o medicamento mais empregado na terapia
dessa protozoose (PARDINI, 2000).
Casos de toxicose por aceturato de diminazeno em
caninos, em geral fatais, têm sido descritos na literatura (NAUDÉ et al., 1970; GEHRING & NAIDOO, 2002),
inclusive no Brasil (OLIVEIRA, 2000; CIT-RS, 2002;
LORETTI, 2002; LORETTI, 2003; PESCADOR et al., 2003). Nos
casos da intoxicação de cães por esse medicamento
anti-protozoário diagnosticados no Estado do Rio
Grande do Sul, a epidemiologia, quadro clínico e
achados macro e microscópicos dos pacientes tratados com essa droga são consistentes com aqueles
observados no parasitismo por R. vitalli à exceção da
presença dos próprios parasitos no interior das células
endoteliais dos capilares sangüíneos que, nesses casos
tratados, não têm sido encontrados. Nesses casos, as
lesões cerebrais típicas causadas pelo efeito tóxico
das diamidinas no sistema nervoso central estão
presentes. Tipicamente, os cães afetados são oriundos
da zona rural ou periurbana ou são animais que
participam periodicamente de caçadas, estão infestados
pelos carrapatos ixodídeos Amblyomma cajennense ou
Rhipicephalus sanguineus, têm sangramento persistente
através das margens e face externa das orelhas e
narinas, anemia, icterícia, prostração, emagrecimento
progressivo, esplenomegalia, aumento de volume
generalizado dos linfonodos e, na histologia,
hiperplasia linforreticular e eritrofagocitose (LORETTI,
2002; PESCADOR et al., 2003). O tratamento desses
animais com aceturato de diminazeno explicaria a
ausência dos protozoários intra-celulares nos cortes
histológicos. Não há dados publicados a respeito do
período de tempo compreendido entre a administração de aceturato de diminazeno e o desaparecimento
de exemplares de R. vitalli no endotélio. No caso de
cães parasitados por B canis que são tratados com
aceturato de diminazeno, descreve-se que esses
hematozóarios desaparecem do sangue dos animais
já nas primeiras 24 horas após a administração da
droga (JACOBSON et al., 1996). Se extrapolarmos os
dados disponíveis a respeito da terapia da infecção
pelo hematozoário B. canis com aceturato de
diminazeno e o curso clínico usual da toxicose por
essa droga protozoocida que é de 2-3 dias, R. vitalli
teoricamente não seria mais encontrado nos tecidos
dos animais doentes após cerca de 24 horas da admi-
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
124
A.P. Loretti & S.S. Barros
nistração da droga. Não há tratamento específico
para intoxicação pelo aceturato de diminazeno de
modo que o veterinário opta pela terapia de suporte,
sintomática ou, após prévia consulta ao cliente ou a
pedido do proprietário, faz a eutanásia do paciente
em função do prognóstico reservado da toxicose
(GEHRING & N AIDOO, 2002). Não se recomenda o emprego
de uma diamidina aromática no tratamento do
parasitismo por R. vitalli devido ao grande risco de
intoxicação que essa droga oferece para os cães. Há
outros medicamentos mais seguros, igualmente eficazes e aos quais R. vitalli é igualmente sensível
(imidocarb ou doxiciclina) que podem ser usados
alternativamente no tratamento dessa protozoose.
No Brasil, laboratórios de medicamentos veterinários
têm retirado de suas bulas a informação de que
aceturato de diminazeno é indicado para a terapia de
hematozoários que afetam caninos.
Doxiciclina, antibiótico bacteriostático da classe
das tetraciclinas, tem sido empregado no tratamento
da ehrlichiose canina e também da infecção por B.
canis (TABOADA, 1998). Essa droga tem sido amplamente
utilizada no tratamento da R. vitalli. Relatos informais de veterinários locais nos trazem a informação
de que essa droga tem se mostrado eficaz no tratamento
dessa protozoose em especial quando associada à
corticoterapia. Dipropionato de imidocarb é outra
droga de ação protozoocida que tem sido usada no
tratamento do parasitismo por R. vitalli (KRAUSPENHAR
et al., 2003). Alguns veterinários têm associado
imidocarb ao sulfato de atropina para evitar os efeitos
colinérgicos colaterais desse medicamento. Reações
adversas descritas para essa droga estão associadas
à ação exacerbada da acetilcolina uma vez que o
imidocarb tem atividade anticolinesterase. Pode ser
observada sialorréia, diarréia profusa, vômito,
dispnéia, taquicardia, lacrimejamento e fraqueza.
Necrose hepática massiva já foi descrita em casos de
superdosagem acidental (GREENE , 1998). Há uma
publicação que relata que o azul de tripan (trypanbalu)
também seria eficiente no tratamento do parasitismo
por R. vitalli (CARINI & MACIEL, 1914a). Todavia, o
emprego dessa droga antiprotozoária foi abandonado
em função das diversas desvantagens envolvidas no
uso desse medicamento. O azul de tripan deve ser
empregado apenas por via endovenosa. Se houver,
por acidente, extravasamento perivascular desse
medicamento durante a administração, pode haver
irritação e necrose tecidual locais. Trata-se de um
corante que induz alterações na coloração das
membranas mucosas e do plasma que ficam azulados
após a administração, podendo interferir na avaliação
de alguns parâmetros clínicos e laboratoriais. Além
disso, o azul de tripan é eliminado através da urina
que mancha com facilidade tecidos e é de difícil
remoção após lavagem (JACOBSON et al., 1996). Não há
informações sobre a disponibilidade do azul de tripan
no grupo de medicamentos veterinários atualmente
produzidos em nosso país.
As práticas de magias para a cura dos animais
acometidos por R. vitalli ou então para a prevenção
dessa protozoose são comuns no Brasil. Uma das
simpatias empregadas para curar "nambiuvú" de
cachorro é a de passar azeite quente na orelha do
animal doente durante 9 dias consecutivos (OFICINA ZOOTECNIA POPULAR:J ANGADA BRASIL , 2002). Outro tratamento empírico para a "peste de sangue" é a administração de querosene por via oral (DRIEMEIER, Comunicação pessoal). Naqueles cães que serão destinados à
caça ao atingirem a fase adulta, faz-se cortes nas
orelhas ainda quando filhotes como uma medida de
profilaxia para a "peste de sangue". Esse procedimento
provoca cicatrizes que deformam as orelhas desses
animais (DRIEMEIER, Comunicação pessoal). Tais práticas populares correspondem a rituais que carecem
de embasamento científico e que, aparentemente, não
conferem cura ou proteção alguma contra o agente
causador da moléstica conhecida como "nambiuvú"
ou "peste de sangue", o protozoário Apicomplexa
Piroplasmorida R. vitalli.
CONTROLE E PROFILAXIA
Doxiciclina (VERCAMMEN et al., 1996b), imidocarb
(VERCAMMEN et al., 1996a) e aceturato de diminazeno
(GEHRING & NAIDOO, 2002) são drogas que têm sido
empregadas na profilaxia da babesiose canina. Doses
profiláticas de tetraciclinas também têm sido administradas a cães para a prevenção da ehrlichiose
canina (NEER, 1998). Não foram encontradas informações a respeito de procedimentos semelhantes para a
prevenção medicamentosa da infecção por Rangelia
vitalli. Uma vacina contra B. canis está disponível na
Europa mas a sua eficácia é limitada (TABOADA, 1998).
Não há informações sobre a existência de vacinas
para R. vitalli. Uma medida profilática que tem sido
empregada para a babesiose canina (TABOADA, 1998)
e também para a ehrlichiose canina (NEER, 1998) e que
teoricamente poderia ser utilizada para prevenção da
infecção por R. vitalli é o controle do carrapato, vetor
do patógeno, através da inspeção frequente da pele e
pelagem dos cães à procura de desses artrópodes.
Para Babesia canis, essa inspeção visual e tátil regular
é importante já que é fato sabido que um carrapato
ixodídeo leva de 2 a 3 dias no mínimo para transmitir
esse patógeno para o cão através de seu repasto
sangüíneo (TABOADA, 1998). Informações temporais
semelhantes não estão disponíveis para R. vitalli.
Para o tratamento e controle da infestação por
Rhipicephalus sanguineus, um dos carrapatos apontados como vetor de R. vitalli na periferia das cidades,
deve-se empregar carrapaticidas diretamente no
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
ambiente (dedetização com produtos a base de
piretróides). Esse procedimento é viável em canis,
casinhas de cachorros, pequenos quintais, pátios ou
interior de domicílios aonde os cães ficam confinados, e tem como objetivo eliminar os carrapatos desses
locais. Devemos levar em consideração a existência
de outras áreas infestadas por perto p.ex. casas vizinhas que também tem cães o que pode dificultar o
controle desse carrapato no ambiente. Recomenda-se
também o tratamento carrapaticida do próprio cão.
Relata-se que a terapia tópica a base de fipronil, usado
no controle de pulgas, também pode ser utilizado
para o controle de carrapatos (TABOADA, 1998). Para
Amblyomma aureolatum, carrapato que também é apontado como transmissor de R. vitalli, deve ser levado em
conta que, apesar de esse ixodídeo infestar cães
domésticos das zonas rurais, originalmente esse
artrópode é parasita natural de várias espécies de
animais silvestres, o que torna inviável o controle da
população dessa espécie de carrapato no ambiente.
Portanto, quando do interesse do proprietário, as
medidas a serem recomendadas seriam: (i) aplicações
de carrapaticidas de longa ação nos cães, visando
uma prevenção do parasitismo quando os cães
entrassem nas matas; (ii) aplicação de carrapaticidas
de efeito imediato ("knock-down") visando um efeito
curativo quando os cães retornassem das matas e (iii)
impedir que os cães adentrassem as matas (LABRUNA
& PEREIRA, 2001).
Sugere-se que os pacientes acometidos por R.vitalli
que se recuperam após instituição da terapia
protozoocida ou que têm recuperação espontânea
poderiam causar novas infecções em animais susceptíveis a R. vitalli caso fossem utilizados como
cães doadores em transfusões sangüíneas. Situação semelhante tem sido descrita na babesiose
canina em que os animais que se recuperam da
doença ou então os cães portadores assintomáticos
oferecem riscos a outros pacientes sensíveis a esse
patógeno que podem receber de forma inadvertida
sangue contaminado por Babesia canis (PENZHORN et
al., 1995; WLOSNIEWSKI et al., 1997; LO B E T T I, 1998;
STEGEMAN et al., 2003). No caso da babesiose, medidas preventivas para evitar esse problema incluem
a realização de testes sorológicos p. ex. o teste de
imunofluorescência indireta e o "western blot test"
para a identificação de possíveis doadores
infectados (LO B E T T I, 1998; TABOADA, 1998). Transmissão iatrogênica através da transfusão de sangue contaminado por patógenos também tem sido
descrita na haemobartonelose canina [infecção por
Mycoplasma haemocanis (Haemobartonella canis)]
(HA R V E Y, 1998; KRAJE, 2001). No caso de R. vitalli, o
monitoramento de cães doadores de sangue é problemático uma vez que esse protozoário não tem
sido observado nos esfregaços sanguíneos e, além
125
disso, não há testes sorológicos disponíveis para a
detecção de portadores assintomáticos desse
patógeno.
IMPORTÂNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA
Na Região Sul do país, particularmente no Estado
do Rio Grande do Sul, cães de pastoreio, mestiços ou
de raça, estão intimamente associados ao trabalho do
campo. Nas propriedades rurais, esses animais
acompanham o peão durante suas atividades diárias,
tendo papel auxiliar na condução do rebanho de
bovinos e ovinos. Adicionalmente, esses cães desempenham função de guarda nas propriedades e companhia aos proprietários. Raças caninas rústicas tipicamente desenvolvidas na Região Sul do Brasil para
o trabalho no campo incluem o ovelheiro gaúcho, o
veadeiro brasileiro, o buldogue campeiro e as tradicionais raças de cães de pastoreio tais como o Border
Collie e Collie (dos quais o ovelheiro gaúcho é descendente) (CBKC, 2002). A "peste de sangue" é uma
doença já há muito conhecida nessa área por trabalhadores rurais, fazendeiros, e caçadores. O
"nambiuvú" vêm causando, ao longo dos anos, doença
clínica e morte em cães dessa região empregados no
trabalho (lidas rurais) ou esporte [caça de banhado ou
caça de campo das espécies cigenéticas determinadas
pelo IBAMA (ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE CAÇA E CONSERVAÇÃO, 2003)].
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alguns aspectos relacionados ao parasitismo por
R. vitalli em caninos têm causado muitas confusões e
diagnósticos equivocados ao longo dos anos no Brasil.
Estes incluem: (i) a grande dificuldade de se encontrar
R. vitalli em esfregaços sangüíneos e a dúvida que
existe em relação à localização exata desse protozoário
no sangue circulante, isto é, se esse parasito está livre
na corrente sanguínea, se é encontrado no interior de
hemácias, ou se pode ser observado em ambas localizações; (ii) a semelhança que existe entre o quadro
clínico-patológico do parasitismo por R. vitalli com o
de outras doenças causadas por protozoários e
riquétsias que ocorrem no sangue de caninos, que são
transmitidas por carrapatos e que são coletivamente
referidas como "doença do carrapato" (CÃES , 2001);
(iii) o fato de o tratamento da infecção por R. vitalli ser
o mesmo daquele empregado na terapia de outras
doenças parasitárias e infecciosas de cães que, de
forma semelhante, provocam anemia, icterícia, febre,
espleno e linfadenomegalia e hemorragias
(coagulopatias); nesses casos, veterinários prescrevem
um tratamento para "doença do carrapato" baseado no
quadro clínico apenas sem investigar o agente etiológico
específico daquela moléstia (p.ex. Babesia canis,Ehrlichia
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
126
A.P. Loretti & S.S. Barros
canis e Rangelia vitalli); (iv) a consulta a especialistas no
exterior que têm emitido diagnósticos equivocados ou
pareceres inconclusivos após o exame de cortes
histológicos de R. vitalli; as consultas a esses especialistas ao longo dos anos têm sido infrutíferas uma vez
que esses estudiosos não conhecem R. vitalli uma vez
que esse protozoário aparentemente ocorre apenas no
Brasil e tem sido descrito quase que exclusivamente em
publicações brasileiras muito antigas, escritas em português e de difícil acesso à comunidade científica
internacional. Deve ser ressaltado que o termo
rangeliose tem sido empregado para referir-se tanto à
doença causada por R. vitalli (BRAGA, 1935; KRAUSPENHAR
et al., 2003b) como também à infeccção por Trypanosoma
rangeli (ARAQUE et al., 1996). Por essa razão, o termo
rangeliose não foi empregado no presente texto de
modo a evitar confusão. Urge a realização de um estudo
retrospectivo que consista na revisão de todos diagnósticos clínicos, laboratoriais e de necropsia de babesiose
canina, ehrlichiose canina e leishmaniose visceral
realizados no Estado do Rio de Grande do Sul nas
últimas décadas de modo a determinar a real
prevalência e a verdadeira importância de cada uma
dessas enfermidades em nossa região.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABDULLAH , S.U.; M OHAMMED, A.A.; T RIMNELL, A.R.; A LAFIATAYO,
R. Clinical and haematological findings in 70 naturally
occurring cases of canine babesiosis. J. Small. Anim.
Pract., v.31, p.145-147, 1990.
ALENCAR, N.X.; K OHAYAGAWA, A.; S ANTARÉM, V.A. Hepatozoon
canis infection of wild carnivores in Brazil. Vet.
Parasitol., v.70, n.4, p.279-282, 1997.
ALENCAR, N.X.; SANTOS, R.A.; TAKAHIRA, R.K.; SAKATE, M.;
KOHJAYAGAWA, A. Síndrome hemofagocítica associada
à ehrlichiose canina - relato de caso. Rev. Bras. Ciên.
Vet., v.7., supl., p.109, 2000.
AMYX, H.L. & HUXSOLL, D.L. Red and gray foxes - potential
reservoir hosts for Ehrlichia canis. J. Wildl. Dis., v.9, n.1,
p.47-50, 1973.
ANGARANO, D.W. Diseases of the pinna. Vet. Clin. North Am.
Small Anim. Pract., v.18, n.4, p.869-884, 1988.
ARAGÃO, H.B. Ixodidas brasileiros e de alguns paizes
limitrophes. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, v.31, n.4, p.759845, 1936.
ARAQUE, W.; PLASENCIA, E.; CORTES, C.; CONTRERAS, V. Field
evaluation of a diagnostic protocol for Chaga's disease
and rangeliosis. Acta Cient. Venez., v.47, n.4, p.238243, 1996.
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE C AÇA E C ONSERVAÇÃO. Recomendações da portaria de caça de 2003 [online]. Disponível
em <http://www.agcc.com.br/menu/portaria.htm>.
Acesso em: 26 jul. 2003.
BASSON , P.A. & P IENNAR, J.G. Canine babesiosis: a report on
the pathology of three cases with special reference to
the "cerebral" form. J. South Afr. Vet. Med. Assoc., v.36,
n.3, p.333-341, 1965.
BEUGNET , F . ; LATOUR, S . ; CH E N A L , L.; MA L I V E R T, B.;
VIALLARD , J. Seroprevalence of canine monocytic
ehrlichiosis on Réunion. Vet. Rec., v.150, n.20,
p.636-637, 2002.
BICALHO, K.A.; P ASSOS, L.M.; R IBEIRO, M.F.B. Infecção experimental de cães com amostras de Babesia canis isoladas
em Minas Gerais. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.54, n.5,
p.546-548, 2002.
BJERKAS, I. Neuropathology and host-parasite relationship
of acute experimental toxoplasmosis of blue fox
(Alopex lagopus). Vet. Pathol., v.27, n.6, p.381-390, 1990.
BOOZER, A.L. & M ACINTIRE, D.K. Canine babesiosis. Vet.Clin.
North Am. Small Anim. Pract., v.33, n.4, p.885-904, 2003
BORTOLINI, C.E.; B ARCELLOS, H.H.A.; G ONZALES, J.C. Incidência
de Haemobartonella canis e H. felis como causa de
anemia em cães e gatos no Hospital Veterinário da
Universidade de Passo Fundo (HV-UPF) entre maio
e junho de 2002. In: CONBRAVET - CONGRESSO
BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 29., 2002,
Gramado. Anais.Gramado: 2002. Resumo CC SPS,
n.1194.
BRACCINI, G.L.; CHAPLIN, E.L.; STOBBE, N.S.; ARAÚJO, F.A.P.;
SANTOS, N.R. Resultados de exames laboratoriais realizados no setor de protozoologia da Faculdade de
Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, nos anos 1986 a 1990. Arq. Fac.
Vet. Univ. Fed. Rio Grande do Sul, v.20, p.134-149, 1992.
BRAGA, A. Contribuição ao estudo experimental das
piroplasmoses dos cães. Bol. Vet. Exército, v.3, p.1-16, 1935
BRANDÃO, L.P. & H AGIWARA, M.K. Babesiose canina - revisão.
Clín .Vet., v.7, n.41, p.50-59, 2002.
BRUMPT, E. Précis de Parasitologie. 5 ed. Paris: Masson et Cie
Éditeurs, 1936. p.500, 590-591.
BÜCHELER, J. & COTTER, S.M. Canine immune-mediated
hemolytic anemia. In: BONAGURA, J.D. & KIRK , R.W.
(Eds.) Kirk’s current veterinary therapy XII - small animal
practice. Philadelphia: WB Saunders, 1995. p.152-157.
C ÃES sofrem com doença do carrapato. O Estado de São
Paulo [online], São Paulo, 12 set. 2001. Suplemento
Agrícola. Cartas. Disponível em: <http://
www.estado.estadao.com.br/suplementos/agri/
2001/09/12/agri029.html>. Acesso em: 16 jul. 2002.
C ARINI, A. Notícias sobre zoonoses observadas no Brasil.
Rev. Méd. São Paulo, v.22, p.459-462, 1908
C ARINI, A. & MACIEL, J.J. Contribuição ao tratamento do
nambyuvú pelo trypanblau. Rev. Vet. Zootec., n.1,
p.63-64, 1914a.
C ARINI, A. & M ACIEL, J. Sobre a molestia dos cães, chamada
Nambi-uvú, e o seu parasita (Rangellia vitalli). An.Paul.
Med. Cir., v.3, n.2, p.65-71, 1914b.
C ARINI, A. Sôbre o ciclo de desenvolvimento exoeritrocitário de um piroplasma do cão. Arq. Biol.,
n.285, p.49-52, 1948.
CBKC - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE C INOFILIA OVELHEIRO
GAÚCHO - Padrão oficial da raça [online]. Disponível
e m : <http://www.cbkc.org/padroes/grupo11/
ovelheirogaucho/ovelheirogaucho.htm>. Acesso
em: 26 jul. 2003.
C HEVILLE, N.F. Ultrastructural pathology: an introduction
to interpretation. Iowa: Blackwell Publishing, 1994.
954p.
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
C IARAMELLA, P.; O LIVA, G.; L UNA, R. DE; G RADONI, L.; A MBROSIO,
R . ; CORTESE , A.; SCALONE, A.; PERSECHINO , A . A
retrospective clinical study of canine leishmaniasis
in 150 dogs naturally infected with Leishmania infantum.
Vet. Rec., v.141, n.21, p.539-543, 1997.
CIT-RS - C ENTRO DE INTOXICAÇÃO TOXICOLÓGICA DO RIO GRANDE
DO SUL, NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E AVALIAÇÃO. Intoxicação
por diaceturato de diaminodibenzamidina em cães
no Estado do Rio Grande do Sul durante o ano de 2002
[online]. Disponível em: <http://www.cit.rs.gov.br>.
Acesso em: 19 mai. 2003.
C ONNOR, R.J. African animal trypanosomiases. In: C OETZER,
J.A., T HOMSON , G.R., T USTIN, R.C. (Eds.). Infectious diseases
of livestock with special reference to southern Africa, Cape
Town: Oxford, 1994. v.1, p.167-205.
C ORBELLINI, L.G.; D RIEMEIER, D.; C RUZ, C.F.E.; G ONDIM, L.F.P.;
WALD, V. Neosporosis as a cause of abortion in dairy
cattle in Rio Grande do sul, southern Brazil. Vet.
Parasitol., v.103, n.3, p.195-202, 2002.
C ORRÊA, O. Doenças parasitárias dos animais domésticos. 4.ed.
Porto Alegre: Sulina, 1983. p.38-42.
C ORRÊA, W.M. & C ORRÊA, C.N.M. Enfermidades infecciosas dos
mamíferos domésticos. 2.ed. Rio de Janeiro: MEDSI,
1992. p.771-778.
C OSTA, F.A.; G OTO, H.; S ALDANHA, L.C.; S ILVA, S.M.; S INHORINI,
I.L.; SI L V A , T.C. Histopathologic patterns of
nephropathy in naturally acquired canine visceral
leishmaniasis. Vet. Pathol., v.40, n.6, p.677-684, 2003.
DAGNONE, A.S.; MORAIS H.S. DE ; VIDOTTO M.C.; JOJIMA F.S.;
VIDOTTO O. Ehrlichiosis in anemic, thrombocytopenic,
or tick-infested dogs from a hospital population in
South Brazil. Vet. Parasitol., v.117, n.4, p.285-290,
2003.
D AY , M.J. Immune-mediated hemolytic anemia:
pathophysiology, clinical presentation, and
diagnosis. THOMSON VETERINARY HEALTHCARE
COMMUNICATIONS. p. 2-6 [online]. Disponível em:
<h t t p : / / w w w . v e t m e d p u b . c o m / c p / p d f /
special_reports/biopure_1.pdf>. Acesso em: 12 jul.
2003.
DELL'PORTO, A.; OLIVEIRA, M.R.; MIGUEL, O. Babesia canis em
cães de rua da cidade de São Paulo. I. Estudo comparativo de métodos de diagnóstico. Braz. J. Vet. Res.
Anim. Sci., v.27, n.1, p.41-45, 1990.
DOFLEIN , F. & R EICHENOW , E. Lehrbuch der Protozoenkunde. Eine
Darstellung der Naturgeschichte der Protozoen mit besonderer
Berücksichtigung der der parasitichen und pathogenen
Formen. Content: II. Teil - Spezielle Naturgeschichte der
Protozoen. (2) Sporozoa, Ciliata und Suctoria. 5.ed.
Jena: Gustav Fisher, 1929. p.1027-1028.
DORNER, J.L. Clinical and pathologic features of canine
babesiosis. J. Am. Vet. Med. Assoc., v.154, n.6, p.648652, 1969.
DU PLESSIS, J.L. Concurrent babesiosis and ehrlichiosis in
the dog: blood smear examination supplemented by
the indirect fluorescent antibody test, using Cowdria
ruminantium as atigen. Onderstepoort J. Vet. Res., v.57,
n.3, p.151-155, 1990.
DUBEY , J.P.; M ATTIX, M.E.; L IPSCOMB , T.P. Lesions of neonatally
induced toxoplasmosis in cats. Vet. Pathol., v.33, n.3,
p.290-295, 1996.
127
D UBEY, J.P. & HAMIR , A.N. Immunohistochemical
confirmation of Sarcocystis neurona infections in
racoons, mink, cat, skunk and pony. J. Parasitol., v.86,
n.5, p.1150-1152, 2000.
DUBEY, J.P.; PIMENTA, A.L.; ABBOUD, L.C.S.; RAVASANI, R.R.;
MENSE, M. Dermatitis in a dog associated with an
unidentified Toxoplasma gondii-like parasite. Vet.
Parasitol., v.116, n.1, p.51-59, 2003.
EVANS, D.E.; M ARTINS J.R.; G UGLIELMONE, A.A. A review of the
ticks (Acari, Ixodida) of Brazil, their hosts and
geographic distribution - 1. The State of Rio Grande
do Sul, southern Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, v.95,
n.4, p.453-470, 2000.
EWING, S.A. Method of reproduction of Babesia canis in
erythrocytes. Am. J. Vet. Res., v.26, n.112, p.727-733,
1965.
EWING, S.A. & BUCKNER, R.G. Manifestations of babesiosis,
ehrlichiosis and combined infections in the dog. Am.
J. Vet. Res., v.26, n.113, p.815-828, 1965.
FELDMAN , B.F.; Z INKL, J.G.; J AIN , N.C. (Eds.). Schalm's veterinary
hematology. 5.ed. Philadelphia: Lippincott/Williams
& Wilkins, 2000. 1344p.
FIGHERA, R.A. Anemia em medicina veterinária. Santa Maria:
Pallotti, 2001. p.63-122.
FIGHERA, R.A. Leishmaniose mucocutânea em cobaios
(Cavia porcellus). Medvep – Rev. Cientif. Med. Vet. Pequenos Anim. Anim. Estim., v.1, n.3, p.177-182, 2003.
FLECHTMANN, C.H.W. Ácaros de importância médico-veterinária. 3.ed. São Paulo, Nobel, 1990. 192p.
FONSECA, F. Notas de acareologia (Notes d’caréologie) XI.
Validade da especie e cyclo evolutivo de Amblyomma
striatum Koch, 1844 (Acarina, Ixodidae) [Validité de
l’espèce et cycle evolutif de l’Amblyomma striatum
Koch, 1844 (Acarina, Ixodidae)]. Mem. Inst. Butantan,
v.9, p.19-34, 1935.
FONT , A.; GINES, C.; CLOSA, J.M.; MASCOTT, J. Visceral
leishmaniasis and disseminated intravascular
coagulation in a dog. J. Am. Vet. Med. Assoc., v.204, n.7,
p.1043-1044, 1994.
FRANCO, W.A.C.; SANTOS, L.C.; FARIAS, N.A.R.; RUAS, J.R.;
SUMMA, M.E.L.; G ÓMES, A.A.B.; Y AI , L.E.O.; S OUZA, S.L.P.;
DUBEY, J.P.; GENNARI , S.M. Ocorrência de anticorpos
anti-Neospora caninum e Toxoplasma gondii em canídeos
silvestres do Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA, 12., 2002, Rio
de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: 2002. p.148
FRANÇOIS , E.P.; A RAÚJO, F.A.P.; BREITSAMETER , I.; SCHERER,
E.A. Avaliação do perfil sorológico de cães receptores de transfusão de sangue de doadores positivos para Ehrlichia canis (resultados parciais). In:
CONBRAVET - CONGRESSO BRASILEIRO DE
MEDICINA VETERINÁRIA, 29., 2002, Gramado.
Anais, Gramado: 2002. Resumo CC SPS, n. 955.
FREIRE, J.J.; OLIVEIRA, C.M.B.; GONZALES, J.C. Fauna parasitária Rio-Grandense. Arq. Fac. Vet. Univ. Fed. Rio Grande
do Sul, v.18, p.19-59, 1990.
GEHRING, R. & N AIDOO, V. Diminazene toxicity. Newsletter
of the South African Veterinary Association, Rx
Bulletin, July 2002 [online]. Disponível em <http://
www.sava.co.za/vetnews/2002/jul_mem/
rx.html>. Acesso em: 23 set. 2002.
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
128
A.P. Loretti & S.S. Barros
GONDIM, L.F.; K OHAYAGAWA, A.; A LENCAR, N.X.; B IONDO, A.W.;
TAKAHIRA, R.K.; FRANCO, S.R. Canine hepatozoonosis
in Brazil: description of eight naturally occurring
cases. Vet. Parasitol., v.74, n.2-4, p.319-323, 1998.
GREENE, C.E. Infectious diseases of the dog and cat. 2.ed.
Philadelphia: W.B. Saunders, 1998. 934p.
GREENE, C.E. & H ARVEY, J.W. Canine ehrlichiosis. In: GREENE,
C.E. (Ed.) Clinical microbiology and infectious diseases of
the dog and cat. Philadelphia: W.B. Saunders, 1984.
p.545-561.
GREENE, C.E. & PRESTWOOD, A.K. Coccidial infections. In:
GREENE, C.E. (Ed.) Clinical microbiology and infectious
diseases of the dog and cat. Philadelphia: W.B. Saunders,
1984. p.824-857.
GREENE, C.E.; M ILLER, M.A.; BROWN, C.A. Leptospirosis. In:
GREENE, C.E. (Ed.) Infectious diseases of the dog and cat.
2.ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1998. p.273-281.
GREENE, R.T. Canine ehrlichiosis. clinical implications for
humoral factors. In: BONAGURA, J.D. & K IRK , R.W. (Eds.)
Kirk's current veterinary therapy XII - small animal
practice. Philadelphia: WB Saunders, 1995. p.290-293.
GRINDEM, C.B.; NEEL, J.A.; JUOPPERI , T.A. Cytology of bone
marrow. Vet. Clin. North Am. Small Anim., v.32, n.6,
p.1313-1374, 2002.
GUGLIELMONE, A.A.; E STRADA-PENA, A.; M ANGOLD, A.J.; B ARROSBATTESTI, D.M.; LABRUNA, M.B.; MARTINS, J.R.; VENZAL,
J.M.; ARZUA, M.; KEIRANS, J.E. Amblyomma aureolatum
(Pallas, 1772) and Amblyomma ovale Koch, 1844 (Acari:
Ixodidae): hosts, distribution and 16S rDNA sequences.
Vet. Parasitol., v.133, n.3/4, p.273-288, 2003.
GUIMARÃES, A. M.; OLIVEIRA, T.M.F.S.; SANTA ROSA, I.C.A.
Babesiose canina: uma visão dos clínicos veterinários de Minas Gerais. Clín. Vet., v.7, n.41, p.60-68,
2002.
HAGIWARA, M.K. & YAMAGA, A.S. Infecção experimental de
cães por Babesia canis: II. Estudo das alterações da
coagulação sangüínea. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.,
v.39, n.5, p.757-770, 1987.
HARRUS, S.; KASS, P.H.; KLEMENT, E.; WANER, T. Canine
monocytic ehrlichiosis: a retrospective study of 100
cases, and an epidemiological investigation of
prognostic indicators for the disease. Vet. Rec., v.141.
n.14, p.360-363, 1997.
HARVEY, J.W. Haemobartonellosis. In: GREENE, C.E. (Ed.)
Infectious diseases of the dog and cat. 2.ed. Philadelphia:
W.B. Saunders, 1998, p.166-171.
HEADLEY , S.A.; SCORPIO, D.; V IDOTTO, O.; M ANKOWSKI, J.; DUMLER,
S. Neorickettsia helminthoeca-like organisms in brazilian
dogs. In: ENAPAVE - ENCONTRO NACIONAL DE
PATOLOGIA VETERINÁRIA, 11., 2003. Botucatu.
Anais. Botucatu: 2003. p.171.
H ENNEMANN , C.R.A.; AZEVEDO, J.S.; QUEIROLO, M.T .
Nefrotoxicidade induzida por hemoglobinúria em
um cão com babesiose - relato de caso. In:
CONBRAVET - CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 29., Gramado. Anais. Gramado: 2002. Resumo CC SPS, n. 977.
HILDEBRANDT, P.K.; HUXSOLL, D.L.; WALKER, J.S.; NIMS, R.M.;
T AYLOR , R.; ANDREWS, M. Pathology of canine
ehrlichiosis (tropical canine pancytopenia). Am. J.
Vet. Res., v.34, n.10, p.1309-1320, 1973.
IRWIN, P.J. & HUTCHINSON , G.W. Clinical and pathological
findings of Babesia infection in dogs. Aust. Vet. J., v.68,
n.6, p.204-209, 1991.
JACOBSON , L.S.; R EYERS, F.; B ERRY, W.L.; V ILJOEN, E. Changes in
haematocrit after treatment of uncomplicated canine
babesiosis: a comparison between diminazene and
trypan blue, and an evaluation of the influence of
parasitemia. J. South Afr. vet. Assoc., v.67, n.2, p.77-82,
1996.
JAIN, N.C. Essentials of veterinary hematology. Philadelphia:
Lea & Febiger, 1993. 417p.
KEENAN , C.M.; H ENDRICKS, L.D.; L IGHTNER, L.; W EBSTER, H. K.;
JOHNSON , A.J. Visceral leishmaniasis in the German
Shepherd Dog. I. Infection, clinical disease, and
clinical pathology. Vet. Pathol., v.21, n.1, p.74-79,
1984a.
KEENAN , C.M.; HENDRICKS, L.D.; LIGHTNER, L.; JOHNSON , A.J.
Visceral leishmaniasis in the German Shepherd Dog.
II. Pathology. Vet. Pathol., v.21, n.1, p.80-86, 1984.
KNUTH, P. & DU TOIT P.J. Tropen-Krankheiten der Haustiere.
Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1921.
p.424-427
KRAJE, A.C. Canine haemobartonellosis and babesiosis.
Compend. Contin. Educ. Pract. Vet., v.23, n.4, p.310-319,
2001.
KRAUSPENHAR, C.; FIGHERA, R.A.; BARROS, C.S.L.; GRAÇA, D.L.
Protozoa-related immune-mediated hemolytic anemia – case report In: BIENNAL CONFERENCE OF
THE SOCIETY FOR TROPICAL VETERINARY
MEDICINE, 7., 2003, Foz do Iguacu, PR. Foz do
Iguaçu: 2003a. p.39. Poster PT.012.
KRAUSPENHAR , C.; FIGHERA , R.A.; GRAÇA, D.L. Anemia
hemolítica em cães associada a protozoários. Medvep
– Rev. Cient. Med. Vet. Pequenos. Anim. Anim. Estim, v.1,
n.4, p.273-281. 2003b.
LABRUNA, M.B. & P EREIRA, M.C. Carrapato em cães no Brasil.
Clín. Vet., v.6, n.30, p.24-32, 2001.
LE V I N E, N. D. Protozoan parasites of domestic animals and
man. 2.ed. Minnesota: Burgess Publishing, 1973.
p.332-333.
LEWIS, B.D.; PENZHORN , B.L.; LOPEZ-REBOLLAR, L.M.; DE WALL,
D.T. Isolation of a South African vector-specific strain
of Babesia canis. Vet. Parasitol., v.63, n.1/2, p.9-16, 1996.
LINS, A. Noções de protozoologia. Rio de Janeiro: Scientífica,
s/data. p.238.
LOBETTI, R.G.; REYERS, F.; NESBI, J.W. The comparative role
of haemoglobinemia and hypoxia in the development
of canine babesial nephropathy. J. South Afr. Vet.
Assoc., v.67, n.4, p.188-198, 1996.
LOBETTI, R.G. Canine babesiosis. Compend. Contin. Educ.
Pract. Vet., v.20, n.4, p.418-431, 1998.
L ORETTI , A.P. Focal symmetrical hemorrhagic
encephalomalacia associated with diminazene
aceturate therapy in a dog. In: RAPAVE - REUNIÓN
ARGENTINA DE PATOLOGÍA VETERINARIA, 3.,
2002, Rosario. Anais, Rosario, Argentina: 2002. p54.
LORETTI, A.P. Casos de intoxicação por aceturato de
diminazeno em caninos diagnosticados no Estado do
Rio Grande do Sul durante 2002-2003 [online]. Seção
Alerta Tóxico. Disponível em: <http://
www.cit.rs.gov.br>. Acesso em: 25 nov. 2003.
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
LORETTI, A.P.; BARROS, S.S.; CORRÊA, A.M.; BREITSAMETER, I.;
OLIVEIRA , L.O.; PESCADOR, C.A.; SILVA, N.N.; ROZZA, D.B.;
DRIEMEIER, D.; ARAÚJO, A.C.P.; M EIRELES, L.R. Parasitism of
dogs by Rangelia vitalli in southern Brazil: clinical,
pathological and ultrastructural study. In: ENAPAVE ENCONTRO NACIONAL DE PATOLOGIA VETERINÁRIA, 11., 2003, Botucatu. Anais. Botucatu: 2003. p.178.
LUCAS, A.S.; R UAS, J.L.; F ARIAS, N.A.R.; S OARES, M.P.; B ERNE, M.E.;
BRUM, J.G.W.; M ÜLLER,G . Fauna parasitária de los canidos
silvestres de la Region Sur del Brasil. In: CONGRESSO
LATINOAMERICANO DE PARASITOLOGIA,14.,1999,
Acapulco, Mexico. Anais. Acapulco: 1999. p.94.
MADEIRA, M.F.; UCHÔA, C.M.A.; LEAL C.A.; SILVA, R.M.M.,
DUARTE, R., MAGALHÃES, C.M., SERRA, C.M.B. Leishmania
(Viannia) braziliensis em cães naturalmente infectados.
Rev. Soc. Bras. Med. Trop., v.36, n.5, p.551-555, 2003.
MASSARD, C.A. Hepatozoon canis (James, 1905) (Adeleida:
Hepatozoidae) em cães do Brasil, com uma revisão do gênero
em membros da ordem carnivora. Seropédica: 1979. 121p.
[Tese (Mestrado) - Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro ].
MASSARD, C.A., MASSARD, C.L., LOPES, C.W.G., SERRA FREIRE,
N.M. Babesiose canina e sua transmissão experimental. Rev. Bras. Med. Vet., v.4, n.1, p.28-35, 1981.
MAXIE, M.G. & PRESCOTT, J.F. The urinary system. In: JUBB,
K.V.F.; K ENNEDY, N.C.; P ALMER, N. Pathology of domestic
animals. 4.ed. San Diego: Academic Press, 1993. v.2,
p.447-538.
MCC ULLOUGH, S. Immune-mediated hemolytic anemia:
understanding the nemesis. Vet. Clin. North Am. Small
Anim. Pract., v.3, n.6, p.1295-1315, 2003.
MCDONOUGH, P.L. Leptospirosis in dogs – current status. In:
C ARMICHAEL L. (Ed.). Recent advances in canine infectious
diseases. INTERNATIONAL VETERINARY
INFORMATION SERVICE. Disponível em: <http://
www.ivis.org/advances/Infect_Dis_Carmichael/
mcdonough/ivis.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2004.
MEIJÍA, F.K. Contribuição ao estudo experimental do
nambiuvú. Porto Alegre: 1949. 33p. [Tese (Doutorado)
- Escola de Agronomia e Veterinária da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul].
MOREIRA, J. Sobre a natureza do nambiuvú dos cães. Arq.
Inst. Biol., São Paulo, v.9, p.315-319, 1938.
MOREIRA, S.M.; B ASTOS, C.V.; A RAÚJO, R.B.; S ANTOS, M.; P ASSOS,
L.M.F. Retrospective study (1998-2001) on canine
ehrlichiosis in Belo Horizonte, MG, Brazil. Arq. Bras.
Med. Vet. Zootec., v.55, n.2, p.141-147, 2003.
MOURA , S.T.; FERNANDES, C.G.N.; RUFFINO, S.M.; GROSZ,
L.C.B.; SERRA -FREIRE, N.M. Registro da ocorrência
da infecção por Rangelia vitalli em cães atendidos
pelo Hospital Veterinário da Universidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso. In: CONGRESSO
LATINO-AMERICANO DE PARASITOLOGIA, 15.,
2001, São Paulo.J. Bras. Patol., v.37, n.4, supl., p.41.
Resumo 99.
MYLONAKIS, M.E.; KOUTINAS A.F.; BILLINIS, C.; LEONTIDES, L.S.;
KONTOS, V.; PAPADOPOULOS, O.; RALLIS, T.; FYTIANOU, A.
Evaluation of cytology in the diagnosis of acute
canine monocytic ehrlichiosis (Ehrlichia canis) : a
comparison between five methods. Vet. Microbiol.,
v.91, n.2/3, p.197-204, 2003.
129
NAUDÉ, T.W.; BASSON , P.A.; PIENAAR, J.G. Experimental
diamidine poisoning due to commonly used
babecides. Onderstepoort J. Vet. Res., v.37, n.3, p.173184, 1970.
NEER, T.M. Ehrlichiosis: canine monocytic and granulocytic
ehrlichiosis. In: GREENE, C.E. Infectious diseases of the
dog and cat. 2 ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1998.
p.139-154.
O'DWYER, L.H.; M ASSARD, C.L.; S OUZA, J.C.P. Hepatozoon canis
infection associated with dog ticks of rural areas of
Rio de Janeiro State, Brazil. Vet. Parasitol., v.94, n.3,
p.143-150, 2001.
OFICINA - Zootecnia Popular Jangada Brasil, v. 4., n. 43, 2002
[online]. Disponível em: < http://jangadabrasil.com. br/
marco43/of43030a.htm>. Acesso em: 1 set. 2002.
OLICHESKI, A.T. Diagnóstico de protozoários do gênero
Babesia (Starcovici, 1893) e de riquétsias do gênero
Ehrlichia (Ehrlich, 1888) em cães (Canis familiaris) no
município de Porto Alegre, RS, Brasil. Porto Alegre:
2003. 88p. [Dissertação (Mestrado) - Faculdade de
Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul].
OLIVEIRA, I.L. Normas relativas ao emprego da nomenclatura
nosológica dos eqüídeos e caninos do exército. Rio de
Janeiro: Ministério do Exército, Departamento Geral
de Serviços, 1991. p.4.
OLIVEIRA, R.T. Intoxicação por Ganaseg. Palestra, 2000. Fita
VHS Videoteca ANCLIVEPA-RS [online]. Disponivel
em <http://www.anclivepa-rs.com.br/anclivid2.htm>.
Acesso em: 11 jul. 2003.
P ANCIERA , R.J.; EW I N G , S.A.; CONFER, A.W . Ocular
histopathology of ehrlichial infection in the dog. Vet.
Pathol., v.38, n.1, p.43-46, 2001.
PARAENSE, W.L. O ciclo exoeritrocitário dos parasitos da
malária. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, v.41, n.3, p.469-493,
1944.
PARAENSE, W.L. & V IANNA, Y.L. Algumas observações sobre
a babesiose dos cães no Rio de Janeiro. Mem. Inst.
Oswaldo Cruz, v.46, n.3, p.595-603, 1948.
PARAENSE W.L. Notes on dog piroplasmosis in Brazil. In:
ARQUIVOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE
MICROBIOLOGIA, 5., 1950, Rio de Janeiro. Anais.Rio
de Janeiro: 1950. v.2, p.457-459.
PARDINI, A.D. The pathology and pathogenesis of canine
cerebral babesiosis. Pretoria: 2000. 69p. [Dissertation
(Master) - Department of Pathology, Faculty of
Veterinary Science/University of Pretoria, South
Africa].
PARKER, G.A.; LANGLOSS, J.M.; DUBEY, J.P.; HOOVER, E.A.
Pathogenesis of acute toxoplasmosis in specificpathogen-free cats. Vet. Pathol., v.18, n.6, p.786-803,
1981.
PENZHORN, B.L.; LE W I S, B.D.; WALL, D.T. DE ; LOPEZ REBOLLAR,
L.M. Sterilisation of Babesia canis infections by
imidocarb alone or in combination with
diminazene. J. South Afr. Vet. Assoc., v.66, n.3,
p.157-159, 1995.
PEREIRA, M.C. Carrapatos em cães no Brasil [online]. Disponível em <http://www.bichoonline.com.br/artigos/Xmc0001.htm> Acesso em: 15 jul. 2003.
PESCADOR, C.A.; LORETTI, A.P.; BOTH, A.C. Intoxicação por
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
130
A.P. Loretti & S.S. Barros
aceturato de diminazeno em um canino: relato de
caso. In: ENAPAVE - ENCONTRO NACIONAL DE
PATOLOGIA VETERINÁRIA, 11., 2003, Botucatu.
Anais. Botucatu: 2003. p.62.
PESTANA, B.R. O nambyuvú (nota preliminar). Rev. Soc. Sci.
São Paulo, v.5, p.14-17, 1910a.
PESTANA, B.R. O nambiuvú. Rev. Med. São Paulo, n.22, p.423426, 1910b.
PINTO, C. Zoo-parasitos de interesse medico e veterinario: livro
para medicos, higienistas, veterinarios e estudantes, contendo as diagnoses das especies patogenicas para o homem
e animaes domesticos da Região Neo-Tropical, especialmente do Brasil. Rio de Janeiro: Pimenta de Mello, 1938.
p.22.
PINTO, C. Doenças infecciosas e parasitárias dos animais domésticos. Rio de Janeiro: Scientífica, 1944. p.362-365.
PINTO, C. Zoo-parasitos de interesse medico e veterinario: livro
para medicos, higienistas, veterinarios e estudantes, contendo as diagnoses das especies patogenicas para o homem
e animaes domesticos da Região Neo-Tropical, especialmente do Brasil. Rio de Janeiro: Scientifica, 1945. p.40.
POCAI , E.A.; FROZZA, L.; HEADLEY , S.A.; GR A Ç A, D.L.
Leishmaniose visceral (calazar). Cinco casos em cães
de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Ciênc. Rural,
v.28, n.3, p.501-505, 1998.
PREZIOSI , D.E. & COHN, L.A. The increasingly complicated
story of Ehrlichia. Compend. Contin. Educ. Pract. Vet.,
v.24, n.4, p.277-289, 2002.
QUEIROLO, M.T.; CHIMINAZZO, C.; CERESÉR, V.H.; ADAMI, M.
Exames parasitológicos realizados em cães e gatos no
Laboratório de Parasitologia do Hospital Veterinário da ULBRA, de 1999 a 2001. In: CONBRAVET CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 29., 2002, Gramado. Anais. Gramado: 2002.
Resumo CC SPS, n. 941.
REARDON , M.J. & PIERCE, K.R. Acute experimental canine
ehrlichiosis. I. Sequential reaction of the hemic and
lymphoreticular system. Vet. Pathol., v.18, n.1, p.4861, 1981.
REGENDANZ, P. & M UNIZ, J.O Rhipicephalus sanguineus como
transmissor da piroplasmose canina no Brasil. Mem.
Inst. Oswaldo Cruz, v.31, n. 1, p. 81-84, 1936.
REZENDE, H.E.B. Sobre a validade de Rangelia vitalli (Pestana, 1910) hemoparasito de cães no Estado do Rio de
Janeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 15., 1976, Rio de Janeiro. Anais.
Rio de Janeiro: 1976. p.159-160.
RIBEIRO, V.L.S.; WEBER, M.A.; FETZER, L.O.; VARGAS, C.R.B.
Espécies e prevalência das infestações por carrapatos
em cães de rua da cidade de Porto Alegre, RS, Brasil.
Ciênc. Rural, v.27, n.2, p.285-289, 1997.
RODRIGUE,S D.S.; CARVALHO, H.A.; FERNANDES, A.A.; FREITAS,
C.M.V.; LEITE,R.C.;O LIVEIRA, P.R. Biology of Amblyomma
aureolatum (Pallas, 1772) (Acari: Ixodidae) on some
laboratory hosts in Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz,
v.97, n.6, p.853-856, 2002.
ROZENTAL, T; BUSTAMANTE, M.C.; AMORIM, M.; SERRA-FREIRE,
N.M.; LEMOS, E.R.S. Evidence of spotted fever group
rickettsiae in State of Rio de Janeiro, Brazil. Rev. Inst.
Med. Trop. São Paulo, v.44, n.3, p.155-158, 2002.
RUAS J.L.; F ARIAS, N.A.R.; SOARES, M.P.; BRUM , J.G.W. Babesia
sp. em graxaim do campo (Lycalopex gymnocercus) no
Sul do Brasil. Arq. Inst. Biol. São Paulo [on-line], v.70,
n.1, p.113-114, 2003. Disponível em: <http://
www.biologico.sp.gov.br/arquivos/v70_1>. Acesso em: 14 jun. 2003
SANTA ROSA, I.C.A. Leishmaniose visceral: breve revisão
sobre uma zoonose emergente. Clín. Vet., v.2, n.11,
p.24-28, 1997.
SCHUBACH, T.M.; FIGUEIREDO, F.B.; PEREIRA, S.A.; MADEIRA,
M.F.; SANTOS, I.B.; ANDRADE, M.V.; CUZZI , T.; MARZOCHI,
M.C.; SCHUBACH, A. American cutaneous leishmaniasis
in two cats from Rio de Janeiro, Brazil: first report of
natural infection with Leishmania (Viannia) braziliensis.
Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg., v.98, n.3, p.165-167, 2004.
SEARCY, G.P. The differential diagnosis of anemia. Vet.Clin.
North Am., v.6, n.4, p.567-580, 1976.
SEIBERT , M. Revisão em erlichiose canina e ocorrência de
Ehrlichia (Rickettsiales: Rickettsiaceae) em cães conduzidos ao Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 1996. 95p.
[Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Veterinária/
Universidade Federal do Rio Grande do Sul].
SILVA, C.F.; CARVALHO, C.B.; PEREIRA, N.R.; FAN , L.C.R.
Ehrlichiose canina: relato de um caso. In: CONGRESSO ESTADUAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, 9.,
1985, Santa Maria. Anais. Santa Maria, RS: 1985. p.66.
SILVA, N.R.S.; CHAPLIN, E.L.; KESSLER, R.H. Protozooses dos
animais domésticos. Porto Alegre: Convênio CAPES/
UFRGS/PADES, 1980. p.162-164.
SILVA, O.S. & GRUNEWALD, J. Contribution to the sand fly
fauna (Diptera: Phlebotominae) of Rio Grande do
Sul, Brazil and Leishmania (Viannia) infections. Mem.
Inst. Oswaldo Cruz, v.94, n.5, p.579-582, 1999.
SILVA, W.B.; DIAS JÚNIOR, J.G.; PAES, A.C.; RIBEIRO, M.G.
Babesiose canina. Estudo de trinta casos. Rev. Bras.
Ciên. Vet., v.7, supl., p.129, 2000.
SLAPPENDEL, R.J. Disseminated intravascular coagulation.
Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract., v.18, n.1, p.169184, 1988.
SLAPPENDEL, R.J. Canine leishmaniasis: a review based on
95 cases in the Netherlands. Vet. Quart., v.10, n.1, p.116, 1988.
SLAPPENDEL, R.J. & F ERRER, L. Leishmaniasis. In: GREENE, C.E.
(Ed.) Infectious diseases of the dog and cat. 2.ed.
Philadelphia: W.B. Saunders, 1998, p.450-458.
S OUZA , E.L. & MOTTA , P.P.A. Anemia hemolítica
imunomediada associada à infecção por Ehrlichia
canis - relato de caso. Rev. Bras. Ciên. Vet., v.7, supl.,
p.110, 2000.
SPAGNOL, C.; LORETTI, A.; CORRÊA , A.; PESCADOR, C.; ROZZA, D.;
C ONCEIÇÃO, E.; C OLODEL, E.; OLIVEIRA, R.; BREITSAMATER, I.;
BARROS, S.; O LIVEIRA, L.; D RIEMEIER, D. Parasitismo de cães
por Rangelia vitalli no Estado do Rio Grande do Sul. In:
SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 15., FEIRA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 12., 2003, Porto Alegre.
Anais. Porto Alegre: 2003. p.232-233. Resumo 211
STEGEMAN , J.R.; B IRKENHEUER, A.J.; K RUGER, J.M.; B REITSCHWERDT,
E.B. Transfusion-associated Babesia gibsoni infection
in a dog. J. Am. Vet. Med. Assoc., v.222, n.7, p.959-963,
2002.
TABOADA, J. Canine babesiosis. In: BONAGURA, J.D. & KIRK ,
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004
Parasitismo por Rangelia vitalli em cães ("nambiuvú", "peste de sangue") - uma revisão crítica sobre o assunto.
R.W. (Eds.) Kirk’s current veterinary therapy XII - small
animal practice. Philadelphia: WB Saunders, 1995. p.315319.
TABOADA, J. Babesiosis. In: TABOADA, J. (Ed.). Infectious diseases
of the dog and cat. 2.ed. Philadelphia: W.B. Saunders,
1998. p.473-481.
TARANTINO, C., ROSSI , G., KRAMER , L.H., PERRUCCI , S.,
C RINGOLI, G., M ACCHION I, G. Leishmania infantumand
Neospora caninum simultaneous skin infection in a
young dog in Italy. Vet. Parasitol., v.102, n.1/2,
p.77-83, 2001.
VERCAMMEN, F.; D EKEN, R. DE; MAES, L. Prophylactic activity
of imidocarb against experimental infection with
Babesia canis. Vet. Parasitol., v.63, n.3/4, p.195-198,
1996.
VERCAMMEN, F.; D EKEN, R. DE; MAES, L. Prophylactic treatment
of experimental canine babesiosis (Babesia canis) with
doxycycline. Vet. Parasitol., v.66, n.3/4, p.251-255,
1996.
WENYON , C.M. Protozoology: a manual for medical men,
veterinarians and zoologists. London: Baillière Tindall
and Cox, 1926. v. 2, p. 1012-1022.
WLOSNIEWSKI, A.; LERICHE, M.A.; CHAVIGNY, C.; ULMER, P.;
131
DONNAY, V.; BOULOUIS, H.J.; MAHL , P.; DRUILHE, P.
Asymptomatic carriers of Babesia canis in an enzootic
area. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis., v.20, n.1,
p.75-86, 1997.
WOZNIAK, E.J.; BARR , B.C.; T HOMFORD , J.W.; Y AMANE, I.;
M C D O N O U G H , S . P . ; MOORE , P . F . ; NAYDAN , D.;
ROBINSON , T.W.; C ONRAD, P.A. Clinical, anatomic,
and immunopathologic characterization of
Babesia gibsoni infection in the domestig dog (Canis familiaris). J. Parasitol., v.83, n.4, p.692-699,
1997.
YASUDA, P.H.; SANTA ROSA C.A.; M YERS, D.M.; Y ANAGUITA, R.M.
The isolation of leptospires from stray dogs in the
city of São Paulo, Brazil. Int. J. Zoonoses, v.7, n.2, p.131134.
Recebido em 21/8/03
Aceito em 22/3/04
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004