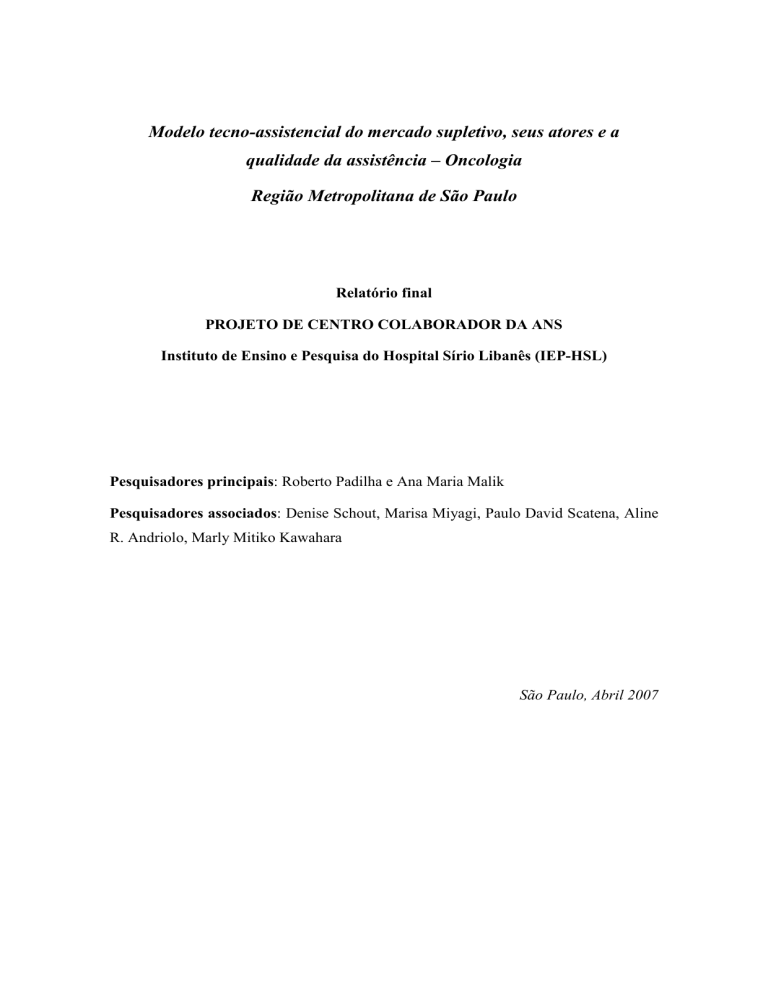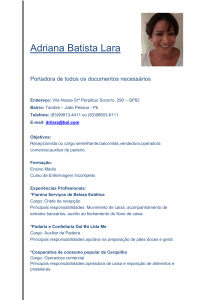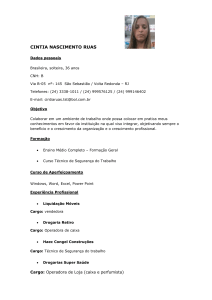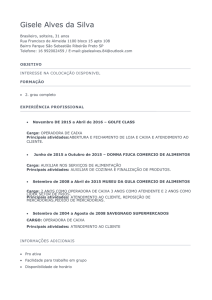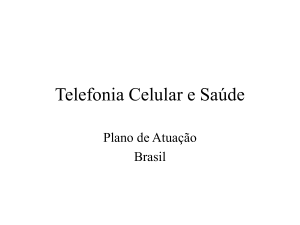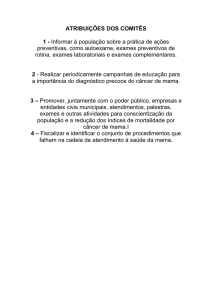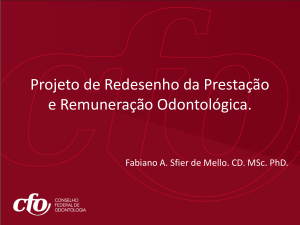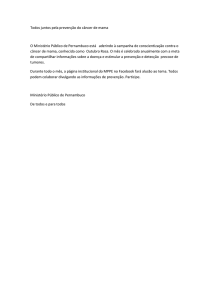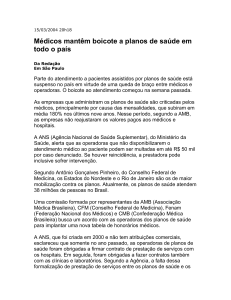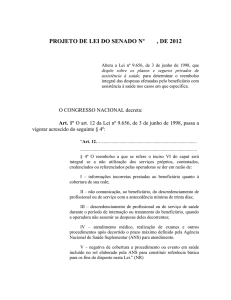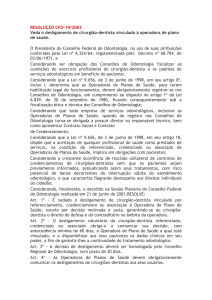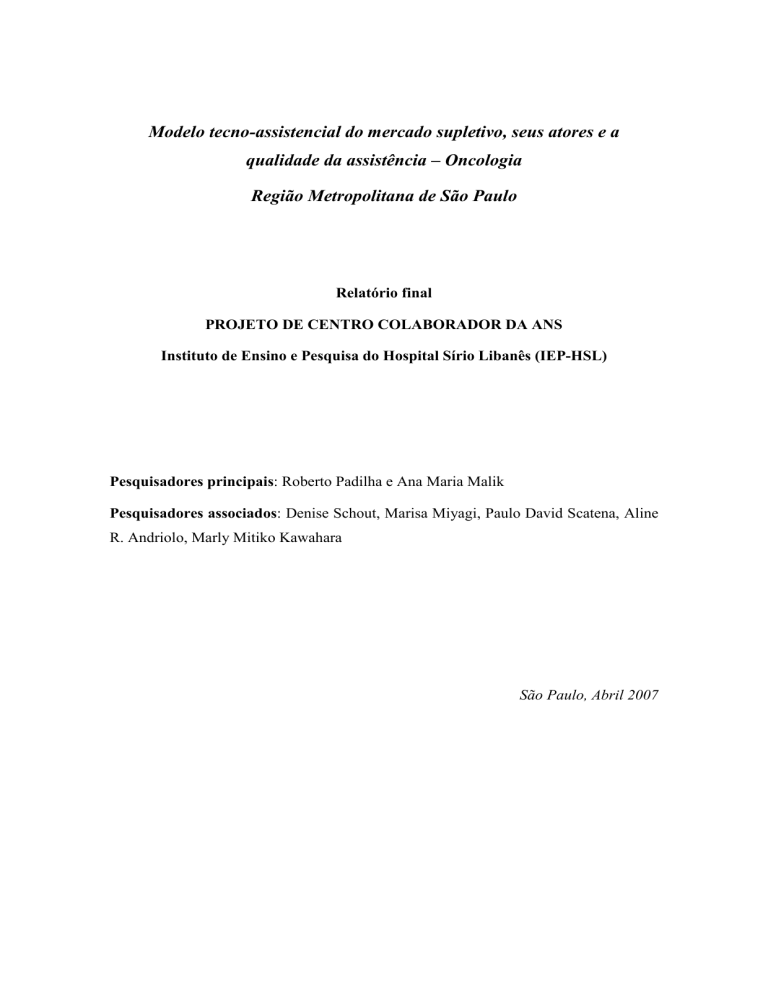
Modelo tecno-assistencial do mercado supletivo, seus atores e a
qualidade da assistência – Oncologia
Região Metropolitana de São Paulo
Relatório final
PROJETO DE CENTRO COLABORADOR DA ANS
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP-HSL)
Pesquisadores principais: Roberto Padilha e Ana Maria Malik
Pesquisadores associados: Denise Schout, Marisa Miyagi, Paulo David Scatena, Aline
R. Andriolo, Marly Mitiko Kawahara
São Paulo, Abril 2007
Índice
Resumo ............................................................................................................................ 3
Introdução ....................................................................................................................... 4
Objetivos ....................................................................................................................... 26
Material e Métodos....................................................................................................... 27
Resultados ..................................................................................................................... 41
Comentários finais: achado, limitações e novas propostas de pesquisa...................60
Referências Bibliográficas............................................................................................64
Anexos.............................................................................................................................67
2
Resumo
Na perspectiva de identificação de padrões assistenciais no setor de saúde suplementar,
o eixo metodológico do projeto foi desenvolvido de forma a descrever os itinerários
diagnósticos e terapêuticos para determinado sub-grupo de patologias marcadoras para o
processo assistencial e relevantes para o perfil de necessidades da população coberta
pela assistência suplementar. Nessa perspectiva foram selecionadas dentre as
neoplasias, o câncer de mama e as leucemias e linfomas como patologias traçadoras. A
metodologia utilizada foi qualitativa, com aplicação de questionários semi-estruturados
a operadoras, médicos e pacientes por meio de entrevistas. Também foi realizada análise
de prontuários em prestadores hospitalares. Para selecionar os prestadores, médicos e
pacientes utilizaram-se dois tipos de bancos de dados secundários: base de dados de
óbitos ocorridos no Município de São Paulo e banco de dados da Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo com as saídas hospitalares dos prestadores privados (Boletim
CIH). Cruzando-se essas bases foi extraída amostra de pacientes internados com o
diagnostico de câncer de mama e leucemias e linfomas atendidos por prestadores
privados na região metropolitana de São Paulo para os anos de 2004 e 2005. Foram
revisados os prontuários médicos de amostra de pacientes em prestadores escolhidos
para caracterizar a assistência hospitalar nos casos de câncer de mama e leucemias e
linfomas. Desta maneira, foram identificados padrões assistenciais para as afecções
selecionadas, formas de gestão das operadoras e os principais conflitos entre os diversos
atores no mercado suplementar de saúde da região metropolitana de São Paulo.
Unitermos: Planos de pré-pagamento em saúde. Setor privado. Administração de
serviços de saúde. Regulação pública. Integralidade da assistência. Linha do cuidado.
Pesquisa em serviços de saúde. Assistência médica. São Paulo.
3
Introdução
A Constituição Federal de 1988 definiu os princípios de assistência à saúde pela
criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Lei Orgânica de 1990, que se
propôs à universalidade, integralidade e eqüidade. O processo de regulamentação dos
Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde vem se desenrolando desde 1991
(portanto um ano depois do nascimento legal do SUS). Em função dele, o Congresso
Nacional aprovou a Lei 9656, em 03 de junho de 1998 (CARVALHO, 2003) e foi
criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 2000.
Com isto o tema
mercado privado de saúde foi introduzido na agenda governamental (BAHIA, 2001).
A lei 9.656/98 estabeleceu um novo patamar no processo de regulação;
entretanto há que se aprofundar a natureza dessa regulação, seus avanços e limites, a
dimensão da organização desse setor, o financiamento da oferta de serviços, as
modalidades assistenciais, suas redes e a complexidade dessas relações visando garantir
a assistência à saúde e a produção do cuidado. Desde o início da implantação da
regulamentação da assistência médica supletiva no país começaram a ser levantadas
questões referentes a sua qualidade, ao seu financiamento e ao real fundamento para sua
existência. Pode-se dizer que os setores, público e privado, sempre olharam um para o
outro com grande desconfiança, acusando-se mutuamente de oferecer serviços de baixa
qualidade e de realizar procedimentos desnecessários, utilizando sem necessidade
recursos limitados. Uma das premissas com as quais se tem lidado é a necessidade de
melhor controle da utilização de recursos pelo setor privado, tendo como objetivo o
resultado financeiro, eventualmente levando ao racionamento no acesso aos
procedimentos, mais do que a sua racionalização. Para a superação desse cenário
impõe-se um novo referencial, assentado no compromisso ético com a vida, com a
promoção e a recuperação da saúde (MALTA, 2004).
Assim, é de extrema relevância abordar a assistência de forma integrada,
articulando-se todos os passos na produção do cuidado e no restabelecimento da saúde.
A proposta do presente estudo é mapear a integralidade da assistência pelo
acompanhamento da linha do cuidado (projeto terapêutico instituído), como mecanismo
adequado para a análise do usuário no seu "percurso assistencial", buscando elementos
que revelem com mais clareza a assistência prestada, as interações ocorridas entre o
usuário, o prestador e a operadora.
4
Olhando para o mercado em saúde no país, considerando seus participantes (os
prestadores individuais e organizacionais, o governo, os fornecedores, os financiadores,
as operadoras, a academia e os usuários), é possível perceber uma condição de
assimetria de informação. Não se trata de dizer que a posição de um dos atores é mais
correta que a do outro, mas sim de reconhecer que, de seus loci institucionais diferentes,
eles têm visões de mundo e objetivos distintos.
Assim, é de se esperar que os
financiadores (no caso as empresas que compram os serviços das operadoras) olhem
para suas limitações orçamentárias concretas, quando tomam decisões sobre acesso e/ou
formas de financiamento. Não surpreende que os prestadores de assistência (clínicas,
hospitais e serviços de apoio) considerem seus custos e sua receita em relação aos
diferentes procedimentos que realizam. Parece normal que os profissionais envolvidos
diretamente na assistência direta se preocupem com a qualidade da sua atividade, que os
fornecedores de equipamentos se interessem pela realização de procedimentos
diagnósticos e de terapêutica e realizem estudos que justifiquem sua utilização. Da
mesma forma, as operadoras, que atuam como intermediários entre os financiadores e os
prestadores de serviços, queiram defender suas margens de ganho. Finalmente, é
esperado que os fornecedores de serviços de consultoria se esforcem para convencer os
seus clientes do acerto de suas sugestões e que os fornecedores de medicamentos
continuem a testar novas drogas em nome da busca constante de cada vez mais saúde e
bem estar dos seus usuários.
Quanto à academia, por um lado vem desenvolvendo estudos no sentido de
descobrir, disseminar e/ou justificar diretrizes de cuidados mais eficazes em relação a
cada uma das afecções sobre as quais se debruça, em nome da qualidade na assistência.
Por outro, muito mais raramente, busca estabelecer protocolos para levantamento de
custos e mudanças na cultura dos profissionais, ou ainda desenvolver pesquisas para
analisar o que ocorre nos serviços, tendo em vista seu aprimoramento, pois muito
recentemente passou a considerar este como um de seus papéis. O governo brasileiro
tem como um dos seus objetivos a universalização do acesso, de maneira a implantar
definitivamente o SUS. Uma de suas responsabilidades é o controle da qualidade
daquilo que é oferecido à população, seja com financiamento público seja privado.
Quanto aos usuários, eles têm seus interesses próprios, entre os quais está, no mínimo, o
acesso àquilo que consideram como satisfação de suas demandas, que podem ou não ser
definidas como necessidades.
5
Esses referenciais visam à garantia do acesso aos cuidados necessários, o
vínculo, a responsabilização por parte da operadora e dos produtores de serviços, para
com o usuário, a integralidade da assistência e o monitoramento contínuo dos resultados
alcançados, por um processo de trabalho cuidador, e não por uma lógica indutora de
consumo (MYNAIO, 1993).
Torna-se um desafio para a saúde suplementar incorporar em seu processo
assistencial os debates colocados no processo de trabalho, estabelecendo novas
vertentes analíticas para avaliar a eficácia e a efetividade do seu papel na prestação de
atenção à saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem se proposto a
discutir novos mecanismos de macro e especialmente de micro-regulação e apontar para
o estabelecimento de novos formatos de intervenção (MALTA, 2004). A principio, a
principal preocupação dos estudos realizados ou financiados pela ANS era a
caracterização do setor de saúde suplementar (segmentação): características de cada
operadora e nichos de mercado explorados por cada uma delas. (ANS, 2005).
Outros estudos promovidos pela ANS (Modelos Assistenciais e Mecanismos de
Regulação) sugerem que a regulação assistencial da saúde suplementar tem grande
impacto no resultado final do serviço prestado (o atendimento das necessidades da
população beneficiária, de forma integral, resolutiva e com a qualidade necessária). A
partir dessa premissa, a Agência pretende realizar mudanças nos modelos assistenciais e
nos processos de gestão das operadoras, para torná-las produtores de saúde inseridos no
contexto do Sistema de Saúde brasileiro (ANS, 2005).
Embora esta ainda não seja uma prática comum, as operadoras podem ser
entendidas como gestoras da saúde dos seus beneficiários, ou seja, podem estabelecer
ações mais abrangentes, considerando a saúde como um todo, implicando não só a
promoção da saúde e a prevenção da doença, mas também a garantia do acesso e a
qualidade da assistência ofertada. Visando à garantia dessas práticas pelas operadoras, o
Estado precisa intervir na regulação operativa, regulando a relação entre operadora,
prestadores de serviços e beneficiários. A regulação do Estado nesse nível deverá ser
precedida por um processo de apreensão dessa dimensão, compreendendo como esses
mecanismos assistenciais ocorrem no cotidiano.
A compreensão e a regulação da assistência supletiva deve considerar as
experiências e modelagens produzidas no setor público, com o objetivo de compará-las
e assim estabelecer novos conhecimentos.
6
Formas Atuais de Financiamento
A nova dinâmica social, produzida pela legislação vigente, trouxe à tona a falsa
estabilidade e o forte caráter fetichista existentes na chamada ‘assistência à saúde’ dos
planos privados, que enfatizam a assistência curativa. Este setor mergulhou numa
agenda de conflitos e reclamos relativos às disputas de interesses entre os diferentes
atores. Este cenário está hoje muito influenciado pela mobilização social, que passou a
exigir outro tratamento para a questão do sistema privado de atenção à saúde. (ACIOLE
et al., 2003).
Nesse contexto, é fundamental perceber que o modelo de atenção à saúde está
centrado na produção de procedimentos profissionais. Vale ressaltar que a forma de
financiamento no setor saúde, seja ele público ou privado, reforça esse modelo, uma vez
que remunera por procedimento, tipicamente no modelo fee for service. No setor
privado, este quadro é agravado pela utilização de uma tabela de pagamentos que
privilegia os procedimentos cirúrgicos. Essa conformação valoriza aqueles invasivos,
com utilização de equipamentos e materiais de alto custo. Portanto, o conjunto das
intervenções médicas ocupa um lugar central e estratégico entre os atos de cuidar, na
modelagem assistencial que atualmente predomina no setor suplementar.
Em relatório de pesquisa recentemente publicado (ANS, 2005), as operadoras
estudadas exercem pouco ou nenhum controle sobre as atividades dos profissionais,
notadamente nas linhas de cuidado investigadas (cardiologia e materno-infantil),
ficando as ações empreendidas essencialmente sob responsabilidade do médico
assistente.
Agentes do Sistema de Saúde Suplementar
A regulação pública dos planos privados de saúde busca a construção de novas
relações de compartilhamento de riscos envolvidos na prestação de assistência à saúde
entre Estado, operadoras de saúde, prestadores de serviço saúde, fornecedores, empresas
empregadoras e usuários. É necessário aperfeiçoar os instrumentos já implantados,
ampliar a sua efetividade e proceder aos ajustes decorrentes dos impactos do processo
na organização e gerenciamento do sistema, de forma a garantir uma melhoria constante
e sustentável na assistência à saúde dos usuários, ressaltando que a expansão do setor é
requisito indispensável para sua viabilidade futura (BAHIA, 2001).
7
Operadoras de Planos de Saúde:
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde são as empresas e entidades que
atuam no setor de saúde suplementar oferecendo aos consumidores os planos de
assistência à saúde. Na visão empreendedora, ao longo do seu processo de evolução, as
operadoras de planos de saúde prestaram um grande serviço à população brasileira,
permitindo o seu acesso aos serviços de saúde, uma vez que cobriram uma fatia do
espaço deixado pela ineficiência, pela ausência efetiva de determinação política e pela
incapacidade de financiamento do setor público.
Na região sudeste, no início dos anos 80, havia cerca de 15 milhões de clientes
dos planos de saúde (exceto os de planos próprios), registrados pela Associação
Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) e pela Federação das Unimeds. Esse
número revela a persistência e a consolidação das empresas de planos de saúde como
alternativa assistencial para os trabalhadores especializados dessa região (SILVA,
2003).
De um setor que atuava livremente sem qualquer interferência governamental,
exceto pelos incentivos dados pela compra de serviços pela Previdência Social e pela
renúncia fiscal das pessoas físicas e empresas que adquirem planos de saúde, a
regulação criou fortes barreiras à entrada e saída das empresas, retirando do mercado
cerca de 2.716 operadoras no período 2000 a junho de 2003. Em junho de 2003, 2.313
operadoras permaneciam ativas, porém o mercado apresentava-se com uma dinâmica de
oligopólio, pois 3,3% das operadoras detinham 52% dos beneficiários (NITÃO, 2004).
Além disso, a regulamentação aumentou o acirramento da concorrência entre as
empresas do setor, pois as novas regras nivelaram os planos de saúde e trouxeram
maiores garantias assistenciais para os beneficiários (SILVA, 2003).
O número de beneficiários de planos de saúde permanece estável se
compararmos o número captado no cadastro de beneficiários da ANS (36,7 milhões) em
2003, com o suplemento saúde da pesquisa PNAD/IBGE, realizada em 1998 (38,7
milhões). Nesse período, os consumidores representaram o elo mais vulnerável, com
pouco controle sobre o acesso aos serviços de saúde e à qualidade da assistência
prestada.
Respaldadas pela ótica dos direitos dos consumidores e defesa da autonomia
médica, as políticas governamentais se direcionam para também garantir os interesses
dos clientes dos planos, impedindo as restrições ao atendimento e, portanto, a negação
8
da utilização de procedimentos. As ações geradas por essa política diferem do controle
da seleção de riscos, que é até aceita pelos consumidores, desde que incluída com
clareza nos contratos (BAHIA, 2001).
Poder Público:
O Estado Brasileiro esteve afastado por muito tempo do seu papel regulador nas
atividades iniciais da saúde suplementar, devido ao seu envolvimento na evolução da
reforma do Sistema Público de Saúde.. Outro problema, pelo pouco desenvolvimento do
setor de saúde suplementar entre as políticas públicas do setor, é que os processos, as
informações, a análise econômica e, em especial, os resultados da qualidade da
assistência prestada eram muito pouco conhecidos pelo Ministério da Saúde (MS).
Dessa forma, uma grande parcela da base de dados e das informações do setor de saúde
no Brasil, até 2007, contemplam apenas os números e as correspondentes análises dos
serviços realizados pelo setor público, desconsiderando a situação e os resultados das
ações de saúde que são prestadas a aproximadamente um quarto da população brasileira
(NITÃO, 2004).
Os embates sobre a regulamentação pública se estenderam para dentro do
aparelho do Estado: enquanto o Ministério da Fazenda defendia uma regulação
governamental de menor intensidade por meio da SUSEP, onde o centro era a regulação
econômica e financeira, o MS defendia uma ação mais efetiva do Estado, colocando a
regulação também sobre o aspecto assistencial. O modelo da regulação bipartite, feita
pela SUSEP e pelo MS, se arrastou até a criação da ANS como um órgão regulador
único, saindo vitoriosa a tese do Ministério da Saúde (MALTA, 2004). A Agência de
Saúde Suplementar (ANS) foi criada com autonomia orçamentária e decisória e se
assemelha às demais agências reguladoras quanto à estrutura organizacional e
autonomia (MALTA, 2004).
Prestadores de Serviços:
Atendidos nos seus interesses mais imediatos, notadamente pela progressiva
redução no número dos pacientes particulares (chamados out of pocket) e pela crescente
deterioração do seu relacionamento com a área pública, os prestadores de serviços
médicos buscaram compor uma associação forte e firme com as operadoras de planos de
9
saúde. Pesquisa desenvolvida pela Escola Nacional de Saúde Pública em 1995 aponta
que 75% a 90% dos médicos declararam depender diretamente dos convênios para
manter suas atividades em consultório (NITÃO, 2004).
É importante observar que, nos contratos entre operadoras de planos de saúde e
prestadores de serviços, os aspectos de qualidade assistencial não são o foco principal
da relação. O maior determinante sempre foi a capacidade de vendas que o
credenciamento de um prestador de serviços possa gerar para a operadora de planos de
saúde e, especialmente, a sua tabela de preços.
Por outro lado, a adoção do credenciamento dos mesmos provedores de serviços
como estratégia para a organização das sub-redes, para cada tipo de plano, tem como
conseqüência uma homogeneização dos produtos, determinada, na prática, pelos
provedores de serviços e não pelas operadoras.
Fornecedores:
Com base nas informações do Sistema de Informações de Produtos da ANS, o
poder dos fornecedores é maior nos planos individuais e nos coletivos por adesão do
que nos coletivos com patrocínio (nos quais o empregador arca com parcela ou com a
integralidade do pagamento dos custos do benefício). Ou seja, quanto mais livre a
utilização dos serviços maior o custo assistencial. O sistema de informações, no entanto,
não permite identificar o poder dos fornecedores em relação ao tipo de rede, se
contratada, terceirizada ou própria. O estímulo à formalização de contratos dos serviços
profissionais, da rede de diagnose e terapia e hospitalares aponta que os fornecedores
terão seu poder ampliado com a regulação da sua relação com as empresas, o que
contribuirá para o aperfeiçoamento da estruturação do setor, ao mesmo tempo em que
exigirá o desenvolvimento de novas habilidades gerenciais das empresas para mantê-las
lucrativas (NITÃO, 2004).
Organização da Categoria Médica
A organização da corporação médica, no Brasil, data do século XIX.
A
categoria tornou-se estruturada em múltiplas entidades, como sociedades científicas,
conselhos, associações, agremiações e sindicatos. Esta característica a torna uma
corporação especial dentro do segmento das profissões tidas como de origem liberal.
10
Várias são as razões e são vários os estudiosos (ALMEIDA, 1997; CAMPOS, 1988;
DONNANGELO, 1975; LUZ, 1979; SCHRAIBER, 1993), que já firmaram o
reconhecimento desta situação especial.
Esta categoria profissional, de evidente reconhecimento na trama social,
pertencente às elites e de imagem cultural associada à produção científica, técnica e
acadêmica, tem como perspectiva de trabalho a produção de um certo modo de cuidar
da vida e da saúde do ser humano. Ela tem ocupado, até o início do século XXI, um
lugar central na organização do processo de trabalho em saúde, dado principalmente
pelo seu poder prescricional e central, uma vez que delega parcela de suas atribuições a
outros profissionais do setor (este profissional tem o poder de atribuir tarefas a outras
categorias de trabalhadores neste campo, dentro dos processos de produção da
assistência à doença e da proteção à saúde).
A incorporação crescente de tecnologias nos processos produtivos em saúde, sob
a gestão médico-hegemônica, já havia delimitado uma transição significativa na
organização do trabalho em saúde em geral, e do médico em particular (SCHRAIBER,
1993). O trabalho médico já teve uma marca de passagem de uma medicina mais
mercantil e de um profissional mais liberal (DONNANGELO, 1975) para um modelo
mais organizado, e se começou a falar nos processos produtivos em saúde, que se
expressaram na qualificação dos profissionais cada vez mais em torno de núcleos
especializados, restringindo-os, num crescente, à produção de um procedimento
específico (um exame laboratorial, um ato clínico, etc.).
Autores ligados ao movimento sanitário brasileiro há muito vêm indicando essas
questões, com formulações bastante ricas. Apesar de sugerirem questões relevantes para
a compreensão dos processos, não chegam a propor outro entendimento para a micropolítica dos processos de trabalho em saúde. Por exemplo, Campos (1992) aponta a
capacidade do movimento sanitário de atuar no dia-a-dia dos serviços de saúde como
central, advogando que essa é uma das principais arenas para o confronto com os
projetos neoliberais presentes nos modos de gerir os serviços nos planos político e
produtivo. Indica como necessária a construção de um compromisso efetivo dos
trabalhadores de saúde com o mundo das necessidades dos usuários, que permita
explorar de modo exaustivo o que as tecnologias em saúde detêm em termos de
efetividade, em um novo modo de operar a gestão do cuidado em saúde. O novo modelo
passa pela produção de novos coletivos de trabalhadores, comprometidos éticopoliticamente com a defesa da vida.
11
As análises sobre o ambiente médico assistencial têm demonstrado como o
confronto entre defensores do serviço público versus defensores do privado não
consegue dar conta da situação real vivida, de hegemonia do projeto neoliberal médico.
Este projeto se reproduz micro-politicamente em todos os lugares e momentos de
produção de atos em saúde, indicando que isto coloca os defensores da assistência à
saúde diante do desafio de saber operar a gestão dos estabelecimentos assistenciais de
saúde e dos processos de trabalho de uma outra maneira, procurando desenhar uma
alternativa à perspectiva hegemônica. Segundo Campos (1992), tal tarefa significa a
construção de um modelo tecno-assistencial, que não pode desprezar recursos
tecnológicos, clínicos e/ou sanitários para a sua ação. O trabalho médico ocupa lugar
estratégico neste modelo, ainda mais se comprometido e vinculado com os usuários,
individuais e coletivos, atuando dentro de equipes multiprofissionais, operadores de
conhecimentos multidisciplinares.
A chamada Atenção Gerenciada (managed care) aposta na produção de
tecnologias no campo da gestão de processos de trabalho em saúde, que possam
substituir a micro-decisão clínica pela administrativa, impondo uma nova forma
tecnológica de constituir o ato de cuidar e o modo de operar a sua gestão, tanto no
interior dos processos produtivos em saúde quanto no campo de organização do sistema.
O setor saúde tem uma lógica multi-convenial, ou seja, tem predominado o
formato ‘credenciamento’ como mecanismo de compra de serviços por parte da maioria
das empresas de autogestão, ou mesmo das cooperativas (para quais o serviço deve ser
prestado nos estabelecimentos dos seus cooperados: o consultório ou o laboratório
médicos). Em vista disso, dá-se o estabelecimento de uma prática mais ou menos
generalizada, qual seja, a do profissional médico se “conveniar/credenciar” junto a
várias operadoras simultaneamente, tendo o seu consultório como a base operacional na
qual obtém uma renda mensal no mercado. Aliás, autores que discutem há tempos a
questão do trabalho médico, como Campos (1989) e Schraiber (1992), identificam a
questão da autonomia como central na compreensão e na análise da reação dos médicos
às políticas de saúde, como na estruturação e organização do seu processo de trabalho,
em que o credenciamento (forma de inserção no mercado de trabalho) e o
cooperativismo (forma de resistir ao empresariamento da medicina idealizada pelo
fundador da cooperativa médica) são as maneiras com que a categoria profissional foi
construindo sua resistência à perda da perspectiva liberal.
12
Credenciamento e cooperativismo estão entre as formas predominantes com as
quais o profissional consegue captar a clientela no mercado e preservar resquícios do
princípio da autonomia e da livre escolha, caros à perspectiva corporativo-liberal em
que vê inserido e legitimado o seu trabalho e que guarda na defesa de uma prática
autônoma, verdadeiro mecanismo singular com que vai operando sua adesão ao capital
(CAMPOS, 1989) ou definindo os limites de liberdade que asseguram a manutenção
dos valores ideológicos que recortam e significam o fato de ser médico (SCHRAIBER,
1990). Isto ocorre porque, com a perda do controle de seus meios de produção e com a
crescente invasão da iniciativa empresarial no mercado de produção e consumo de atos
e procedimentos médicos, este profissional encontra no credenciamento e/ou no
cooperativismo as formas mais expressivas de manter, em algum grau, a sobrevivência
do penúltimo bastião da cidadela liberal: a possibilidade da livre escolha pelo cliente, o
que lhe dá a falsa segurança de se sentir autônomo. Esta situação se mantém dos anos
1980 até 2007!
Segundo nota da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de São
Paulo (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 2007), o plano de saúde pode definir quais doenças
estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento será estabelecido para seu
tratamento ou sua cura. O STJ destacou que deve ficar bem claro que o médico, e não o
plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica e que entender a questão de
modo diverso põe em risco a vida do consumidor.
Prestação de Assistência no Âmbito da Medicina Supletiva
Vários organismos internacionais vêm realizando, desde os anos 1990,
investimentos para difundir a proposta da Atenção Gerenciada (managed care) nos
países latino americanos como um projeto “modernizante”. Isto contribui para produzir
uma agenda razoavelmente semelhante no continente, entre todos aqueles que vivem os
processos de reforma do estado, em geral, e dos sistemas de saúde, em particular
(PAGANINI, 1995) procurando, assim, constituir no plano imaginário um campo
comum que envolve a todos os que desejam e se relacionam com as reformas.
O segmento privado de serviços de saúde constitui parte importante do sistema
de atenção à saúde no país. Abrange uma significativa parcela da população
economicamente ativa, enredando numa complexa cadeia de elos produtivos, relações
empresariais, comerciais e, principalmente, assistenciais, que envolvem quase dois
13
milhares de operadoras, centenas de milhares de médicos e serviços de saúde e quase
uma centena de milhões de usuários/beneficiários dos planos e seguros de saúde.
Bahia (2000), por exemplo, argumenta que o arcabouço legal desenvolvido a
partir da regulamentação dos planos e seguros se alicerça na ampliação e padronização
das coberturas. Estas regras estimulam mudanças nas relações entre provedores de
serviços e empresas de planos e seguros-saúde, uma vez que os produtos passam a ser
muito parecidos, configurando praticamente uma commodity, concentrando a
competição nos preços e nos modelos de regulação do acesso de clientes e médicos à
utilização de procedimentos e não mais em padrões diferenciados de cobertura. Pode-se
dizer que no Brasil, de 1998 até 2005, predominaram padronização e ampliação de
cobertura. Isto parece ser resultado do baixo grau de conhecimento sobre a realidade
deste mercado. Mesmo assim, faltam efeitos normativos que contemplem pressões de
grupos sociais, notadamente os mobilizados em torno da questão de defesa do
consumidor, (ACIOLE, 2003).
Cecílio et al. (2003) sugerem o modelo abaixo reproduzido para representar o
campo a ser regulado, abrindo a discussão de como atuar visando a transformação na
melhoria da atenção à saúde.
OPERADORAS
PRESTADORES
USUÁRIOS
Nesse esquema, vale ressaltar a necessidade de inclusão do papel dos
fornecedores de materiais, medicamentos e equipamentos médico-hospitalares que
interferem, seja na oferta de novas tecnologias, em negociações com incentivos para os
prestadores médicos e hospitalares ou ainda em relações de parceria com as operadoras.
O eixo prioritário de análise poderia ser a construção de informações
estruturadas e consistentes acerca de como se comportam as operadoras, cada uma delas
e em seu conjunto, nos modelos de regulação que estabelecem com os seus prestadores
14
e com os seus clientes, seja impondo limites a estes na efetivação da cobertura ou
restringindo os médicos no acesso a procedimentos ou intervenções.
Para Almeida (1998), a mudança na proteção ao consumidor, bem como a
garantia da estabilidade no mercado e questões relativas ao subsídio e incentivos ainda
estão em aberto. A autora sugere que, a partir do ainda recente estágio da
regulamentação no país, ocorrerá mudança no modelo de relacionamento que as
empresas mantêm com os prestadores, centrado no corte de custos e na contenção de
gastos, embora a adesão maciça ao managed care não tenha ocorrido com a velocidade
e a magnitude esperadas, principalmente por aqueles que não só defendem mas tentam
mimetizar o modelo assistencial dos EUA. Ocorre então desequilíbrio no território da
regulamentação, de tal modo que esta, se por um lado, aumenta a visibilidade de
práticas lesivas ao consumidor e amplia o debate em torno da padronização de
cobertura, por outro continua a manter frágeis os mecanismos estabelecidos entre os
vários atores do setor, lembrando que princípios da livre escolha do beneficiário e da
autonomia do profissional médico fazem parte dos princípios da defesa do consumidor
(BAHIA, 2000; ALMEIDA, 1998).
A regulação dos planos em favor dos grandes players e do managed care é
incompatível com as diretrizes do SUS; por isso, foi necessário um tipo de ação
regulatória em direção ao fortalecimento da esfera pública. Os possíveis caminhos da
ANS no enfrentamento da crise econômica dos planos de saúde desfazem a ficção de
que o mercado, uma vez fortalecido, vai cooperar com o SUS, ao invés de contaminá-lo
no marco da desigualdade social crônica (REIS, 2002).
Segundo Iriart (2000), a atenção gerenciada se caracteriza pela organização de
serviços de atenção à saúde sob o controle administrativo de grandes organismos
privados, financiados pela captação de usuários. Estes organismos intermedeiam a
relação entre produtores de serviços e consumidores. O capital financeiro passa a ser um
ator fundamental. A atenção gerenciada representa o controle do ato médico, operando
a relação custo/efetividade, alterando a lógica de produção do cuidado (FRANCO,
2002). Torna-se um desafio construir outros referenciais, orientando a regulação a partir
da ótica do usuário.
No Estado de São Paulo, a “Pesquisa de Condição de Vida – PCV”, conduzida
pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), desde 1990 a cada
quatro anos, revela que os beneficiários de convênio médico, na região metropolitana da
Grande São Paulo, representavam 43,3% em 1990, 43,5% em 1994 e 44,2% em 1998.
15
Portanto, o extrato populacional que dispõe desse recurso apresentou certa estabilidade
no período. No entanto, a parcela de titulares de convênios oferecidos por empresas
empregadoras caiu de 64,6% para 45,9%, ou seja, a manutenção da posse de convênio
até 1998 se deveu ao crescimento de titulares particulares (SEADE, 1998).
Esse setor sofreu mudanças significativas acompanhando o aumento do
desemprego e do número dos assalariados sem carteira assinada. Na região
metropolitana de São Paulo, os assalariados passaram de 67% para 64% entre 1994 e
1998, com redução importante dos postos de trabalho assalariado com carteira assinada
(SEADE, 1998). Uma vez que a extensão da assistência médica supletiva está
relacionada aos benefícios oferecidos pelas empresas aos trabalhadores, o crescimento
do mercado informal impacta o setor de forma significativa. Nos últimos anos, esse
quadro só se agravou, de forma que a busca de alternativas de controle de custos
tornou-se uma questão de sobrevivência para os serviços de saúde privados.
Acompanhando o modelo de atenção gerenciada, desenvolvido no sistema de
saúde americano, a implantação de diretrizes e sua tradução em protocolos clínicos
ganham grande importância como estratégias fundamentais para o controle de custos,
especialmente para a tentativa de previsão de custos no setor de saúde suplementar.
Dessa forma, consolida-se uma pressão crescente sobre os profissionais de saúde para a
diminuição da utilização de recursos na assistência médica oferecida. Assim, impõe-se
aos pacientes limitações no consumo de serviços e aumento, cada vez maior, das
contribuições, especialmente para aquelas faixas etárias com potencial aumento de
consumo dos serviços – idosos e pacientes com doenças crônicas.
Ressalte-se que esse movimento se insere num contexto hospitalar que passa por
intensas transformações. Entre elas, a preocupação com a padronização dos processos
assistenciais está presente tanto na rede pública quanto na privada.
Modalidades Empresariais de Planos e Seguros-Saúde
O surgimento do setor se deu a partir de meados da década de 1960, com o
denominado convênio-empresa entre a empresa empregadora e a empresa médica
(medicina de grupo). A Previdência Social repassava subsídios per capita pelos serviços
prestados, prática que foi decisiva no empresariamento da medicina (MÉDICI, 1992).
O sub-segmento comercial da saúde suplementar está integrado por
aproximadamente 1.200 empresas, sendo 800 empresas de medicina de grupo
16
(incluindo as filantrópicas), 360 cooperativas médicas (em sua imensa maioria as
Unimeds) e 30 seguradoras. Responde pela cobertura de 2/3 do total de clientes do
mercado de planos de saúde (BAHIA, 2001).
As medicinas de grupo, constituídas inicialmente por grupos médicos aliados ao
empresariado paulista, são desde o início do século XXI responsáveis por quase 40%
dos beneficiários da assistência médica supletiva. Esse segmento se organizou em torno
de proprietários/acionistas de hospitais, criando redes de serviços e credenciando
hospitais e laboratórios (BAHIA, 2001). As Unimeds possuem 25% dos clientes de
planos de saúde e se organizaram, a partir da iniciativa de médicos, com a argumentação
da ameaça de perda da autonomia da prática médica e da mercantilização da medicina
(BAHIA, 2001). As seguradoras, vinculadas ou não a bancos, representam a modalidade
empresarial mais recente no mercado de assistência médica suplementar e são
responsáveis pelos planos de 16% do contingente de pessoas cobertas por planos
privados de saúde (CORDEIRO, 1984; BAHIA et al., 1999 e ABRAMGE, 2000).
Todas as operadoras de grande porte do segmento comercial disponibilizam ao
mercado planos coletivos e individuais de tipo executivo, intermediário e básico.
Contudo apenas três medicinas de grupo, três cooperativas e quatro seguradoras
possuem acima de 300.000 clientes. A grande maioria das medicinas de grupo e
cooperativas é de pequeno porte e propicia coberturas contratualmente bastante
homogêneas utilizando redes de serviços bastante diferenciadas e localizadas. Mais que
60% dos planos de saúde registrados pela ANS restringem as coberturas a um único
município (11%) ou a um grupo de cidades vizinhas (51%) (BAHIA, 2001).
Um plano executivo de uma medicina de grupo é igual ao de uma seguradora, de
uma cooperativa médica e de uma empresa/entidade com plano próprio. Como a
definição do produto depende estritamente da presença/ausência dos provedores de
serviços na lista de credenciados das operadoras, aqueles considerados excelentes
adquirem alto poder de barganha por serem requisitados para compor a sub-rede de
serviços de todas as operadoras de grande porte. O mesmo ocorre no sentido contrário,
para os serviços qualificados como básicos. Estes instrumentos de auto-regulação
introduzem fatores externos às meras relações quantitativas entre oferta e demanda e
certamente influenciam os valores dos prêmios e as formas de financiamento.
Um outro ponto que merece destaque é a questão do desempenho econômico do
setor. Apesar de ser veiculado pelas entidades de representação das empresas que o
setor está tendo perdas na sua lucratividade, não é esta realidade observada na análise
17
dos índices financeiros das 454 operadoras demonstradas pelo Projeto Info, 2004 da
ANS (NITÃO, 2004).
Autogestões são planos próprios, patrocinados ou não pelas empresas
empregadoras, constituindo o sub-segmento não comercial do mercado de planos e
seguros. As autogestões totalizam cerca de 300 empresas e aproximadamente 4,7
milhões de beneficiários. O grupo é heterogêneo, incluindo as grandes indústrias de
transformação, entidades sindicais, empresas públicas e até empresas com pequeno
número de associados (CIEFAS, 2000; BAHIA 2001). Aproximadamente metade dos
planos de autogestão é administrada por instituições sindicais ou por entidades jurídicas
paralelas às empresas empregadoras, como as caixas de assistência, caixas de
previdência e entidades fechadas de previdência, integradas por representantes dos
trabalhadores e da parte patronal. As demais empresas com planos próprios os
administram por meio de seus departamentos de benefícios/recursos humanos (CIEFAS,
1999; BAHIA et al., 1999 E ABRAMGE, 2000). Os planos de autogestão organizam
suas redes de serviços, fundamentalmente, mediante o credenciamento de provedores e
provêm, em geral, coberturas para muitos dos procedimentos de alto custo.
Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde
As condições institucionais para a montagem de um sistema regulatório com
maior capacidade de atuação foram impulsionadas com a criação da ANS, em 1990, na
medida em que a Agência unificou as atividades de regulação em um único órgão e foi
constituída como autarquia em regime especial, com autonomia decisória e financeira.
As ações desenvolvidas pela ANS desde o início de sua existência indicam a realização
de um grande esforço de normatização para definir as regras de funcionamento do
mercado de saúde suplementar, com destaque para as seguintes áreas: coberturas
assistenciais e condições de acesso; entrada, permanência e saída das operadoras;
reajuste de preços; fiscalização das atividades de operação e comercialização dos
planos; monitoramento dos contratos e ressarcimento ao SUS.
Pressionado por grandes seguradoras e entidades de defesa do consumidor, o
Ministério da Saúde desistiu da obrigatoriedade da adaptação dos contratos antigos às
inclusões das coberturas previstas pela legislação (Medida Provisória 1908-17). As
ameaças de elevação brutal dos preços dos prêmios perante os requerimentos de
ampliação de cobertura, exemplificadas para uma assistência médica suplementar
18
constituída exclusivamente por clientes de planos individuais tipo executivo,
legitimaram, na prática, o direito do consumidor de "optar" por manter-se vinculado a
um plano mais barato, com coberturas restritas.
Isso incidiu diretamente sobre outro pilar da regulamentação: o ressarcimento ao
SUS, concebido em 2000 para desestimular o atendimento de clientes de planos de
saúde em estabelecimentos da rede pública e privada conveniada. À ampliação de
cobertura deveria corresponder idealmente um "ressarcimento zero". Ainda existem
inúmeras dificuldades no processo de retorno do recurso desembolsado aos cofres
públicos, demonstradas pelos dados de desempenho do ressarcimento: dos 364.242
procedimentos identificados até dezembro de 2002, 193.014 haviam sido impugnados,
145.349 cobrados e apenas 33.935 efetivamente pagos (MALTA, 2004).
Impacto da Regulamentação no Setor
O setor de planos de saúde vive uma densa transformação desde o início da
vigência da Lei 9.656/98. Um exemplo importante das mudanças introduzidas pela Lei
foi a instituição da obrigatoriedade de disponibilidade e fornecimento de informações, o
que permite à ANS promover diversas análises e, em especial, acompanhar a evolução
dos custos, condição essencial para a autorização de aumento das mensalidades dos
planos individuais. A segurança do usuário de planos privados de assistência à saúde
aumentou com a regulamentação, pela ANS, de medidas necessárias à manutenção da
integridade das operadoras e da garantia da continuidade da prestação dos serviços de
assistência contratados.
Quando a regulação entra na dimensão econômico-financeira estabelecendo
condições de entrada, de permanência e de saída do setor, e com a exigência da
constituição de reservas e garantias, pretende-se dar segurança ao consumidor,
garantindo a capacidade econômico-financeira das operadoras para cumprir os contratos
firmados, além de assegurar a transparência e a competitividade no setor. A legislação
de saúde suplementar revela preocupação com os aspectos financeiros e patrimoniais
das operadoras, demonstrando, em particular, que há uma relação direta entre a
solvência de uma operadora e a manutenção e qualidade da prestação dos serviços de
assistência à saúde aos consumidores (BAHIA, 2001).
Os grandes embates posteriores à criação da ANS têm se dado em função da
ampliação da cobertura e ameaças de quebra das operadoras de menor porte, face às
19
exigências de demonstração de solvência (BAHIA, 2001). As críticas produzidas pelos
diversos atores variam conforme a sua origem, inserção social e defesa dos interesses
que representam. Assim, os órgãos de defesa dos consumidores, como o Instituto de
Defesa do Consumidor (IDEC), pontuam, por exemplo, a “armadilha aos idosos”,
apontada como a permissão da adoção de preços diferenciados entre os mais jovens e
mais velhos, e a permissão de não coberturas. Os órgãos de defesa do consumidor
conjuntamente com as entidades médicas, questionam a não cobertura de todas as
doenças, a autonomia na solicitação dos procedimentos, a remuneração dos
profissionais, dentre outros.
As cooperativas médicas questionam os prazos de adaptação às Leis, a
obrigatoriedade e constitucionalidade do ressarcimento, as dificuldades impostas aos
pequenos planos e empresas regionais, no que se refere às exigências de coberturas. As
medicinas de grupo pontuam os prazos de adaptação às Leis, a ilegalidade quanto à
retroatividade e as inúmeras exigências que levam ao aumento dos custos dos produtos.
As seguradoras criticam a expansão do modelo criado, com regras de difícil execução.
Pressionadas por esse cenário, as operadoras tiveram suas margens reduzidas. A
ANS centrou sua atuação no monitoramento das condições contratuais para o acesso aos
serviços de saúde, na política de preços e na solidez econômica das operadoras para
sustentação dos direitos dos usuários. Isso levou a mudanças no relacionamento das
operadoras com os prestadores, uma vez que sem os rendimentos do mercado financeiro
e sem a possibilidade de transferir a conta para os usuários, o foco da busca das
soluções ficou concentrado nos prestadores de serviços (SILVA, 2003).
A importância da caracterização das tendências no comportamento desses atores,
suas tensões e disputas, fundamentando uma nova intervenção do Estado, irá auxiliar na
construção da competência para exercer a regulação nesse campo instável e fortemente
auto-regulado, ou seja, atuar na micro-regulação do mercado de saúde.
Projeto Diretrizes / Melhores Práticas
Os hospitais privados buscam se diferenciar no mercado aderindo, por exemplo,
a sistemas de avaliação externa, como acreditação, nos quais é valorizado o controle dos
processos de trabalho. No Brasil, a Associação Médica Brasileira (AMB), em parceria
com o Conselho Federal de Medicina (CFM), patrocinou o desenvolvimento de um
esforço integrado denominado “Projeto Diretrizes” cujo principal objetivo foi
20
“...padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão do médico.”
(JATENE e CUTAIT, 2002), caracterizando também um tipo de controle de processos
de trabalho. A elaboração do projeto e sua implantação representaram uma iniciativa
conjunta das duas organizações ante o cenário internacional de intensa produção
científica, difícil de ser absorvida pelos profissionais. O crescimento do número de
diretrizes para várias enfermidades, associado à preocupação com a adequada
disseminação de “boas práticas” baseadas em evidências científicas para todos os
profissionais dispersos nas várias regiões brasileiras, constituíram aspectos motivadores
desse tipo de estratégia. (JATENE et al., 2001).
O crescimento do número de escolas médicas, com qualidade questionável; a
dificuldade de acesso a sistemas nacionais de capacitação e educação permanente dos
profissionais, especialmente daqueles que atuam em regiões mais distantes dos grandes
centros de formação; a dificuldade dos especialistas em absorver as novas propostas
diagnósticas e terapêuticas, perante o volume e a velocidade de mudança na produção
científica especializada, o regime de trabalho dos profissionais médicos, assalariados e
com média de três a quatro empregos, reforçaram a premência de disseminação de
conhecimentos sobre boas práticas. Logo, considerou-se esse “Projeto Diretrizes” como
uma alternativa para suplantar essas dificuldades (JATENE et al., 2001). Outro aspecto
citado, e com extrema relevância para as Regiões Sudeste e Sul brasileiras, é a pressão
crescente dos financiadores do setor de assistência médica supletiva. É ingênuo
considerar que essas forças não representaram um dos elementos motivadores para que
as sociedades de especialistas, a convite da AMB e do CFM, participassem da
construção, e em especial da seleção dos agravos a serem priorizados para iniciar esse
processo.
O processo de elaboração procurou seguir alguns dos passos propostos para o
desenvolvimento de diretrizes com alta qualidade. Foi organizada uma equipe,
especializada em metodologia epidemiológica, vinculada ao corpo de direção do
projeto, responsável pela sistematização da grade de evidências e de recomendações e
com o papel de auxiliar a recuperação e análise das referências científicas selecionadas,
em geral, pelo grupo de profissionais especialistas indicados por cada uma das
sociedades vinculadas à AMB (JATENE e CUTAIT, 2002).
A seleção dos temas ficou por conta das sociedades de especialistas. Essa talvez
seja uma das maiores fraquezas do projeto, uma vez que temas extremamente relevantes
no cenário epidemiológico brasileiro não foram contemplados, enquanto outros, sem
21
grande significado, fizeram parte da lista de 90 diretrizes elaboradas. Este conjunto de
documentos está disponível na Internet e foi elaborado entre 1999 e 2001. A previsão
para atualização dos documentos, requisito essencial para diretrizes de boa qualidade,
não está registrada em qualquer texto inserido no portal ou no conteúdo das diretrizes.
Em 2005 o projeto foi retomado, com a revisão de alguns temas e introdução de novos.
O teor das diretrizes é diversificado, seja em relação ao tipo de doença,
gravidade, magnitude do problema ou nível de atenção. Estão incluídos desde temas
voltados para a promoção de saúde (como atividade física), exames diagnósticos (como,
por exemplo, eletroneuromiografia) e agravos considerados sentinela em geriatria
(como quedas em idosos) até doenças graves e bem delimitadas, tais como pneumonias
adquiridas em comunidade por adultos imunocompetentes, doença pulmonar obstrutiva
crônica, asma brônquica em adultos ou diagnóstico e tratamento de câncer de mama.
Dentro da área de cardiologia o único tema relacionado foi prevenção da
aterosclerose – dislipidemia. Na produção de diretrizes para este campo a Sociedade
Brasileira de Cardiologia foi pioneira. Seguindo as tendências internacionais, de
padronização de condutas para doenças isquêmicas do coração e para outras doenças
cardíacas, a Sociedade veio construindo documentos de consenso desde a primeira
metade da década de 1990. Os níveis de evidência e as grades de recomendação diferem
daquelas propostas pelo “Projeto Diretrizes”. As diretrizes para angina instável e infarto
agudo do miocárdio sem supradesnível do segmento ST (NICOLAU et al., 2001), para
dor torácica na sala de emergência (BASSAN et al., 2002), para pacientes com arritmias
cardíacas (SCANAVACCA et al., 2002) são exemplos desse esforço e correm em
paralelo ao trabalho coordenado pela AMB/CFM. Outras sociedades de especialistas
investiram nesse tipo de estratégia, mas é na cardiologia que se pode identificar maior
produção científica, inclusive com avaliações sobre o impacto da implantação de
diretrizes em hospital escola (BARRETTO et al., 2001).
Para repensar novas modelagens assistenciais, assentadas em diretrizes com a
integralidade do cuidado, há que se aprofundar o debate sobre novos fundamentos
teóricos, particularmente sobre a natureza do processo de trabalho, particularmente a
sua micropolítica e a sua importância na compreensão da organização da assistência à
saúde. Propostas alternativas para a organização dos serviços de saúde buscam
incorporar outros campos de saberes e práticas em saúde e configurar formas antihegemônicas de organização da assistência. Estas ações diferenciadas na produção da
saúde operam tecnologias voltadas para a produção do cuidado, apostam em novas
22
relações entre trabalhadores e usuários, tentando construir um novo serviço de saúde,
centrado nos usuários e em suas necessidades e estabelecendo um contraponto à crise
vivida pela saúde (CECÍLIO, 2003).
O estudo desenvolvido buscou aprofundar a caracterização do modelo
assistencial existente no setor de saúde suplementar na região metropolitana de São
Paulo, tendo como objeto a área de oncologia. A escolha dessa especialidade para o
projeto de investigação atende uma das linhas de investigação já selecionadas pela
Agência: é uma das especialidades com maior padronização e consenso em relação a
tratamento nos âmbitos internacional e nacional, tem um grau e velocidade de
incorporação de novos conhecimentos diferenciada das outras áreas clínicas, possui
indicadores de qualidade válidos na literatura e representa uma situação clínica onde são
utilizados recursos (materiais, medicamentos e equipamentos) diagnósticos e
terapêuticos de alto custo, onde os profissionais estão envolvidos de forma assalariada
ou por meio de empresas próprias nos serviços de quimioterapia e radioterapia, nas
unidades de internação especializada e nos consultórios, sejam eles oncologistas
clínicos, hematologistas, radioterapeutas ou cirurgiões.
A escolha de determinados tumores sólidos está relacionada ao perfil
epidemiológico dos principais tipos de câncer no país. Nos últimos cinco anos, no
Brasil, os principais tipos de câncer, responsáveis por 41% de todos os óbitos por
Câncer são: neoplasia maligna de traquéia, brônquios e pulmões, neoplasia maligna do
estômago, neoplasia maligna da mama, neoplasia maligna do cólon, reto e ânus e
neoplasia maligna da próstata. No sexo masculino, câncer de pulmão, próstata e
estômago constituem as principais localizações e no sexo feminino, câncer de mama,
pulmão e cólon, reto e ânus. No Estado de São Paulo, os coeficientes de mortalidade
são maiores que no Brasil, representando também a segunda causa de morte, com
coeficiente de mortalidade em 2003 de 98,5/100.000 habitantes. Em relação aos
principais tipos, ressalta-se a importância do câncer de mama como causa de morte
entre as mulheres, especialmente no município de São Paulo.
No município de São Paulo, os cinco principais tipos de câncer são: câncer de
pulmão, cólon, mama, estômago e próstata, sendo câncer de mama a primeira causa
entre as mulheres e pulmão entre os homens. Vale ressaltar que ao considerar, além da
magnitude, a existência de métodos de rastreamento com evidências científicas
comprovadas, aparecem câncer de mama, cólon, próstata e colo de útero. As leucemias
e linfomas são aqueles para os quais existe menor letalidade, se utilizados os esquemas
23
terapêuticos preconizados.
Com base nas necessidades de saúde da população paulistana e considerando a
oferta de recursos para prevenção secundária, diagnóstico e tratamento destas
enfermidades, foram selecionadas aquelas com maior relevância e nas quais fosse
possível acompanhar todas as etapas do processo assistencial. O Câncer de mama é uma
das situações clínicas que requerem maior número de especialistas para o bom
acompanhamento dos casos e exige linha de cuidado pressupondo articulação entre as
unidades no hospital; se utilizados prestadores isolados, grande integração entre eles, o
que faz com que essa doença em particular, como afecção traçadora, tenha papel
importante para identificar falhas ou descontinuidades no itinerário diagnóstico e
terapêutico em câncer. Além disso, é em geral manejada como procedimento eletivo e
muito dependente de acesso a recursos diagnósticos e terapêuticos de alto custo.
24
Objetivos
Geral
Descrever e avaliar o modelo tecno-assistencial e a dinâmica de atores no mercado de
saúde suplementar na área de oncologia na região metropolitana de São Paulo.
Específicos:
1. Estudar
procedimentos
diagnósticos
e
terapêuticos
(cirurgia
curativa,
reconstrução mamária, quimioterapia e radioterapia) empregados para os
pacientes com Câncer de Mama e Leucemias e Linfomas. Os aspectos a serem
estudados foram:
a. indicações, fluxos dos pacientes, limitações no acesso, loci institucionais
e características dos prestadores, existência de diretrizes;
b. descrição dos registros clínicos existentes;
c. resultados: indicadores (oportunidade de tratamento, complicações,
mortalidade, entre outros);
2. Descrever as formas de inserção dos médicos no mercado de saúde suplementar,
os requisitos para sua atuação, limitações para a prática e reivindicações dos
diferentes atores envolvidos no processo em relação à satisfação de suas
demandas e/ou necessidades.
3. Descrever os mecanismos existentes nas operadoras, na área de oncologia, para
gerenciar o cuidado, procurando identificar limitações de acesso aos recursos
diagnósticos e terapêuticos assim como gestão – critérios de credenciamento da
rede de serviços de saúde.
25
Material e Métodos
Para atingir os objetivos propostos foram selecionadas inicialmente duas formas
de aproximação para caracterizar a demanda, os prestadores hospitalares, médicos e
pacientes envolvidos na assistência em oncologia.
Seleção de Prestadores e Pacientes
Considerando que as informações obtidas a partir dos atestados de óbito são
universais – para o conjunto da população – independente do local de atendimento e da
fonte de financiamento, pode-se assumir que são aquelas com melhor qualidade de
registro nas estatísticas de saúde, foram solicitadas à Secretaria Municipal de Saúde de
São Paulo as bases de dados de óbitos ocorridos no município durante o período de
2004 a 2005. Para a análise dos municípios da região metropolitana seria necessária a
solicitação das bases de óbitos dos 38 municípios da Grande São Paulo. Para contornar
a dificuldade operacional e construir uma aproximação dos dados, optou-se por
trabalhar com a base de dados de óbitos segundo ocorrência no município de São Paulo.
A análise das informações de óbito segundo causa básica permitiu identificar os óbitos
por Câncer de Mama e por neoplasias do tecido linfático e hematopoiético registrados
no período de análise, seu local de ocorrência (prestadores com maior registro de óbitos
dessa causa) e os médicos responsáveis (tabelas 1, 2 e 3).
Tabela 1 - Distribuição dos óbitos não fetais ocorridos no
município de São Paulo segundo o local de residência - 2004 e
2005
Ano
Local de residência
Leste
Sul
Norte
São Paulo - Capital
Oeste
Centro
Ignorado
São Paulo - Capital - Total
Grande São Paulo
Interior São Paulo
Outros Estados ou Ignorado
TOTAL
2004
n°
%
22.881
30,4
18.005
23,9
13.642
18,1
6.560
8,7
3.145
4,2
1.101
1,5
65.334 86,8
7.565
10,1
1.543
2,1
788
1,0
75.230 100,0
2005
n°
%
21.510
30,2
16.982
23,8
12.943
18,1
6.519
9,1
3.010
4,2
979
1,4
61.943 86,8
7.108
10,0
1.497
2,1
776
1,1
71.324 100,0
Fonte: SMS – Município de São Paulo
26
Tabela 2 - Distribuição dos óbitos ocorridos no município de São Paulo segundo o local de residência e
causa básica de óbito agrupado por capítulo CID (10ª Revisão) - 2004 e 2005
Local de Residência
Causa básica de óbito
Circulatório
Neoplasias
Respiratório
Causas externas
Digestivo
Moléstias Infecciosas
Endócrino
Geniturinário
Sistema Nervoso
Perinatal
Sintomas
Congênitas
Mental
Osteomuscular
Sangue
Pele
Gravidez
Ouvido
Olhos e anexos
TOTAL
São Paulo Capital
Grande São
Paulo
n°
%
n°
20.043 32,4 1.642
11.983 19,3 2.158
7.562 12,2
644
6.596 10,6
848
3.701
6,0
389
2.770
4,5
440
2.515
4,1
181
1.406
2,3
170
1.484
2,4
111
1.276
2,1
189
825
1,3
51
534
0,9
160
682
1,1
37
215
0,3
40
190
0,3
36
112
0,2
7
40
0,1
5
8
0,0
1
0,0
61.943 100,0 7.108
Interior São
Paulo
%
n°
23,1
464
30,4
439
9,1
109
11,9
114
5,5
72
6,2
90
2,5
32
2,4
36
1,6
15
2,7
32
0,7
7
2,3
60
0,5
3
0,6
9
0,5
12
0,1
2
0,1
1
100,0 1.497
%
31,0
29,3
7,3
7,6
4,8
6,0
2,1
2,4
1,0
2,1
0,5
4,0
0,2
0,6
0,8
0,1
0,1
100,0
Outros
TOTAL
Estados ou
Ign
n°
%
n°
%
272
35,1 22.421 31,4
208
26,8 14.788 20,7
52
6,7
8.367 11,7
39
5,0
7.597 10,7
36
4,6
4.198
5,9
41
5,3
3.341
4,7
9
1,2
2.737
3,8
10
1,3
1.622
2,3
6
0,8
1.616
2,3
2
0,3
1.499
2,1
3
0,4
886
1,2
85
11,0
839
1,2
4
0,5
726
1,0
1
0,1
265
0,4
6
0,8
244
0,3
121
0,2
2
0,3
48
0,1
8
0,0
1
0,0
776
100,0 71.324 100,0
Tabela 3 - Distribuição dos óbitos não-fetais ocorridos no município de São Paulo segundo a causa
básica de óbito relacionado às neoplasias - 2004 e 2005
Ano
Causa básica do óbito
Capítulo
Descrição topográfica
Neoplasias malignas dos órgãos digestivos
Neoplasias malignas dos aparelho respiratório e dos
órgãos intratorácicos
Neoplasias malignas da mama
Neoplasias malignas do tecido linfático, hematopoético
e de tecidos correlatos
n°
4.751
%
32,5
2.162
14,8
2005
n°
%
4.922
33,3
2.173
14,7
1.337
9,1
1.362
9,2
1.369
9,4
1.283
8,7
1.017
7,0
1.064
7,2
836
5,7
821
5,6
678
4,6
740
5,0
586
4,0
580
3,9
538
3,7
503
3,4
Neoplasias malignas do lábio, cavidade oral e faringe
530
3,6
492
3,3
Neoplasias malignas da pele
Neoplasias malignas do tecido mesotelial e tecidos
moles
207
1,4
207
1,4
140
1,0
171
1,2
Neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido
146
1,0
122
0,8
105
0,7
113
0,8
96
0,7
122
0,8
86
0,6
77
0,5
32
0,2
36
0,2
14.616
100,0
14.788
100,0
Neoplasias malignas dos órgãos genitais femininos
Neoplasias malignas dos órgãos genitais masculinos
Neoplasias
2004
Neoplasias malignas de localizações mal definidas,
secundárias e de localizações NE
Neoplasias malignas dos olhos, do encéfalo e de outras
partes do SNC
Neoplasias malignas dos órgãos urinários
Neoplasias malignas da tireóide e de outras glândulas
endócrinas
Neoplasias malignas dos ossos e das cartilagens
articulares
Neoplasias benignas
Neoplasias malignas de localizações múltiplas
independentes (primárias)
TOTAL
27
Entre as diversas neoplasias, o câncer de mama (neoplasias malignas de mama)
representou cerca de 9% dos óbitos (1337 em 2004 e 1362 em 2005) e 72 médicos
responderam por aproximadamente 28% casos que chegaram a óbitos. A grande maioria
dos óbitos ocorreu nos hospitais financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Conseqüentemente, os profissionais que mais atestam o fazem nos serviços do SUS.
Entre os prestadores privados que atendem pacientes conveniados (não SUS) se
destacam os seguintes hospitais: Beneficência Portuguesa, A.C. Camargo, Albert
Einstein, Santa Catarina, São Luiz, Sírio Libanês, Samaritano, Evaldo Foz, Alvorada,
Nove de Julho, São Camilo (unidades Pompéia, Ipiranga e Santana), entre outros. A
partir dessa base foi possível identificar prestadores hospitalares privados com
relevância na assistência oncológica da região metropolitana de São Paulo.
A Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo possui há muitos anos
(desde 1982) rotina de coleta mensal de dados de todas as saídas hospitalares dos
prestadores privados com informações de dados demográficos, dados da internação,
diagnóstico principal, procedimento (tabela SUS) e evolução. O envio desse relatório é
realizado por meio magnético, porém a cobertura não é homogênea em todos os
municípios do Estado. Para a região metropolitana de São Paulo a base tem boa
cobertura (90% dos prestadores privados) e o nível regional da Secretaria Estadual de
Saúde (SES) supervisiona e armazena essas informações. Foi, portanto, solicitada à SES
a base de dados dos prestadores privados contendo essas informações para o período de
2004 e 2005 para o Estado. A SES forneceu os dados de 2004 e primeiro semestre de
2005, uma vez que no segundo semestre de 2005 foi alterada a sistemática de coleta
dificultando sua utilização para o período como um todo. A base possui 1.775.909
registros de internações hospitalares de prestadores privados do Estado de São Paulo,
dos quais 1.596.679 registros válidos. Quando foram analisados os dados segundo data
de saída, percebeu-se que a base continha registros de 2002 e 2003. Procedeu-se à
seleção das saídas com residência no Estado de São Paulo, que corresponderam a
1.577.605 saídas (tabela 4).
28
Tabela 4 - Distribuição das saídas hospitalares segundo área de abrangência da regional
(Secretaria Estadual de Saúde) de residência e ano da data da saída hospitalar - Boletim
CIH - SES - Estado de São Paulo
DIR 01 DIR 22 DIR 12 DIR 02 DIR 23 DIR 03 DIR 10 DIR 07 DIR 05 DIR 13 DIR 19 DIR 20 DIR 14 DIR 21 DIR 09 DIR 11 DIR 18 DIR 16 DIR 04 DIR 15 DIR 08 DIR 06 DIR 24 DIR 17 TOTAL
DIR_RESID
Capital
São José do Rio Preto
Campinas
Santo André
Sorocaba
Mogi das Cruzes
Bauru
Araraquara
Osasco
Franca
Santos
São João da Boa Vista
Marília
São José dos Campos
Barretos
Botucatu
Ribeirão Preto
Presidente Prudente
Franco da Rocha
Piracicaba
Assis
Araçatuba
Taubaté
Registro
2002
2003
2004
2005
Total
21
64.055 357.782 162.833
584.691
52
8.812 118.379
58.674
185.917
2
473
80.721
39.663
120.859
4
2.724
38.164
42.234
83.126
3
3.717
39.481
24.400
67.601
3
4.289
34.369
25.972
64.633
2
2.996
33.236
26.529
62.763
1.572
36.584
22.476
60.632
9
5.607
27.707
12.676
45.999
977
24.301
13.072
38.350
2
5.634
13.380
18.279
37.295
2
705
24.242
11.291
36.240
480
21.575
12.457
34.512
698
19.569
13.121
33.388
151
10.064
6.920
17.135
1
230
9.813
6.205
16.249
165
12.288
2.452
14.905
1
999
7.536
6.078
14.614
176
8.832
5.018
14.026
1
198
8.530
4.088
12.817
330
8.092
3.424
11.846
131
1.983
5.690
1.973
9.777
170
6.765
2.216
9.151
27
646
406
1.079
234 107.168 947.746 522.457 1.577.605
%
37,1
11,8
7,7
5,3
4,3
4,1
4,0
3,8
2,9
2,4
2,4
2,3
2,2
2,1
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
0,1
100,0
Esse volume de registros corresponde a 557 estabelecimentos de saúde privados.
A produção de alguns prestadores está muito abaixo da produção apresentada nos dados
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos, o que evidencia que esta base apresenta
cobertura heterogênea para os prestadores e, portanto, precisa ser utilizada com
restrições. No entanto, vários prestadores identificados na base de óbitos estavam bem
representados no Cadastro, o que permitiu a sua utilização para a região metropolitana
da grande São Paulo.
Analisando-se os diagnósticos de saída, segundo capítulo da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e problemas relacionados à saúde 10ª revisão
(CID-10), pode-se identificar que aproximadamente 7% das internações registradas são
de Neoplasias, correspondendo a 110.874 (tabela 5).
29
Tabela 5 - Distribuição das saídas hospitalares segundo diagnóstico principal
agrupado por capítulo (CID 10ª revisão) e ano da data da saída hospitalar - Boletim
CIH - SES - Estado de São Paulo
Capítulo CID
2002
2003
2004
2005*
nº
%
nº
%
nº
%
nº
%
Gravidez
28
11,2
16.566
15,3 131.090
13,7
77.852
14,7
Circulatório
40
16,1
13.977
12,9 126.201
13,1
67.241
12,7
Geniturinário
39
15,7
11.002
10,2
98.940
10,3
57.983
11,0
Digestivo
26
10,4
10.524
9,7
98.591
10,3
55.938
10,6
Respiratório
31
12,4
11.169
10,3 109.728
11,4
53.840
10,2
Neoplasias
8
3,2
7.292
6,7
68.013
7,1
35.561
6,7
Lesões
11
4,4
7.144
6,6
65.201
6,8
35.288
6,7
Sintomas
23
9,2
6.849
6,3
55.835
5,8
33.783
6,4
Osteomuscular
4
1,6
4.289
4,0
42.643
4,4
24.682
4,7
Moléstias Infecciosas
13
5,2
3.739
3,5
33.464
3,5
17.479
3,3
Endócrino
8
3,2
3.463
3,2
31.706
3,3
16.513
3,1
Sistema Nervoso
7
2,8
2.065
1,9
19.268
2,0
10.159
1,9
Fatores
3
1,2
1.593
1,5
14.228
1,5
8.502
1,6
Pele
1
0,4
1.615
1,5
12.069
1,3
6.991
1,3
Olhos e anexos
1.570
1,5
14.817
1,5
5.994
1,1
Perinatal
1.147
1,1
8.912
0,9
5.680
1,1
Mental
4
1,6
953
0,9
8.382
0,9
4.965
0,9
Congênitas
2
0,8
805
0,7
6.677
0,7
3.709
0,7
Sangue
1
0,4
722
0,7
5.349
0,6
2.758
0,5
Ouvido
508
0,5
5.443
0,6
2.663
0,5
Causas externas
849
0,8
1.985
0,2
721
0,1
Ignorado
284
0,3
1.271
0,1
190
0,0
249 100,0 108.125 100,0 959.813 100,0 528.492 100,0
Total
*referem-se ao 1º semestre de 2005
Os
registros
de
2002
foram
desconsiderados,
pela
sua
pequena
representatividade. Para detalhar a análise identificou-se o volume de saídas segundo
localização dos prestadores nas regionais da SES. Em relação às Neoplasias malignas,
observa-se grande volume de registros na DIR Capital e, entre as regionais da Grande
São Paulo, na regional de Santo André. Por isso foram analisados prestadores dessas
duas regionais.
30
Tabela 6 - Distribuição anual das saídas hospitalares de Neoplasias
Malignas (sem pele) segundo DIR-Hospital - Hospitais Privados - 2003
a 2005
DIR 01 - Capital
DIR 12 - Campinas
DIR 10 - Bauru
DIR 22 - São José do Rio Preto
DIR 23 - Sorocaba
DIR 02 - Santo André
DIR 19 - Santos
DIR 07 - Araraquara
DIR 21 - São José dos Campos
DIR 13 - Franca
DIR 14 - Marília
DIR 20 - São João da Boa Vista
DIR 09 - Barretos
DIR 03 - Mogi das Cruzes
DIR 11 - Botucatu
DIR 15 - Piracicaba
DIR 05 - Osasco
DIR 18 - Ribeirão Preto
DIR 16 - Presidente Prudente
DIR 08 - Assis
DIR 24 - Taubaté
DIR 06 - Araçatuba
DIR 04 - Franco da Rocha
Ignorado
DIR 17 - Registro
ANO SAIDA
2003
2004
2005
2.701 24.768 8.980
182
4.270
2.166
166
2.770
2.619
221
2.477
1.271
109
1.148
680
54
669
905
278
501
793
29
896
576
14
610
575
21
491
335
5
531
293
5
485
237
11
322
214
16
193
175
1
178
188
204
88
31
177
68
5
178
49
5
64
149
137
38
3
94
37
11
39
5
7
2
4
1
1
3
1
Total geral
3.872 41.213 20.445 65.530 100,00
DIR_HOSP
Total geral
36.449
6.618
5.555
3.969
1.937
1.628
1.572
1.501
1.199
847
829
727
547
384
367
292
276
232
218
175
134
55
9
6
4
55,62
10,10
8,48
6,06
2,96
2,48
2,40
2,29
1,83
1,29
1,27
1,11
0,83
0,59
0,56
0,45
0,42
0,35
0,33
0,27
0,20
0,08
0,01
0,01
0,01
No município de São Paulo (DIR-São Paulo) os prestadores com maior volume
de registros para neoplasias malignas e mais especificamente Câncer de mama estão
apresentados na tabela abaixo.
31
Tabela 7 - Distribuição anual das saídas hospitalares de Neoplasia Maligna de Mama (C50)
segundo estabelecimento - Hospitais Privados - DIR Capital - dez 2003 a jun 2005
Estabelecimento
HOSP A C CAMARGO-FUND ANTONIO PRUDENTE
HOSP ALVORADA
HOSP STA CATARINA
HOSPITAL SIRIO LIBANES
HOSP 9 DE JULHO
HOSPITAL OSWALDO CRUZ
HOSP SAO LUIZUNIDADE I
HOSP BENEFICENCIA PORTUGUESA SAO JOAQUIM
HOSP IGESP
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA CRUZ AZUL
INTERCLINICAS SERV MED HOSP LTDA
INST BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER-IBCC
HOSP PAULISTANO
HOSP NIPO BRASILEIRO
HOSPITAL SANTA HELENA
HOSP EDMUNDO VASCONCELOS
HOSP VASCO DA GAMA
HOSP BOSQUE DA SAUDE
HOSP BANDEIRANTES
HOSP METROPOLITANO
HOSP SAMARITANO
HOSP STA CRUZ
HOSP AVICCENA
HOSP MAT SAO CAMILO - POMPEIA
HOSP STA RITA
SAMHO - INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE LTDA
HOSP MAT ALVORADA STO AMARO
INST DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO
HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS
HOSP MAT SAO CAMILOSANTANA
HOSP E MAT NSA SRA DE LOURDES
HOSP DE ERMELINO MATARAZZO-DAY
SANTA MARINA HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE
PRO MATRE PAULISTA
HOSP MAT STA JOANA
HOSPITAL SAO LUCAS-SAO PAULO
Hospital Santa Cecília
INSTITUTO GERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EVANGELICA
IGASE
HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA
HOSP MAT SAO CRISTOVAO
SOCIEDADE PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIFESP
HOSP STA MARCELINA
HOSP ADVENTISTA DE SAO PAULO
HOSP MAT SAO CAMILO - IPIRANGA
MEDIAL SAUDE S/A
SANTA CASA DE SAO PAULO
HOSPITAL SBC
INTERMEDICA - SISTEMA DE SAUDE LIMITADA
HOSP NSRA DE LOURDES
HOSP DA PENHA
COMPLEXO HOSPITALAR PAULISTA
HOSP MAT STA MARTA
HOSP NSRA DO PARI
HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA
HOSP STA PAULA
HOSP PRESIDENTE
HOSP ALBERT EINSTEIN
HOSP MAT 8 DE MAIO
HOSP MAT VOLUNTARIOS
Total geral
2003
27
13
12
35
13
ANO SAIDA
2004
850
918
202
214
201
217
113
105
97
2005
176
75
131
94
98
77
82
42
19
1.026
993
360
321
311
294
230
147
129
18,30
17,71
6,42
5,72
5,55
5,24
4,10
2,62
2,30
8
11
1
6
4
4
14
8
10
15
45
19
13
4
10
14
2
2
3
1
2
18
-
87
96
101
83
75
70
52
63
63
56
40
34
38
8
28
9
21
18
31
16
23
19
6
9
15
10
11
30
14
17
32
19
17
33
21
7
25
25
23
8
3
18
13
7
6
3
14
9
4
7
5
125
121
118
115
95
93
89
88
84
81
73
67
61
53
50
40
38
35
31
30
29
24
22
21
20
19
18
16
2,23
2,16
2,10
2,05
1,69
1,66
1,59
1,57
1,50
1,44
1,30
1,19
1,09
0,95
0,89
0,71
0,68
0,62
0,55
0,53
0,52
0,43
0,39
0,37
0,36
0,34
0,32
0,29
11
1
1
4
9
8
4
4
15
14
13
0,27
0,25
0,23
2
1
6
3
3
1
1
-
6
7
6
2
5
1
5
2
1
3
1
4
3
2
2
2
1
1
4
2
3
6
2
1
2
3
1
3
1
-
12
10
9
8
8
7
7
6
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
1
0,21
0,18
0,16
0,14
0,14
0,12
0,12
0,11
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
344
4.074
1.190
5.608
100,00
Total geral
32
Para a DIR de Santo André, observou-se que o hospital com maior volume de
registros de neoplasias malignas apresentava também maior proporção de casos de
Câncer de Mama. Vale ressaltar que o volume de casos é bem inferior ao identificado
no município de São Paulo (Tabela 8).
Tabela 8 - Distribuição anual das saídas hospitalares de Neoplasia Maligna de Mama (C50) segundo
estabelecimento - Hospitais Privados - DIR Santo André - dez 2003 a jun 2005
Estabelecimento
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL
HOSPITAL SAO BERNARDO S/A
HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA
HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE SANTO ANDRE
HOSPITAL SAUDE SÃO BERNARDO
HOSPITAL E MATERNIDADE ASSUNCAO
HOSPITAL BARTIRA
HOSPITAL CORACAO DE JESUS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA
HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE SAO BERNARDO
HOSPITAL ABC AMICO
HOSPITAL RIBEIRAO PIRES LTDA
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENCIA PORTUGUESA
HOSPITAL SAO CAETANO
HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRAL SAO CAETANO DE SUL
Total geral
2003
1
1
ANO SAIDA
2004
36
9
10
9
4
1
2
2
1
2
1
1
1
79
2005
41
18
17
14
6
6
4
5
3
1
115
Total geral
77
28
27
23
10
7
6
5
3
2
2
2
1
1
1
195
39,49
14,36
13,85
11,79
5,13
3,59
3,08
2,56
1,54
1,03
1,03
1,03
0,51
0,51
0,51
100,00
O cruzamento das informações da base de óbitos com os dados do Boletim CIH
permitiu selecionar prestadores privados com maior demanda de neoplasias malignas,
em especial de câncer de mama e leucemias e linfomas, de forma a caracterizar melhor
aqueles prestadores privados com grande demanda oncológica no setor supletivo na
região metropolitana de São Paulo.
A escolha dos hospitais seguiu critério de importância, facilidade operacional e
representatividade frente às fontes de financiamento. Seguindo esta distribuição,
solicitamos prontuários para serem analisados nas organizações: Hospital Beneficência
Portuguesa, Hospital A.C Camargo, Hospital 9 de Julho, Hospital Alvorada, Hospital e
Maternidade São Camilo – Pompéia, Hospital Paulistano, Hospital Santa Catarina e
Hospital Sírio Libanês no município de São Paulo e Hospital Brasil em Santo André. O
hospital Beneficência Portuguesa não conseguiu levantar os prontuários em tempo
hábil, de forma que foi excluído da investigação. O Hospital A.C Camargo exigiu
passagem pela Comissão de Ética do próprio hospital, não aceitando a aprovação obtida
junto à Comissão de Ética em Pesquisa do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital
Sírio Libanes em julho de 2006, como os demais prestadores. Não houve tempo hábil
para cumprir essa exigência, impossibilitando o levantamento para a presente
investigação. Em todos demais prestadores foi exigida, para permitir a consulta aos
prontuários, a aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa. Os hospitais foram
33
formalmente contatados e esclarecidos por telefone sobre os propósitos da pesquisa e
não houve recusa em submeter os prontuários à análise. No entanto, alguns demoraram
mais de um mês para colocar os prontuários selecionados à disposição da equipe de
pesquisadores, justificando a demora pelo custo do envio dos prontuários das empresas
terceirizadas que os armazenam. Além disso, o espaço físico para consulta, mesmo que
para apenas duas pessoas foi outra dificuldade, uma vez que os serviços de arquivo
médico eram, na maior parte dos hospitais, locais com pouco espaço para receberem
pesquisadores.
Com as unidades hospitalares definidas, foi iniciado o processo de seleção de
quais prontuários seriam analisados. Desta forma, foi selecionada amostra aleatória dos
pacientes e respectivas passagens no período entre dezembro de 2003 e junho de 2005
nos hospitais citados. Foram encaminhados os pedidos para análise dos prontuários e as
respostas obtidas de cada hospital foram as seguintes:
Tabela 9 - Distribuiçao dos prontuários selecionados segundo
estabelecimento e situação no levantamento - dez 2003 a jun 2005
Estabelecimento
HOSPITAL SIRIO LIBANES
HOSP 9 DE JULHO
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL
HOSP ALVORADA
HOSP STA CATARINA
HOSP PAULISTANO
HOSP MAT SAO CAMILO - POMPEIA
Total - %
Analisados
Não
disponíveis
Excluídos
Total
solicitados
159
45
33
27
24
23
20
66
2
0
15
1
2
0
0
2
0
7
0
0
5
225
49
33
49
25
25
25
331
76,8
86
20,0
14
3,2
431
100,0
Os prontuários excluídos foram analisados, mas por não se enquadrarem na
definição de caso, não foram incluídos no estudo. Os prontuários não disponíveis não
foram encontrados nas instituições por dificuldades operacionais dos prestadores no
arquivamento dos prontuários.
A pesquisa dos prontuários foi realizada entre os meses de novembro de 2006 e
janeiro de 2007, com aplicação de formulário estruturado para os 331 prontuários
incluídos no estudo. A partir das pesquisas dos prontuários foram identificados fonte de
financiamento dos casos e referendados os profissionais médicos envolvidos no
34
atendimento, com vistas a posterior seleção para entrevista. Também foi possível
identificar os endereços e telefones atualizados dos pacientes para viabilizar a realização
das entrevistas.
Formulários Semi-estruturados
Foram confeccionados quatro tipos de formulários para coleta de dados do
itinerário terapêutico nos casos de Câncer de Mama e Leucemias e Linfomas: coleta de
dados do prontuário; entrevista com o médico assistente; entrevista com a operadora; e
para entrevista com o paciente.
a) Prontuários Hospitalares (ANEXO 1)
O formulário para coleta de dados do prontuário baseou-se na revisão dos
critérios extraídos das principais diretrizes nacionais e internacionais para manejo dos
pacientes com Câncer de mama e Leucemias e Linfomas, assim como identificar o
perfil clínico dos pacientes atendidos com esse diagnóstico.
a) Identificação do paciente: nome, número do prontuário, data de internação,
data da saída, tipo de saída, idade, sexo, nome da operadora, tipo de plano, nome
do hospital, endereço e telefone do paciente, nome do médico assistente, número
do CRM, endereço e telefone do médico.
b) Procedimentos diagnósticos: data do início dos sintomas, descrição de
sintomas, data do diagnóstico.
c) Antecedentes pessoais: existência de: tabagismo, hipertensão arterial, diabetes
mellitus e existência de câncer na família e o tipo. Em mulheres: idade da
menarca, número de gestações e partos.
d) Procedimentos diagnósticos: Aspectos do tumor quanto ao tamanho,
localização, sinais de invasão, metástase, outros a especificar. Descrição de
exames, datas e resultados de hemograma, exame radiológico simples,
ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, biópsia, cintilografia, outro
exame a especificar, estadiamento clínico, imunohistoquimico, biópsia de
congelação, exame anátomo patológico da peça cirúrgica, classificação TNM da
anatomia patológica
35
e) Procedimentos terapêuticos: data e tipo da cirurgia curativa, cirurgia paliativa,
cirurgia reparadora, outra cirurgia a especificar. Procedimento Oncológico
Clínico, período e tipo da quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, outro
tipo de terapia a especificar.
f) Evolução: existência de: complicações cirúrgicas, infecção hospitalar, óbito na
internação por procedimento cirúrgico, outro a especificar.
g) Situação dois anos após o diagnóstico: especificando data da recidiva ou
metástase, se o paciente está vivo (com ou sem câncer), se morto (por câncer ou
não).
b) Prestadores Médicos (Anexo 2)
Selecionaram-se os profissionais que prestaram atendimento aos pacientes
selecionados com Câncer de Mama e Leucemias e Linfomas. O formulário para coleta
de dados por entrevistas com médicos foi baseado no fluxo e na gestão do sistema de
saúde privada. Levou-se em consideração o manejo esperado para essas afecções,
procurando identificar as dificuldades em conseguir autorizações das operadoras,
conforme o detalhamento a seguir:
a) Identificação do entrevistado: nome, número do CRM, e-mail, idade, tempo de
formado, especialidade, título de especialista, locais de trabalho.
b) Informações gerais do relacionamento médico – operadoras: menção dos
convênios pelos quais o consultório do médico é credenciado, se realiza
procedimentos para a operadora, para quais operadoras e quais procedimentos.
c) Macrofluxo do usuário: descrição pelo médico do fluxo mais freqüente em
Câncer de mama e/ou Leucemias e Linfomas (investigação e/ ou condução
clínica) para cada operadora com que trabalha e descrição das principais
diferenças entre essas operadoras no que refere aos macrofluxos descritos.
d) Acesso ao atendimento eletivo e urgência: rotinas estabelecidas para
agendamento das consultas ambulatoriais e de emergência e se existem regras
impostas pelas operadoras; se a operadora estabelece regras em relação à
produtividade (número de consultas por determinado período).
36
e) Dificuldades recentes na urgência: nos últimos seis meses, caso tenha se
defrontado com uma situação de urgência oncológica, se encontrou dificuldade
para encaminhar o paciente para internação.
f) Controle sobre solicitação de procedimentos diagnósticos e terapêuticos
g) Continuidade
do
cuidado:
procura
caracterizar
dificuldades
de
encaminhamento dos pacientes para quimioterapia, radioterapia, fisioterapia,
psicologia, nutricionista ou outro profissional envolvido no processo terapêutico.
Se o encaminhamento de pacientes para médicos de outras especialidades requer
alguma autorização da operadora.
h) Existência de programas de acompanhamento para grupos específicos/de
risco (Exemplo acompanhamento pós cirúrgico - reabilitação).
i) Conflitos envolvendo os vários atores do mercado: médico e paciente; médico
e hospital; médico e operadora; paciente e operadora; hospital e operadora.
Foram identificados e selecionados para serem entrevistados 8 médicos
mastologistas e/ou oncologistas. O critério de escolha foi volume e diversidade de
operadoras identificadas na análise dos prontuários. Todos foram contatados, mas além
da dificuldade de agenda, cinco deles se recusaram a participar de entrevista. Foi
possível realizar entrevistas com apenas três médicos mastologistas ou oncologistas.
c) Operadoras (Anexo 3)
O formulário para coleta de dados por entrevistas com gestores das operadoras
foi elaborado para identificar o fluxo da atenção para oncologia, em especial para
Câncer de Mama e/ou Leucemias e Linfomas, quais os mecanismos de gestão do
sistema para esse grupo de pacientes e prestadores. Levou-se em consideração exame e
tratamento específico e se inquiriu sobre o modo ou critério de autorização e o tempo de
resposta das operadoras perante as solicitações dos prestadores.
a) Identificação da operadora: nome, cidade, estado, classificação da operadora,
nome do interlocutor, cargo do interlocutor, telefone, e-mail.
b) Características gerais da operadora e de seu relacionamento com o usuário:
existência de sistema de informação e sua descrição; existência de mecanismos
de comunicação entre a operadora e o beneficiário e sua descrição.
37
c) Regras de acesso e de utilização para gerenciar procedimentos diagnósticos e
terapêuticos em oncologia: referenciamento (critérios para referenciar os
beneficiários para os prestadores em Oncologia); instrumentos utilizados pela
operadora para informar como os beneficiários devem proceder nos
atendimentos de consultas, realização de exames, internações e urgência/
emergência; regras para acesso do beneficiário à autorização para realização de
realização do exame laboratorial de análises clínicas específica, radiológico
específico, ultrassonográfico específico (por ex: biópsia de próstata guiado por
USG), de tomografia computadorizada, ressonância magnética, endoscopia,
cirurgia paliativa ou curativa, cirurgia reparadora (por ex. colocação de prótese
de mama, fechamento de colostomia), de quimioterapia e radioterapia; regras em
situações de urgência e emergência oncológica.
d) Programas de gestão assistencial: existência e organização, na operadora, de
programas de acompanhamento de grupos de doença oncológica (case
management); protocolos clínicos para orientar ou definir conduta clinica, tipo e
número de procedimentos, fluxo ou referenciamento do beneficiário, outro a
especificar.
e) Divergências
com
prestadores:
descrição
de
divergências
(médicas,
administrativas e/ ou financeiras) entre a operadora e os serviços de saúde, em
relação aos procedimentos realizados; descrição de divergências (médicas,
administrativas e/ ou financeiras) entre a operadora e os médicos, em relação aos
procedimentos realizados; premiação por baixa utilização (médicos e pacientes).
f) Modelo de gerenciamento do cuidado: existência de mecanismo de
identificação e controle do beneficiário atendido em serviços de emergência
cardiológica, visando ao seu acompanhamento futuro; acompanhamento para
grupos especiais visando práticas de promoção/ prevenção à saúde em para
determinados grupos de maior risco; outros benefícios oferecidos pela operadora
além da cobertura mínima obrigatória pela Lei 9656; programa de benefício
farmacêutico.
g) Política da operadora para regular a qualidade dos serviços prestados:
promoção da saúde; junto aos médicos que solicitam mais exames que a média,
novos procedimentos diagnósticos e terapêuticos.
38
d) Pacientes (Anexo 4)
Os formulários para coleta de dados por entrevistas com pacientes foram
baseados no itinerário terapêutico tradicional. Procurou-se saber se o paciente teve
dificuldade em ter autorizado e realizado o exame ou tratamento para a sua doença
específica.
a) Identificação do paciente/familiar: nome, idade, sexo, operadora, tipo de
plano, data de início da cobertura, serviço de saúde, quem respondeu a pesquisa
e seu grau de parentesco.
b) Procedimentos diagnósticos: data de início dos sintomas, tipo de sintomas, data
do diagnóstico.
c) Antecedentes pessoais: presença de tabagismo, hipertensão arterial, diabetes
mellitus, antecedente de câncer na família.
d) Fluxo de atendimento e seguimento: motivo de procura, se trocou de médico e
por que; avaliação do atendimento prestado pela operadora.
e) Atuação dos profissionais: responsável(is) pelo cuidado; quem cuida
atualmente e como cuida.
f) Avaliação dos atendimentos realizados: pontos positivos, problemas de
acesso, segurança técnica. Satisfação com o atendimento dado pela operadora e
presença de problemas para realizar algum procedimento solicitado, qual
problema e em qual procedimento.
39
Resultados
Análise dos Prontuários de pacientes com diagnóstico de Câncer de Mama e
Leucemis e Linfomas
Foram pesquisados prontuários do Hospital Sírio Libanês, Hospital Alvorada,
Hospital Santa Catarina, Hospital São Camilo Pompéia, Hospital Paulistano e Hospital e
Maternidade Brasil de Santo André. A lista de hospitais e dos prontuários foi elaborada
a partir das bases de dados secundárias – Base de óbitos e CIH do Estado de São Paulo.
O conhecimento dos diretores dos hospitais pelos profissionais do GV Saúde facilitou o
acesso aos prontuários. Alguns hospitais submeteram a solicitação à apreciação da sua
área jurídica, o que em geral dificultou o acesso, impondo demora para liberação dos
prontuários para consulta.
Em relação aos achados indiretos sobre a qualidade do conteúdo e dos registros
dos prontuários, pode-se observar que: os prontuários foram solicitados, organizados
por data de internação, sendo disponibilizada apenas a internação referida. O Hospital
Sírio Libanês foi o único que apresentou para consulta todas as internações ocorridas do
mesmo paciente até o dia da pesquisa, o que possibilitou identificar óbitos ocorridos
após o diagnóstico e seguimento dos pacientes.
Na maioria dos hospitais a organização do prontuário esteve adequada, em geral
organizada por documento e data. Apenas em um hospital o prontuário pode ser
considerado mal organizado. Todos os hospitais pesquisados adotam formulários padrão
para cada documento exigido do prontuário, por ex: folha de admissão, prescrição,
evolução, solicitação de exames, descrição de cirurgia. Esses documentos são
freqüentemente diferenciados por setor (Unidades de Terapia Intensiva (UTI)) e por
profissional (médico, enfermeiro, fisioterapeuta). Os setores que apresentavam
prescrição e evolução realizadas no computador tinham maior legibilidade, facilitando a
leitura e obtenção de dados relevantes. Em geral, isto ocorreu nas UTIs de alguns
hospitais. Muitos prontuários continham apenas a história das complicações do
momento ou o relato do procedimento que motivou a internação em estudo, o que não
permitiu uma visão completa do itinerário terapêutico do paciente. Em alguns
prontuários foi possível verificar que o paciente trocou de médico, de operadora e ou de
hospital, mas raramente o motivo desta ocorrência estava descrito. Muitas vezes não foi
encontrado o relatório dos exames solicitados, trazidos pelo paciente ou entregues a ele,
nem a transcrição destes no prontuário. Com relação aos hábitos e fatores de risco
40
envolvidos na doença do paciente, raramente foram descritos pelos médicos. Na maioria
dos hospitais, este dado estava registrado na entrevista da enfermagem, mas pelo tipo de
anotação restou a dúvida quanto a se, na ausência do registro, tinha sido ou não
perguntado ao paciente.
Nos 331 prontuários analisados, a idade média dos pacientes observada foi de 53
anos. A distribuição dos casos segundo diagnóstico está apresentada na tabela 10.
Foram estudados 264 casos de Câncer de Mama, 37 prontuários de pacientes com
Linfoma não Hodgkin e 29 com Leucemia linfóide. Entre os prontuários analisados
40% são de pacientes cobertos por seguradoras, 25% por medicina de grupo, 18%
particulares, 11% auto-gestão e 7% cooperativas conforme demonstrado na tabela 11.
Tabela 10 - Distribuição dos prontuários de neoplasia segundo
principal e sexo - dez 2003 a jun 2005
SEXO
Descrição diagnóstico principal
Feminino Masculino
Neoplasia maligna da mama
260
4
Linfoma não-Hodgkin
12
25
Leucemia linfóide
12
17
Neoplasia maligna secundária dos órgãos
respiratórios e digestivos
1
Total geral
285
46
diagnóstico
Total
Nº
264
37
29
geral
%
79,8
11,2
8,8
1
331
0,3
100,0
Tabela 11 - Distribuição dos prontuários analisados
segundo tipo de operadora e período de atendimento
do paciente
ANO SAIDA
Tipo de Operadora dez/03
Seguradora
3
Medicina de grupo
3
Particular
1
Autogestão
1
Cooperativas
2
Total geral
10
Total geral
2004
1º sem
2005
nº
%
79
58
37
25
13
212
50
20
23
9
7
109
132
81
61
35
22
331
39,9
24,5
18,4
10,6
6,6
100,0
A composição etária dos pacientes selecionados foi diferente entre as
operadoras, como pode ser visto no gráfico 1 abaixo. Os casos cobertos por
seguradoras, medicinas de grupo e particulares estiveram concentrados na faixa de 45 a
59 anos. Vale ressaltar que na medicina de grupo a faixa de 30 a 44 anos contribui com
41
parcela significativa de casos. Considerando que nessa amostra predominam os casos de
câncer de mama, esses dados apontam para a necessidade de aprimoramento na
prevenção secundária dos casos de câncer de mama.
60
Gráfico 1 - Distribuição dos casos com prontuários analisados com diagnóstico de Câncer
de mama e leucemias e linfomas segundo faixa etária e tipo de operadora - dez 2003 a jun
2005
< 15 anos
15 a 29 anos
50
30 a 44 anos
Número de casos
45 a 59 anos
40
60 a 74 anos
> ou = 75 anos
30
20
10
0
Seguradora
Medicina de grupo
Particular
Autogestão
Cooperativas
Tipo de operadora
Em relação ao tempo de permanência, os casos de câncer de mama apresentaram
média de 4,7 dias, com desvio padrão de 11,1 dias, evidenciando portanto grande
variabilidade. Entre as operadoras, as que demonstraram maior média de dias de
permanência, nesses casos, foram as seguradoras, seguidas do particular (out of pocket),
como pode ser visto na tabela abaixo.
Tabela 12 - Distribuição dos casos e da média e desvio padrão dos dias de
permanência de Câncer de mama segundo tipo de operadora - dez 2003 a jun
2005
Tipo de Operadora
Seguradora
Medicina de grupo
Autogestão
Cooperativas
Particular
Total
Prontuários
108
56
61
20
19
264
Média dos dias de
permanência
Desvio padrão dos dias de
permanência
5,8
3,1
2,9
3,3
5,1
4,7
15,8
3,9
3,8
4,5
8,4
11,1
Para os casos de Leucemia linfóide, o tempo de permanência médio foi bem
maior, de 12,7 dias com desvio-padrão de 21,6 dias. No casos de Linfoma, média de 7,1
dias e variação de 8,9.
42
Os casos de câncer do sistema linfático e hematopoiético consumiram muitos
dias de permanência, o que deve estar relacionado com altos custos hospitalares. Mesmo
para os casos de câncer de mama, o tempo de permanência de 5 dias é alto considerando
o fato de em geral as internações se deverem a procedimentos cirúrgicos eletivos, para
os quais preconiza-se 3 a 4 dias no máximo de permanência hospitalar. Outro aspecto a
ser analisado é a grande variabilidade observada, o que evidencia falta de padronização
nos processos assistenciais.
Tabela 13 - Distribuição dos casos e da média e desvio padrão dos dias de
permanência de Leucemias segundo tipo de operadora - dez 2003 a jun 2005
Tipo de Operadora
Seguradora
Medicina de grupo
Autogestão
Cooperativas
Total
Prontuários
10
9
9
1
29
Média dos dias de
permanência
Desvio padrão dos dias de
permanência
17,1
15,6
6,3
32,9
15,9
5,1
-
-
12,7
21,6
Tabela 14 - Distribuição dos casos e da média e desvio padrão dos dias de
permanência de Linfomas segundo tipo de operadora - dez 2003 a jun 2005
Tipo de Operadora
Seguradora
Medicina de grupo
Autogestão
Cooperativas
Total
Prontuários
14
16
6
2
38
Média dos dias de
permanência
Desvio padrão dos dias de
permanência
11,4
5,0
4,7
1,5
7,1
10,9
7,3
7,0
0,7
8,9
Do ponto de vista da assistência (tabela 15) pode-se detectar que, dos 331
pacientes estudados, foi possível identificar informação sobre quadro clínico inicial em
17% dos casos. Além de rara a informação sobre a indicação da internação, constatou-se
que dados sobre menarca, número de gestações (59 casos), paridade (63 casos) e
amamentação são eventuais. A data dos sintomas esteve registrada em 40 casos e a data
do diagnóstico em 28.
A informação de tabagismo está presente em apenas 47% dos casos, sendo de
15% a prevalência de tabagismo nesse grupo de pacientes para os quais há registro de
que se perguntou a respeito. Em relação ao registro de comorbidades, só foi possível
recuperar informação de hipertensão em aproximadamente 54% dos casos e de diabetes
43
em 48% dos prontuários analisados. O achado de pior qualidade na história clínica foi o
registro de história de câncer na família, identificado em apenas 9% dos prontuários.
Nos casos de câncer, a história clínica com registro muito pobre e não conforme com as
exigências de boas práticas clínicas denota desvalorização por parte dos profissionais e
dos prestadores a respeito da qualidade do registro clínico.
Quanto aos procedimentos diagnósticos, aquilo que está considerado como não
realizado pode ser decorrente de falha nos registros clínicos ou na forma de
armazenamento dos exames, especialmente nos caso dos laudos de biópsias (anátomopatológicos). As amostras podem ser analisadas em vários laboratórios e não existe de
forma padronizada exigência de armazenamento dentro do prontuário do laudo. Muitas
vezes não foi encontrado o relatório dos exames solicitados, trazidos ou entregues ao
paciente, nem a transcrição destes pelos médicos ou enfermagem no prontuário.
Foi possível recuperar a localização do tumor em 71% dos casos, porém só em
36 casos pôde ser recuperada a descrição do tamanho do tumor. Nos casos de leucemias
e linfomas seria esperada a presença do resultado do hemograma, o que foi observado
em 15% dos prontuários. Nos 264 casos de câncer de mama, a análise
imunohistoquimica, considerada essencial para a definição do esquema de tratamento,
foi observada em apenas nos 14% dos registros analisados. O registro do estadiamento
só foi localizado em 1 caso. A inadequação dos registros reflete a falta de compromisso
com o acompanhamento do caso nos hospitais e na rede de serviços. O paciente, como é
seguido em vários serviços, poderá ter as informações registradas mais precisamente no
prontuário do consultório do seu médico, se existir esta possibilidade, mas não está
disponível para o restante da equipe assistencial.
Nos procedimentos terapêuticos ressalta-se que entre os 264 casos de câncer de
mama, 236 (89%) foram submetidos a procedimentos cirúrgicos de caráter curativo. Na
tabela 16 está apresentada a distribuição dos procedimentos cirúrgicos segundo tipo de
procedimento realizado. 51% dos casos foram submetidos a Mastectomia com
linfadenectomia e 42% a cirurgias conservadoras. Foi registrada biopsia de congelação
em 18% dos casos e laudo de anátomo-patológico de peça cirúrgica em 33% dos
prontuários. Vale ressaltar que o baixo índice de registro desse tipo de procedimento
pode ser decorrente da participação de serviços de terceiros na realização desses exames
para os prestadores hospitalares e a falta de obrigação de armazenamento dos resultados
nos prontuários.
44
A cirurgia reparadora – reconstrução mamária só foi realizada em 35% dos
casos, em geral logo após a mastectomia, isto é no mesmo dia cirúrgico. Esse achado
reforça a identificação de fragmentação na assistência e inadequação em relação a boas
práticas, tendo como base as diretrizes clínicas que preconizam as cirurgias curativa e
reparadora no mesmo tempo cirúrgico, em especial considerando que 51% dos casos foi
submetida a mastectomia. A quimioterapia foi utilizada em 42% dos casos. Desses,
apenas em 77 dos casos foi possível recuperar o esquema de tratamento proposto. A
radioterapia foi realizada em 19% dos casos.
O registro de complicações foi recuperado em 92% dos casos que sofreram
procedimentos cirúrgicos (236), sendo que 4% tiveram complicações desta natureza.
Em 82% dos casos havia registros que permitiram identificar 6% de casos com infecção
hospitalar.
A maioria dos pacientes teve alta, porém 32 casos foram a óbito (12 em
internações posteriores ao diagnóstico), correspondendo a 10% de letalidade na
casuística estudada (tabela 15).
45
Tabela 15 - Distribuição dos prontuários de Câncer de Mama,
Leucemias e Linfomas segundo variáveis selecionadas - dez 2003 a
jun 2005
264 prontuários de Câncer de Mama e 67 Leucemias e
Linfomas
Achado de mamografia
Nódulo ou tumor na mama
Sintomas
Outros sintomas
Sem registro no protnuário
Tabagismo
Sim
Não
Sem registro no protnuário
Hipertensão
Sim
Não
Sem registro no protnuário
Diabetes
Sim
Não
Sem registro no protnuário
Histórico familiar de câncer
Sim
Não
Sem registro no protnuário
Sim
Não
Sim
Localização
Não
Sim
Hemograma
Não
Sim
Imunohistoquimica
Não
Sim
Cirurgia Curativa
Não
Sim
Realizaçao de Biopsia de
Não
congelação
Anatomo Patológico de peça
Sim
Não
cirúrgica
Sim
Cirurgia Reparadora - Plástica
Não
Sim
Quimioterapia
Não
Sim
Radioterapia
Não
Sim
Complicações cirúrgicas
Não
Sem registro no protnuário
Tamanho do Tumor
Infecção hospitalar
Sim
Não
Sem registro no protnuário
Evolução
Óbito
Alta
Transferências
Total
%
8
2,4
19
5,7
30
9,1
228
68,9
51
15,4
104
31,4
176
53,2
65
19,6
112
33,8
154
46,5
23
6,9
135
40,8
173
52,3
24
7,3
5
1,5
302
91,2
36
13,6
228
86,4
234
70,7
97
29,3
10
14,9
57
85,1
38
14,4
226
85,6
236
89,4
28
10,6
42
17,8
194
82,2
77
32,6
159
67,4
91
34,5
173
65,5
140
42,3
191
57,7
63
19,0
268
81,0
9
3,8
209
88,6
18
7,6
19
5,7
273
82,5
39
11,8
32
9,7
298
90,0
1
0,3
nº
46
Tabela 16 - Distribuição dos prontuários de Câncer de Mama segundo tipo
de procedimento cirúrgico - dez 2003 a jun 2005
Descrição procedimento cirurgia de mama
Mastectomia + Linfonodos com ou sem reconstrução no mesmo
tempo (Adenomastectomia bilateral + gânglio sentinela ou
Mastectomia radical ou Mastectomia Pattey ou Mastectomia e
esvaziamento gangionar)
Quadrantectomia / Ressecção Segmentar / Setorectomia com
ou sem linfadenectomia
Exerese de tumor
Outros procedimentos
Total
Nº
%
120
50,8
100
8
8
236
42,4
3,4
3,4
100,0
Análise das entrevistas com os médicos mastologistas e oncologistas
Foram entrevistados três (03) médicos oncologistas com formação em:
- mastologia
- oncologia e imunologia
- cirurgia torácica e endoscopia respiratória
O tempo de formado variou de 15 a 25 anos, e todos tinham títulos de
especialista. Quanto maior o tempo de formado há uma maior seleção nos convênios
pelos quais são credenciados. Existe tentativa de maior independência em relação aos
convênios, mas que parece difícil. Mesmo assim, mantêm no consultório convênios com
diversas operadoras para seus assistentes atenderem.
Em um consultório foi feita opção de suspender atendimento para pacientes cuja
assistência era remunerada por operadoras há um ano. O profissional considera que
financeiramente é mais interessante, pois percebeu que os médicos que não atendem
convênio recebem mais pelo valor do reembolso do que o médico conveniado. Ainda
faz desconto para os pacientes que têm qualquer tipo de convênio, cobrando metade do
valor da consulta. Apesar da decisão, percebe-se estreita relação econômica, frente ao
depoimento de que houve queda no numero de atendimentos.
Operadoras disponíveis nos consultórios:
- Omint, Lincxs, Notredame, Classes Laboriosas;
- Sul América, Bradesco (planos individuais antigos), Porto Seguro, Marítima, AGF,
Unibanco, Internacional (dinamarquesa), Hospitaú;
47
- Unimed Paulistana, Unimed Central Nacional, Unimed Fortaleza;
- Cabesp, Cesp, Metrus, Vale do Rio Doce, Afresp, Cet, Petrobras, Associação Nove de
Julho, São Luiz;
- Green Line, Golden Cross, Mediservice, Careplus, Hospital Adventista.
Todos parecem ter uma relação medico paciente muito “humanizada”. Referem
se preocupar com a qualidade de vida do paciente, com as dificuldades com acesso e
com a agilidade e qualidade do tratamento.
Não sentem cerceamento por parte das operadoras em relação ao atendimento de
consultas. Em geral, podem agendar a quantidade que quiserem, nos horários de
atendimento mais convenientes. Já sabem quais exames e procedimentos necessitam de
relatórios, então já os providenciam com antecedência para não atrasar o tratamento.
Em geral, queixam-se da demora na autorização para realização de exames de
mais alto custo, como ressonância magnética ou PET CT. Referem que algumas
operadoras (Cassi) não autorizam sistematicamente a realização de alguns exames como
Ressonância Magnética de Mamas para estadiamento loco-regional, para doenças nem
com relatório médico. Um dos médicos já formalizou solicitação à ANS para incluir a
ressonância entre os procedimentos autorizados, mas ainda não houve resposta. Nos
casos de repetição de exames sempre há questionamento e discussão por parte da Green
Line e da Cassi. Um médico considera a Cassi como particularmente exigente neste
quesito. Informam orientar os pacientes a brigarem por seus direitos. Um dos
profissionais indica uma advogada especializada em ações de usuários contra
operadoras para auxiliar os pacientes.
Em geral há muita perda de tempo para realização de exames diagnóstico via
ambulatorial, então os médicos optam por internar os pacientes nos casos mais graves
para agilizar o diagnóstico, por exemplo, nos pacientes da Sul América. Na internação
sem interferência do convênio, em geral, diminui para 1/3 o tempo em conseguir o
realizar o diagnóstico.
Há unanimidade quanto ao fato que a Omint e a Lincxs são duas operadoras que
não oferecem problemas. As auto-gestões também não apresentam grandes problemas,
porque se preocupam com seus associados que fazem parte de populações fechadas.
Para todos os convênios há necessidade de se realizar relatório para qualquer
exame de custo mais elevado. Alguns convênios solicitam anexar exames laboratoriais
ou de anátomo-patologico para justificar realização de algum procedimento, como
48
colocação de portocath ou internação para transfusão de algum imunocomponente ou
hemocomponente. Cirurgias precisam também do mesmo processo. Algumas
operadoras menores como a Green Line chegam a fazer o paciente passar por um
medico auditor para avaliar os exames e o paciente para verificar a indicação cirúrgica.
Em alguns casos, além de realizar relatório por escrito e anexar exames, há
necessidade de discussão do caso com o auditor médico. Por vezes, houve queixas de
que o auditor não é um especialista no assunto e precisa de uma série de explicações
extras e tem dificuldade em ser convencido. Após tudo isso, é necessário aguardar a
resposta da autorização para efetuar o procedimento. No caso de implantação de
portocath pela Cassi é necessário realizar o pedido com 7 dias de antecedência. Nos
casos de pacientes mais graves, optam por recorrer à colaboração de conhecimentos
internos em hospitais mais conhecidos para burlar a burocracia e agilizar o
procedimento. Fazem baseados em relações informais, pois há o risco do convênio
glosar o procedimento.
Existem muitas reclamações com os códigos AMB que não contemplam
diversos procedimentos ou tratamentos quimioterápicos ou imunoterápicos. Quando não
estão no código, dificilmente há perspectiva do convênio autorizar. Quando estão, mas a
ANS não autorizou, também existem dificuldades. É um meio de que se cerca o
convênio para evitar pagamentos de alto custo. Parece que sempre ocorrem as
divergências entre o que foi feito e o que a operadora quer pagar. Ou o convênio não
aceita o que foi relatado na descrição da cirurgia e quer pagar apenas uma parte, ou diz
que o que foi feito está tudo incluído em código diferente (pagamento menor) ou diz
que o procedimento a ser realizado não é o que o médico está alegando e pretende pagar
a menor.
Nos casos de realização de cirurgia curativa ou paliativa é necessário pedido
para autorização utilizando relatório simples. Omint e Lincxs não demoram para
autorizar. As outras pedem relatórios detalhados e depois novos relatórios e muitas
vezes há necessidade de se reagendar a cirurgia.
No caso dos tratamentos quimioterápicos e imunoterápicos realizados nas
clinicas a dificuldade maior é para autorização desses procedimentos principalmente nos
casos em que o paciente possui algum tipo de câncer mais agressivo ou mais raro, para
o qual não existem estudos mais detalhados. Demoram muito para autorizar ou
simplesmente não autorizam. Em geral, a maioria das operadoras possui protocolos de
tratamento quimioterápico, sendo que a maioria com medicamentos genéricos. Para a
49
maioria dos pacientes em tratamento, este tipo de quimioterapia é adequado, porém
naquela faixa de pacientes mais graves e /ou raros, ele não é contemplado, sendo
necessária perda de tempo e muitas vezes de vidas. Todos os tratamentos
quimioterápicos precisam de relatório médico detalhado e de estudos de fase 3
detalhados, randomizados, correspondentes ao diagnóstico do paciente, anexados ao
relatório. Só aceitam relatórios por escrito e não aceitam discussão com auditores
verbalmente para justificar o procedimento. A Unimed Paulistana interfere sempre e
prefere que ao pacientes sejam encaminhados para sua central de quimioterapia. Com a
Unimed Central Nacional quase não ocorrem problemas porque o paciente vem de outro
estado e tem maior força. Classes Laboriosas, Sul América e Unimed Paulistana só
autorizam quimioterapia genérica. Segundo os médicos, não se importam com a
qualidade e com os protocolos terapêuticos, mesmo baseados em evidencia.
Algumas operadoras seguem protocolos em relação a quimioterapias em geral,
quando o paciente tem algum tipo de tumor raro aparecem problemas, porque a
quimioterapia é mais onerosa e os planos de saúde não autorizam. Em geral, quando as
operadoras seguem os protocolos há melhores resultados. Também ocorrem problemas
quando os pacientes estão em fase que ultrapassa as possibilidades terapêuticas
existentes. Nenhum convênio autoriza quimioterápicos de ponta. Em 2007, a oncologia
está muito avançada e modifica-se rapidamente. Existe grande quantidade de pacientes
nestas condições. Não existem trabalhos (protocolos clínicos) de fase 3 nestes casos que
tenham número suficiente para tal. Por exemplo, paciente com Sarcoma de Kaposi
(Bradesco Saúde) precisa de quimioterapia (autorizado por convênio), mas o
medicamento está em falta no mercado. O Bradesco não autoriza outro quimioterápico,
mesmo existindo estudos comprovando sua eficácia, alegando custo elevado.
Exceto a Unimed Paulistana, nenhum outro convênio limita a produção de
procedimentos realizados. Não existem estímulos ao médico por se adequar às regras,
normas, protocolos adotados pela operadora. A Sul América tem uma rede boa tanto
para diagnóstico, como acesso e qualidade. Os problemas são os protocolos de
quimioterapia, muito restritos, com grande redução da rede credenciada para tratamento.
Sem grandes problemas com operadoras das antigas estatais (CESP, CABESP,
etc), com as quais conseguem boa agilidade porque o interesse é o paciente.
Classes Laboriosas, devido a sua situação atual, apresenta muitas limitações de
recursos. Internacional, convênio da Dinamarca, não apresenta problemas. Quanto ao
50
Bradesco Saúde, só atende os planos antigos individuais que apresentam boa cobertura.
Os planos novos (empresa) não têm interesse.
Os médicos ainda falam de hospitais em que possuem vínculo em que há boa
relação e, conseqüentemente, respaldo para uma série de procedimentos de urgência ou
para agilizar liberações com anuência ou graças à atuação da diretoria destes hospitais.
Enquanto alguns conseguem internação rápida, outros convênios interferem e dificultam
esse processo, como a Unimed Fortaleza e as Classes Laboriosas. No primeiro caso um
paciente precisou pagar para depois ser ressarcido. No segundo houve dificuldade em
encontrar hospital de confiança do médico para internar o paciente, devido a redução de
sua carteira de credenciados, hospitais e serviços.
Nenhum convênio cobre o uso de medicamentos via oral. Não autorizam nem
com o paciente internado. Para radioterapia há necessidade de autorização prévia,
solicitada pelo profissional que irá realizar o tratamento. Radioterapia intra-operatória é
muito difícil de conseguir.
Quando há necessidade de se encaminhar para outro profissional médico é feito
relatório explicando o caso. Não há necessidade de solicitação de autorização.
Fisioterapia e fonoaudiologia precisam de relatório para autorização. Em geral só
autorizam 10 sessões. Psicologia não está coberta por nenhum convênio. Já explica ao
paciente que ele terá que pagar. Em geral, encaminha para profissionais e serviços que
conhece e em quem confia. Nos casos em que o convênio é muito restrito, orienta o
paciente a procurar o que está coberto para não ter ônus financeiro.
Não existe percepção de acompanhamento do paciente por parte do convênio
após a alta. Existe remanejamento do paciente para referências preferidas do convênio.
Um dos médicos relata perda de 15 a 20% dos pacientes atendidos em regime de
internação que não eram seus pacientes previamente. Em geral, os convênios não fazem
acompanhamentos de grupos de patologias oncológicas para regular os serviços
assistenciais. Parece que só a Omint possui um case management onde compara
serviços e por vezes encaminha alguns casos, em geral mais graves e complicados, para
um dos médicos.
Houve uma crítica em relação às glosas. Em geral, não há limite estabelecido de
produção, porém, muitas vezes ocorrem sobre a produção sem justificativa. Os médicos
acreditam que pode ser pelo volume elevado de procedimentos, mas talvez não seja
porque quando reapresentam a mesma conta no mês seguinte não há problemas.
51
A única operadora que tem programa próprio de acompanhamento de grupo
especifico de pacientes é a Unimed Paulistana, que tem programa anti-tabagismo.
Em relação aos conflitos envolvendo operadoras de planos de saúde, relatam os
seguintes aspectos:
Médico-Paciente – Reembolso. Paciente vem encaminhado por médico que o atendeu
pelo convênio. O paciente tem medo de ter que arcar com os custos da internação, uma
vez que o médico não é credenciado. Precisa explicar sempre para não perder o
paciente. A Sul América paga reembolso maior a quem não é credenciado.
O convenio cria conflito entre o paciente e o médico em relação ao
procedimento (2ª opinião) e faz o paciente perder a confiança no medico.
Falta relação de confiança entre médico, paciente e convênio. Por problema de
sinistralidade (convênio quer gastar o mínimo com o paciente) e por saber o que vai
ocorrer, o médico opta por tentar minimizar os problemas com o paciente. A relação
sempre é tensa, pois tenta viabilizar o tratamento. Precisa realizar relatórios em 50% do
tempo, mas o faz para garantir o reembolso.
Médico-Hospital – Burocracia do tempo de autorização prévia para os procedimentos.
Precisa de muitos relatórios. Hospital fez convênio com a Sul América em que o
segundo médico vai receber apenas metade do honorário. Não foi consultado o médico
sobre esta negociação. O hospital lida mal com o corpo clinico. O hospital é
pressionado pelas seguradoras e acha que os médicos muitas vezes são indisciplinados.
Médico-Operadora – Glosas de reembolso de procedimentos e cirurgias. Existe
situação de dependência. Seria necessário maior cumplicidade, que não existe. As
operadoras não vêem a qualidade. A relação exige credibilidade, mas é lábil, instável
pela dependência. Há muitos procedimentos novos e a tabela AMB está desatualizada.
Por exemplo, para mastologia os valores são muito baixos. Das dificuldades com
autorização dos convênios, aquelas relacionadas à plástica são as piores, sendo
questionados os tipos de prótese, ou de fios.
Paciente-Operadora – Burocracia em tempo de aprovação de procedimentos e exames.
Medicações orais (quimioterápicos) que não cobertos pelo plano. Alguns exames
deveriam ser realizados e não costumam ser autorizados (ex: PET-CT e RNM de
52
mama). Também há restrição para as internações, principalmente quando o caso fica
mais grave e o paciente começa a gastar mais. O perfil do plano do paciente pode
resultar em problemas para internar. Em alguns hospitais não há problemas, outros,
porém têm muitos planos, nos quais os procedimentos são realizados com diferenças.
Hospital-Operadora – Materiais especiais, em relação ao preço (grampeador, suturas,
cateter). Quando os pacientes descobrem, reclamam: “Vou ter que esperar eles
negociarem
o
preço
enquanto
minha
doença
piora?”
Há
pressões
pelo
descredenciamento fácil, pelos preços praticados, por meio dos médicos. Falta mais
parceria.
Apesar da grande quantidade de recusa dos médicos, aqueles que foram
entrevistados receberam bem os pesquisadores, embora o projeto fosse visto com certa
desconfiança ou com falta de seriedade. Os profissionais foram sinceros nas respostas,
às vezes com detalhes. Todos receberam os entrevistadores no próprio consultório,
apesar de terem a opção de outros locais. A impressão nas entrevistas foi de que querem
garantir boa assistência, estão preocupados em minimizar o sofrimento dos pacientes e
buscam auxiliá-los para encurtar o tempo de diagnóstico e de tratamento.
No momento final da entrevista foi solicitado que falassem livremente sobre sua
visão a respeito das perspectivas do setor. Alguns têm uma visão pessimista sobre o
futuro, mas apresentam propostas de programas alternativos e de possibilidades de
remuneração diferente da existente em 2007. Outros consideram que apenas a prática
liberal permite alguma qualidade na assistência.
Administrativamente acham que os convênios têm razão em cercar os gastos e
que consideram que a classe médica está muito desunida. O ideal seriam os protocolos
bem montados. Por exemplo, se determinado procedimento gasta R$10.000,00 então é
possível avaliar quem está conseguindo manter o padrão e quem está fora. Caberia,
então, premiar aqueles que conseguem manter-se no padrão. Quando o gasto ultrapassa
o combinado seria adequado chamar as 3 partes e negociar para arcar com as despesas
(hospital, operadora e medico).
Dão preferência a situações em que se sentem em casa. Preferem liberar o
paciente a atender em local onde não se sente bem. Precisam de infra-estrutura técnica
adequada, calor humano, boa vontade, boa relação médico-paciente. Não gostam de
arrogância no relacionamento. Seria bom se ANS tivesse mais em conta a visão do
consumidor. A ANS precisaria aceitar mais rapidamente as tabelas da AMB, caso
53
contrário os convênios continuarão a não aceitam determinados procedimentos ou
tratamentos. Como é importante ter mais qualidade nos planos, eles precisam ter
maiores ganhos para isso.
A ANS precisa restringir os aumentos abusivos. Ela precisa regular os planos
básicos para garanti algumas coberturas básicas que poderiam resolver o problema do
paciente no inicio e evitar pioras e chama a atenção os médicos tivessem preocupação
com o acompanhamento pós alta dos pacientes.
Um dos entrevistados faz parte da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos.
Considera que as operadoras deveriam acompanhar mais de perto este tipo de atividade.
Tem discutido com alguns convênios a introdução de programa de antitabagismo
(Unimed Paulistana, Classes Laboriosas, Omint e Sul América). Refere que eles têm
sido bem receptivos.
Entrevistas com familiares e pacientes
Durante 1 mês, 2 profissionais da área da saúde, previamente treinados,
contataram os pacientes/familiares selecionados a partir da amostra de prontuários
analisados para realização de entrevista mediante aplicação do formulário. Foram
excluídos 25% dos números de telefone obtidos, referentes a números de telefones
comerciais, número errado ou que não atenderam após duas tentativas, das quais uma
em horário noturno.
Antes de qualquer outro procedimento, os entrevistadores se apresentaram e
informaram os objetivos da pesquisa. Foram entrevistados os pacientes que
concordaram em participar. Os dados foram coletados em formulários padronizados,
codificados, digitados, revisados e analisados. Foi difícil contatar as pessoas, muitas
recusaram a entrevista e aqueles que aceitaram não se dispuseram a realizá-la
pessoalmente, apenas por telefone.
As questões abrangiam antecedentes pessoais e
familiares sobre as afecções selecionadas, orientações, práticas e oportunidades de
diagnóstico precoce, além do tratamento imediato.
54
Tabela 17 – Entrevistas pacientes
ATENDIMENTO
Total %
sem descrição
20
20,9
não atende
32
35,5
telefone errado
14
16,4
não quis responder
9
10,9
respondeu por telefone
14
16,4
Total
89
100,0
1) A paciente relata que palpou o TU durante o banho em 01/09/2004 e o diagnóstico
foi feito 10 dias depois. Nega tabagismo, HA e diabetes. Nega histórico familiar de CA.
Faz acompanhamento anual com o mesmo médico. Avalia o tratamento como bom e
está satisfeita com a operadora.
2) A paciente relata que o diagnóstico ocorreu 1 ano antes da cirurgia, em exame
ginecológico de rotina. O médico percebeu o TU palpável e encaminhou ao
mastologista. É fumante, não diabética, mas adquiriu Hipertensão. Não existe histórico
de outros CA na família. Ela faz acompanhamento médico semestral que avalia como
ótimo e “humano”. Ela diz não ter tido qualquer problema com a operadora e está
satisfeita.
3) A paciente relata que o TU estava assintomático no momento do diagnóstico. Foi
descoberto em exame de mamografia de rotina pelo ginecologista, que a encaminhou ao
mastologista. A paciente nega tabagismo, HA ou diabetes. Existe histórico familiar de
outros tipos de câncer diferentes de mama (útero). A paciente relata estar satisfeita com
o atendimento da operadora, que cobriu a 1ª cirurgia em Limeira. O TU recidivou e ela
procurou tratamento em Campinas. Relata que os médicos não sabiam resolver o caso,
então veio a São Paulo, realizou a 2ª cirurgia em atendimento particular em hospital não
coberto pela operadora. A paciente continua em tratamento de QT, coberto pela
operadora, e está satisfeita com a operadora.
4) A paciente tinha plano de uma operadora que não cobriu o atendimento no hospital
que procurou. Assim, realizou a cirurgia em atendimento particular e moveu ação contra
55
o Hospital, que ficou obrigado a prestar-lhe atendimento. A paciente relata que está
muito satisfeita com o convênio, mas não gosta do hospital.
5) A paciente não lembra se teve sintomas, nem quando o diagnóstico foi feito, também
não sabe se o TU era palpável. Diz que procurou o médico porque tinha câncer. Nega
tabagismo, HA, diabetes e histórico familiar de CA. Não lembra do responsável pelo
cuidado, mas atualmente está sendo atendida numa organização cujo atendimento avalia
como maravilhoso. Relata não ter tido problemas com a operadora e está satisfeita.
6) A paciente relata que o TU estava assintomático no momento do diagnóstico, feito
durante exames de rotina. O prosseguimento foi dado por outro médico. Avalia os
atendimentos como muito bons. Não teve problemas com a operadora e se diz satisfeita.
7) A paciente relata ter notado nódulos na mama em 10/1994, e procurou o médico para
exames diagnósticos (17/11/1994). Nega tabagismo, HA ou diabetes. Relata histórico
familiar de CA (avó e prima). Faz acompanhamento com o mesmo médico e o
considera muito bom. Teve problemas com a operadora, que não queria liberar o
atendimento e a processou. Quando foi fazer a cirurgia reconstrutiva, a operadora
também não liberou imediatamente. Não se sente satisfeita com a operadora.
8) A paciente relata que o TU estava assintomático no momento do diagnóstico, mas era
palpável. Nega tabagismo, HA e diabetes. Nega histórico familiar de TU. Relata que o
diagnóstico foi feito durante exame de rotina e que mudou de médico porque “ele era
uma porcaria”. Achou o médico do seguimento ótimo e está contente. Quanto à
operadora, está insatisfeita pois não cobre o tratamento pedido pelo dermatologista.
9) A nora da paciente diz que o TU estava assintomático no momento do diagnóstico e
foi descoberto pelo ginecologista em exames de rotina. Paciente foi encaminhada ao
mastologista. Relata que a paciente não era tabagista nem diabética, mas era hipertensa
e tinha histórico de CA na família (pai em próstata e mãe em local desconhecido).
Avaliou o atendimento médico como bom, rápido e capaz. Diz não ter tido nenhum
problema com a operadora, e a avalia como ótima.
10) A paciente relata que o TU estava assintomático no momento do diagnóstico
(12/2004), mas procurou o médico para biópsia. Nega tabagismo, HA ou diabetes, relata
histórico familiar de CA (primas, tio e pai). Avalia a médica que acompanha o
tratamento desde o início como muito boa. Diz não ter tido problemas com a operadora
e está satisfeita.
11) A esposa do paciente respondeu ao questionário, pois o paciente estava em estado
terminal sob cuidados de enfermeira que não podia responder. No inicio dos sintomas,
56
em 09/04, o paciente esquecia as coisas e parou de andar. Assim resolveram procurar o
médico. Ela nega que o paciente seja tabagista, hipertenso ou diabético. Relata histórico
familiar de CA (tio e tia). Realiza exames de rotina com o mesmo médico e considera o
atendimento excelente. Relata que não tiveram problemas com a operadora e que estão
satisfeitos.
12) A paciente relata ter percebido o TU e procurou o médico. Relata HA e diabetes,
mas nega tabagismo. A tia apresentou mesmo TU. Faz acompanhamento semestral com
o médico que fez o diagnóstico, considera o atendimento do médico e da operadora
bom, sem intercorrências.
13) A paciente relata que o TU estava assintomático no momento do diagnóstico,
realizado pelo ginecologista em exames de rotina. Este médico a encaminhou para o
mastologista. A paciente relata HA, diabetes, porem não tabagista. A paciente avalia o
atendimento médico como bom . A paciente relata que a operadora demorou para liberar
os exames (agulhamento), mas após isso, o encaminhamento cirúrgico foi rápido.
14) Mãe da paciente relata que a criança apresentou sintomatologia de dores na virilha
em 24/12/2004 e o diagnóstico veio em 30/12/2004. Não há histórico familiar de
nenhum tipo de CA. A oncologista pediatra realiza o tratamento e acompanhamento até
hoje, cobertos pela operadora. A mãe diz estar satisfeita tanto em relação à médica,
quanto em relação à operadora.
Entrevistas com as operadoras
Foram entrevistados os dirigentes de quatro tipos de operadora: duas empresas
de auto-gestão, uma cooperativa médica, uma medicina de grupo e uma seguradora.
Em relação aos sistemas de informação as empresas trabalham com sistemas de
informação fragmentados e limitados para responder as perguntas assistenciais, sendo
necessária a complementação por intermédio de consolidação e análises manuais.
Quanto aos mecanismos de comunicação com os usuários, a seguradora estudada é a
operadora que possui mecanismos mais pobres, fazendo pesquisa de satisfação a cada 2
anos.
Quanto à utilização dos serviços, as 5 operadoras entrevistas têm call center para
autorização prévia para os procedimentos de maior custo/complexidade e liberação de
senhas. Nenhuma tem estrutura montada para referenciamento de casos. Entre os
exames listados, para o raio X se exige solicitação médica mas não autorização prévia.
57
Para a realização de tomografia, ressonância magnética, cintilografia, e para os
procedimentos cirúrgicos curativo ou reparador, todas as operadoras exigem solicitação
médica e autorização prévia. Para a medicina de grupo, a liberação dos procedimentos é
baseada em protocolos e passível de auditoria. Em todas, a quimioterapia com novas
drogas ou esquemas alternativos existem limitação e muita discussão para liberação.
O beneficiário ainda tem grande poder na escolha do prestador. Entre os critérios
de valorização para as operadoras estão o renome da instituição competência técnica e o
custo envolvido. Em relação a programas de acompanhamento de grupos de pacientes,
ou programas preventivos, todas referem realizar algum tipo de investimento para
pacientes crônicos ou ainda não estarem estruturadas, afirmando que o programa será
lançado em 2007. No entanto esse tipo de estratégia seria dirigido apenas para aqueles
pacientes que apresentarem maior sinistralidade. Apenas uma das auto-gestões tem um
modelo assistencial – médico de família - recentemente implantado, que tem o potencial
de incorporar ações preventivas e determinar impacto no médio e longo prazos.
As operadoras não referem ter protocolos de tratamento definidos mas
identificam prestadores diferenciados onde consideram os esquemas de tratamento mais
padronizados e que apresentam melhores resultados.
58
Comentários finais: achados, limitações e novas propostas de pesquisa
É necessário esclarecer, a priori, que um dos pontos fortes da pesquisa foi a
possibilidade de estudar o mesmo objeto utilizando diferentes olhares. A descrição dos
métodos empregados evidenciou que se buscou obter a percepção das diferentes partes
envolvidas a respeito do acesso a serviços de saúde. Ao mesmo tempo, cabe o relato de
que os hospitais e as operadoras foram muito mais abertos ao processo de investigação
que os médicos e os pacientes. É possível que o grau de conhecimento dos
pesquisadores com diretores de hospitais e dirigentes de operadoras tenha facilitado o
contato. No entanto, seria esperado que o mesmo tivesse ocorrido com os médicos. Os
pesquisadores acreditam, após a realização da presente investigação, que a abordagem
destes profissionais poderia ser feita de outra maneira, com mais sucesso, o que poderá
ser testado em nova oportunidade. Quanto aos pacientes, investigações anteriores
permitiam esperar a dificuldade de acesso encontrada. A prática de pesquisas telefônicas
não é usual no país, onde o telemarketing e técnicas afins são malvistas, pelo menos nas
classes sociais buscadas neste caso.
A pesquisa de campo permitiu observar que os prontuários médicos são
considerados propriedade e patrimônio dos hospitais, sendo difícil o acesso a eles. Por
um lado isto mostra um cuidado louvável, sendo uma demonstração de qualidade a
preocupação com um documento onde estão formalizados dados e informações acerca
da vida e saúde dos pacientes, pelo menos segundo as entidades de avaliação externa,
como as acreditadoras. No entanto, este cuidado não é refletido na qualidade dos
prontuários, que está aquém daquilo que se pretenderia encontrar neste tipo de
documento, de maneira geral. O preenchimento incompleto não permite visualizar, por
exemplo, se a não adesão a protocolos é aparente (ou seja, os procedimentos referentes a
eles não são realizados) ou real (não há reforço a este tipo de prática).
Na comparação entre os achados na área de Cardiologia e na Oncologia, nesta
última a qualidade dos registros clínicos é pior e a quantidade de informações
disponíveis nos prontuários hospitalares é menor. No caso dos tumores sólidos, como o
câncer de mama, o registro da história clinica na internação do procedimento cirúrgico e
a dificuldade de se recuperar nos prontuários a continuidade da assistência apontam para
necessidade de investimento na construção de sistemas de informação dirigidos para
garantir o acompanhamento da linha assistencial. Isto é, sistemas – prontuário eletrônico
59
mínimo dos pacientes - que sejam alimentados pelos diversos serviços onde o paciente é
seguido, permitindo troca de informações entre os diversos serviços de saúde e posterior
monitoramento de linha assistencial.
Quanto aos prestadores médicos, pode-se dizer que de maneira geral os
entrevistados deste trabalho estão insatisfeitos com sua relação tanto com as operadoras
quanto com os hospitais. Pode-se atribuir estes resultados a um viés da amostra, pois
foram contatados para a realização de entrevistas profissionais de serviços que atendem
pacientes de classes A e B. No entanto, as operadoras com as quais eles trabalham
também atendem estas classes sociais e deveriam estar entre as que mais privilegiam os
profissionais. Para os profissionais, os hospitais não estão preocupados em satisfazer os
médicos, pelo contrário, buscam os melhores acordos com as operadoras e não se
preocupam com quem lhes ocupa os leitos. Uma possibilidade de análise é que na
verdade o médico está percebendo sua perda de espaço como aquele que leva o paciente
para o hospital, visão comum até o início do século. A partir desse momento passou a
ficar claro para os serviços financiados por meio da assistência médica supletiva que
uma de suas fontes de pacientes são “os planos de saúde”. Assim, estes se tornam
percebidos como os novos clientes preferenciais, o que não necessariamente é real, se
for perguntado para os demais componentes da equipe de saúde. As operadoras também
são consideradas como elementos que interferem na qualidade da assistência, colocando
limites aos desejos dos pacientes (na verdade, dos médicos, que trabalham mais
baseados naquilo que consideram como evidências, da sua própria prática profissional).
Alguns dos médicos entrevistados valorizam a utilização de protocolos, mas
especialmente em relação a novos medicamentos quimioterápicos, relatam dificuldades
no diálogo com as operadoras – auditores – e não conseguem liberação de autorização
para suportar tratamentos para pacientes que não respondem aos medicamentos
tradicionais.
As operadoras se protegem quando colocam restrições ao acesso utilizando
recomendações de sociedades de especialistas, auditores especializados e critérios, que a
rigor servem para controlar custos. Ao mesmo tempo, perdem a oportunidade de utilizar
alguns dos mecanismos mais recomendados pela literatura internacional como controle
de pacientes de risco por intermédio do case management (gerenciamento de casos) ou
do disease management (gerenciamento de doenças). O senso comum acredita que os
planos de saúde (principalmente as auto-gestões, que trabalham com uma população
fechada e pensando no longo prazo) teriam o interesse e todos os incentivos para
60
trabalhar com sua clientela medidas que lhes melhorassem condições de vida e saúde,
desde a empresa. No entanto, verifica-se que todas as operadoras entrevistadas pensam
implantar algum sistema nesse sentido...no futuro próximo. O fato de seus sistemas de
informação serem ainda incipientes reforça esta perspectiva, pois a definição dos
pacientes de risco passa por conhecer a sinistralidade, as taxas de utilização, etc,.
Medidas de controle para excesso de utilização de procedimentos são relatadas com
muito mais freqüência que recompensas por baixo consumo (apresentada como proibida
porém insinuada como real). Outro aspecto importante especialmente no caso do câncer
de mama é a falta de políticas claras nas operadoras para rastreamento populacional.
Mamografia nas faixas de 50 a 69 anos é o recomendado e utilizado em vários sistemas
de serviços de saúde no mundo. Existem declarações de intenção e de planejamento
nesta direção, mas até o momento não parece ser uma política implementada pelas
operadoras. Mesmo em relação aos esquemas quimioterápicos e à indicação de
radioterapia, muitas operadoras tem uma prática de gestão de cada caso isolado e não
uma política baseada em diretrizes e protocolos clínicos discutidos com os principais
prestadores médicos ou hospitalares. Especialmente em câncer, a organização e gestão
de uma rede assistencial costuma garantir maior efetividade na assistência.
Os pacientes ou seus familiares próximos, por sua vez, têm uma percepção
incompleta do processo. Eles avaliam o atendimento segundo lhes parece adequado ou
não, dificilmente conseguem relatar a que procedimentos foram submetidos.
Conseguem separar médico de hospital e de operadora, mas sua visão do que compete a
cada um varia de acordo com sua conveniência. De acordo com o estereótipo vigente, os
pacientes tendem a supervalorizar o papel do médico. Quando ocorrem problemas, é
mais fácil atribuí-los aos hospitais do que aos médicos. Os pacientes valorizaram muito
os tempos decorridos entre diagnóstico e tratamento e, apesar de perceberem limitações,
consideram-se satisfeitos com o atendimento. Além disso, o número restrito de
pacientes não permite generalizar o achado de que nenhum deles referiu qualquer
problema com as operadoras. Quando comparamos com as entrevistas obtidas na área
de cardiologia, houve maior número de respostas de pacientes e/ou pessoas relacionadas
e foi possível identificar de forma mais detalhada o caminho percorrido pelo paciente.
Cabe a percepção de que quando se olhou, nas diferentes entrevistas, para
conflitos teóricos ou potenciais entre os diferentes atores considerados, foram colocados
mais problemas do que quando se discutia a prática individual de cada um.
61
Ainda há uma série de assuntos, de ordem pragmática, metodológica e teórica a
resolver, que esta investigação ajudou a levantar. Em primeiro lugar, este estudo deve
ser considerado como parcial, pois mostrou algumas dificuldades que precisam ser
melhor circunstanciadas. Se a intenção for, de fato, identificar qualidade e gargalos na
assistência em oncologia, no Câncer de mama mais especificamente, seria
imprescindível ter um levantamento dos tempos percorridos entre o diagnóstico e o
procedimento curativo, o que não se consegue obter de prontuários ou a partir de
entrevistas. O desenho mais apropriado neste caso seria de um estudo prospectivo, no
qual os centros colaboradores tivessem acordos com alguns hospitais no sentido de
seguir pacientes que procurassem seus serviços com os diagnósticos selecionados e, a
partir daí, os pacientes fossem identificados em função de qual a fonte pagadora para
seu atendimento, seus exames e os demais procedimentos e insumos requeridos para
seus casos e a forma de seguimento à qual eles fossem submetidos, ou seja, o caminho
inverso do que foi trilhado no presente trabalho. O desenho deste, retrospectivo, seria
complementado de maneira satisfatória com a nova visão da mesma realidade. Outro
foco que se pode levantar é sobre a utilização de protocolos, se forem abordados os
médicos cujos prontuários tiverem sido analisados.
Faz parte das limitações pelas quais se optou o fato de que a realidade estudada
se aproximou de uma visão elitizada da assistência médico-hospitalar. Diz a literatura
atual que as soluções mais inovadoras estão sendo geradas nas operadoras que
trabalham com população de menor poder aquisitivo. Esta hipótese pode ser testada,
buscando outros hospitais e outras operadoras, e conseqüentemente outros médicos e
outros pacientes. O mesmo pode ser dito de prestadores médicos, em relação aos quais,
em vez de estudar os que mais se assemelham ao modelo de prática liberal, hegemônico
até os anos 80, pode ser visto como desejável conversar com aqueles assalariados por
medicinas de grupo ou por hospitais.
O precário sistema de informações presente nas operadoras analisadas aponta
para uma dificuldade de a Agência conseguir obter os indicadores de qualidade a que se
propõe. De fato, verificou-se que as operadoras esperam do mercado, pelo menos neste
primeiro semestre de 2007, a avaliação dos serviços, seja este mercado composto pelos
clientes usuários ou pelos médicos. Como não existe uma valorização, nem por parte
dos hospitais nem por parte desses “planos de saúde”, do prontuário como uma fonte de
informações para a aferição dos serviços prestados, pode-se imaginar que o controle da
62
qualidade da assistência médico-hospitalar fornecida aos cidadãos brasileiros atendidos
no âmbito da saúde suplementar ainda não ocorrerá no curto prazo.
A discussão e a análise da qualidade da assistência médico-hospitalar e do
acesso aos serviços no Brasil está longe de poder ser considerada explorada e/ou
compreendida. Entre outros aspectos, ela deve ser percebida em constante mutação, por
um sistema de saúde que ainda está em fase de experiência em seu desenho. Além
disso, as realidades regionais são heterogêneas, desde em função de perfil de
necessidade até relativas à oferta de serviços. A gestão desta situação tão diversificada
precisa ser melhor informada, ou seja, quanto mais a ANS, as operadoras, os gestores de
serviços e de sistemas (sejam eles o SUS ou o setor privado) souberem sobre o que
acontece quando um cidadão adoece e procura o serviço, melhores serão as decisões
tomadas e mais adequadas as condições para seu atendimento.
63
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRAMGE. Informe de Imprensa: dados e números da medicina de grupo. São Paulo,
2000 (mimeo).
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. Duas faces da mesma moeda:
microrregulacao e modelos assistenciais na saúde suplementar. Rio de Janeiro:
Agência Nacional de Saúde Suplementar; 2005. 268 p. (Série A. Normas e
manuais técnicos. Regulação e saúde, 4).
ACIOLE, G. G.; 1º Relatório Parcial – Projeto P12: Uma Primeira Aproximação Do
Campo De Investigação:Esboço de Proposta Metodológico-Instrumental Para A
Pesquisa. Campinas: 2003 (mimeo).
ALMEIDA, C.; Médicos e Assistência médica: Estado, mercado ou regulação? Uma
falsa questão. In Cadernos de Saúde Pública 13(4): 659-676. Out-dez. 1997.
ALMEIDA, C.; O Mercado Privado de Serviços de Saúde no Brasil: Panorama atual e
tendências da Assistência Médica Suplementar. Brasília: IPEA/PNUD, 1988.
BAHIA, L. Planos privados de saúde: luzes e sombras no debate setorial dos anos 90.
Ciênc. saúde coletiva. [online]. 2001, vol. 6, no. 2
_______; Os planos de saúde empresariais no Brasil: notas para a regulação
governamental. Rio de Janeiro: ANS, Oficina de trabalho sobre regulação, 2001.
BAHIA, L. O mercado de planos e seguros de saúde no Brasil: tendências pósregulamentação. Rio de Janeiro: ANS, 2000.
BRASIL 1998. Lei 9.656. Dispõe sobre os Planos de Assistência à Saúde. Brasília.
BRASIL 2000. Lei 9.661. Dispõe sobre a criação da ANS
CAMPOS, G. W. de S.; Os Médicos e a Política de Saúde: entre a Estatização e o
empresariamento, a defesa da prática liberal da Medicina. São Paulo:
HUCITEC, 1988.
CAMPOS, G. W. de S; Reforma da Reforma: repensando a Saúde. São Paulo:
HUCITEC, 1992.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO; Mercado de Trabalho
Médico no Estado de São Paulo. São Paulo: CREMESP/NESCON-UFMG, 2002.
CORDEIRO H. As empresas médicas: as transformações capitalistas da prática
médica. Ed. Graal, Rio de Janeiro, 1984.
DIÁRIO DE NOTÍCIAS. REsp 668.216. Quem decide tratamento é o médico e não o
64
plano de saúde. [citado em 23 de março de 2007]. Disponível em:
http://www.diariodenoticias.com.br/mostra_dados.asp?codigo=12106
DONNANGELO, M. C. F. Medicina e Sociedade: o médico e seu mercado de trabalho.
São Paulo: Pioneira, 1975.
FRANCO TB. Trabalho e transição tecnológica na saúde. Projeto para qualificação à
tese de doutorado. FCM. Unicamp, Campinas. 2002
IRIART, C.B.; MERHY, E.E. & WAITZKIN, H.; La Atención Gerenciada en América
Latina: transnacionalización del sector salud en el contexto de la reforma. Rio de
Janeiro: Cadernos de Saúde Pública. 2000, 16: 95-105.
JATENE, FB; Cutait R, editores. Projeto Diretrizes: Associação Médica BrasileiraConselho
Federal de Medicina. São Paulo: Brasília: AMB/CFM; 2002.
JATENE, FB; Bernardo WM, Monteiro-Bonfá R. O processo de implantação de
diretrizes na prática médica. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2001; 16 (2): 89-93.
LUZ, M. T. As Instituições Médicas no Brasil: instituição e estratégia de hegemonia. 2.
ed. Rio de Janeiro: GRAAL, 1979. (Biblioteca de Saúde e Sociedade, v. 4)
MALTA, Deborah Carvalho, CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira, MERHY, Emerson
Elias et al. Perspectives of the regulation in the health insurance face the model
assistance. Ciênc. saúde coletiva. [online]. 2004, vol. 9, no. 2
MÉDICI, A.C.. Incentivos governamentais ao setor privado de saúde no Brasil. Revista
de Administração Pública. 26(2): 79-115. Abr/jun1992.[ Lilacs ]
MERHY, E.E., IRIART, C.B.; WAITZKIN, H. Atenção Gerenciada: da microdecisão
clínica à administrativa, um caminho igualmente privatizante?, Cadernos
Prohasa, número 3, São Paulo: 1998.
MERHY EE, Cecílio LCO & Nogueira RC 1992. Por um modelo tecno-assistencial da
política de saúde em defesa da vida. Cadernos da 9a Conferência Nacional de
Saúde. Descentralizando e Democratizando o Conhecimento. Vol. 1. Brasília.
MYNAIO, M. C. de S; COIMBRA, C. E. A. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3):
237-238, jul/set, 1993. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v9n3/01.pdf.
NITÃO, S.R.V. Saúde suplementar no Brasil: um estudo da dinâmica industrial pósregulamentação. Rio de Janeiro; s.n; 2004. 130 p. tab, graf.. Apresentada a
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca para obtenção do grau de
Mestre.
65
PAGANINI, J. M. Nuevas modalidades de organización de los sistemas y servicios de
salud en el contexto de la reforma sectorial: la atención gerenciada, bibliografia
anotada. Washington, D.C.: OPAS/ serie HSP/SILOS, 1995.
SCHRAIBER, L.B. O médico e seu trabalho. Limites da liberdade. São Paulo: Hucitec,
1993.
SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. PCV - Pesquisa de
Condições de Vida, 1998 [citado em 01 maio 2004]. Disponível em:
http://www.seade.gov.br/cgi-bin/pcvv98.
SILVA, A. A.Relação entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços –
um novo relacionamento estratégico. Porto Alegre[citado em julho 2003].
Disponível em: http://www.elosaude.com.br/doc/ans_alceualvessilva072003.pdf.
66
Anexo 1
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS - PRONTUÁRIO – Oncologia
A. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
Nome:
Nº do Prontuário:
Data da Internação:
Data da [
] Alta
[
] Óbito
[
] Tranf. Externa :
Idade:
Sexo:
Operadora:
Tipo de Plano:
Hospital:
B. PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS
B1 Data do início do sintomas: _____/_____/_____
B2 Quais
sintomas?__________________________________________________________________
[ ] Assintomático
B3 Data do diagnóstico: ____/____/____
C. ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES
Menarca:______ anos
Tabagismo S [
]N[
G____ P____
]
Hipertensão S [
História familiar de câncer S [
Não consta [
]N[
Amamentação: S [
]N[
]
]
N[
Diabetes S [
]
]N[
]
] Qual câncer: _______________________
]
D. ASPECTOS DO TUMOR
Tamanho tumor
Localização
do
tumor
Sinais de invasão
local
Metástases
Outros
67
Observações: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
E. DESCRIÇÃO DE EXAMES - DIAGNÓSTICO
Exames
Data
Resultados
Hemograma
(Leucemias)
RX
USG
Tomografia
/
Ressonância
Biópsia
Tipo:
_________________
Cintilografia
Outros exames:
__________________
Estadiamento clínico
Imunohistoquímica
Biópsia de congelação
S[
]
N[
]
Anátomo-patológico
da peça cirúrgica
Classificação TNM
T _____ N_____ M_____
(anatomia patologia)
68
F. PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS
Procedimento Cirúrgico
Data
Nome do procedimento
Cirurgia Curativa
Cirurgia Paliativa
Cirurgia Repadora (Implante
de prótese mamária, fechamento de
colostomia, etc)
Outro:
Procedimentos Oncologia
Clínica
Quimioterapia
Data de Início e
N. º de Ciclos e Esquema
Fim
Início:
Fim:
Radioterapia
Inicio:
Fim:
Hormonioterapia
Início:
Fim:
Outro tratamento:
Início:
_______________________
Fim:
G. EVOLUÇÃO
G1 Complicações cirúrgicas
S[
]
N[
]
G2 Infecção hospitalar
S[
]
N[
]
G3 Óbito na internação do procedimento cirúrgico S [
]
G4 Óbito na internação do tratamento clínico S [
N[
]
N[
]
]
G5 Situação 2 anos após o diagnóstico:
Data da última avaliação (primeira após 2 anos) Data: ___/___/____
Observações: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
69
G6 Recidiva
S[ ] N[ ]
Data: ____/___/_____
G7 Metástase
S[ ] N[ ]
Data: ____/___/_____
G8 Vivo
[
] livre de doença (sem evidência de câncer)
[
] com câncer
[
] sem outras informações
G9 Morto
[
] por outras causas. Qual(is)?:_______________________________
[
] por câncer
[
] sem evidência de câncer
Nome do pesquisador: ________________________________________________________
Local: _____________________________________________________________________
Data: _________________________
70
Anexo 2
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS - PRESTADORES MÉDICOS – Oncologia
A. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO
Nome:
Nº do CRM:
E-mail:
Idade:
Tempo de formado (anos):
Especialidade:
Título de especialista: Sim [
]
Não [
]
Local (is) de trabalho: ___________________________________________________________
B. INFORMAÇÕES GERAIS DO RELACIONAMENTO MÉDICO - OPERADORAS
B1. Mencione os convênios (operadoras) com os quais o senhor trabalha no consultório?
B2 Realiza procedimentos para os convênios?
Sim [
]
Não [
]
B3. Para quais operadoras?
B4. Quais procedimentos?
C. MACROFLUXO DO USUÁRIO
C1. Descreva o macrofluxo mais freqüente dos usuários com Câncer ou suspeita de Câncer
(investigação e/ou condução clínica) para cada operadora com que trabalha: relate o caso de uma
paciente.
Cooperativa Médica - Medicina de Grupo - Auto-Gestão - Seguradora
Entrada (Pronto Socorro, Hospital, Consultório, Call center, encaminhamento da operadora) Processamento diagnóstico (Ex. Laboratoriais, Ex Imagem, Endoscopia, Biópsia) Processamento terapêutico (Cirurgia, Quimioterapia, Radioterapia, Paliativo)
71
C2. Descreva as principais diferenças entre essas operadoras no que refere aos macrofluxos descritos.
(idéia de identificar a ênfase do entrevistado)
D. ACESSO AO ATENDIMENTO ELETIVO/ URGÊNCIA
D1. Como as consultas dos pacientes do plano são marcadas no seu consultório?
( ) Demanda espontânea
( ) Encaminhamento feito pela central de atendimento da operadora
( ) Encaminhamento feito por outro profissional
( ) Outra forma. Qual? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
D2. O senhor disponibiliza consultas médicas para casos agudos?
Sim [
]
Não [
]
Em caso afirmativo:
( ) As consultas são disponibilizadas durante todo o horário de funcionamento do
consultório sem necessidade de agendamento
( ) As consultas são disponibilizadas durante todo o horário de funcionamento do
consultório mas necessitam de agendamento prévio
D3. Quais serviços são ofertados para apoio ao atendimento ambulatorial/consultório?
( ) Interconsultas
( ) Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapia
( ) Cirurgia Ambulatorial
( ) Hospital-Dia
( ) Emergência
( ) Outro
Especificar ______________________________________________________
D4. Nos casos de encaminhamento feito pela prestadora, o sr. conhece os critérios utilizados
para esse direcionamento?
Sim [
]
Não [
]
Se sim, especifique: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
D5. O plano estabelece regras para agendamento (reserva de horários para pacientes do
plano, tempo de espera para agendamento de consulta, etc) de seus pacientes?
Sim [
]
Não [
]
Se sim, especifique: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Contratualmente ( )
Não Contratualmente ( )
D6. O plano estabelece regras em relação à produtividade (número de consultas por determinado
período)?
Sim [
]
Não [
]
Se sim, especifique: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
72
Contratualmente ( )
Não Contratualmente ( )
D7. Nos últimos seis meses, caso tenha se defrontado com uma situação de urgência oncológica:
( ) Conseguiu internar o paciente com rapidez, encaminhando-o diretamente para algum
hospital do convênio.
( ) Encontrou dificuldades para encaminhar o paciente para internação
Especifique: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
E. CONTROLE SOBRE SOLICITAÇÃO PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
E1. A sua prática clinica dentro das operadoras é regulada por algum mecanismo de controle?
Sim [
]
Não [
]
E2. Descreva os mecanismos de controle caso existam ______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
E3. A operadora utiliza protocolos ou normas técnicas para regular procedimentos:
Sim [
]
Não [
]
E4. Se a resposta for afirmativa, qual a sua avaliação sobre as regras preconizadas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
E5. Há limite de produção dos procedimentos realizados num determinado período?
Sim [
]
Não [
]
Se sim, especifique: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
E6. Quando é necessário produzir relatórios para autorização de procedimentos diagnósticos e
terapêuticos? Cite exemplos de situação freqüentes e raras.
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E7. Existe algum mecanismo de estímulo ao médico por se adequar às
regras/normas/protocolos adotados pela operadora?
Sim [
]
Não [
]
Se sim, especifique: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
MECANISMOS DE CONTROLE ESPECÍFICOS PARA PROCEDIMENTOS
DIAGNÓSTICOS/TERAPÊUTICOS
E8. Para solicitação/realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos explicite quando
é necessário elaborar relatórios (discrimine para qual operadora):
A) Ex. Laboratoriais – cite quais: _________________________________________________
73
___________________________________________________________________________
B) Exame radiológico (RX)
C) Exame Ultrassonográfico (USG)
D) Tomografia Computadorizada (TC)
E) Ressonância Magnética (RM)
F) Cintilografia
G) Endoscopia
H) Cirurgia curativa ou paliativa
I) Cirurgia reparadora (por ex. implante de prótese de mama, fechamento de colostomia) requer:
E9. Existem outras exigências para autorização da(s) operadoras?
Sim [
]
Não [
]
Se sim, especifique: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
E10. No caso de atendimento de casos em situação de emergência em hospitais, como se dá o acesso
aos exames na urgência?
( ) Liberação conforme solicitação médica
( ) Depende da segmentação do plano
( ) O plano não cobre esse procedimento
( ) Outro, especifique: _______________________________________________________
E11. Existe algum tipo de controle não mencionado nas opções anteriores
Sim [
]
Não [
]
Se sim, especifique: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
E12. Quando a operadora realiza glosa sobre a sua produção, isto decorre de:
( ) Nunca fui glosado
( ) Volume de procedimentos que ultrapassa o limite estabelecido
( ) Procedimentos fora do protocolo
( ) Fora da cobertura do plano
( ) Ausência de autorização pela operadora
( ) Teto financeiro
( ) Outro, especifique: _______________________________________________________
F. CONTINUIDADE DO CUIDADO
F1. O encaminhamento de pacientes para médicos de outras especialidades:
( ) Não requer intermediação
( ) Requer relatório detalhado
( ) Requer relatório e conversa com auditor para liberação de cobertura
74
( ) Outras formas, quais? ___________________________________________________
________________________________________________________________________
F2. O encaminhamento de pacientes para quimioterapia:
( ) Não requer intermediação
( ) Requer relatório detalhado
( ) Requer relatório e conversa com auditor para liberação de cobertura
( ) Outras formas, quais? ___________________________________________________
________________________________________________________________________
F3. O encaminhamento de pacientes para radioterapia:
( ) Não requer intermediação
( ) Requer relatório detalhado
( ) Requer relatório e conversa com auditor para liberação de cobertura
( ) Outras formas, quais? ___________________________________________________
________________________________________________________________________
F4. O encaminhamento de pacientes para outros profissionais (psicólogos, fisioterapeutas, etc):
( ) Não requer intermediação, podendo ser solicitado pelo próprio paciente.
( ) É feito pelo profissional que indica diretamente para o especialista
( ) Requer relatório detalhado
( ) Requer relatório e conversa com auditor para liberação de cobertura
( ) Outras formas, quais? ___________________________________________________
________________________________________________________________________
F5. No caso de usuário atendido em serviços de emergência oncológica, existe algum
mecanismo de identificação e inclusão do mesmo em programa de acompanhamento
(follow-up)?
Sim [
]
Não [
]
Se sim, como é realizado: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
F6. Há alguma forma de acompanhamento aos egressos de internações hospitalares?
Sim [
]
Não [
]
Se sim, especifique: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
F7. Existe algum mecanismo determinado pela operadora, com relação à continuidade do
atendimento pelo mesmo profissional que:
estimule [
]
desestimule [
] a continuidade de atendimento?
Especifique: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
75
F8. Existem programas de acompanhamento para grupos específicos (Exemplo
acompanhamento de ca de mama, ca de próstata, ca de colon, leucemias)
Sim [
]
Não [
]
Se sim, especifique: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
F9. A operadora faz acompanhamento de alguns grupos de patologia oncológica (case
management), como medida da regulação da utilização dos serviços assistenciais?
Sim [
]
Não [
]
Se sim, especifique: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
G. CONFLITOS ENVOLVENDO OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE
G1. Quais são os problemas/conflitos mais freqüentes entre Médico – Paciente? Citar:
G2. Quais são os problemas/conflitos mais freqüentes entre Médico - Hospital? Citar:
G3. Quais são os problemas/conflitos mais freqüentes entre Médico – Operadora? Citar:
G4. Quais são os problemas/conflitos mais freqüentes entre Paciente – Operadora? Citar:
G5. Quais são os problemas/conflitos mais freqüentes entre Hospital - Operadora? Citar:
Nome do pesquisador: ________________________________________________________
Local: _____________________________________________________________________
Data: _________________________
76
Anexo 3
OPERADORAS MÉDICAS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA OPERADORA
Nome da operadora:
Cidade / UF:
Classificação:
Cargo do interlocutor:
Cupula estratégica ou seu representante
e-mail p/ contato
1)
Existe sistema de informação na operadora?
Sim
Não
2)
Com quais tipos de informações a empresa trabalha:
Cadastro da clientela
Sistema de Custos
Prontuário eletrônico
Sistema de informações gerenciais
Cartão de Saúde
Registros epidemiológicos
Outros
Especifique _________________________________
3)
Existe algum mecanismo de comunicação ou contato da operadora com o
beneficiário?
Sim
Não
4)
Em caso afirmativo, esse contato se dá através de:
Ouvidoria
Serviço de atendimento telefônico
Boletim Informativo
Assembléia geral de beneficiários
Envio de extrato de utilização
Pesquisa de satisfação dos usuários
Conselhos
Outros
Especifique ________________________________________
5)
Quais os mecanismos de regulação para utilização dos serviços assistenciais
em oncologia?
Autorização prévia (utilização dos serviços condicionada à autorização)
Porta de entrada (ex.: médico generalista)
Direcionamento (utilização direcionada de prestador)
Hierarquização da Rede (encaminhamento por grau de complexidade)
Co-participação ( parte efetivamente paga pelo consumidor referente à realização do
procedimento)
77
Fator moderador
Franquia (valor estabelecido no contrato até o qual a operadora não tem
responsabilidade de cobertura)
Não pratica
Outros
Quais ___________________________________
6)
Em caso de referenciamento, numere abaixo de 1 a 5, os critérios (em ordem
de prioridade) que o atendente usa para referenciar os beneficiários para os
prestadores em oncologia:
Escolha do beneficiário
Localização geográfica
Tipo de Plano
Custo do prestador
Gravidade do problema
Encaminhamento por outro profissional
Prestador de maior procura pelos beneficiários
Outro: Citar____________________________________________________
7)
A Operadora possui algum instrumento (manual de normas e procedimentos,
material publicitário) para informar como os beneficiários devem proceder nos
atendimentos de consultas, realização de exames, internações e urgência/
emergência?
Manual de Normas
Manual de Procedimentos
Site/Internet
Call Center
Outros. Quais? _____________________________________
8)
Em situações de Urgência e Emergência Oncológica a operadora utiliza
algum mecanismo de regulação dessa utilização?
Sim
Qual?
_______________________________________________
Não
9)
A operadora faz acompanhamento de alguns grupos de patologia oncológica
(case management: CA mama, CA próstata, CA colon, Leucemias), como medida
da regulação da utilização dos serviços assistenciais?
Não
Sim
Especifique os grupos de patologias _________________________
10)
Em caso afirmativo, como é feito esse acompanhamento?
__________________________________________________________________
11) Para a realização de ex. laboratoriais específicos, o beneficiário necessita de:
Liberação conforme solicitação médica
Autorização prévia
Co-pagamento
Protocolo
Auditoria médica
78
Outros
Especificar: _________________________________
12) Para a realização de ex. radiológico, o beneficiário necessita de:
Liberação conforme solicitação médica
Autorização prévia
Co-pagamento
Protocolo
Auditoria médica
Outros
Especificar: _________________________________
13) Para a realização de ex. ultrassonográfico, o beneficiário necessita de:
Liberação conforme solicitação médica
Autorização prévia
Co-pagamento
Protocolo
Auditoria médica
Outros
Especificar: _________________________________
14) Para a realização de tomografia computadorizada, o beneficiário necessita
de:
Liberação conforme solicitação médica
Autorização prévia
Co-pagamento
Protocolo
Auditoria médica
Outros
Especificar: _________________________________
15) Para a realização de ressonância magnética o beneficiário necessita de:
Liberação conforme solicitação médica
Autorização prévia
Co-pagamento
Protocolo
Auditoria médica
Outros
Especificar: _________________________________
16) Para a realização de endoscopia o beneficiário necessita de:
Liberação conforme solicitação médica
Autorização prévia
Co-pagamento
Protocolo
Auditoria médica
Outros
Especificar: _________________________________
17) Para a realização de cirurgia, o beneficiário necessita de:
Liberação conforme solicitação médica
Autorização prévia
Co-pagamento
Protocolo
Auditoria médica
Outros
Especificar: _________________________________
79
18) Definida pelo médico a necessidade de internação em urgência oncológica,
qual o fluxo para a sua obtenção junto à rede hospitalar?
O próprio beneficiário busca o hospital
O médico interna o beneficiário no hospital geral de sua escolha
Autorização prévia
Outra. Especifique: _________________________________________
19) A operadora estabelece algum critério específico para cirurgias eletivas?
Não
Sim
Especifique __________________________
20)
Caso existam protocolos, estes se referem a:
(podem ser marcadas mais de uma opção)
Orientação da conduta médica
Definição do tipo de procedimentos autorizados
Definição do número de procedimentos autorizados
Definição do fluxo/referenciamento do beneficiário
Outros
Especificar ________________________________________
21) Se necessário um procedimento que não consta do protocolo clínico, ou se
excede o número previsto pelo mesmo, a conduta adotada é:
Não autorização
Autorização prévia
Autorização após análise do médico auditor
Co-pagamento
Outros
Especificar _________________________________
22) Existem divergências (médicas, administrativas e financeiras) com os
prestadores, em relação aos procedimentos realizados?
Serviços de saúde
Sim
Não
Em caso afirmativo, quais as causas mais freqüentes?
Volume de procedimentos que ultrapassa o limite estabelecido
Procedimentos fora do protocolo ou da cobertura do plano
Ausência de autorização prévia pela operadora
Teto financeiro
Outros
Especificar:_________________________________________
Divergênias Médicas
Sim
Não
Em caso afirmativo, quais as causas mais freqüentes?
Volume de procedimentos que ultrapassa o limite estabelecido
Procedimentos fora do protocolo ou da cobertura do plano
Ausência de autorização prévia pela operadora
Teto financeiro
80
Outros
Especificar:_________________________________________
23)
Existe algum tipo de premiação ao usuário por baixa utilização?
( ) Sim
( ) Não
Qual?______________________________________________________
24)
Existe algum tipo de estímulo/premiação ao médico por baixa utilização?
( ) Sim
( ) Não
Qual?______________________________________________________
MODELO DE GERENCIAMENTO DO CUIDADO
25) No caso de beneficiário atendido em serviços de emergência, existe algum
mecanismo de identificação e controle desse beneficiário, visando o seu
acompanhamento futuro?
Não
Sim
Em caso afirmativo, como é realizado?
_________________________________________
26) Existe procedimento de acompanhamento para grupos especiais visando
práticas de promoção/prevenção à saúde?
Tabagismo
Idosos
Pacientes com antecedentes oncológicos (pessoal e/ ou familiar)
Outros
Especifique _______________________________
27) Que outros benefícios além da cobertura mínima obrigatória da Lei 9656, a
operadora oferece?
Programa de assistência farmacêutica
Assistência domiciliar
Transporte pré-hospitalar
Transporte aéreo
Cobertura em viagem internacional
Outros
Especificar ____________________________________
28) Existe programa de benefício farmacêutico?
Sim
Não
Em caso afirmativo, esse se dá por:
Aquisição em rede própria
Reembolso total
Reembolso parcial
Desconto em farmácia credenciada
Aquisição a preço de custo
81
29) Quais as políticas que a sua operadora têm para regular a qualidade dos
serviços prestados?
30)
Quais as políticas desenvolvidas pela operadora para a promoção à saúde?
31) Quais os mecanismos de regulação junto aos médicos que solicitam exames
acima da média?
Nome do entrevistador:
Local:
Data:
82
Anexo 4
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS - PACIENTE – Oncologia
A. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
Nome do paciente:
Nº do Prontuário:
Idade:
Sexo:
Operadora:
Tipo de Plano:
Data de início da cobertura:
Serviço de Saúde:
Quem respondeu a pesquisa:
Parentesco:
B. PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS
B1. Data da início do sintomas: _____/_____/_____
B2. Quais sintomas? _______________________________________________________
[
] Assintomático
B3. Data do diagnóstico: ____/____/____
C. ANTECEDENTES PESSOAIS
Início vida sexual: ____________ Menopausa: _____________
Tabagismo S [
] N[
]
Hipertensão S [
História familiar de câncer S [
] N[
] N[
]
]N[
]
] Qual câncer: ______________________________
Descrição do exame físico (diagnóstico): Tumor palpável S [
Não sabe [
Diabetes S [
] N[
]
]
D. SEGUIMENTO
D1. Por que procurou atendimento médico?
D2. Trocou de médico S [
]
N[
], se sim por que?
D3. Como foi o atendimento dado pela operadora?
E. ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
83
E1. Quem foi (foram) o(s) responsável(is) pelo cuidado?
E2. Quem cuida atualmente? E como cuida?
E3. Como avalia os atendimentos realizados?
E4. Quais os pontos positivos?
E5. Teve problemas? Quais (acesso, segurança técnica, etc.)?
E6. Ficou satisfeito com o atendimento dado pela operadora?
E7. Teve algum problema para realizar algum procedimento solicitado?
E8. Qual procedimento? (exames, internação, transferência para outro serviço, etc.)
E9. Que tipo de problema? (autorização prévia, parecer de especialista ou auditor, negação de
realização, etc)
Nome do pesquisador: ________________________________________________________
Local: _____________________________________________________________________
Data: _________________________
84