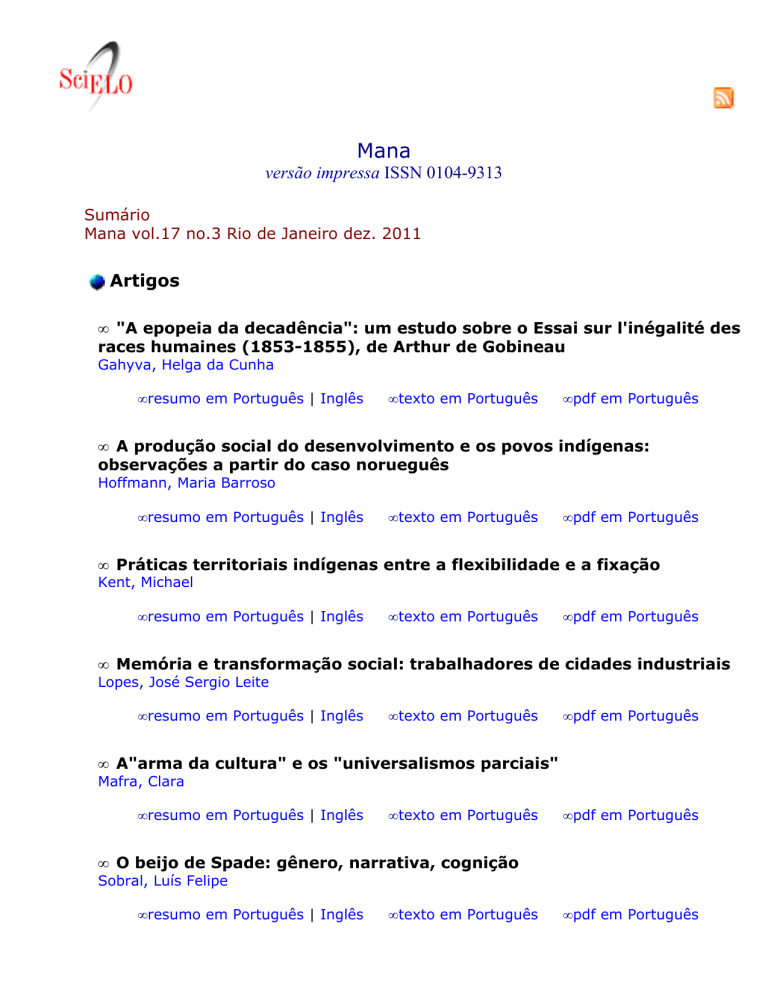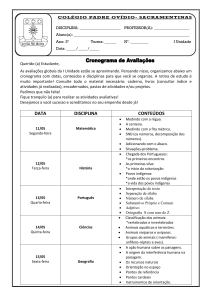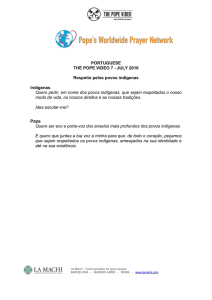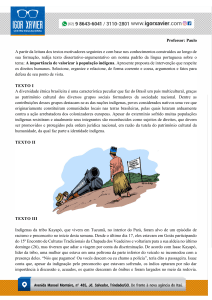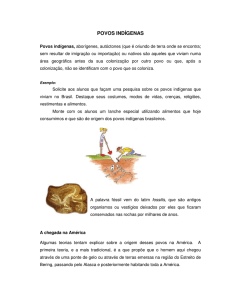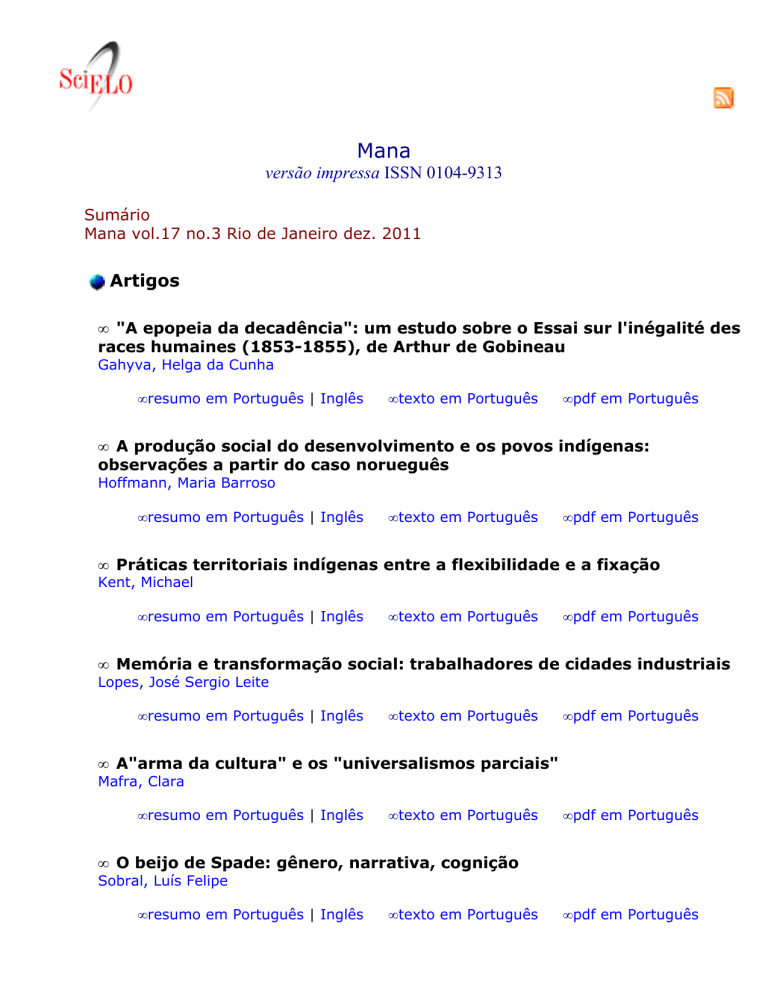
Mana
versão impressa ISSN 0104-9313
Sumário
Mana vol.17 no.3 Rio de Janeiro dez. 2011
Artigos
• "A epopeia da decadência": um estudo sobre o Essai sur l'inégalité des
races humaines (1853-1855), de Arthur de Gobineau
Gahyva, Helga da Cunha
• resumo em Português | Inglês
• texto em Português
• pdf em Português
• A produção social do desenvolvimento e os povos indígenas:
observações a partir do caso norueguês
Hoffmann, Maria Barroso
• resumo em Português | Inglês
• texto em Português
• pdf em Português
• Práticas territoriais indígenas entre a flexibilidade e a fixação
Kent, Michael
• resumo em Português | Inglês
• texto em Português
• pdf em Português
• Memória e transformação social: trabalhadores de cidades industriais
Lopes, José Sergio Leite
• resumo em Português | Inglês
• texto em Português
• pdf em Português
• A"arma da cultura" e os "universalismos parciais"
Mafra, Clara
• resumo em Português | Inglês
• texto em Português
• pdf em Português
• O beijo de Spade: gênero, narrativa, cognição
Sobral, Luís Felipe
• resumo em Português | Inglês
• texto em Português
• pdf em Português
Resenhas
• Fotografia, história e antropologia
Hollanda, Bernardo Borges Buarque de
• texto em Português
• pdf em Português
• Ethnicity, Inc
Blanchette, Thaddeus Gregory
• texto em Português
• pdf em Português
• Dos autos da cova rasa: a identificação de corpos não identificados no
Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro
Farias, Juliana
• texto em Português
• pdf em Português
• Rebelião na Amazônia.
Whitaker, James Andrew
• texto em Português
• pdf em Português
• O quilombo de Frechal: identidade e trabalho de campo em uma
comunidade brasileira de remanescentes de escravos
Antunes, Marta
• texto em Português
• pdf em Português
• O corpo da nação: classificação racial e gestão social da reprodução
em hospitais da rede pública do Rio de Janeiro
Ferreira, Letícia
• texto em Português
• pdf em Português
Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado
sob uma Licença Creative Commons
Mana
Quinta da Boa Vista s/n - São Cristóvão
20940-040 Rio de Janeiro RJ Brazil
Tel.: +55 21 2568-9642
Fax: +55 21 2254-6695
[email protected]
MANA 17(3): 501-518, 2011
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”: *
UM ESTUDO SOBRE O ESSAI SUR L’INÉGALITÉ
DES RACES HUMAINES (1853-1855),
DE ARTHUR DE GOBINEAU
Helga da Cunha Gahyva
Introdução
O objetivo deste artigo é refletir sobre uma obra bastante comentada, porém
relativamente pouco estudada:1 o Essai sur l’inégalité des races humaines2
(Gobineau 1983), do diplomata, escritor e escultor francês Arthur de Gobineau.
À época de seu lançamento, o livro despertou parca atenção mas, na virada do
século XIX para o XX, ele foi alçado à condição de peça fundadora do moderno
pensamento sobre as raças, sendo doravante rotulado como “o poço envenenado
donde brotou toda a teorização racista posterior” (Banton 1979:53).
Equivocam-se os que atribuem à obra repercussão imediata (Gay
2001:82; Azevedo 1990:25), mas não se pode dizer que o diplomata tenha
precocemente se conformado com o pífio destaque conferido a seu estudo
sobre as raças. Em 1878, ele relatava a D. Pedro II seus esforços em trazer
à tona uma segunda edição do tratado (Raeders 1938:263). Suas tentativas
revelaram-se infrutíferas: em 1882, ano de seu falecimento, ele resignadamente afirmava ao monarca brasileiro “[...] que nem Plon nem nenhum
outro editor quis fazer uma segunda edição do Essai sur l’inégalité des races”
(Raeders 1938:368).3
A “(re)descoberta” póstuma absorveu o Essai em uma discussão na
qual o conceito de raça vinha já impregnado de sugestões fenotípicas.
Em oposição à estabelecida versão exclusivamente biologizada da reflexão
de Gobineau, pretende-se, neste artigo, revelar que não se encontra no
tratado sobre as raças uma visão “moderna” da ideia de raça. Sob o léxico
racial, seu autor reatualiza uma reflexão característica da perspectiva germanista elaborada no âmbito da Querela das duas raças. Como se verá mais
adiante, a nobreza litigante de fins do século XVII e princípios do XVIII
compreendia as supostas distinções originárias entre as gentes a partir do
conceito de linhagem.
502
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
Não é ambição deste trabalho retomar o caminho que tornou o Essai
peça de destaque na história do pensamento racialista.4 O sucesso da obra, em
fins do século XIX, submeteu-se, evidentemente, às demandas próprias a um
período pródigo em interpretar as interações humanas segundo um elemento
de natureza pretensamente biológica: a raça. Por essa época, o paradigma das
ciências naturais tornava-se hegemônico, e grande parcela da intelectualidade
do fin-de-siècle conferia à ideia de raça relativa autonomia conceitual, que lhe foi
paulatinamente atribuída no desenrolar da segunda metade do século XIX.
Ainda assim, não foi sem obstáculos o caminho que conferiu notoriedade
ao tratado de Gobineau. Pouco lido em sua França natal, o livro conquistou
parcela do público alemão. Em seus últimos anos de vida, o diplomata francês
tornou-se amigo do casal Wagner, com quem chegou a passar duas temporadas em Bayreuth. Após seu falecimento, Ludwig Schemann, jovem ligado
ao círculo wagneriano que conhecera em sua segunda temporada teutônica,
tomou para si a tarefa de resgatar do esquecimento o nome de Gobineau.
Neste esforço, a filosofia da história do escritor francês, marcadamente pessimista e nostálgica, transformou-se no elogio às virtudes germânicas e ao
papel de destaque que caberia à Alemanha no concerto das nações.5
Na França, a fresca lembrança da Guerra Franco-Prussiana deixava pouco espaço para um autor a quem fora posteriormente atribuído um selo made
in Germany (Eugene 1998:213). Não à toa, Charles Maurras, um dos líderes
da Ação Francesa, foi antes crítico do que apreciador das ideias de Gobineau.
Apenas durante a Segunda Guerra Mundial os entusiastas de Vichy fizeram-se
herdeiros de Gobineau, empenhados em resgatar definitivamente para seu país
de origem o talento de um “deliberadamente ignorado [...] gênio premonitório”
(Rouault 1943:14). Sob a Ocupação, a conexão que Maurras fizera no princípio
do século, a título de denúncia, entre gobinismo e germanismo (Taguieff 2002:
79-80) fora retomada na perspectiva de uma reavaliação positiva do racismo: ao
atribuir a Gobineau a paternidade da ideia, o racismo tornava-se um fenômeno
nacional francês.6 Os rumos da história relativamente recente do século XX
foram bem-sucedidos em sua intenção de vincular o Essai à experiência nazista;
deste então, o nome do diplomata tornou-se praticamente impublicável.
Em suma, finda a Segunda Guerra, cristalizou-se uma interpretação
segundo a qual o Essai teria sido um dos principais marcos teóricos da voga
racialista característica da transição do século XIX para o XX. Especialmente
no Brasil, país no qual ele ocupou a representação diplomática durante os
anos de 1869 e 1870, suas teses teriam ecoado entre aqueles intelectuais que
se propunham a discutir a questão racial no âmbito do esforço de construção
da nação, submersos nos dilemas em torno do regime de trabalho servil e
das crescentes demandas republicanas.
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
As raças possíveis
Cumpre lembrar que nem sempre raça significou um conjunto de caracteres
físicos transmitidos hereditariamente, ao qual corresponderia um conjunto de disposições morais — a raça-espécie (Remi-Giraud 2003:203-21).
Nos dicionários do século XVIII, o vocábulo designa, em primeiro lugar, a
história das famílias consideradas na sucessão de suas gerações — trata-se
de uma concepção de raça-linhagem7 segundo a qual “as diferenças entre
as raças derivavam das circunstâncias da sua história e, embora se mantivessem através das gerações, não eram fixas” (Banton 1979:29). A acepção
hereditária não estava ausente do vernáculo, mas era atribuída, fundamentalmente, aos animais irracionais.
Linhagem engloba três ideias que hoje se apresentam de modo relativamente independente: nação, classe social e raça. Defendo a hipótese
segundo a qual a construção teórica de Gobineau em torno daquilo que ele
julgava ser sua contribuição na direção da definição de uma ideia clara e
distinta de raça não se divorcia da noção de linhagem, própria de meados do
século XVIII, e enfraquecida no desenrolar da centúria seguinte. A reflexão
gobiniana é herdeira de uma tradição intelectual imersa na tensão conceitual
expressa acima, segundo a qual a nobreza era uma nação à parte, composta
por uma determinada classe social e cujas características morais transmitiamse geracionalmente – ela possuía linhagem. Gobineau constrói sua crítica
à sociedade moderna sob essa rubrica. Tateando uma noção biológica de
raça-espécie, ele mantém-se próximo a uma noção de raça-linhagem.8
A interdependência conceitual subjacente à linhagem confere novo
sentido ao Essai, desanuviando uma gama de supostos paradoxos que só
adquire sentido quando se analisa a obra como um esforço na progressiva
definição de um conceito de raça-espécie. Mas o foco no tema familiar ganha
significado caso se considere que o tema central do tratado não é o elogio
à raça, mas a crítica à democracia.
As primeiras formulações que versam sobre um princípio de incomunicabilidade entre as gentes, que se transmite geracionalmente, datam da
já citada Querela das duas raças, embate político que opôs germanistas a
romanistas. A digressão à polêmica abre novas frentes para a compreensão
do conceito de raça particular à ficção metodológica de Gobineau, imbuído
de sugestões esboçadas pelo “feudalismo” do século XVIII9 — aqui representado pelo conde Henri de Boulainvilliers, porta-voz do partido germanista.
Nesta chave, o autor do Essai seria o derradeiro representante de um modo
de pensar as diferenças entre os homens que está na origem da ideia atual
de raça: hoje cultural, ontem biológica, antes de ontem familiar.
503
504
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
Boulainvilliers retomava uma proposição esboçada por François
Hotman, em 1574. Em reação às determinações do Concílio de Trento, o
protestante Hotman afirmava que a população francesa descendia dos germanos, e não dos romanos (Foucault 2002:142). Seu objetivo explícito era
estabelecer um elo originário entre seus patrícios e a Alemanha reformada.
Boulainvilliers tem outras preocupações: sua Histoire de l’ancien gouvernement de la France resgatava as controvérsias em torno das origens da
população francesa com o intuito de reivindicar uma origem ariana exclusiva à nobreza (Boulainvilliers 1727). A qualidade de descendente dos conquistadores francos garantia-lhe um conjunto de prerrogativas que vinham
sendo usurpadas no processo de consolidação do Estado nacional francês.
Neste sentido, sua obra tinha como objetivo reivindicar a permanência de
privilégios que, por direito, pertenceriam à nobreza francesa.
A reação germanista representava os interesses de setores da nobreza
ameaçados tanto pela crescente concentração de poder nas mãos do monarca, quanto pelos cada vez mais frequentes processos de enobrecimento
de populações plebeias. No primeiro caso, a desvalorização da nobreza
provincial em face da nobreza de corte, característica do processo de centralização real, estabelecia uma distinção entre iguais, contrariando as leis
fundamentais do reino que, alegavam os querelantes, asseguravam que
rei e nobreza deveriam se relacionar na qualidade de primus inter paris.
No segundo, os constantes processos de enobrecimento da população plebeia
introduziam uma igualdade entre diferentes, contrariando, mais uma vez,
os direitos históricos da nobreza (Furet 1982:175; Seillière 1903:XIV-XV;
Thierry 1840:54). Se apenas parcela do povo francês conta com uma origem
franca, sob a pretensa ideia de nacionalidade oculta-se uma divisão fundamental. De um lado, uma aristocracia descendente dos antigos guerreiros
arianos; de outro, uma população composta pela mistura das mais variadas
raças: romanos, gauleses etc. Estas demais categorias sociais, inferiores, não
deveriam ser admitidas no governo da nação, pois apenas a descendência
franca reservava aos verdadeiros nobres o exercício do domínio público.
O partido germanista evocava as “leis fundamentais do reino” para cindir a
nacionalidade e justificar a permanência de uma nação transterritorial com
leis próprias: a nobreza (Foucault 2002:169). Em suma, para o nobre litigante
um título nobiliárquico impunha um conjunto de disposições societárias que
passava ao largo das determinações da pena real. As qualidades próprias à
nobreza reproduziam-se geracionalmente, pressupondo o pertencimento à
determinada linhagem.
A Revolução Francesa derrotou as pretensões do germanismo à Boulainvilliers (Seillière 1903:XIX; Thierry 1840:104). Nos momentos imediatamente
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
anteriores ao evento de 1789, parte expressiva da nobreza aceitara a versão
do Abade Mably quanto à real gênese dos franceses: a origem germânica
era agora estendida ao Terceiro Estado. A ficção histórica do publicista prérevolucionário propunha a reconciliação nacional no seio do germanismo,
exemplificando um viés dessa ideologia que renunciou ao tema da linhagem, da raça, daquelas qualidades transmitidas no seio das nobres famílias
(Mably 1797:110-111). Não há dúvida de que permanece um princípio de
exclusão, pois apenas aquelas duas classes são aptas para lidar com a coisa
pública (Furet 1982:179; Thierry 184:101). Ainda assim, Mably representa
um germanismo sedento de negociação. A burguesia tornara-se herdeira
comum daquele patrimônio conferido pela descendência germânica.
Se a versão do abade prevaleceu sobre a de Boulainvilliers, nunca deixou
de existir certo germanismo dissidente que se recusava a dialogar com os novos
tempos. Na virada do século XVIII para o seguinte, ainda havia eruditos que,
negando a legitimidade da nação, se criam partícipes de certa Internacional
Aristocrática (Seillière 1903:XXXII). Se, por essa época, as então anacrônicas
reivindicações de setores mais sectários da nobreza soavam como certo “canto
do cisne”, durante a voga conservadora que se seguiu à Restauração, em 1814,
a controvérsia germanista foi retomada pelo Conde de Montlosier, porta-voz
da nobreza contrarrevolucionária (Godechot 1961:11).
O universo de possibilidades objetivas de Montlosier tornava contraproducente, por um lado, insistir no vínculo entre seus correligionários
legitimistas e aqueles supostos conquistadores francos — além das parcas
referências históricas, um ataque frontal ao soberano poderia implicar o
débacle da própria monarquia em um momento no qual estavam ainda em
jogo alguns fundamentos das hierarquias tradicionais. Por outro, a conjuntura
de guerras exaltara o sentimento nacional francês, inviabilizando o estabelecimento de uma ancestralidade exclusivamente germânica à nobreza que
lhe era contemporânea. Não à toa, Montlosier substitui o vocábulo raça por
povo — peuple double (Montlosier 1814-15:143-144). Menos importante
do que insistir nas particularidades étnicas originais dos Estados era reconhecer que os verdadeiros franceses formavam um povo com características
radicalmente distintas daquele que ele cria estrangeiro — o Terceiro Estado.
A chave para a compreensão desse antagonismo irreconciliável pode ser
encontrada no papel que Montlosier atribuía à família: era ela a unidade
fundamental da nação francesa. Os indivíduos importavam pouco enquanto
tais — eles eram, antes, membros de determinadas linhagens (Montlosier
1814-15:101). Daí seu olhar desconfiado aos constantes enobrecimentos, pois
sob um título de nobreza subjazia uma concepção de mundo reproduzida
geracionalmente. Ou seja, o conceito de povo mobilizado por Montlosier
505
506
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
incorporava aquela comunidade de caracteres que Rémi-Giraud ressalta
em sua definição de raça-linhagem. O recurso à ancestralidade permitia-lhe
justificar as estratégias contrarrevolucionárias sustentando a necessidade
histórica das hierarquias.
A ideologia germanista encerra uma reflexão que informou simultaneamente os pensamentos liberal e racialista do século XIX. No primeiro caso, uma
vertente do germanismo cuja genealogia une Boulainvilliers, Montesquieu,
Mably e Tocqueville; no outro, Boulainvilliers, DuBuat de Nançay, Montlosier
e Gobineau. Em ambos, um legado intelectual estabelecido sobre uma tríplice
identificação: no eixo negativo, centralização / igualdade / homogeneidade;
no positivo, descentralização / liberdade / heterogeneidade.
Tocqueville é o último representante de um tipo de germanismo no qual
a linhagem sucumbe em face da afirmação da nacionalidade e da substituição
da rigidez da ordem hierárquica por certa flexibilidade característica das sociedades divididas em classes (Aron 1987:64). Em Gobineau, a incorporação
da herança germanista torna a raça chave explicativa para a incomunicabilidade constitutiva das qualidades da nobreza. Ou seja, o primeiro incorpora
o novo preceito burguês da igualdade entre os homens; o segundo reage à
proclamação da igualdade buscando fundar alhures as eclipsadas distinções
sociais particulares às sociedades divididas em ordens.
À burguesia vitoriosa importava despir o conceito de sua significação
genealógica, isto é, daqueles elementos que outrora a associavam exclusivamente à noção de linhagem. Os herdeiros do abade Mably já haviam
posto de lado o tema da guerra das raças, e a nação erguia-se sobre os preconceitos heráldicos. O moderno conceito burguês de raça repunha o tema
da natureza. As diferenças raciais tornavam-se alvo de estudos empíricos
voltados para a análise de traços fenotípicos. Nessa perspectiva, o nexo que
indica Arthur Herman (1999) entre o recurso à temática racial e a filiação
ao credo liberal apenas faz sentido quando referido àqueles teóricos que,
ao contrário de Gobineau, despiram-se do tema da dualidade nacional.
A raça biologizada não mais necessitava recorrer à história. Seus fundamentos eram observados no laboratório, não no recorrente ciclo histórico que, tal
como revelado no Essai, conduzia as civilizações à derrocada.
Gobineau, não há dúvidas, foi um ferrenho adversário do liberalismo.
Na aurora do século XIX, o pensamento liberal privilegiava o tema da autonomia individual e da perfectibilidade humana em detrimento daquelas
noções que a subsumiam exclusivamente em mônadas coletivas, como a raça
ou a família. Na segunda metade do século XIX, racialismo e liberalismo
encontraram-se. Sob os escombros da raça-linhagem, ergueu-se aquela
concepção de raça-espécie na qual desaparecia o tema familiar. Burgueses,
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
afinal, não têm linhagem. O racialismo do fin-de-siècle renunciava ao tema
da nação tal como esboçado pela nobreza querelante de outrora, e revigorado
pelo erudito francês à sua época. Para essa tarefa, os “homens de ciência”
do século XIX prescindiram de Gobineau.
O surgimento de uma concepção de raça-linhagem e sua posterior conversão em raça-espécie revela sob quais condições os homens começaram a
pensar na existência de características que se transmitiriam geracionalmente
no interior de determinados grupos. Em outras palavras, nas sociedades
estavelmente hierarquizadas, a distinção entre os grupos é dada a priori.
Porém, à medida que nelas penetram as reivindicações democráticas, o
terreno torna-se fértil para a afirmação de novas formas de diferenciação.
Em uma sociedade igualitária — no sentido tocquevilliano do termo — a
distinção transfere-se, paulatinamente, para o campo da natureza. Conforme
sugere Evans-Pritchard, “a proclamação da igualdade fez explodir um modo
de distinção centrado no social, mas que misturava indistintamente aspectos
sociais, culturais, físicos” (Evans-Pritchard apud Dumont 1992:314).
O Tratado sobre as raças
Na dedicatória do Essai, Gobineau apresenta a questão que orientava suas
preocupações: quais as causas da agitação característica das épocas modernas (Gobineau 1983:136)? Na resposta à indagação, destaque ao elemento
que, cria ele, explicava os reiterados fenômenos históricos de desenvolvimento e ruína das civilizações: os cruzamentos raciais.
O tratado é dividido em duas partes: na primeira, uma alentada exposição teórico-metodológica na qual ele explica os conceitos centrais que,
por sua vez, serão “aplicados” na parte subsequente, composta pela história
da criação e da ruína daquelas dez civilizações que, segundo Gobineau,
mereceram, de fato, este epíteto: no velho mundo, as civilizações indiana,
egípcia, assíria, grega, chinesa, romana e germânica; na América, as três
grandes civilizações pré-colombianas.
O diplomata francês ficou conhecido como um crítico à miscigenação.
Esta é uma meia-verdade que anuvia o “paradoxo trágico” (Taguieff 2002:51)
no qual se encerra a pessimista filosofia da história gobiniana: como as raças
têm qualidades distintas, é da contribuição de cada uma delas que advém
o desenvolvimento civilizacional. Sem a mistura, os povos estariam condenados ao isolamento e limitados aos condicionamentos impostos por sua
estreita constituição étnica. Mas com ela irrompe o princípio de dissolução
inerente ao corpo social: a degeneração (Gobineau 1983:162-163).
507
508
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
Uma civilização degenerada perde paulatinamente o vigor que outrora
a caracterizava, levando à diluição irreversível do sangue dos fundadores, ou
seja, de sua raça. Mas qual sentido conferia Gobineau a este conceito? Ele
já se definira como “inimigo do século”, e o tratado aponta para uma recusa
radical da nova configuração política e ideológica da Europa moderna —
neste sentido, “sua hipótese [...] é mais social e política que propriamente
biológica” (Banton 1979:57-58). Entretanto, o Essai não havia como deixar
de ser, mesmo a contragosto, filho de seu tempo. O diplomata apropria-se
pouco confortavelmente da hegemônica divisão tripartite entre os grupamentos humanos — branco, negro e amarelo — na busca de um fundamento
universal determinante dos processos históricos (Gobineau 1983:280).
Gobineau vinculava o ímpeto civilizador menos à variação branca em
sua totalidade do que a um ramo específico desta raça. Ele desejava ilustrar
a importância da família ariana para o desenvolvimento das civilizações. Se
iniciava seu estudo em busca da explicação das agitações contemporâneas,
importava-lhe, sobretudo, narrar a epopeia dos arianos germânicos, fundadores da civilização ocidental.
Segundo o diplomata, os movimentos importantes da sociedade europeia
tiveram sua origem na lenta introdução do elemento germânico nas camadas
étnicas subjacentes. Assim como as demais grandes civilizações que povoaram o globo, ela se tornou merecedora desse epíteto porque, em sua gênese,
encontrava-se aquela energia criadora singular à raça branca. Energia sempre
paradoxal, que civiliza porque mistura e, por isso mesmo, leva à degeneração.
Mas a ruína foi por vezes driblada através do afluxo de novas migrações arianas
aptas a resgatar a vitalidade perdida. Desta feita, a moderna civilização que,
segundo ele, em importantes aspectos superou as que lhe precederam (Gobineau
1983:299) vive seu irreversível crepúsculo (Gobineau 1983:1164).
O diplomata atribui exclusivamente à raça branca uma lei de atração que
a impele à mistura (Gobineau 1983:167). Partidário da herança germanista,
segundo a qual se atribui à nobreza o começo da corrupção (Boulainvilliers
1727:38; Tocqueville 1998:9), Gobineau, entretanto, a isenta de responsabilidade: atrelando o destino a ingredientes suposta e precariamente biológicos, a
aristocracia torna-se inocente quanto à igualdade que, paradoxalmente, imprime ao mundo. Se a civilização realiza-se por meio da necessária miscigenação
que, aos poucos, propaga a igualdade, o impulso civilizatório é próprio aos
instintos das raças nobres — que não conhecem distinções entre os seus.
Gobineau pretendia estabelecer uma lei universal que explicasse a ascensão e a queda das civilizações. Pode-se sugerir que ele buscava esboçar
um conceito de raça-espécie mas, para justificar seus argumentos, recorria
a uma visão da decadência própria do universo da raça-linhagem. Com um
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
vocabulário pretensamente contemporâneo, ele universalizava a crítica nobiliárquica ao Antigo Regime, corroborando a trajetória da história francesa
mobilizada pelos opositores da potência monárquica durante a Querela, e
personificada, em sua época — sob cores distintas, é verdade — na obra de
seu amigo Tocqueville, O Antigo Regime e a revolução (Tocqueville 1897).
Tome-se como exemplo sua explicação para a ruína da civilização assíria, produzida pela mesma razão que lhe conferiu dinamismo: sua intensa
vida mercantil. Por isso, lembrava Gobineau, não se deviam estabelecer
relações necessárias de complementaridade entre a vitalidade de uma população e sua tendência ao comércio produtivo. As trocas não se limitavam
aos produtos — o sucesso comercial abria as portas para as trocas étnicas.
À proporção que se intensificavam as misturas, elevavam-se as inclinações democráticas. A corrosão da ordem aristocrática iniciou-se na própria
realeza, que já não guardava mais em suas veias o sangue de seus longínquos ancestrais. Em seguida, as reivindicações igualitárias encontraram
eco entre “as massas turbulentas dos trabalhadores” (Gobineau 1983:397).
Entretanto, “a revolução só triunfa quando nasce dos auxiliares que vivem
no interior dos palácios nos quais ela se esforça para romper as portas”
(Gobineau 1983:398), isto é, setores da nobreza empreenderam combates
contrários aos seus próprios interesses. Nesta tarefa, foram paradoxalmente
bem-sucedidos: ao fim e ao cabo, a nobreza sucumbiu plenamente, conforme
Gobineau depreendia desse exemplo histórico.
No caso da civilização grega, ele afirma que, enquanto a linhagem permaneceu como o elemento definidor da hierarquia social, “nenhuma sombra
de igualdade entre os outros ocupantes do solo e os mestres audaciosos” (Gobineau 1983:671), os arianos. Todavia, o apego à origem familiar sucumbia ante
a lei de atração. A proibição dos cruzamentos era insuficiente para impedi-los.
À medida que eles proliferavam, a legitimidade da interdição era colocada em
cheque. As misturas que fundaram a Grécia semítica desenvolveram “a mais
espiritual, a mais inteligente” (Gobineau 1983:93) habilidade artística jamais
vista. Mas promoveram, igualmente, seus mais degradantes vícios.
A revogação da hereditariedade dinástica foi o principal sintoma da reviravolta étnica grega. Em uma sociedade racialmente estratificada, a escolha
das lideranças era produto do acordo entre os elementos pertencentes ao segmento hierarquicamente superior — uma escolha entre iguais. À proporção
que avançava a presença semita (populações mediterrâneas), a sociedade
tornava-se cada vez mais heterogênea. Como escolher uma liderança comum
aos diferentes (Gobineau 1983:693)? Segundo Gobineau, essa impossibilidade
levou a civilização grega a criar a entidade fantasmagórica — a pátria. Para
ele, subjazia-lhe um estado de confusão étnica somente compatível com um
509
510
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
princípio de governo despótico. O absolutismo patriótico foi uma invenção
semita cujo objetivo residia na ilusão de unificar instintos díspares.
Imagina-se, portanto, na Grécia, a criação de uma personagem fictícia, a Pátria,
e ordena-se ao cidadão, por tudo aquilo que o homem pode imaginar de mais
sagrado e de mais temível, pela lei, o preconceito, o prestígio da opinião, sacrificar
em nome dessa abstração seus gostos, suas ideias, seus hábitos, até suas relações
mais íntimas, até suas afeições mais naturais, e essa abnegação de todos os dias,
de todos os instantes, foi a menor moeda dessa outra obrigação que consistia em
dar, sob um indício, sem se permitir um murmúrio, sua dignidade, sua fortuna e
sua vida logo que essa mesma pátria a demandava (Gobineau 1983:678-679).
Nos momentos subsequentes a tal criação, a força do elemento ariano
era ainda suficientemente presente para garantir que os representantes
supremos da pátria fossem, ao menos, selecionados no seio das mais
nobres famílias. À medida que avançava a degeneração, tomavam corpo
outros sintomas particulares aos momentos de anarquia étnica (Gobineau
1983:850): por um lado, a ascensão do dogma igualitário e sua correlata
agenda reivindicatória, estopim de convulsões sociais. De outro, a prática
centralizadora, que pretendia simplificar as relações políticas agrupando
diferentes estados em apenas um.
Nos demais exemplos históricos narrados por Gobineau, reitera-se um
modelo de decadência que retoma os argumentos da reação nobiliárquica
que se opôs ao poder real durante a Querela das duas raças. Note-se que,
não fosse a referência nominal à Grécia, a longa citação acima poderia facilmente ser confundida com as análises de Gobineau a respeito da recente
história francesa (Gobineau 1928). Seu esforço erudito, ao invés de trazer um
conteúdo novo à ideia de raça, mobilizava esse vocabulário, ainda precariamente biologizado, para renomear uma filosofia da história cujo vernáculo
a Revolução de 1789 anacronizara.
A concepção racial de Gobineau
Até agora, pouco se disse sobre o conteúdo efetivo que o diplomata atribuía
ao conceito de raça. O que significava, afinal, ser branco, negro ou amarelo?
Na verdade, Gobineau não apresenta ao leitor uma definição precisa da
ideia de raça (Banton 1979:54), limitando-se a alegar que, menos do que as
características físicas, lhe importava investigar os efeitos morais dos condicionamentos étnicos. Mas, quando ele precisava os efeitos dos estímulos
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
biológicos sobre o comportamento humano, apresentava uma caracterização
que revelava o viés classista de sua definição de raça. Sugiro que a cada
uma de suas raças correspondia um conjunto de disposições analiticamente
associado à estratificação social presente no Antigo Regime francês: sua ficção histórica baseava-se em três raças/classes originais: negra/campesinato,
amarela/burguesia, branca/aristocracia.
Aos negros ele destinava o último degrau em sua hierarquia racial.
Isentos de miscigenação, jamais extrapolariam seu restrito círculo intelectual.
A despeito da medíocre capacidade intelectiva, eles se destacavam pela ímpar
intensidade no terreno das sensações — traço paradoxal, que estabelecia
simultaneamente as razões de sua inferioridade e a principal contribuição da
raça negra para o desenvolvimento das civilizações. Quando aliada ao elemento branco, essa tendência faz surgir a sensibilidade artística (Gobineau
1983:342). Para ilustrar a face negativa dessa “intensidade frequentemente
terrível” (Gobineau 1983:340), Gobineau recorria rabelaisianamente ao tema
da alimentação: “Todos os alimentos lhe são bons, nenhum o desagrada.
O que ele deseja é comer, comer em excesso, com furor; não há carniça
indigna de ser absorvida por seu estômago” (Gobineau 1983:340).
Esta descrição coaduna-se com uma caracterização recorrente daquilo
que seria o comportamento padrão das populações camponesas. Na literatura,
ela pode ser exemplificada pela obra de Rabelais, tal como revela Bakhtin
(1996), à época de Gobineau, na descrição de Marx dos pequenos camponeses em O 18 Brumário (1974:277); nas ciências sociais contemporâneas,
no conceito de gosto da necessidade, de Bourdieu (1979:435-448).10
Os amarelos são a antítese da raça negra: enquanto esta manifesta
permanente passionalidade, aqueles privilegiam a dimensão utilitária, caracterizando-se por um desejo sóbrio e obstinado pelos prazeres materiais,
[...] em todas as coisas, tendência à mediocridade; compreensão bastante fácil
daquilo que não é nem muito elevado ou profundo; amor ao útil [...]. Os amarelos são pessoas práticas no sentido estreito do termo. Eles não sonham, não
apreciam as teorias, inventam pouco, mas são capazes de apreciar e adotar
aquilo que os serve. Seus desejos se limitam a viver o mais doce e comodamente
possível (Gobineau 1983:341).
Ora, não fosse a palavra amarelos, a citação poderia ter saído das páginas de A democracia na América, reforçando a hipótese segundo a qual a
raça amarela representa, na ficção gobiniana, a burguesia ascendente que,
sob a influência dos valores igualitários, prezava as “relações habituais [...]
mais simples e mais cômodas” (Tocqueville 2000:209).
511
512
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
O estudo de Tocqueville sobre os Estados Unidos foi citado no Essai
uma única vez, em uma nota de rodapé (Gobineau 1983:207). Se as diferenças entre ambos saltavam aos olhos, as afinidades iam muito além do que
poderia sugerir a parca referência em um pé de página. Herdeiros comuns
do legado germanista, eles compartilhavam impressões sobre o caráter do
homem burguês — que Gobineau insistia em chamar de amarelo.
No Essai, a civilização chinesa caracterizava-se por seu viés utilitário.
Predominantemente amarela, ela devia a essa raça seu comum repúdio pelas
teorias filosóficas abstratas. Se “não há, nos Estados Unidos, quase ninguém
que se dedique à porção essencialmente teórica e abstrata dos conhecimentos
humanos” (Tocqueville 2000:48), os chineses “amam a ciência no que diz
respeito à sua aplicação imediata” (Gobineau 1983:588). Se os americanos
não têm escola filosófica própria (Tocqueville 2000:3), na China “a filosofia,
e sobretudo a filosofia moral, objeto de grande predileção, consiste apenas
em máximas usuais” (Gobineau 1983:587).
Tanto no Novo quanto no Velho Mundo, um mesmo instinto utilitário
mantinha a população imune às abstrações sediciosas tão particulares à
França. Se Tocqueville explicava “por que os americanos nunca foram tão
apaixonados quanto os franceses pelas ideias gerais em matéria política”
(Tocqueville 2000:15), Gobineau assegurava que os chineses mantinham-se
afastados das teorias socialistas (Gobineau 1983:591).
A analogia entre a raça branca e a aristocracia era imediata, afinal, sua
superioridade étnica refletia-se em sua posição privilegiada na estrutura
social. Brancos e amarelos compartilhavam certo senso de utilidade, mas os
primeiros conferiam-lhe maior abrangência: seu instinto de ordem temperava
seu gosto pronunciado pela liberdade. Daí advinha sua hostilidade em relação à organização formalista. Dado que os brancos são os únicos capazes de
domar a lei de repulsão que interdita os cruzamentos, sobrepondo-lhe uma
lei de atração que os impele ao contato com o diferente, foram exatamente
seus pendores civilizatórios que os conduziram à quase extinção: seria em
vão que se procuraria um legítimo representante da raça branca entre as
atuais aglomerações mestiças (Gobineau 1983:281).
A fusão racial, portadora dos instintos igualitários, conduziu as civilizações pretéritas à anarquia étnica. Em momentos diversos, porém, a decadência estancou-se devido à entrada em cena de populações privilegiadas. Daí a
particularidade dos novos tempos: desta feita, a heterogeneidade chegava a
seu termo, decompondo até a neutralização definitiva os caracteres originais.
Pela primeira vez na história da humanidade, o sangue ariano revelava-se
estéril (Gobineau 1983:284), ou seja, as combinações étnicas agora irrefreáveis e unívocas unificaram aquilo que, nas sociedades precedentes,
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
permaneceu múltiplo: a moderna civilização europeia transformou-se em
um todo homogêneo. A era da unidade era a versão gobiniana para o fim
da história (Gobineau 1983:1166).
Categoria moderna, a raça pertence paradoxalmente ao passado. Para o
diplomata, a história do desenvolvimento das raças já atravessou três distintas
fases: primária, secundária e terciária. Contemporaneamente, inaugura-se a
etapa quaternária, na qual a ideia de raça perde sentido em face da anarquia
étnica (Gobineau 1983:284). Ora, se mais acima foi sugerido que a hierarquia
racial de Gobineau pode ser lida como uma metáfora sobre a estratificação
social da sociedade francesa pré-revolucionária, pode-se sugerir que essa
raça quaternária é provavelmente aquela classe exclusivamente moderna,
brotada das entranhas da velha ordem: o proletariado. A irrupção da nova
classe operária no cenário público traduz a impossibilidade de regeneração,
afinal, “as condições de existência da velha sociedade já estão destruídas
nas condições de existência do proletariado” (Marx & Engels 1998:18).
Neste sentido, pode-se supor que sua verve fatalista reforçou-se durante
as manifestações de junho de 1848, contribuindo decisivamente para a formulação das conclusões expressas no Essai. As jornadas revolucionárias, para ele,
representavam “acontecimento sintomático da decadência da Europa” (Banton
1979:57). Observe-se que, se data de 1851 a primeira referência que Gobineau
faz ao tratado, o testemunho de sua esposa assegura que a decisão de escrevêlo remonta a 1848 (Boissel 1993:110), mesmo ano no qual ele declara em seu
poema Le roman de Manfredine: “Eu odeio mortalmente o poder popular [...].
Sim, o povo é estúpido” (Gobineau apud Gaulmier 1983:XXXI).
Considerações finais
O Essai inovava em sua conclusão. Na perspectiva racialista otimista, os valores da civilização triunfariam sobre todos; sua vertente pessimista afirmava
a insociabilidade do selvagem: para preservar-se do contágio, condenava a
miscigenação. Gobineau reescreveu o pessimismo: a mistura racial levaria à
degenerescência da civilização. Esse processo irreversível estava já em estado
avançado. Em outras palavras, aquele abastardamento dos poderes locais inscrito na história da formação do Estado moderno — a centralização — cumpriu sua
obra: a vitalidade e a pluralidade singulares à organização hierárquica cederam
seu espaço à ordem igualitária. Como notara Marx, “a burguesia rasgou o véu
comovente e sentimental do relacionamento familiar” (Marx & Engels 1998:10).
Para Gobineau, esse longo processo, iniciado no seio da própria nobreza, anulou
o valor das linhagens — por isso, não há retorno — afinal,
513
514
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
[...] quando [...] o poder de fazer fortuna, de se ilustrar por meio de descobertas
úteis ou talentos agradáveis, foi adquirido por todos, sem distinção de origem
[...] a nação primitivamente conquistadora, civilizadora, começa a desaparecer
(Gobineau 1983:169).
A teoria da miscigenação de Gobineau traduz uma resposta particular
às crescentes reivindicações igualitárias que varreram o século XIX. O Essai
reproduzia em tempos pretéritos a relativamente recente história francesa. Sua
novidade consistia em extrair uma dinâmica de decadência que universalizava
os argumentos que, na crítica da nobreza germanista, eram ainda predominantemente históricos. Dito de outro modo: ele narrava a glória e a ruína das civilizações
resgatando passo a passo a crítica da reação nobiliárquica à formação da monarquia absoluta. A teoria racial de Gobineau atribuía um fundamento ontológico à
centralização monárquica: tratava-se de um processo universal inscrito na lógica
interna do movimento civilizacional. De certo modo, ele absolvia Henrique IV e
seus sucessores. Até Richelieu tornava-se um fantoche guiado por uma lei natural.
Não havia meios de resistir à lei da atração. A Revolução, afinal, já triunfara...
Recebido em 15 de dezembro de 2010
Aprovado em 14 de junho de 2011
Helga da Cunha Gahyva é professora adjunta do Departamento de Sociologia
do IFCS/UFRJ. E-mail: < [email protected]>
Notas
* Título tomado de empréstimo do importante livro de Robert Dreyfus, indicado
na bibliografia.
A afirmação adquire consistência quando se constata o número expressivo de
títulos que fazem referência ao estudo sobre as raças de Gobineau sem fornecer indicação correta quanto à sua data de publicação. Em 1954, Dante Moreira Leite (2002:442)
assegurava que o tratado havia sido editado em 1854. Tanto Petrucelli (1996:134) quanto
Ventura (1991:193) afirmam que sua publicação ocorreu em 1854. Schwarcz (1993:276),
por sua vez, diz que o livro foi lançado em 1853, o que é verdadeiro somente quanto
aos seus dois primeiros tomos. Segundo suas indicações bibliográficas, a autora parece
1
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
crer tratar-se de obra em volume único, equívoco reiterado em trabalhos posteriores
(2001:41; 1995:190). O descuido, porém, não é exclusividade nacional. Telles (2003:43)
garante que o tratado data de 1856. Cf. também: Lester, P. & Millot, J. 1936:212; Wieviorka 1991:230; Schure 1920:283. Ora, a ausência de um contato direto com a obra
parece a óbvia explicação para o prosaico e reiterado engano. Segue-se daí a conclusão
de que Gobineau vem frequentemente recebendo uma interpretação de segunda mão,
o que não raramente compromete a apreciação de suas ideias.
2
Doravante denominado apenas Essai.
3
Em 1884, o Essai seria enfim reeditado.
4
Assume-se, neste artigo, a distinção estabelecida tanto por Todorov (1993:10)
quanto por Taguieff (2002:17) entre racialismo e racismo. O primeiro equivale a uma
formulação doutrinária, e apenas se torna racismo quando autoriza um programa político discriminatório. O racismo, em síntese, pode ser compreendido como uma variação
comportamental da ideologia racialista. Nessa chave, a filosofia da história de Gobineau
limita-se ao racialismo, pois seu tratado sobre as raças não fundava qualquer programa
político – semelhante tentativa esbarraria na convicção primeira subjacente à obra:
“a impossibilidade absoluta de reversão do declínio” (Taguieff 2002:36).
5
Cumpre lembrar que, no Essai, Gobineau nega qualquer vínculo entre o herói
ariano e o alemão contemporâneo. Essa convicção jamais o abandona. Décadas depois,
em Ce qui se passe en Asie, ele reiterava: “Na França [...], o gênio germânico foi sufocado sob o número. A Alemanha não foi mais favorecida. [...] O sangue glorificado
por Tácito não está então na Alemanha nem tão abundante nem tão difundido como
se quis crer” (Gobineau 1928:25-16).
6
“A partir de 1933, é o racista que aparece à plena luz e não mais o ‘agente’ do
estrangeiro” (Eugene 1998:226).
“Ainda que a palavra raça seja usada [...] de um modo compatível com as noções de distinções naturais, não tinha nesta altura quaisquer conotações biológicas”
(Banton 1979:27).
7
Se no Essai ele se mantém “próximo”, quando analisada em conjunto, sua
obra caminha na direção de uma adesão plena à noção de raça-linhagem, tal como
expresso em seu derradeiro livro, Histoire de Ottar Jarl, pirate norvégien, conquérant
du pays de Bray en Normandie et de sa descendance, publicado em 1879.
8
Com esta expressão, Seillière não afirma a existência de uma organização
feudal na França setecentista. Trata-se, ao contrário, de uma guinada nostálgica em
direção à Idade Média, cujo ponto de partida é, exatamente, o desmantelamento
das relações sociais que teriam caracterizado o período feudal. Para se referir a
Boulainvilliers e seus pares, Guizot utiliza a expressão “publicistas feudais” (Guizot
1829-1832:2). Cassirer adota a expressão de Seillière: “Com intuito de provar as
pretensões da nobreza francesa, Gobineau voltou a uma doutrina que havia sido
9
515
516
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
proposta e defendida no século XVIII por Boulainvilliers e que tinha se tornado o
fundamento da teoria do feudalismo” (Cassirer 1997:270).
Deve-se ressaltar que as análises de Bahktin e Bourdieu referem-se às classes
populares em geral, e não apenas à camponesa.
10
Referências bibliográficas
ARON, Raymond. 1987. As etapas do
DUMONT, Louis. 1992. Homo hierar-
pensamento sociológico. Brasília: Ed.
Universidade de Brasília.
AZEVEDO, Eliana. 1990. Raça: conceito e
preconceito. São Paulo: Ática.
BAKHTIN, Mikhail. 1996. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais.
São Paulo: HUCITEC.
BANTON, Michael. 1979. A ideia de raça.
Lisboa: Edições 70.
BELLESSORT, André. 1931. Les intellectuels et l’avênement de la Troisième
République (1871-1875). Paris: Bernard Grasset.
BOISSEL, Jean. 1993. Gobineau: biographie (mythes et réalité). Paris: Berg
International.
BOULAINVILLIERS, Henri de. 1727. Histoire de l’ancien gouvernement de la
France: avec XIV lettres historiques
sur les parlements où états généraux.
Tome 1. La Haye: Aux Dépens de la
Compagnie.
BOURDIEU, Pierre. 1979. La distinction:
critique sociale du jugement. Paris:
Les Éditions du Minuit.
CASSIRER, Ernst. 1997. El mito del Estado.
Cidade do México: Fondo de Cultura
Econômica.
DREYFUS, Robert. s.d. La vie et les prophéties du comte de Gobineau. Paris:
Calman-Lévy.
chicus: o sistema das castas e suas
implicações. São Paulo: EdUSP.
EUGENE, Eric. 1998. Wagner et Gobineau:
existe-t-il un racisme wagnérien? Paris:
Cherche Midi.
FOUCAULT, Michel. 2002. Em defesa da
sociedade: curso no Collège de France
(1975-1976). São Paulo: Martins Fontes.
FURET, François. 1982. L’atelier de l’histoire. Paris: Flammarion.
GAULMIER, Jean. 1983. “Introduction“.
In: Arthur de Gobineau, Oeuvres.
Tomo I. Paris: Gallimard. pp. IX–LVII.
GAY, Peter. 2001. O cultivo do ódio: a experiência burguesa da Rainha Vitória
a Freud. São Paulo: Cia. das Letras.
GOBINEAU, Arthur de. 1928. Ce qui se passe en Asie et l’instinct révolutionnaire
en France. Paris: Cahiers Libres.
___. 1983. “Essai sur l’inégalité des races
humaines”. In: Oeuvres. Tomo I. Paris: Gallimard. pp. 135-1174.
GODECHOT, Jacques. 1961. La contre-révolution: doctrine et action (1789-1804).
Paris: Presses Universitaires de France.
GUIZOT , François. 1829-1832. Cours
d’histoire moderne: histoire de la civilisation en Europe et en France. Paris:
Pichon et Didier.
HERMAN, Arthur. 1999. A ideia de decadência na história ocidental. Rio de
Janeiro: Record.
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
LEITE, Dante Moreira de. 2002 [1954].
O caráter nacional brasileiro: história
de uma ideologia. São Paulo: Ed.
UNESP.
LESTER, P. & MILLOT, J. 1936. Les races
humaines. Paris: Armand Colin.
MABLY, Gabriel de. 1797. Observations
sur l’histoire de France. Paris: Bossange/ Masson et Besson.
MARX , Karl. 1974. O 18 Brumário e
cartas a Kugelman. Rio de Janeiro:
Paz & Terra.
___. & ENGELS, Friedrich. 1998. “Mani­
festo do Partido Comunista”. In: Daniel
Aarão Reis Filho (org.), O Manifesto
Comunista 150 anos depois. Rio de
Janeiro: Contraponto. pp. 7-41.
MONTLOSIER , François-Dominique.
1814-15. De la monarchie française
depuis son établissement jusqu’à nos
jours. Paris: H. Nicolle.
PETRUCCELLI, José Luis. 1996. “Doutrinas francesas e o pensamento racial
brasileiro”. Estudos, Sociedade e
Agricultura, 7:134-149.
RAEDERS, George (org.). 1938. D. Pedro II e
o Conde de Gobineau: correspondências inéditas. São Paulo: Cia. Editora
Nacional.
REMI-GIRAUD, Sylvianne. 2003. “Le mot
race dans les dictionnaires français
du XIXe siècle”. In: Sarga Moussa
(dir.), L’idée de race dans les sciences
humaines et la littérature (XVIIe et XIX
siècles): actes du colloque international
de Lyon (16-18 novembre 2000). Paris:
L’Harmattan. pp. 203-221.
ROUAULT, Joseph-Marie. 1943. La Troisième République vue par le Comte de
Gobineau. Paris: Mercure de France.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. 2001. “Dando
nome às diferenças”. In: Eni de Mesquita Samara (org.), Racismo & racistas: trajetória do pensamento racista no
Brasil. São Paulo: Humanitas/FFLCH/
USP. pp. 9-43.
___. 1995. “Nomeando as diferenças: a construção da ideia de raça no Brasil“.
In: Gláucia Villas Bôas (org.), O Brasil
na virada do século: o debate dos
cientistas sociais. Rio de Janeiro:
Relume-Dumará. pp. 177-191.
___. 1993. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no
Brasil – 1870-1930. São Paulo: Cia.
das Letras.
SCHURE, Edouard. 1920. Précurseurs et
révoltés. Paris: Perrin & Cia.
SEILLIÈRE, Ernest. 1903. Le comte de Gobineau et l’arianisme historique. Paris:
Plon.
TAGUIEFF, Pierre-André. 2002. La couleur
et le sang: doctrines racistes à la
française. Paris: Mille et Une Nuits.
TELLES, Edward. 2003. Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica.
Rio de Janeiro: Relume-Dumará.
THIERRY, Augustin. 1840. Considérations
sur l’histoire de France: récits des
temps mérovingiens. Paris: J. Tessier.
TOCQUEVILLE, Alexis de. 2000. A democracia na América: sentimentos e opiniões. São Paulo: Martins Fontes.
___. 1998. A democracia na América: leis e
costumes. São Paulo: Martins Fontes.
___. 1897. O Antigo Regime e a Revolução.
Brasília: Ed. Universidade de Brasília.
TODOROV, Tzevetan. 1993. Nós e os outros:
a reflexão francesa sobre a diversidade
humana. vol. 1. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar.
VENTURA, Roberto. 1991. Estilo tropical:
história cultural e polêmicas literárias
no Brasil (1879-1914). São Paulo: Cia.
das Letras.
WIEVIORKA, Michel. 1991. L’espace du
racisme. Paris: Editions du Seuil.
517
518
“A EPOPEIA DA DECADÊNCIA”
Resumo
Abstract
O presente artigo discute a concepção racial de Arthur de Gobineau a partir de sua
mais famosa obra, o Essai sur l’inégalité
des races humaines. Se comumente este
tratado é associado à discussão racialista
que toma corpo nas últimas décadas do
século XIX, pretendo relacioná-lo a uma
polêmica característica da virada do século XVII para o XVIII, a Querela das duas
raças. Neste sentido, o objetivo do artigo é
revelar, em primeiro lugar, como a reflexão
de Gobineau é tributária de um conceito
de linhagem tornado paulatinamente anacrônico no mundo pós-revolucionário. Em
segundo, demonstrar a hipótese segundo
a qual o Essai, menos do que um estudo
sobre raças pretensamente “biológicas”,
representa fundamentalmente uma recusa à nova ordem igualitária que se impõe
na era moderna.
Palavras-chave Pensamento Conservador,
Século XIX, Racialismo, Igualdade,
Modernidade.
The present article discusses the racial
concepts of Arthur de Gobineau based
on his most famous work, Essai sur
l’inegalité des races humaines. Instead
of associating these with the racialist
debate of the last decades of the XIX the
century, I relate them to a polemical text
characteristic of the late XVII and early
XVIII century: The Quarrel of the Two
Races. In this sense, my main objective
is to show that, in the first place, the
Gobineau’s work owes significant debts
to the concept of the “bloodline”, an idea
which gradually became anachronistic
after the French Revolution. In addition, I argue that, rather than being a
study of supposedly “biological” races,
Gobineau’s “Essay” should be regarded
as a refusal of the new egalitarian order
of modern times.
Key words Conservative thought, 19th
Century, Racialism, Equality, Modernity.
MANA 17(3): 519-547, 2011
A PRODUÇÃO SOCIAL
DO DESENVOLVIMENTO E
OS POVOS INDÍGENAS:
OBSERVAÇÕES A PARTIR DO CASO NORUEGUÊS *
Maria Barroso Hoffmann
Embora reconhecido pelos estudiosos do indigenismo contemporâneo como
um tema de grande relevância, o conjunto de ações agrupadas sob os rótulos
de “ajuda para o desenvolvimento”, “assistência para o desenvolvimento”,
“cooperação internacional para o desenvolvimento”, ou simplesmente “coope­
ração internacional”1 tem sido pouco analisado a partir de enfoques que
fujam do nível local dos projetos realizados sob sua égide, confirmando, no
campo do indigenismo, um tipo de lacuna mais geral observado na literatura antropológica sobre desenvolvimento (Grillo & Stirrat 1997; Pels 1997).
A maior parte destes estudos tem se detido no questionamento dos resultados
de tais projetos, preocupando-se em denunciar o “fracasso” destes últimos
e os mecanismos de poder embutidos em sua implementação.2
Ao eleger como objeto de pesquisa o tema da cooperação internacional
norueguesa junto aos povos indígenas, procurei deslocar este foco, buscando
apreender as motivações e o sentido da cooperação nos países do campo
“doador”, objetivando dar uma face mais nítida a este ator, com o qual
se costuma ter um contato fragmentado e esporádico nos países onde ele
atua, o que impede uma percepção, a não ser muito genérica e imprecisa,
da multiplicidade de perfis que ele engloba e do contexto mais amplo que
informa suas ações. Neste sentido, busquei contribuir para os esforços de
identificar não apenas o que os developers creem que o desenvolvimento
provoca, mas também o que os aparatos de desenvolvimento provocam sobre
eles e as sociedades em que estão inseridos.
Marcos do debate
Preocupei-me em examinar assim, com base no caso norueguês, como os
elementos associados à cooperação internacional, usualmente relacionados
520
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
ao campo das ações econômicas para o desenvolvimento firmado a partir da
Segunda Guerra Mundial, ensejaram a emergência de aspectos simbólicos
ligados à formação dos Estados nacionais contemporâneos e à afirmação de
grupos étnicos nos países do campo “doador”. Nesse contexto, cabe lembrar
que o universo da cooperação internacional, ao instituir uma clivagem nítida
entre “países doadores” e “países donatários” de recursos, constituiu-se em
um poderoso espaço de construção de identidades contemporâneas, respondendo ao mesmo tempo pela popularidade de classificações dos países
como “atrasados” ou “modernos”, “subdesenvolvidos” ou “desenvolvidos”,
do “Primeiro Mundo” ou do “Terceiro Mundo”, do “Norte“ ou do Sul”, para
citar as mais disseminadas no imaginário político internacional, com uma
influência que dura até hoje.3
Entendendo que os mecanismos de constituição das nacionalidades e
das fronteiras étnicas são processos dinâmicos aos quais vão se agregando
continuamente novos elementos, pude perceber que a cooperação internacional norueguesa junto aos povos indígenas esteve centralmente implicada
na inflexão dos temas que compuseram a imaginação da nação norueguesa
no século XIX e na primeira metade do XX, abrindo espaço para um novo
conjunto de temáticas na segunda metade deste último. No primeiro período, poderíamos destacar como elementos-chave na imaginação da nação
norueguesa o passado viking, o folclore camponês e a criação da língua
nacional, juntamente com as imagens da natureza associadas às conquistas
dos modernos exploradores polares e a constituição das tradições filantrópicas e humanitárias que se firmaram após a 1a Guerra Mundial (Hylland
Eriksen 1993, 1996).
No segundo período, por sua vez, assistimos à emergência de novos
temas nesta imaginação, relacionados ao ideário do desenvolvimento, dos
direitos humanos e do multiculturalismo, atualizados à luz dos debates
sobre povos indígenas e minorias étnicas no país. Dentro desse período, as
décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pelo debate em torno dos direitos do
povo Sami e da reivindicação de seu status como “indígenas” (Paine 1991;
Minde 2003). Nas décadas de 1980 e 1990, por sua vez, foi a presença dos
imigrantes e dos refugiados políticos que dominou a mídia e foi instituída
como “questão” associada à discussão sobre a identidade nacional norueguesa (Wikan 1999; Hylland Eriksen 2002).4
O desenvolvimento da cooperação internacional norueguesa desempenhou um papel estratégico na definição destas questões, na medida em
que colocou em diálogo as agendas internas do país relativas aos povos indígenas, aos imigrantes e aos refugiados políticos, e suas agendas externas,
combinando as temáticas do desenvolvimento e dos direitos humanos de
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
um modo bastante peculiar. Esta combinação, ligada às condições históricas
específicas da Noruega como um país europeu sem passado colonialista,
tendo tido ele próprio uma experiência de subordinação política5 e, ao mesmo
tempo, com uma população minoritária — a dos Sami — que obteve o status
de povo indígena na década de 1970, teve consequências decisivas para o
envolvimento do país na construção dos mecanismos internacionais de reconhecimento e defesa dos direitos indígenas e, portanto, para a afirmação
de identidades étnicas além de suas fronteiras nacionais.
Para analisar estas questões, vou trabalhar neste artigo o tema da
cooperação internacional junto aos povos indígenas de forma “extensiva”,
buscando localizar o conjunto de forças e atores envolvidos na Noruega com
este universo, ao invés de aprofundar a análise sobre um único ator, o que
me parece se adequar melhor àquilo que pretendo mostrar: a complexidade
e a variedade de perspectivas e forças dentro de um universo que tende a
ser visto de forma unívoca, como propagador de um mesmo conjunto de
valores e reprodutor de uma única cosmologia — a das forças capitalistas
hegemônicas no cenário internacional.
A opção de apresentar relacionalmente os atores implicados na cooperação junto aos povos indígenas na Noruega associou-se também ao
posicionamento teórico que orientou minha análise, segundo o qual os fenômenos étnicos contemporâneos, no caso indígena, são entendidos como
fenômenos multideterminados socialmente, dependentes do cruzamento
de agenciamentos burocráticos, acadêmicos e políticos, e implementados
por um conjunto variado de atores (Oliveira 1998). Nesse sentido, busquei
avançar nas proposições que têm apontado para a necessidade de analisar
o papel de instâncias do Estado na determinação dos fenômenos étnicos,
de organismos multilaterais, como bancos de desenvolvimento e agências
da ONU, bem como de ONGs de caráter transnacional (Williams 1989;
Barth 2000).6
A opção pela construção do objeto de pesquisa de forma “extensiva” e
relacional ensejou, também, o estabelecimento de outro eixo de discussões,
que procurarei aprofundar neste artigo, organizado em torno do questionamento dos marcos cronológicos do pós-guerra usualmente utilizados pela
literatura antropológica sobre o desenvolvimento para analisar os mecanismos de cooperação internacional,7 buscando mostrar a presença neste
universo de argumentos que, construídos por diferentes atores e em diversos
contextos e épocas históricas, não necessariamente se associam à produção
dos mecanismos de dominação e poder definidos por aquela literatura como
típicos deste universo (Hobart 1993; Cheater 1999). O caso da cooperação
junto aos povos indígenas é particularmente fecundo neste sentido para
521
522
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
entendermos que o aparato da cooperação internacional vinculou-se não
apenas à construção de mecanismos de governo e gestão de populações,
prestando-se igualmente ao questionamento destes mecanismos e a propostas no sentido de sua reformulação.
Assim, embora me pareça inegável a pertinência das análises preocupadas em desmistificar as benesses trazidas pelo desenvolvimento, o caráter
etnocêntrico de suas ações e a perspectiva evolucionista de suas propostas
(Sachs 1999; Rist 2003), a escolha da temática específica da cooperação
norueguesa como objeto de estudo e, dentro dela, do recorte sobre os povos
indígenas, chamou-me a atenção para a articulação de um outro conjunto
de questões, para além do tema da assimetria das relações Norte/Sul e da
denúncia do “fracasso” das ações empreendidas sob a égide do ideário do
desenvolvimento, permitindo-me perceber a formação de um conjunto variado de comunidades de interesse transnacionais que ultrapassava estas
clivagens, com projetos nem sempre convergentes com as proposições do
mainstream.
Analisarei a seguir a gênese dos principais atores envolvidos na
Noruega com a construção de argumentos associados à cooperação junto aos
povos indígenas, universo que pude mapear através de trabalho de campo
desenvolvido entre 1999 e 2006 ao longo de sucessivas estadias naquele
país, quando realizei a etnografia de diversos tipos de eventos vinculados à
extensa rede de atores voltados para este universo, recurso que me permitiu
lidar com o caráter multissituado desta rede, forjada a partir de articulações
entre níveis locais, regionais e transnacionais de atuação. Com isto, pretendo
contribuir para desvendar o campo de disputas em que eles se inserem, no
qual, além de recursos financeiros, estão igualmente em jogo o poder de
legitimar como, por que e a quem (ou com quem) se deve “ajudar”, “assistir”
ou “cooperar”.
Os Sami
Entre estes atores, podemos destacar, em primeiro lugar, os representantes do
povo Sami, que se assumiu como “indígena” sob o argumento de terem sido
os habitantes originários do território norueguês, obtendo o reconhecimento
deste estatuto no final dos anos 80. As posições pró-índio assumidas pelo
governo norueguês no terreno da cooperação internacional guardaram uma
relação direta com as mobilizações etnopolíticas dos Sami voltadas para este
reconhecimento. A atuação destes últimos no aparato do desenvolvimento
norueguês, por sua vez, concentrou-se, sobretudo, em ações no campo dos
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
direitos junto aos organismos internacionais do sistema da ONU, e não nas
ações tradicionalmente associadas aos programas de cooperação para o
desenvolvimento, constituídas por projetos nas áreas de desenvolvimento
econômico e de prestação de serviços sociais. A observação deste tipo de
atuação dos Sami e a recuperação da gênese de suas mobilizações etnopolíticas a partir do século XIX levaram-me, assim, ao registro do cruzamento
do campo do desenvolvimento com o campo dos direitos, terreno que nem
sempre tem sido explorado ou explicitado na literatura antropológica sobre
o desenvolvimento.
O caso das mobilizações do povo Sami na Noruega é particularmente
esclarecedor quanto à questão do papel do Estado na constituição das fronteiras dos grupos étnicos, possibilitando observar como o crescimento da
consciência coletiva de seus representantes ocorreu em consequência da
ação do Estado, resultando diretamente nas políticas assimilacionistas que
acompanharam a expansão de suas fronteiras econômicas sobre os territórios
tradicionais daquele grupo. Se ao longo do século XIX, na Noruega, foram
as políticas de Estado que deram origem à formação de um sentimento de
unidade entre os Sami — expresso no surgimento de um movimento religioso revivalista que propiciou a afirmação da identidade étnica do grupo
em face dos noruegueses8 — as ações do Estado no século XX levaram ao
surgimento de outros patamares de consciência política.
Na primeira metade daquele século assistiu-se, assim, à emergência
das primeiras articulações pan-sami, reunindo representantes do grupo,
localizados na Noruega e nos países vizinhos, em encontros regionais para
a discussão de problemas comuns. Já na segunda metade, as perspectivas
homogeneizantes do Estado norueguês, reforçadas pelos ideais igualitários
da social-democracia implantada no país após a 2ª Guerra Mundial, foram
confrontadas pela combinação dos movimentos etnopolíticos do grupo
com os movimentos de outras minorias étnicas em escala mundial, tendo
a unificá-los a adoção da identidade de “indígenas”, transformada em categoria associada à luta por direitos desses grupos no plano internacional.
No caso indígena — e particularmente no caso dos Sami — passou-se de
uma dinâmica identitária notadamente referida a contextos nacionais até
meados do século XX para uma dinâmica que assumiu como elementochave a referência a contextos e a fóruns internacionais na segunda metade
daquele século.9
Seria simplista, entretanto, afirmar que “os Sami” como um todo foram
avalistas do apoio fornecido pela cooperação internacional norueguesa aos
fóruns internacionais do sistema da Organização das Nações Unidas — ONU,
nos quais se construíram e foram encaminhadas as reivindicações do mo-
523
524
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
vimento indígena internacional. Na verdade, esse apoio foi em si mesmo
objeto de intensa disputa entre os Sami, e algo que, longe de constituir um
consenso, foi uma das principais razões das clivagens que se verificaram
entre eles no plano político no último quartel do século XX. Podemos afirmar que, juntamente com as divisões constituídas em torno das diferentes
propostas de representação política do grupo dentro do Estado norueguês,
a questão da adesão ou não dos Sami ao movimento internacional pró-índio
tornou-se um dos principais elementos de construção das fronteiras étnicas
no interior do grupo, colocando, de um lado, aqueles que apoiavam a ideia
de se identificarem como “indígenas” e, de outro, os que recusavam esta
classificação.10
O apoio da cooperação internacional norueguesa aos povos indígenas
também despontou como um espaço de produção das fronteiras étnicas entre
os noruegueses e os Sami, por ter gerado debates entre representantes dos
dois grupos sobre a “autenticidade” ou não dos Sami que se envolveram
com essa esfera da cooperação internacional. Questionaram-se, sobretudo,
as reivindicações dos Sami quanto ao direito de receberem uma fatia maior
dos recursos da Norwegian Agency for Development Cooperation — NORAD
disponibilizados para os povos indígenas em relação a grupos e a organizações de noruegueses, sob a alegação de serem eles próprios “indígenas” e,
por isto, mais aptos a gerir, de maneira dialógica, esses recursos.
Chama a atenção, neste contexto, a presença do debate sobre “solidariedade” versus “interesse próprio” nos primórdios da adesão dos Sami ao
movimento indígena internacional, reproduzindo as discussões ocorridas
no âmbito da cooperação internacional norueguesa de um modo geral.
Cabe ressaltar que o termo utilizado pelos Sami para atuarem junto a outros
povos indígenas foi samarbeid, que significa em norueguês “cooperação”
ou “entreajuda”. O contraste é significativo em relação aos demais setores
do universo da cooperação norueguesa, que utilizaram, pelo menos até a
década de 1990, exclusivamente os termos hjelp (ajuda), ou bistand (assistência) para qualificar suas relações com os “donatários” de recursos. O
termo samarbeid só passou a ser empregado quando se tentou, seguindo
as tendências do establishment desenvolvimentista internacional a partir
dos anos 90, revestir com um conteúdo mais igualitário as relações entre
“doadores” e “donatários”, que nem por isso deixaram de manter um viés
assimétrico e muitas vezes subalternizador.
Assim, embora a solidariedade tenha sido um valor destacado tanto
nas ações do governo norueguês voltadas ao “Terceiro Mundo” a partir
dos anos 50 quanto nas ações dos Sami de apoio ao movimento indígena internacional a partir dos anos 70, estas últimas sempre foram vistas
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
como ações de “cooperação” por envolverem uma dimensão associada à
luta comum pela conquista de direitos de grupos marginalizados dentro
dos respectivos Estados nacionais, permitindo com isso a formação de um
sentimento compartilhado de igualdade, forjado a partir da construção de
um projeto político conjunto. Por outro lado, a solidariedade expressa pelo
governo norueguês em suas ações de “ajuda” ao Terceiro Mundo — com
sua gênese marcada pela “grande divisão” instaurada pelo discurso de
Harry Trumam em 1949, que colocou em lados distintos países “pobres” e
“ricos”, “subdesenvolvidos” e “desenvolvidos” — acabou por instaurar não
um sentimento de identificação, como no caso dos povos indígenas, mas de
contraste entre os dois grupos.
É neste quadro que podem ser situadas as reivindicações expressas
pelos Sami no início da década de 2000 quanto a um aumento da canalização dos recursos destinados pela cooperação norueguesa junto aos povos
indígenas para organizações do povo Sami, segundo aquilo que definiram
como urfolk til urfolk samarbeid, isto é, a cooperação de-povo-indígenapara-povo-indígena. O aumento dos recursos para este tipo de cooperação
pleiteado pelos Sami foi objeto de diversas contestações por parte de atores
não indígenas ligados à cooperação norueguesa. Destacaram-se, nesse
sentido, os argumentos que desqualificaram esta demanda sob a alegação
de que representantes da elite sami teriam tão pouca identificação com
índios pobres da América Latina quanto membros da elite norueguesa que
participavam do aparato da cooperação. Cabe registrar aqui que o desejo
de cooperar com outros povos indígenas não é uma unanimidade entre os
Sami, nem ser sami é algo que leve alguém de forma inexorável a querer
assumir publicamente uma identidade coletiva diferenciada em relação ao
conjunto da população norueguesa, ou ainda a se considerar como “povo
indígena”. Todas estas atitudes envolvem, antes de mais nada, a dimensão
política dos fenômenos étnicos, algo trabalhado de perto pelos antropólogos
noruegueses, cuja atuação no terreno da cooperação norueguesa junto aos
povos indígenas teve papel decisivo, como veremos a seguir.
Os antropólogos
Se é possível dizer que, no caso dos Sami, participar dos mecanismos ligados
ao universo da cooperação internacional esteve relacionado diretamente a
seus mecanismos contemporâneos de reprodução social, à construção de
fronteiras étnicas e à produção de novas formas de representação política,
no caso dos antropólogos, o envolvimento com a cooperação foi marcado
525
526
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
por injunções muito distintas. Entre elas, destacam-se mecanismos de autonomização da disciplina antropológica, questões ligadas ao engajamento
político dos antropólogos e seu envolvimento com a “prática”, bem como
desdobramentos teóricos que abarcam tanto a análise dos fenômenos étnicos
de um modo geral quanto a constituição específica da categoria de “indígena”
como instrumento contemporâneo da luta por direitos políticos.
Nesse sentido, cabe lembrar que os antropólogos desempenharam um
papel estratégico na adoção de um viés pró-índio por parte da cooperação
norueguesa, tendo uma história de envolvimento com a questão indígena,
no plano nacional e no plano internacional, que resultou tanto de desdobramentos teóricos ocorridos dentro da disciplina na Noruega, sobretudo a
partir das reflexões sobre os grupos étnicos desenvolvidas por Fredrik Barth
(1969), quanto da participação dos antropólogos noruegueses em trabalhos
“aplicados”. Daí surgiu seu engajamento político em favor da defesa dos
direitos indígenas sob a égide do que ficou conhecido no país como uma
“antropologia socialmente relevante”, cujos marcos foram estabelecidos a
partir do final dos anos 60. O caso da antropologia norueguesa mostra-se
assim particularmente rico para explorar os cruzamentos entre os terrenos
“puro” e “aplicado” dentro da disciplina.
A reivindicação de participação dos antropólogos nos esforços de ajuda
para o desenvolvimento promovidos pela Noruega partiu, entre outros, do
grupo vinculado a Fredrik Barth, e deve ser entendida como parte de duas
motivações distintas e interligadas. De um lado, o desejo de participar do
campo da cooperação prendia-se a um interesse estritamente acadêmico,
tendo em vista o fato de as atividades neste terreno se darem em sociedades
locais, que constituíam um dos espaços privilegiados de investigação da
disciplina. De outro lado, a participação na cooperação atendia à necessidade de consolidar o campo de atuação profissional dos antropólogos e a
autonomia da disciplina na Noruega pela via do financiamento a pesquisas
com recursos do governo voltados à cooperação para o desenvolvimento.
É nesse contexto que podem ser entendidas as reivindicações tanto de Fredrik
Barth quanto de Guttorm Gjessing, ainda nos anos 50, para colaborarem no
primeiro projeto de cooperação bilateral da Noruega, em Kerala, na Índia,
algo que não chegou a se consumar pela falta de acordo entre os antropólogos e os responsáveis pelo projeto.
O interesse de Barth nos trabalhos “aplicados” era orientado por uma
questão teórica no campo da antropologia, que poderia também guiar as
ações norueguesas de assistência para o desenvolvimento, na medida em
que permitiria que os planejadores percebessem os “campos dos possíveis”
ao alcance das populações junto às quais pretendiam atuar, ensejando
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
prever, em alguma medida, a adesão ou não daqueles às ações que se propunham implementar. Tratava-se, portanto, de um modelo de atuação que
se distinguia de propostas anteriores de intervenção social da disciplina,
tanto da “antropologia prática”, de Malinowski, formulada na década de
1930, em que os antropólogos se dispunham a assessorar as intervenções
da administração colonial britânica na África, quanto da “antropologia da
ação”, proposta por Sol Tax nos Estados Unidos, na década de 1950, em
que os antropólogos apareciam como consultores não mais das autoridades
governamentais, mas dos índios.
Por um lado, Barth não pretendia separar a “pesquisa pura” da “pesquisa aplicada”, como propunham os antropólogos sociais britânicos do
entre-guerras, fornecendo, ao invés, um instrumento teórico da antropologia
visando orientar as ações práticas, ligado à compreensão dos mecanismos
envolvidos com as escolhas individuais. Por outro lado, também não se dispunha a assessorar as populações do Terceiro Mundo que seriam alvo da
cooperação norueguesa, dando-lhes meios para participar da formulação de
projetos, como propunha Tax no caso das intervenções junto aos índios nos
Estados Unidos, norteadas pela “antropologia da ação”.
A partir de meados dos anos 70, ainda que não pelos motivos sugeridos por Barth, a participação dos antropólogos noruegueses em projetos de
desenvolvimento tornou-se cada vez mais intensa na Noruega. Enquanto
crescia sua participação em ações no Terceiro Mundo, também se construía
sua atuação junto aos povos indígenas, vinculada inicialmente a um debate
nacional sobre a situação do povo Sami, que fora instaurado após a divulgação
das pesquisas desenvolvidas pelo antropólogo Harald Eidheim concernentes
às populações sami da costa norte da Noruega. Estas conclusões, apresentadas
na grande imprensa do país em 1958, constituíram uma denúncia contundente do racismo praticado contra os Sami pelos noruegueses, estudado por
Eidheim a partir dos aportes teóricos do sociólogo americano Erving Goffman
sobre os mecanismos de representação do eu na vida cotidiana. A divulgação
destas pesquisas teve profunda repercussão na opinião pública norueguesa,
obcecada, àquela altura, pelos ideais de igualdade social (likhet) promovidos
pela social-democracia, gerando uma interpelação ao Parlamento norueguês
e fortalecendo os movimentos de reivindicação política dos Sami que haviam
começado a se estruturar nos anos 50 (Klausen 2005:189).
Vale destacar, neste contexto, o fato de que o modo de o governo norueguês tratar e conceber os Sami nos anos 50 guardava estreitas semelhanças
com o modo de o governo perceber e tratar o “Terceiro Mundo”. Os mecanismos colocados em ação naquele período, voltados à “assistência para o
desenvolvimento”, também partiam da ideia de que o “Terceiro Mundo”
527
528
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
deveria se “modernizar” e “progredir” para se tornar igual ao “Primeiro” —
da mesma forma que os Sami deveriam se tornar iguais aos noruegue­ses —
definindo-se, entre as questões a serem “solucionadas”, as mesmas percebidas
entre os Sami, sobretudo no caso da “pobreza”. Não por acaso, as mobilizações
de afirmação da identidade étnica por parte dos Sami rapidamente assumiram
uma perspectiva anticolonialista, correndo em paralelo com os movimentos de
descolonização africanos e absorvendo muitos de seus ideais e perspectivas.
Nesse contexto, cabe destacar o fato de que, embora a Noruega não tenha tido
um passado colonial ligado à formação de impérios ultramarinos, a vivência
do colonialismo interno praticado pelos noruegueses sobre os Sami foi um fato
formador, em muitos sentidos, não só da experiência de conceber um “outro”
considerado inferior e subalterno e, por isto, necessitado de “ajuda”, como
também da experiência de criar mecanismos para lidar com ele.
Os antropólogos noruegueses envolveram-se não apenas com as lutas
internas de afirmação dos Sami mas também com a internacionalização do
debate sobre as questões indígenas, que constituiu um de seus desdobramentos. O antropólogo norueguês Helge Kleivan, pesquisador dos Inuit, na
Groenlândia e, tal como Harald Eidheim um dos participantes do seminário
organizado em 1967 por Fredrik Barth, na Universidade de Bergen, para
discutir a formação dos grupos étnicos, desempenhou um papel fundamental
nesses desdobramentos, juntamente com o etnógrafo sueco Lars Persson,
ao fundarem o International Work Group for Indigenous Affairs — IWGIA,
em 1968. A criação do IWGIA, cujo financiamento dependeu inicialmente
dos recursos da NORAD e da Danish International Development Agency —
DANIDA, firmou um novo tipo de relacionamento dos antropólogos com o
universo da cooperação para o desenvolvimento, que poderíamos considerar
marcado por um viés contracultural, no sentido de que a atuação proposta
pela organização não referendava os pressupostos “desenvolvimentistas” do
mainstream das agências internacionais envolvidas nesse terreno.
A criação do IWGIA, que teria um papel estratégico na articulação dos
Sami e dos Inuit ao movimento indígena internacional, se deu no contexto
das denúncias contra o genocídio dos povos indígenas da América do Sul,
resultantes, em grande medida, de projetos de desenvolvimento empreendidos por governos ditatoriais com recursos de bancos multilaterais. O final
da década de 60 e o início da década de 70 foram marcados pela emergência
de uma ampla literatura antropológica voltada para a denúncia das conse­
quências destes projetos, concomitante à formação de uma rede internacional
de antropólogos comprometidos com a defesa dos direitos indígenas, da
qual o IWGIA foi um dos precursores, juntamente com outras organizações
criadas na mesma época.11
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
Cabe registrar que, da mesma forma ocorrida com os Sami, os antropólogos passaram de uma posição inicial de denúncia para uma posição de
envolvimento ativo nas mobilizações dos indígenas destinadas à construção de argumentos em favor de seus direitos dentro dos Estados nacionais,
direitos estes firmados em sucessivos encontros, conferências e seminários
internacionais, muitos dos quais, seguindo o modelo proposto por Sol Tax
no início da década de 1960,12 colocavam frente a frente atores índios e não
índios para dialogar. Dentre esses encontros, destacou-se o Simpósio sobre
o Contato Interétnico na América do Sul, em Barbados, organizado por antropólogos pertencentes ao Departamento de Etnologia da Universidade de
Berna (Suíça) com recursos do Programa de Combate ao Racismo do Conselho Mundial de Igrejas. Nele, antropólogos de várias partes do mundo e
membros de missões religiosas envolvidos com a denúncia das ameaças aos
povos indígenas na América Sul produziram a I Declaração de Barbados,
na qual se buscou definir as responsabilidades dos Estados, das missões
religiosas e dos antropólogos em relação aos povos indígenas, registrandose, no caso dos antropólogos, uma clara tomada de posição em favor de uma
assessoria comprometida não com as autoridades governamentais, mas com
os índios, percebidos não mais como objeto de estudo, mas como sujeitos de
ações políticas. A antropologia deveria dialogar e cooperar com eles.
A I Declaração de Barbados constituiu-se, assim, em um ponto de partida estratégico para a articulação transnacional de atores indígenas e não
indígenas em favor dos direitos indígenas. Ela daria origem, nas décadas
seguintes, a uma longa série de formulações conceituais no campo da antropologia e no campo do direito, geradas em ação — para usar os termos
formulados por Sol Tax ainda nos anos 50 — ou seja, visando responder aos
diversos contextos concretos de luta política envolvendo os povos indígenas.
Dentre estes conceitos, destacaram-se aqueles voltados a definir a posição
dos povos indígenas no espaço dos Estados nacionais, como o de “primeiras nações”, ou no cenário internacional, como o de “4º mundo”. Também
surgiram conceitos objetivando particularizar as demandas indígenas nos
diversos campos sociais, como o de “etnodesenvolvimento” — cunhado nos
anos 80 para definir ações pautadas por decisões tomadas pelos próprios
índios dentro de seus territórios — ou como o de “interculturalidade”, visando
à obtenção de direitos específicos para os indígenas no campo educacional,
cujo uso se generalizou na década de 1990.
No caso da Noruega, as correntes articuladas ao movimento internacional
pró-índio abrigaram-se, no caso dos antropólogos, primeiro dentro do IWGIA,
organização com atuação global, inserindo-se depois, sucessivamente, no
Programa Norueguês para os Povos Indígenas — PNPI, da NORAD, cuja
529
530
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
área de atuação concentrava-se na América Latina; na Rainforest Foundation
Norway, organização ambientalista com atuação junto aos povos indígenas
voltada inicialmente às regiões de floresta tropical no Brasil, que estendeu
suas ações posteriormente para a Oceania, a Ásia e a África; e em The Remote Area Development Programme — RADP, programa de desenvolvimento
implementado pela NORAD no Botswana, direcionado ao povo San.
Os missionários
Além dos Sami e dos antropólogos noruegueses, destacou-se outro grupo
de atores envolvidos com a cooperação junto aos povos indígenas, o das
organizações missionárias, praticamente as únicas a deterem uma experiência de atuação fora das fronteiras nacionais norueguesas quando o país
institucionalizou seu aparato de ajuda para o desenvolvimento, no início
da década de 1960. As missões na Noruega remontam às iniciativas de correntes pietistas luteranas provenientes da Alemanha, cuja chegada ao país
ocorreu no século XVII. O movimento missionário na Noruega teve início
no século XVIII, quando o território que corresponde atualmente ao país
fazia parte do reino da Dinamarca-Noruega. O grande alvo das primeiras
expedições missionárias pietistas foram as populações de esquimós (Inuit),
da Groenlândia, e os lapões (Sami), distribuídos na região acima do círculo
Ártico, seguindo-se, depois destas, algumas missões nas possessões do reino
da Dinamarca-Noruega na Índia.
Em meados do século XIX, em plena época da expansão do movimento
nacional-romântico na Noruega, quando o país já se separara da Dinamarca
e fora alçado à condição de reino unido da Suécia, as missões norueguesas
no exterior começaram a ser dirigidas ao continente africano, instalandose sobretudo em colônias britânicas. Na segunda metade do século XX,
elas foram integradas ao aparato da cooperação para o desenvolvimento
da Noruega, absorvendo, até meados da década de 70, a maior parte dos
recursos da cooperação bilateral destinados ao canal das ONGs pelo governo norueguês. Cabe ressaltar que, desde essa época, as missões foram
tratadas sob a mesma rubrica que as ONGs laicas que se uniram ao aparato
da cooperação no país, sendo denominadas, como estas, de organizações
voluntárias — frivillige organizasjoner, ou organizações privadas — private
organizasjoner (cf. Dahl 1986).
A grande justificativa para sua inserção neste aparato foi, como já apontamos, a experiência de atuação das missões norueguesas no exterior, e a
valorização dentro delas de uma dimensão prática, extremamente afinada
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
com os ideais de intervenção desenvolvimentistas. Esta dimensão foi uma das
marcas das inovações introduzidas pelas correntes pietistas no luteranismo do
século XVIII, que consideravam as ações neste mundo como uma das provas
da verdadeira conversão religiosa. A valorização das atividades práticas associadas à tradição pietista, por sua vez, seria identificada posteriormente como
uma das características essenciais do “modo de ser” norueguês.
No terreno da cooperação norueguesa junto aos povos indígenas, podemos considerar que a presença missionária tem sido o grande “outro” em
face do conjunto dos atores que atuam neste setor, marcando uma posição
distinta em relação aos demais no sentido de não abrir mão dos ideais de
conversão religiosa em favor da perspectiva do desenvolvimento dos povos
indígenas segundo suas próprias premissas. Apesar deste fato, que as coloca
na contramão das posturas assumidas publicamente pelo governo norueguês desde que este ratificou em 1990 a Convenção 169 da OIT,13 os dados
estatísticos disponíveis indicam que as organizações missionárias absorvem
atualmente a maior parte dos recursos noruegueses destinados à cooperação
junto aos povos indígenas (Haslie & Øverland 2006).
A trajetória das missões e sua gênese, associadas à própria história da
expansão do movimento luterano na Escandinávia, chamam a atenção para
a necessidade de questionar os marcos cronológicos usualmente vinculados
ao universo da cooperação internacional, mostrando, através da história
das correntes que a compõem, a presença de práticas, conhecimentos,
disposições e atitudes muito anteriores ao discurso de Truman em meados
do século XX, considerado usualmente como o marco ideológico inicial de
suas práticas.
No caso específico da cooperação junto aos povos indígenas, cabe destacar a discussão sobre o “parágrafo da neutralidade”, incluído nas diretrizes
iniciais da cooperação norueguesa, que buscou estabelecer uma separação
entre os trabalhos de diaconia − isto é, de prestação de diversos tipos de
serviços sociais às populações atendidas − e os trabalhos de evangelização
das missões, justificando o financiamento dos missionários pelo governo
norueguês como algo restrito ao campo da diaconia. Outros argumentos
também foram utilizados para legitimar o financiamento público das atividades missionárias, como o do suposto compartilhamento de uma visão
espiritual entre os missionários e os povos africanos (Dahl 1987), ou ainda
a alegação de que nenhum trabalho de assistência para o desenvolvimento,
laico ou religioso, seria “neutro”, não se justificando, nesse sentido, qualquer
restrição à atuação das missões (Dahl 1989).
A presença missionária tem sido analisada pelos estudiosos da cooperação norueguesa como um veículo capaz de disseminar tanto as virtudes
531
532
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
protestantes associadas ao “espírito do capitalismo”, algo visto por alguns
como um “bem” (Simensen 2006), quanto as qualidades vinculadas a valores
tidos como “tipicamente noruegueses”, apreciados por amplos setores da
população, incluindo o espectro político da esquerda, tais como o espírito
de austeridade e o sentido prático (Liland & Kjerland 2003).14 Contudo, no
caso específico da área indígena, ela tem sido objeto de graves objeções,
constituindo-se no grande “divisor de águas” que separa os atores que atuam
junto aos povos indígenas.
Os ambientalistas
As organizações ambientalistas também têm sido atores de peso na definição
das estratégias da cooperação norueguesa junto aos povos indígenas e na
definição de argumentos em seu favor. Para entender a história da formação
das redes ambientalistas na Noruega e seu envolvimento com a questão
indígena, ocorrido a partir dos anos 70, é necessário localizar algumas das
transformações por que passaram as representações acerca da categoria
natureza na Noruega e sua politização sucessiva, primeiro, em processos de
formação da identidade nacional; depois, como elemento ligado à afirmação
de identidade étnica do povo Sami; e, finalmente, como dispositivo de criação
de uma identidade planetária para além das fronteiras nacionais.
A ideia de natureza foi um componente central de formação da identidade nacional norueguesa no século XIX, quando este tema se tornou
recorrente nas obras de pintores e poetas ligados ao movimento nacionalromântico, a exemplo do ocorrido em outros países europeus. Segundo
Thiesse, uma das características principais do Romantismo foi transformar a
natureza em paisagem a partir de um trabalho de seleção coletiva de artistas,
voltado para a definição da singularidade de cada nação entre as demais.
No caso da paisagem nacional norueguesa, a escolha dos fiordes como símbolo nacional, estabelecendo um contraste com as pradarias da Dinamarca
e as florestas da Suécia, marcou o processo de busca de autonomização
política da Noruega em face daqueles dois países, que atravessou todo o
século XIX (Thiesse 1999:187).
Aos poucos, essa valorização da natureza como símbolo nacional,
inicialmente circunscrita aos círculos intelectuais e artísticos noruegueses,
foi se disseminando entre os demais segmentos da população, difundida
através dos contos populares selecionados pelos folcloristas noruegueses
e divulgados semanalmente em folhetins literários. Neles se fazia uma estreita conexão entre a natureza e a vida camponesa, marcada por aventuras
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
em florestas, montanhas e vales povoados por seres fantásticos e mágicos,
introjetados na imaginação coletiva da nação.
Esse processo de identificação entre nação e natureza ganharia novos
matizes no final do século XIX e início do XX, com a transformação dos grandes
exploradores polares noruegueses, como Fridtjof Nansen e Roald Amundsen,
em heróis nacionais. Os feitos desses exploradores foram popularizados sobretudo através da imprensa escrita, que também se tornara o principal veículo
de divulgação da produção dos folcloristas, em mais um exemplo do papel do
print capitalism (Anderson 1991) na imaginação das nações como unidades
culturais e políticas. Nas narrativas sobre as viagens desses exploradores, a
natureza passou a ser vista não mais como paisagem, mas como território,
sendo associada à incorporação de determinados nichos geográficos ao
Estado-nação e à produção de conhecimentos científicos sobre eles.
As viagens de Amundsen e Nansen, ligadas à exploração do Ártico e da
Antártida, tinham imenso poder evocativo, trazendo à tona o passado de conquistas marítimas dos vikings, dos quais os noruegueses, segundo a tradição
do nacional-romantismo no país, seriam os únicos herdeiros legítimos em toda
a Escandinávia. Estas viagens testemunharam a passagem da natureza como
ícone dos românticos no século XIX, isto é, como algo a ser contemplado, para
algo a ser desvendado e conquistado no século XX, sob a égide das motivações científicas e da expansão do território nacional, em que os noruegueses
disputaram a posse das regiões polares com outras nações.
Esse processo ganharia uma inflexão significativa na segunda metade
do século XX, quando a noção de natureza, entendida a partir de então como
ecologia, passou a fazer parte de processos identitários que ultrapassavam
os marcos nacionais. Estes marcos estavam ligados, em primeiro lugar,
à imaginação de uma identidade específica do povo Sami dentro da Noruega,
associada à adoção de seu estatuto como indígenas, que incluía como corolário a ideia de sua relação harmoniosa com o meio ambiente. Em segundo
lugar, associavam-se também à construção de um discurso sobre a existência
de uma comunidade planetária sujeita a interesses comuns, inicialmente formulado por grupos ambientalistas alternativos e contraculturais noruegueses
e, posteriormente, incorporado pelo establishment governamental, inclusive
no campo da cooperação para o desenvolvimento, sob a égide do conceito
de desenvolvimento sustentável. A ideia de natureza, apropriada como meio
ambiente e ecologia, prestou-se a subsidiar, assim, tanto os processos de formação de identidades “indígenas” quanto os de formação de uma identidade
transnacional planetária. Nestes últimos buscou-se superar as clivagens entre
“desenvolvidos” e “subdesenvolvidos”, colocadas no cenário internacional do
pós-guerra em nome de questões “comuns” a todos os países.
533
534
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
Nesse quadro de construção dos problemas ambientais como problemas
de “todos”, os saberes associados aos povos indígenas passaram a ser valorizados de forma nova, sendo apresentados como saberes “ecologicamente
corretos” por grande parte dos militantes dos movimentos ambientalistas.
O debate sobre os conhecimentos tradicionais indígenas, além disso, também
se constituiu, sobretudo a partir dos anos 90, em importante marco de referência dentro dos movimentos indígenas, tornando-se um elemento estratégico
de construção da fronteira étnica, colocando, de um lado, os “conhecimentos
indígenas” e, de outro, os “conhecimentos científicos e/ou ocidentais”. Esses
múltiplos processos identitários, no caso da Noruega e dos Sami, tiveram
implicações significativas para os mecanismos de cooperação internacional
junto aos povos indígenas promovidos com recursos noruegueses.
O primeiro momento de articulação dos ambientalistas na Escandinávia
com a questão indígena foi marcado, no plano interno, pelas mobilizações
em favor dos direitos dos Sami a seus territórios tradicionais de ocupação no
episódio da oposição à construção da hidrelétrica de Alta, na região ártica
da Noruega, no final da década de 1970; e, no plano externo, pela formação
de uma rede internacional de ambientalistas voltada para a defesa dos direitos dos povos indígenas diante dos grandes projetos de desenvolvimento
implementados com recursos do Banco Mundial. A formação da Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica — COICA, em
1984, por sua vez, propiciou a consolidação da aliança entre ambientalistas
e organizações indígenas localizadas na floresta amazônica.
Na virada da década de 1980 para a de 1990, dois episódios com
grande repercussão na mídia internacional consagraram a aliança entre
interesses indígenas e ambientais. O primeiro deles foi a mobilização dos
índios Kayapó, no Brasil, contra a construção da hidrelétrica de Cararaô,15
em 1989, que inundaria parte das terras habitadas pelo grupo. O segundo
relacionou-se às reivindicações dos Penan, na Malásia, em 1990, contra os
interesses de grupos madeireiros em suas áreas de ocupação tradicional.
Ambos os casos foram beneficiados pela articulação de atores nacionais e
internacionais, envolvendo celebridades do mundo da política e da cultura
nas ações em favor daqueles grupos.
O caso dos Kayapó teve consequências particularmente relevantes para a
cooperação norueguesa, por ter dado origem à criação da organização Rainforest
Foundation Norway (Regnskogsfondet), formada após o tour pela Europa do
cantor pop Sting com o cacique kayapó Raoni. A organização, que se voltou
inicialmente para uma campanha de arrecadação de fundos na Noruega visando
à demarcação do território dos Kayapó, no Brasil, ampliou substancialmente,
com o correr do tempo, tanto o número de grupos indígenas apoiados quanto o
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
escopo de seus projetos. No caso do Brasil, foi delineado um número bem maior
de objetivos, envolvendo ações nos campos de educação, saúde, desenvolvimento e vigilância por satélite de territórios indígenas, estendendo-se, além disso,
suas áreas geográficas de atuação para regiões de floresta tropical na Malásia,
na Indonésia e em Papua Nova Guiné. Atualmente, a Rainforest Foundation
Norway é uma das principais canalizadoras dos recursos destinados aos povos
indígenas pela cooperação internacional norueguesa.16
Cooperação internacional, tutela e povos indígenas
Creio ser importante chamar a atenção para o fato de que todos estes atores,
em que pesem seus diferentes percursos e propostas, passaram a operar,
com o tempo, não só de acordo com uma mesma gramática político-administrativa definida pelo aparato da cooperação internacional, que elegeu
as organizações voluntárias como um mecanismo privilegiado de atuação,
como também dentro de um mesmo horizonte ideológico. Esse horizonte
foi marcado pela visão dos noruegueses sobre a cooperação como algo regido por uma espécie de “regime de bondade” ­godhetsregime (Tvedt 1998,
2005), em que eles se percebem como um povo especialmente dotado para
a realização de ações “boas” e “desinteressadas”, orgulhando-se não apenas
de serem os maiores doadores per capita para ações de desenvolvimento
dentro da Escandinávia (e, ironicamente, também os que exportam o maior
número de armas per capita da Europa), como de participarem ativamente
das campanhas promovidas dentro do país para causas deste gênero.
Segundo Tvedt, essa imagem da cooperação internacional como algo
intrinsecamente associado a atividades filantrópicas e a “fazer o bem” impede
muitas vezes um debate mais objetivo sobre o que se passa neste universo, em
que, desde muito cedo, os “interesses egoístas” despontaram como centrais.
Como atacar o aparato parece supor atacar as “boas ações” em si mesmas,
o debate se inviabiliza, sobretudo em um país em que este tipo de ação se
desenvolveu não apenas graças aos financiamentos do Estado como também
às campanhas coletivas de arrecadação de recursos individuais
Na verdade, em que pesem a autoimagem de solidariedade e de ausência de motivos egoístas que marcou as primeiras campanhas e o envolvimento precoce do governo e da população norueguesa em atividades no
campo da cooperação internacional em relação a outros países europeus,17
bem cedo começaram a surgir dados que questionavam esses aspectos de
“desinteresse” e mostravam os ganhos que o aparato da cooperação trazia
para a Noruega. Assim, segundo os dados apresentados por Eriksen relativos
535
536
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
a meados da década de 1980, cerca de metade dos recursos empregados nas
atividades de cooperação internacional retornavam à Noruega por diferentes
meios, que iam desde o pagamento de salários a pessoal técnico especializado até a exportação de produtos noruegueses vinculados aos projetos de
cooperação implementados (Eriksen 1987:14-15).
Ao analisar este quadro e ao mesmo tempo o fato de que, apesar dele,
o universo da cooperação sempre se manteve dentro da aura do “regime de
bondade” na Noruega, Tvedt chama a atenção para a presença da mesma
dimensão moral destacada pela literatura sobre tutela no campo indigenista
no Brasil, desenvolvida a partir dos trabalhos pioneiros de Oliveira (1988) e
Souza Lima (1995). No caso específico das análises sobre cooperação internacional e indigenismo no Brasil, têm sido destacadas as semelhanças de
posturas encontradas no universo da cooperação e as relações entretecidas
com os índios por agências como a Igreja e o Estado. “Tutela”, neste contexto, tem sido um termo associado a tudo aquilo que implica não reconhecer
determinados grupos, entre os quais os índios, como plenamente capazes
do exercício da cidadania. Invocam-se, por conta disto, a necessidade de
“protegê-los” e a prerrogativa de decidir em nome deles, recorrendo-se, para
tal, a variados instrumentos administrativos, sempre sob a justificativa de
que se está “fazendo o bem” àqueles que são alvo de sua atuação. Proteção
e tutela caminham juntas, assim, dentro de uma linha divisória tênue em
que estas duas dimensões tendem a se confundir.
Neste contexto, nos estudos sobre “tutela”, “poder tutelar”, “regime
tutelar” e outros termos afins, envolvendo as relações entre Estado e diversas categorias sociais no Brasil — entre as quais, além dos indígenas,
poderíamos citar menores, doentes mentais e imigrantes — se tem buscado
chamar a atenção para o fato de que o controle do financiamento de projetos
junto aos povos indígenas pelos vários atores da cooperação internacional
tem dado margem a novos tipos de tutela. Estes novos tipos têm gerado
práticas pedagógicas e disciplinares em que continua a prevalecer a ideia da
incapacidade dos índios, apesar da ideologia da “participação” da maioria
dos projetos implementados sob sua égide e a intenção de tratar os índios
em pé de igualdade, algo que, de fato, raras vezes tem sido alcançado.
É nesse sentido que as análises sobre tutela têm sido estendidas ao universo
da cooperação internacional, isto é, na medida em que este passa a ser compreendido como um espaço social que sempre cria incapazes, e que continua
a lembrar, nas inumeráveis oficinas, worskhops e avaliações que promove, o
modelo da babá britânica descrito por Boon (1974), em que sempre há um
técnico de plantão para mostrar que algo não foi feito corretamente, ou que
não se aprendeu direito a lição (Souza Lima 2007).
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
Neste quadro, podemos afirmar não ser por certo acidental a semelhança deste tipo de análise com aquelas promovidas por estudiosos dos
padrões gerais da cooperação internacional norueguesa que, ao se deterem
nas diretrizes políticas que nortearam as ações norueguesas neste terreno,
destacaram os aspectos paternalistas e tutelares instaurados por ela.
Podemos referir, neste sentido, como um marco central a conjuntura da crise
econômica internacional da década de 1980, quando as organizações não
governamentais passaram a desempenhar um papel cada vez maior como
canais de promoção da cooperação internacional norueguesa.
Tvedt (1995) mostrou, assim, como se buscou naquele momento ampliar a participação na cooperação internacional de redes situadas fora
das administrações públicas dos Estados nacionais nos países doadores,
organizadas no formato de ONGs, a partir de alegações que exaltavam
as qualidades deste tipo de unidade político-administrativa para atingir
as camadas “mais pobres” das populações dos países do Terceiro Mundo,
eleitas desde então como seus principais alvos de atuação. Ao mesmo
tempo, foram anulados os princípios de “orientação para o donatário”
que haviam prevalecido até então na cooperação norueguesa, em que se
recomendava agir de acordo com as prioridades colocadas pelos governos
dos países donatários.
Assim, em nome da eleição dos interesses dos grupos “mais pobres”
como alvo principal das políticas de cooperação, assumiu-se uma postura
cada vez mais intervencionista dentro dos países donatários e, neste sentido,
tutelar, sobretudo no caso da África.18 Teve início, assim, na Noruega, toda
uma argumentação em favor da maior participação do canal das ONGs na
cooperação, destacando-se suas “vantagens comparativas” em relação aos
canais governamentais bilaterais e multilaterais — tais como a flexibilidade,
o idealismo, a criatividade e o contato mais fácil junto a organizações de
base locais (Borchgrevink 2004:48).
Ao analisar essa virada das políticas norueguesas de cooperação na
década de 1980 em direção a uma postura intervencionista e tutelar, oposta
às diretrizes de “orientação para o donatário” que haviam prevalecido até
então, Tvedt destaca que:
Enquanto a cooperação na mensagem governamental de 1972 foi reconhecida
como um suplemento ao planejamento e às prioridades governamentais [dos
países donatários], as diretrizes da cooperação em 1984 refletiam uma concepção
sobre quais eram os grupos-alvo importantes e quais as suas necessidades, em
oposição ao planejamento e às prioridades dos governos dos países donatários.
Consequentemente, a estratégia visava atingir objetivos que haviam sido ne-
537
538
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
gligenciados ou mesmo combatidos nos planos e nas prioridades dos governos
donatários. As instâncias [norueguesas] de ajuda para o desenvolvimento tornaram-se, assim, no contexto dos projetos, superiores às autoridades dos países
receptores (Tvedt 1990:163, trad. do orig. em norueguês).
Desta forma, se nas décadas de 1960 e 1970 parecia impensável na Noruega propor-se uma política de cooperação que não passasse pela aceitação
prévia dos governos dos países donatários, a partir de meados dos anos 80,
com a mensagem ao Parlamento n. 36 (1984-85), o governo de coalização,
que reunia o Partido Conservador, o Partido Popular Cristão e o Partido de
Centro, formulou pela primeira vez o direito de intervenção política como um
princípio da cooperação, reservando-se a prerrogativa de “ajudar” apenas os
países que se coadunassem com sua estratégia de “necessidades básicas”,
isto é, de atendimento às camadas “mais pobres” da população.
Abria-se com isto a possibilidade de firmar acordos com organizações
fora do Estado, dispostas a agir conforme os objetivos fixados pelos noruegueses. Justificava-se a nova política argumentando-se que “os planejamentos
e as prioridades dos países em desenvolvimento nem sempre são claros e
inequívocos” (Mensagem ao Parlamento 36:25 apud Tvedt 1990:65), além
de “não espelharem um processo de decisão com participação ampla“
(ibid:65). Segundo Tvedt, “sem precisar levar longe demais o paralelo, a
semelhança é grande com o tipo de argumentação utilizado pelos poderes
coloniais europeus para sua intervenção: ‘os países não estão maduros para
se autogovernarem’ etc.” (ibid:65).
Tvedt (1990) se propôs ainda a entender que processos teriam sido
utilizados pelas autoridades norueguesas para colocar os mais de cem países alvos da cooperação — representantes de uma imensa diversidade de
culturas, povos e sistemas sociais — sob uma única designação: a de “países
subdesenvolvidos”. Com que imagens e conceitos este mundo multifacetado
chegou a ser representado como uma unidade? Em outras palavras, como
se produziu o processo de orientalização do Terceiro Mundo (Said 1990),
isto é, sua essencialização a partir de determinadas qualidades e características, ou da ausência delas? Para Tvedt, a perspectiva que impregnou as
imagens norueguesas contemporâneas dominantes sobre a Ásia, a África e
a América Latina foi aquela construída pelo aparato da cooperação para o
desenvolvimento, através da qual se criou
[...] um retrato do mundo no qual os povos e os países não foram percebidos a
partir de suas próprias identidades, tradições ou histórias, mas a partir do que
não eram [isto é, desenvolvidos], a princípio, da mesma forma pela qual as mis-
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
sões norueguesas organizaram o mundo: entre os que tinham sido evangelizados
e os que ainda não tinham recebido o Evangelho (Tvedt 1990:9-10).
As imagens do Terceiro Mundo que se formaram nesse processo, descrito como subdesenvolvido, pobre, corrupto, sujeito à explosão demográfica
etc., foram acompanhadas, segundo Tvedt, pela construção da autoimagem
da Noruega como “doador”, fazendo com que um país com uma percentagem
mínima da população mundial, com uma das sociedades mais homogêneas
do mundo, com limitada experiência e conhecimento sobre a Ásia, a África
e a América Latina e situado no Polo Norte, “se tornasse, da noite para o
dia, seu guia e salvador [...]” (ibid:11).
Conclusão
O trabalho de campo que realizei na Noruega permitiu-me localizar um
leque variado de atores, o que evidenciou a presença de perspectivas hegemônicas e contra-hegemônicas dentro do aparato da cooperação para o
desenvolvimento, algo que me levou a aprofundar, no caso específico dos
povos indígenas, o debate sobre a presença de posturas tutelares e contratutelares neste universo. A constatação da existência desse conjunto amplo
e variado de agentes atuando na cooperação junto aos povos indígenas,
por sua vez, conduziu-me a analisar a gênese das ONGs como mecanismo
de implementação da cooperação internacional, algo que se deu a partir
da homogeneização desses agentes sob esta rubrica — mais conhecida na
Noruega como “organizações voluntárias” (frivillige organizasjoner) — permitindo que diferentes atores tivessem acesso aos recursos governamentais
para ações de cooperação no exterior e se constituíssem como parte de um
mesmo campo político e intelectual.
Também procurei destacar que o aparato da cooperação internacional
norueguesa se construiu a partir de um acervo muito variado de tradições
de conhecimento, formado em momentos históricos distintos, não podendo
ser subsumido aos valores e às perspectivas inauguradas após a 2ª Guerra
Mundial, quando este aparato foi formalmente constituído. Ter juntado estas
diferentes tradições sob uma mesma rubrica, a das “organizações não governamentais”, talvez tenha sido uma de suas realizações mais notáveis e um mecanismo essencial para a produção social do universo contemporâneo da cooperação. Embora produzindo um efeito homogeneizador, esta junção remetia
a processos tão díspares dentro da Noruega quanto o da formação das primeiras missões religiosas para atuarem no continente africano, no século XIX;
539
540
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
o do surgimento de organizações de base étnica do povo Sami, cujas tentativas iniciais de firmar um movimento político de base transnacional
remontavam ao início do século XX; o da formação de uma ideologia terceiromundista que se propagou a partir dos anos 60, na esteira dos movimentos
de descolonização africanos e asiáticos; e, em um momento posterior, o do
crescimento das organizações ambientalistas, integradas maciçamente ao
aparato da cooperação internacional desde, sobretudo, os anos 80.
Ao olhar para a cooperação internacional norueguesa junto aos povos
indígenas, fui obrigada, portanto, a olhar muito além dos indígenas e dos
noruegueses, e a agregar à minha análise um conjunto bem mais amplo de
atores postos em relação pela institucionalização do aparato da cooperação
após a Segunda Guerra. Mais precisamente, fui obrigada a olhar a história
da construção da relação entre estes atores, que uniu grupos e comunidades de interesse até então sem uma trama em comum, dentro da história da
construção do Estado nacional norueguês, observando que tipos de questões
e valores eles aportavam para um universo subsumido de forma simplista
aos termos canônicos da “ajuda”, da “assistência” ou da “cooperação”,
afirmados sucessivamente pelo aparato do desenvolvimento desde a sua
criação. A partir de então, estes atores passaram a se associar, apesar de seus
diferentes matizes e perfis, à história da vinculação da identidade nacional
contemporânea da Noruega ao campo dos países doadores “ocidentais”, do
“Norte”, “desenvolvidos” e à afirmação da identidade indígena no plano
doméstico e internacional.
Botá-los em relação é algo que tem se associado diretamente também às
formas contemporâneas através das quais Estados e organismos multilaterais
vêm lidando com os movimentos sociais e construindo novas maneiras para
planejar, definir e executar políticas públicas. Bons exemplos nesta direção
têm sido os seminários, workshops, congressos e eventos, em número cada
vez maior, que reúnem atores de proveniências políticas, sociais, acadêmicas e administrativas distintas para discutir questões de interesse comum.
Em meio a eventos voltados tão somente a legitimar posições e pautas preestabelecidas pelos atores com maior capital econômico, simbólico e político,
encontramos também aqueles que apostam no potencial transformador da
interação entre as comunidades científicas, administrativas e políticas e das
zonas cinzas em que elas sequer se distinguem bem, espaço privilegiado
dos “efeitos inesperados” — ou nem tanto — e das brechas para pensar o
novo de modo mais afinado com os sonhos de cada um.
A análise da questão indígena dentro da cooperação internacional
norueguesa me permitiu, por outro lado, observar um espaço que em
boa medida questionava as classificações consagradas neste universo, ao
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
possibilitar a imaginação de uma comunidade que fugia dos marcos “Norte” e
“Sul”, “desenvolvido” e “subdesenvolvido”, “rico” e “pobre”, ao definir uma
comunidade, os “povos indígenas”, cujos laços identitários se construíram em
cima da relação de povos tidos como “autóctones”, ou “originários”, dentro de
Estados nacionais que haviam usurpado seus direitos, sobretudo territoriais,
tornando-os alvos de políticas de assimilação ou de integração que em geral
os colocaram em situações de profunda subalternização material e simbólica.
Como também tentei demonstrar, a análise da cooperação junto aos povos
indígenas coloca uma série de desafios teóricos à antropologia, compondo
um rico campo para os estudos que pretendem investigar as relações entre
aspectos “puros” e “aplicados” dentro da disciplina. Nesse sentido, creio
ser importante destacar que, tal como o que ocorreu com a metodologia do
trabalho de campo — acusada em inúmeras ocasiões de produzir apenas
registros descritivos e pouca contribuição teórica para a disciplina19 — as
práticas “aplicadas” em antropologia, consideradas por muitos como um
espaço de escassas possibilidades de rendimento analítico e teórico, podem,
pelo contrário, mostrar-se extremamente fecundas, ao apontarem para os
limites e as possibilidades de utilização dos conceitos formulados no terreno
“puro” em contextos “aplicados”, revelando, ao mesmo tempo, os processos
de interfertilização dos discursos acadêmicos e políticos, seus problemas e
contribuições para o alargamento do “campo dos possíveis” na complexa
cena contemporânea de construção de agenciamentos políticos.
Recebido em 02 de agosto de 2011
Aprovado em 16 de outubro de 2011
Maria Barroso Hoffmann é professora adjunta do Departamento de Antropologia
Cultural do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas — IFCS, da UFRJ.
E-mail: <[email protected]>
541
542
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
Notas
*Este artigo apresenta uma síntese da argumentação de minha tese de doutorado, intitulada Fronteiras étnicas, fronteiras de Estado e imaginação da nação:
um estudo sobre a cooperação internacional norueguesa junto aos povos indígenas,
defendida em 2008 no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. Agradeço aos pareceristas anônimos de Mana as críticas e
as sugestões a este artigo
Usarei daqui em diante esses termos sem aspas, para fins de comodidade do
leitor, sem perder de vista o efeito que elas procuraram introduzir, isto é, o de chamar a
atenção para o fato de que este universo muitas vezes pouco tem a ver com os sentidos
habitualmente associados aos termos “ajuda”, “assistência” ou “cooperação”.
1
2
Para uma crítica à lógica geral dos mecanismos de produção de assimetria e
subordinação associados ao universo do desenvolvimento, ver sobretudo a literatura
antropológica de inspiração foucaultiana produzida a partir da década de 1990, em
que se destacaram trabalhos como os de Hobart (1993), Escobar (1995), Crush (1995)
e Shore & Wrigth (1997), entre outros. Em termos das políticas de desenvolvimento
voltadas aos povos indígenas e sobre a crítica de seus efeitos em nível local, no caso
do Brasil, ver Salviani (2002), Pareschi (2002) e Pimenta (2002).
3
Para uma discussão sobre a relação entre cooperação internacional e processos
de formação de identidades na arena internacional, a partir da aid canalizada para
o Timor Leste na década de 2000, ver Silva (2008). Este trabalho, contudo, não se
detém ao exame dos espaços sociais ligados à cooperação de nenhum país específico
do campo doador, como é o caso da pesquisa que deu origem ao presente artigo.
4
Os Sami (conhecidos antes de suas mobilizações etnopolíticas como lapões)
têm uma população estimada atualmente em 50.000 indivíduos na Noruega, enquanto
o total de imigrantes, segundo números de 1999, era de cerca de 275.000, em uma
população total de 4,5 milhões de habitantes. A Noruega é o país que concentra a
maior parte da população Sami, estimada em 20.000 indivíduos na Suécia, 10.000
na Finlândia e 2.000 na Rússia (Península de Kola).
Refiro-me aos dois períodos de subordinação, primeiro à Dinamarca, entre
1380 e 1814, e depois à Suécia, entre 1814 e 1905.
5
6
Nesse contexto, cabe destacar que a construção de meu olhar sobre as questões indígenas a partir do Brasil desempenhou um papel central, tendo em vista a
existência de uma densa literatura a este respeito, em que se destaca a produção
sobre os índios da região Nordeste do Brasil produzida a partir dos anos 90. Ver a
este respeito a coletânea de Oliveira (2004).
7
A subdisciplina nomeada “antropologia do desenvolvimento” começou a se
forjar na década de 1980, a partir das reflexões de antropólogos que haviam parti-
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
cipado profissionalmente em projetos e atividades no campo da cooperação para o
desenvolvimento, sobretudo no contexto britânico.
Este movimento, o læstadianismo, atingiu todo o norte da Escandinávia a partir
de meados do século XIX, adquirindo expressão particularmente forte na província de
Finnmark, na região ártica da Noruega, onde foi responsável pelo principal movimento
popular dos Sami contra os noruegueses, a rebelião de Kautokeino, em 1852.
8
9
Como veremos adiante, essa “internacionalização” da questão indígena foi
reforçada, em grande medida, por sua associação com as questões ambientais, apresentadas, sobretudo, a partir da década de 90 como questões de “interesse comum”
de todo o planeta.
Ver a este respeito particularmente as discussões travadas em 1977 durante os
preparativos para a realização da assembleia geral do World Council of Indigenous
Peoples – WCIP, na cidade de Kiruna, na Suécia (Barroso Hoffmann 2009:114).
10
11
Entre estas podemos citar a Survival International (1969), na Inglaterra, a
Cultural Survival (1972), nos Estados Unidos, e a Amazind (1972), na Suíça.
12
Ver a este respeito Lurie (1961).
A Convenção 169 da OIT, de 1989, foi o primeiro instrumento internacional
a reconhecer o direito dos povos indígenas à autodeterminação, tendo contado com
a ativa participação de representantes noruegueses e de intelectuais do povo Sami
em sua elaboração.
13
Essas qualidades foram contrapostas, muitas vezes, ao estilo de vida ostentatório e aos altos salários das camadas profissionais de técnicos noruegueses envolvidos
com a cooperação internacional, acusados de trair os ideais que construíram a ajuda
para o desenvolvimento no país, além de serem apontados como os responsáveis por
inúmeras obras dispendiosas e inúteis no Terceiro Mundo.
14
15
Atual Belo Monte.
Segundo as estimativas de Haslie e Øverland realizadas em meados da
década de 2000, esta organização recebeu, entre 2004 e 2005, 44.616 milhões
de coroas norueguesas para atuar junto aos povos indígenas, ficando atrás apenas da
Norwegian Mission Aid Comittee, com 51.959 milhões de coroas. Enquanto isso, o
Sami Council, principal organização do povo Sami a atuar na cooperação internacional norueguesa junto aos povos indígenas, recebeu apenas 2.753 milhões de coroas
norueguesas no mesmo período. Entre 1999 e 2005, o total de recursos noruegueses
destinados à cooperação junto aos povos indígenas teria alcançado, segundo aqueles
autores, cerca de 2 bilhões de coroas norueguesas, distribuídos entre canais bilaterais
e multilaterais de cooperação, correspondentes a 2% do total de recursos despendidos
pelo governo norueguês nas atividades de seu aparato de desenvolvimento (Haslie
& Øverland 2006:18, 27).
16
543
544
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
O primeiro projeto de cooperação para o desenvolvimento da Noruega, em
Kerala, na Índia, foi implementado no início da década de 1950, ao passo que a maior
parte dos países europeus só deu início a atividades no campo do desenvolvimento
a partir da década de 1960.
17
18
Estou usando “tutelar” aqui com o sentido proposto na literatura sobre tutela
produzida no Brasil, anteriormente citada. No caso de certas posturas assumidas na arena da cooperação internacional, como a descrita neste parágrafo, poder-se-ia dizer que
estamos diante da produção de “Estados incapazes” – os dos países donatários – pelos
Estados dos países doadores, que colocam os primeiros como inaptos para resolverem
adequadamente os problemas de seus grupos “mais pobres”. É possível observar aqui a
ambiguidade típica dos procedimentos tutelares, que combinam, neste caso, ao mesmo
tempo proteção – dos “grupos mais pobres” – e controle, submissão – das estruturas de
Estado dos países donatários, que ficam privadas do poder de decisão sobre o destino dos recursos fornecidos pela cooperação internacional, em benefício de ONGs
transnacionais e locais.
19
Ver a este respeito a discussão de Peirano (1995).
Referências bibliográficas
ANDERSON , B. 1991. Imagined com-
munities. Reflections on the origin
and spread of nationalism. London:
Verso Editions.
BARROSO HOFFMANN, M. 2009. Fronteiras étnicas, fronteiras de estado
e imaginação da nação. Um estudo
sobre a cooperação internacional norueguesa junto aos povos indígenas.
Rio de Janeiro: E-papers.
BARTH, F. (ed.). 1969. Ethnic groups and
boundaries. Londres: G. Allen and
Unwin. pp. 9-38.
___. 2000. “Enduring and emerging issues
in the analysis of ethnicity”. In: H.
Vermeulen & C. Govers (eds.), The anthropology of ethnicity. Beyond ethnic
groups and boundaries. Amsterdam:
Het Spinhuis. pp. 10-32.
BOON , J.A. 1974. “Anthropology and
nanies”. Man (N.S.), 9(1).
BORCHGREVINK, A. 2004. “Det sivile eller
det servile samfunn? Om frivillige organisasjoner i Utviklingsmelding”. In:
A. Borchgrevink & K.F. Hansen (eds.),
Felles kamp mot fattigdom? Kritiske
blikk på regjeringens utviklingsmelding. NUPI Rapport, n. 281, jun.
CHEATER, A. (ed.). 1999. The anthropology of power. Empowerment, disempowerment in changing structures.
London and New York: Routledge.
CRUSH, J. 1995. Power of development.
London and New York: Routledge.
DAHL, Ø. 1986. “Private organisasjoner –
kanal for norsk bistand. Refleksjoner
etter 25 års samarbeid”. Forum for
utviklingsstudie, 9-10:1-33.
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
___. 1987. “Samarbeid med private organisasjoner: fra usikkerhet til realisme”.
In: T.L. Eriksen (org,), Den vanskelige
bistanden. Noen trekk ved norsk utvklingshjelps historie. Oslo: Universitetsforlaget. pp. 148-164.
___. 1989. “Misjonærer og u-hjelpere i
møte med kulturene”. In: T. Hylland
Eriksen (ed.), Hvor mange hvite
elefanter? Oslo: Ad Notam Forlag.
pp. 41-50.
ERIKSEN, T. L. 1987. “Fakta om norsk
utviklingshjelp”. In: ____ (ed.), Den
vanskelig bistanden. Noen trekk ved
norsk utvklingshjelps historie. Oslo:
Universitetsforlaget. pp. 11-16.
ESCOBAR, A. 1995. Encountering Development: The Making and Unmakingof the Third World. Princeton:
Princeton University Press.
GRILLO, R. & STIRRAT, R.L. (eds.). 1997.
Discourses of development. Anthropological perspectives. Oxford and
New York: Berg.
HASLIE, A. & ØVERLAND, I. 2006. “Norges bistand til urfolk. En realitestorientering”. NUPI Notat, 708.
HOBART, M. 1993. “Introduction: The
Growth of Ignorance?”. In: ____ (ed.),
An anthropological critique of development: the growth of ignorance. London
and New York: Routledge. pp. 1-30.
HYLLAND ERIKSEN, T. 1993. Typisk norsk.
Oslo: Huitfeld.
___. 1996. Norwegians and nature. Disponível em: http://odin.dep.no/odin/
english/norway/history/032005990490/dok-bn.html. Acessado em
10/10/2007.
___. 2002. “Det multietniske samfunn”.
In: Flerkulturell forståelse. Oslo: Universitetsforlaget. pp. 9-21.
LILAND , F. & KJERLAND , K.A. 2003.
1989-2002: På bred front. Coleção
Norsk Utviklingshjelps Historie, 3.
Slovenia: Fagbokforlaget.
LURIE, N. 1961. “The voice of the ame-
rican indian: report on the American
Indian Chicago Conference”. Current
Anthropology, 2(5):478-500.
KLAUSEN, A. M. 2005. “Da korrekturleser
Eidheim i Nationen ble førstesideoppslag i Dagbladet”. Norsk Antropologisk Tidskrift, 16(4):189-193.
MINDE, H. 2003. “The challenge of indigenism: the struggle for Sami land rights
and self-government in Norway 19601990”. In: S. Jentoft et alii (eds.), Indigenous peoples: resource management
and global rights. The Netherlands: Eburon Academic Publishers. pp. 75-106.
OLIVEIRA, J. P. de. 1988. “O nosso governo”. Os Tikuna e o regime tutelar.
São Paulo: Marco Zero; Brasília:
MCT/CNPq.
___. 1998. “Uma etnologia dos ‘índios misturados’? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais”. Mana. Estudos
de Antropologia Cultural, 4(1):47-77.
___. 2004. (org.). A viagem da volta. Etnicidade, política e reelaboração cultural
no Nordeste indígena. Rio de Janeiro:
Contra Capa Livraria/LACED.
PAINE, R. 1991. “The claim of aboriginality. Saami in Norway ”. In: R.
Grønhaug et alii (eds.), The ecology
of choice and symbol. Bergen: Alma
Mater Forlag AS. pp. 388-406.
PARESCHI, A. C. 2002. Desenvolvimento
sustentável e pequenos projetos:
entre o projetismo, a ideologia e as
dinâmicas sociais. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social, Universidade de
Brasília, Brasília.
PEIRANO, M. 1995. A favor da etnografia.
Rio de Janeiro: Relume-Dumará.
PELS , P. 1997. “The anthropology of
colonialism: culture, history and the
emergence of Western governamentality”. Annual Review of Anthropology, 26:163-183.
545
546
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
PIMENTA, J. 2002. “Índio não é tudo
igual”: A construção ashaninka da
história e da política interétnica.
Tese de Doutorado, Programa de PósGraduação em Antropologia Social,
Universidade de Brasília, Brasília.
RIST, G. 2003. The history of development: from western origins to global
faith. Expanded Edition. London:
Zed Books.
SACHS, W. (ed.). 1999. The development
dictionary. A guide to power as knowledge. London and New York: Witwatersrand University Press/Zed Books.
SAID, E. 1990. Orientalismo. São Paulo:
Companhia das Letras.
SALVIANI, R. 2002. As propostas para
participação dos povos indígenas
no Brasil em projetos geridos pelo
Banco Mundial: um ensaio de análise crítica. Dissertação de Mestrado,
Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social, UFRJ, Rio de
Janeiro.
SILVA, K.C. 2008. “A cooperação internacional como dádiva. Algumas
aproximações”. Mana. Estudos de
Antropologia Social, 14(1):141-171.
SHORE, C. & WRIGHT, S. (eds). 1997.
Anthropology of policy. Critical perspectives on governance and power.
London and New York: Routledge.
SIMENSEN, J. 2006. “Religious NGOs
and the politics of international aid:
the norwegian experience”. Forum for
Development Studies, 33(1):83-104.
SOUZA LIMA, A. C. de. 1995. Um grande
cerco de paz. Poder tutelar, indianidade e formação do Estado no Brasil.
Petrópolis: Vozes.
___. 2007. “Notas (muito) breves sobre
a cooperação técnica internacional
para o desenvolvimento: uma visão
desde o estudo da administração
pública no Brasil”. In: K. Silva & D.
Simião (orgs.), Timor-Leste por trás
do palco. Cooperação internacional
e dialética da construção do Estado.
Belo Horizonte: Editora da UFMG.
pp. 417-425.
THIESSE, A. M. 1999. La création des
identités nationales. Europe XVIIIeXXe siècle. Paris: Éditons du Seuil.
TVEDT, T. 1990. Bilder av ”de andre”: om
utviklingslandene i bistandsepoken.
Oslo: Universitetsforlag.
___. 1995. Non-governmental organizations
as channel in development assistance:
the Norwegian system. Evaluation
report 3.95. Oslo: Ministry of Foreign
Affairs.
___. 1998. Angels of mercy, or development
diplomats?: NGOs & foreign aid. Trenton, N.J.: Africa World Press.
___. 2005. “Det nasjonale godhetsregimet.
Om utviklingshjelp, fredspolitikk og
det norske samfunn”. In: I. Frønes & L.
Kjølsrød (orgs.), Det norske samfunn..
Oslo: Gyldendal. pp. 482-510.
WIKAN, U. 1999. “Culture: a new concept of race”. Social Anthropology,
7(1):57-64.
WILLIAMS, B. F. 1989. “A class act: anthropology and the race to nation
across ethnic terrain”. Annual Review
of anthropology, 18:401-444.
A PRODUÇÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO E OS POVOS INDÍGENAS
Resumo
Abstract
Este artigo descreve a gênese da atuação
dos atores implicados na constituição do
universo da cooperação internacional
norueguesa junto aos povos indígenas,
buscando destacar o sentido da participação de antropólogos, missionários,
ambientalistas e membros do povo Sami
em sua elaboração. Analisa, entre outras questões, a pertinência dos marcos
históricos tradicionalmente associados
à formação do aparato do desenvolvimento; a relação entre este aparato e
a formação de identidades nacionais e
étnicas; os valores que sustentam o funcionamento da cooperação norueguesa,
localizando as relações entre ideais associados a “fazer o bem”, perspectivas
tutelares e posições contra-hegemônicas
em sua atuação; e as vinculações entre
teoria antropológica e práticas voltadas
à construção contemporânea de agenciamentos políticos.
Palavras-chave Cooperação internacional, Povos indígenas, Noruega, Sami,
Teoria antropológica.
The present article intends to describe the
genesis of actions of agents involved in
the constitution of the universe of Norwegian international cooperation. Here, we
emphasize the meaning of participation
of anthropologists, missionaries, environmentalists and members of the Sami
people in the construction of this universe.
Among other questions, we analyze the
adequacy of the historical landmarks traditionally associated with the formation of
the development apparatus; the relation
between this apparatus and the processes
of ethnic and national identity building; the
values that support the functioning of Norwegian cooperation, situating the connection among ideals of “doing good”, tutelary
perspectives and counter-hegemonic
positions in its performance; and the associations between anthropological theories
and practices related to the construction of
contemporary political agencies.
Key words International cooperation,
Indigenous peoples, Norway, Sami,
Anthropological theory.
547
MANA 17(3): 549-582, 2011
PRÁTICAS TERRITORIAIS
INDÍGENAS ENTRE
A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Michael Kent
Introdução
No início de maio de 2005, um encontro sob certo aspecto tenso entre autoridades políticas aconteceu nas ilhas dos Uros, um grupo indígena de
aproximadamente duas mil pessoas que habita os extensos juncais do Lago
Titicaca, no Peru1 (ver mapa 1 para as localidades mencionadas no presente
artigo). A pauta do encontro era a proliferação galopante de ilhas, resultado
de sua frequente separação. O habitat excepcional dos Uros consiste de ilhas
artificiais, construídas em plataformas de juncos e suas raízes, que se soltam
do fundo do lago durante períodos recorrentes de enchentes. Em função
da condição flutuante das ilhas e da sua estrutura física delicada, elas são
relativamente fáceis de dividir, fundir ou deslocar pelos juncais. Por exemplo, quando um conflito se instaura numa ilha e as tentativas de mediação
falham, a solução mais comum é a separação: com uma grande serra a ilha
é cortada em pedaços e cada parte segue seu próprio caminho.
Ao longo dos anos anteriores, o número de ilhas aumentou rapidamente —
de três para 20 — como decorrência de estratégias econômicas voltadas para
a concentração dos benefícios advindos do turismo, a principal fonte de renda
dos Uros. Famílias com acesso privilegiado a guias turísticos tinham começado a se separar em ilhas ainda menores, com poucos habitantes, de forma
a evitar a dispersão maior dos turistas. Como consequência, desigualdades
econômicas cresciam a passos firmes entre os Uros. Para restabelecer uma
distribuição mais extensa de recursos do turismo, as autoridades principais
dos Uros — incluindo o seu prefeito e o conselho diretivo das ilhas — tentaram forçar a fusão de ilhas flutuantes para gerar unidades maiores. Iniciados
em fevereiro de 2005, esses esforços foram amparados por diversas medidas
voltadas para a fixação das práticas territoriais, incluindo a proibição da separação de ilhas, o estabelecimento de um número mínimo de famílias por ilha
e a criação de um sistema de licenças que fazia com que qualquer mudança
550
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Mapa 1 — A Baía de Puno
na localização, no tamanho ou na população de uma ilha estivesse sujeita
à aprovação prévia das autoridades. Embora inicialmente bem-sucedida e
apoiada pela maioria da população das ilhas, esta política terminou por ter
o efeito inverso: resultou numa proliferação ainda mais acelerada de ilhas,
que chegaram a cerca de 30 no final de abril daquele ano.
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
No encontro do início de maio, diversos participantes culparam o prefeito dos Uros, Juan Coila, por sua desintegração, argumentando que ele
deveria ter sido mais rigoroso. Visivelmente exasperado, Juan respondeu:
Sim, eu gostaria de ter feito isso. Eu fiz licenças para cada ilha. Mas o que
posso fazer se vou até uma ilha para entregar a licença e descubro que ela foi
separada? [...] Cada vez que venho aqui vocês têm mais ilhas, vocês mudam os
nomes delas, mudam de presidente só para se divertir. Assim eu não consigo
trabalhar!
Outros participantes, por sua vez, colocavam a culpa no caráter compulsório das medidas, que tinha causado conflitos internos nas ilhas. Esses
desdobramentos sugerem que estava em jogo, na tentativa de unir as ilhas,
uma tensão entre diferentes abordagens em relação à territorialidade.
Especificamente, ela envolveu um choque entre as práticas costumeiras da
população das ilhas, altamente flexíveis e voláteis, e as técnicas introduzidas por suas autoridades, voltadas para o controle e a fixação das práticas
territoriais.
As autoridades dos Uros tinham se familiarizado com a abordagem de
fixação da territorialidade em função de seu envolvimento conflituoso com
a Reserva Nacional do Titicaca. Essa área protegida, gerida pelo Estado,
foi criada em 1978 com o objetivo de regular o uso de recursos naturais na
área dos juncais. Desde 2001, suas tentativas de adquirir o controle sobre
o turismo das ilhas flutuantes e dominar as práticas territoriais flexíveis
da população das ilhas levaram ao progressivo conflito com os Uros. Para
manter um nível relativo de autonomia, os Uros e suas autoridades exigiram
o reconhecimento formal daquilo que alegavam ser seu território aquático
costumeiro, bem como sua conversão numa Reserva Comunal. No sistema
de áreas protegidas do Estado peruano, este tipo de Reserva é confiado à
administração direta das populações indígenas.
Como parte de sua campanha para o reconhecimento da Reserva
Comunal, os Uros construíram uma definição precisa do seu território e de
suas fronteiras, produziram mapas profissionais e elaboraram planos de
zoneamento. Eles tinham se apropriado dessas técnicas de fixação de práticas territoriais do exemplo da própria Reserva Nacional. Esta estratégia
foi bastante bem-sucedida e rendeu aos Uros amplo apoio político para
a criação oficial da Reserva Comunal, incluindo o do então presidente
Alejandro Toledo. A população das ilhas flutuantes sustentou essas estratégias e deu às suas autoridades uma relativa liberdade em suas negociações
com o Estado.
551
552
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Figura 1 — Ilhas flutuantes
Contudo, o conflito com a Reserva Nacional não apenas tinha familiarizado os Uros e suas autoridades com a abordagem mais fixa do Estado sobre
a territorialidade, mas também com a ideia de que uma maneira de lidar com
uma situação como esta produziria efeitos políticos positivos. Como consequência, técnicas voltadas para a fixação das práticas territoriais tornaram-se
cada vez mais atraentes como ferramentas para a solução de problemas sociais internos. A tentativa malograda de unir as ilhas flutuantes em 2005 foi
a primeira vez em que essas técnicas foram aplicadas dentro da comunidade.
O que ela revelou, em particular, foi que os habitantes das ilhas flutuantes
estavam muito menos dispostos a aceitar tais mecanismos de controle territorial
em suas vidas cotidianas do que em suas estratégias políticas externas. Dessa
forma, essa tentativa redundou na reprodução, em nível da comunidade, das
tensões entre as abordagens flexíveis e fixas da territorialidade que haviam
emergido anteriormente na relação entre os Uros e o Estado.
O objetivo deste artigo é explorar no detalhe etnográfico essa tensão
entre flexibilidade e fixação nas práticas territoriais de populações indígenas, bem como suas consequências sociais. Isto será realizado por meio da
análise das interações dinâmicas entre as práticas territoriais que os Uros
desenvolveram em nível comunitário e aquelas que medeiam suas relações
com o mundo exterior, em especial com o Estado peruano. Este artigo,
portanto, primeiro discutirá as práticas territoriais costumeiras nas ilhas
dos Uros. Em seguida, voltarei minha atenção para as transformações nas
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Figura 2 — Uro com cabeça de balsa
práticas territoriais nos juncais que resultam do encontro entre os Uros, a
Reserva e as diversas outras comunidades indígenas. Por fim, o foco voltará
ao aspecto comunitário, de modo a explorar as consequências de tais transformações nas práticas territoriais nas ilhas flutuantes. Primeiro, contudo,
o artigo será iniciado com algumas considerações teóricas em relação às
práticas territoriais indígenas e estatais.
Processos de territorialização
Desde os anos 1990, populações indígenas da América Latina têm reivindicado cada vez mais os territórios aos quais se referem como “costumeiros”.
Esses movimentos revelam uma homogeneidade notável em suas táticas,
em seus quadros referenciais e nos termos com os quais expressam suas
demandas. Em grande medida, isto é resultado de sua articulação com atores
transnacionais, o uso de instrumentos jurídicos internacionais e a apropriação de discursos genéricos sobre indianidade e meio ambiente (Albert 2004;
Brysk 2000; Ramos 1998; Sieder 2002; Van Cott 1994).
553
554
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
No entanto, o contraste significativo entre as práticas territoriais
altamente flexíveis nas ilhas flutuantes e os modos mais formais e fixos
por intermédio das quais os Uros construíram suas reivindicações por um
território costumeiro torna necessário qualificar a homogeneidade de tais
demandas. O contraste sugere que uma heterogeneidade considerável nas
práticas territoriais cotidianas entre as comunidades indígenas subjaz em
relação à aparente homogeneidade das demandas externas. Além disso, dá
a entender que as formas específicas — por meio das quais as reivindicações
dos territórios costumeiros são modeladas — podem ser parte de um “formato” através do qual os grupos indígenas se projetam na arena política, uma
linguagem em comum e regras compartilhadas do jogo aceitas por todas as
facções envolvidas no encontro entre Estados e povos indígenas.
De modo a interpretar corretamente os processos territoriais que
acontecem na Baía de Puno, é preciso notar que o território não é um dado
natural, e sim uma “invenção historicamente datada” (Alliès 1980:25).
Diversos estudos relativamente recentes abordaram a territorialidade
como processo, como construção social e histórica (em especial Alliès
1980; Augé 1992; Brunet 1986; Certeau 1980; Deleuze & Guattari 1992;
Green 2005; Gupta & Ferguson 1992, 1997; Hirsch 1995; Mallki 1997;
Oliveira 1998; Raffestin 1986; Rappaport 1985; Rodman 1992). A partir
desta perspectiva, a ideia de uma territorialidade reificada deveria
ser substituída pelo foco nos “processos de territorialização” (Oliveira
1998:56). A tarefa de um antropólogo, então, é “prestar especial atenção
às formas pelas quais espaços e lugares são criados, imaginados, contestados e impostos” (Gupta & Ferguson 1992:18). Metodologicamente,
estes lampejos implicam uma mudança de foco das condições físicas
dos territórios ou das regras de propriedade para os contextos sociais e
as relações de poder nos quais a territorialidade é produzida. Abordar o
território como o efeito temporário de um processo contínuo permite sua
conceituação como algo que é flexível, sujeito à mudança e que pode se
transformar em vez de ser fixo.
Como ilustra o caso dos Uros, as práticas indígenas territoriais em
específico revelam níveis expressivos de heterogeneidade e flexibilidade.
Nos Andes existe uma extensa variedade de princípios organizadores de
pertencimento e controle territorial (Lehmann 1982; Rappaport 1985).
A noção de comunidade não é estritamente relacionada a um território demarcado e contínuo. Nos tempos pré-coloniais, a organização territorial nos
Andes era caracterizada pelo sistema arquipélago: grupos e comunidades
étnicos controlavam territórios descontínuos, espalhados por diferentes
zonas ecológicas, de forma a otimizar seu acesso a recursos essenciais
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
(Murra 1975). Resíduos deste sistema ainda são responsáveis por descontinuidades nas práticas territoriais contemporâneas. Isto se reflete na
cosmologia andina, em que fronteiras são instáveis e movediças, já que
o movimento e a flexibilidade são priorizados em detrimento da estase
(Bouysse-Cassagne & Harris 1987).
Os Estados têm desempenhado um papel importante nos processos de
territorialização pela transformação — com a mediação da lei — de espaços
heterogêneos e limites flexíveis em territórios homogêneos com fronteiras
fixas (Alliès 1980; Bourdieu 1980). A apropriação do espaço pelo aparato
administrativo tem sido crucial para a expansão do controle do Estado sobre populações e recursos (Alonso 1994; Ferguson & Gupta 2005; Lacoste
1986; Lima 1995; Scott 1998). Desde a segunda metade do século XIX, o
estabelecimento de áreas protegidas desempenhou um papel importante
na territorialização do poder estatal (MacKenzie 1990; Nash 1970; Spence
1999; Vandergeest & Peluso 1995).
O encontro entre as concepções territoriais do Estado e os entendimentos indígenas sobre seu ambiente muitas vezes resultou em mudanças
consideráveis para estes últimos. De acordo com Geertz, o territorialismo
não é uma simples sobrevivência do passado distante, mas o resultado da
interação entre valores tradicionais e os acontecimentos pouco tradicionais
do século XX (Geertz 1959). A luta política dos grupos indígenas para
manter ou recuperar o controle da área que habitam não apenas produz
mudanças naquele território, mas também em suas concepções a respeito
do que seja um território e em sua relação com populações vizinhas (Albert
2004; Creamer 1988; García Hierro & Surrallés 2004; Peluso 2005; Viesner
2002). O estabelecimento de um sentido de territorialidade em meio a grupos
indígenas está, muitas vezes, diretamente relacionado à invasão externa das
áreas que habitam (Gallois 1998; Oliveira 1998).
Os Estados desempenham, portanto, um papel importante ao provocarem a territorialização do espaço de grupos locais como estratégia de defesa
contra a sua invasão. Assim, ao invés de supor a preexistência de territórios
indígenas costumeiros, é preciso explorar como os entendimentos de possuir um território fixo são moldados e experimentados (Ferguson & Gupta
2005:7); em outras palavras, como a ideia de um território demarcado e fixo
torna-se socialmente aceitável. Estas inspirações teóricas tornam necessário
tratar das duas questões centrais e interrelacionadas deste artigo. Primeiro,
as tensões entre a flexibilidade que caracteriza as práticas territoriais nos
Andes e as investidas do Estado na fixação. Segundo, a interação dinâmica
entre práticas territoriais no nível da comunidade e as práticas que medeiam
relações com o mundo exterior.
555
556
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Práticas territoriais, mobilidade física e flexibilidade social dos Uros
Os Uros geralmente se definem como “povo do lago”. Suas vidas estão
intimamente ligadas ao lago e a seus recursos. Aproximadamente 60% da
população vivem nas ilhas flutuantes em meio aos extensos juncais da Baía
de Puno, enquanto os demais se estabeleceram em terra firme, no povoado
de Chulluni, numa pequena porção de terra concedida a eles em 1975 durante a Reforma Agrária. Os Uros usam os juncos para a construção de suas
ilhas, casas e balsas, bem como para a produção de artesanatos vendidos
aos turistas. Originalmente caçadores de aves e pescadores, a partir dos
anos 1970 um número crescente de Uros passou a se envolver com uma
próspera indústria do turismo, que traz centenas de milhares de visitantes
às ilhas flutuantes por ano.
Eles afirmam que são descendentes dos antigos Urus, geralmente considerados o primeiro grupo étnico a habitar os Andes e que constituíam um
quarto da população da bacia hidrográfica do Titicaca na época da conquista
pelos espanhóis (Kent 2011; Wachtel 1990).2 Atualmente, os Uros têm uma
estrutura de autoridade política dupla. Em 2001, foi criado o município de
Uros-Chulluni, baseado em Chulluni. Suas autoridades principais são o
prefeito e cinco vereadores. Os assuntos internos da área das ilhas flutuantes são administrados pelo conselho diretivo das ilhas, que consiste em
um presidente, um secretário e um tesoureiro. Eles presidem duas reuniões
mensais, em que cada ilha é representada por seu próprio presidente.
O número e o tamanho das ilhas têm variado de forma significativa ao
longo do tempo. O rio Huili, um rio natural que atravessa os juncais a uma
distância de sete quilômetros da capital Puno, é a área que atualmente abriga
a maior concentração de ilhas flutuantes. Desde que iniciei o trabalho de
campo, em 2003, o número de ilhas nessa área variou entre sete e 60, e sua
população entre duas e 24 famílias por ilha.
A condição flutuante das ilhas resultou numa forma muito particular de
sociabilidade entre os Uros. A mobilidade física é uma característica central
de suas vidas cotidianas, o que pode acarretar problemas incomuns, como
ilustra a anedota a seguir. Numa noite de tempestade, meu compadre Julio
voltou remando de uma visita a Puno. Quando chegou à localidade de sua
ilha, no entanto, constatou que ela desaparecera. Como ele conta, “Fui até
os meus vizinhos e perguntei se eles tinham visto a minha ilha, mas não.
Então fui de ilha em ilha perguntando ‘onde está a minha ilha?’, ‘para onde
foi a minha ilha?’, mas ninguém sabia”. Só quando a mulher de Julio queimou fogos de artifício, na hora em que ela esperava que ele voltasse para
casa, ele conseguiu encontrar novamente sua ilha. O temporal fizera com
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Figura 3 — Transportando os juncos
que a ilha ficasse à deriva, deslocando-a mais de um quilômetro. As ilhas
flutuantes são atracadas no fundo do lago com troncos de árvores e cordas
grossas. Não obstante, são vítimas fáceis das duras condições climáticas no
lago, havendo com frequência ilhas vagando à deriva. Em 1987, temporais
extremamente fortes destruíram três grandes ilhas situadas nas margens
entre os juncais e o lago aberto, suas partes estilhaçadas errando por toda a
Baía de Puno e além. Depois de ter desaparecido por dois dias, uma mulher
idosa foi encontrada flutuando em lago aberto, perto da costa boliviana.
Contudo, como a introdução já ilustrava, não são apenas os elementos
da natureza que movem as ilhas de uma parte a outra. Os Uros também o
fazem, usando a prerrogativa da mobilidade como solução para uma extensa variedade de desafios climáticos, sociais e econômicos que enfrentam.
Os níveis do Lago Titicaca estão sujeitos a importantes flutuações, não apenas
entre as estações de estiagem e de chuvas, mas também entre ciclos maiores
de seca e enchente. Na Baía de Puno, algumas vezes os juncais secam e
se transformam em terra firme, enquanto outras vezes ficam inteiramente
submersos pela água. Dessa forma, tanto o lago quanto os juncais podem
desaparecer inteiramente por anos a fio.
Essas variações periódicas nos níveis do lago impedem a fixação definitiva dos Uros, já que níveis diferentes tornam diferentes áreas dos juncais
557
558
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
mais adequadas à moradia. Como resultado, os Uros têm historicamente
ocupado áreas distintas nos juncais. Por exemplo, embora no início vivessem em pequenas ilhas espalhadas pelos juncais, no início dos anos 1940
a seca mais severa do século XX obrigou-os a se dirigirem às margens do
lago aberto. A emergência do turismo tem contribuído fortemente para os
processos migratórios: desde o princípio dos anos 1970 tem acontecido um
constante movimento de ilhas flutuantes, dependendo das mudanças nas
rotas principais do turismo, com os Uros cada vez mais gravitando por áreas
mais acessíveis a partir de Puno, o centro turístico regional. Quando em 1987
a enchente mais séria do século XX combinou-se com um clima extremo e
destruiu a maior parte das ilhas às margens dos juncais, a maioria dos Uros
deslocou-se para um local mais protegido do rio Huili.
Assim, o senso de pertencimento dos Uros não se vincula a pontos fixos
determinados no espaço, mas sim a um ambiente específico: o lago e seus
juncais. Essa relação com um habitat distintivo ao invés de um espaço específico tem raízes históricas. Em épocas pré-hispânicas, os Uros não ocupavam
um espaço delimitado e contínuo, mas sim diversos arquipélagos dispersos,
consistentes com o mesmo ambiente: água e juncais (Wachtel 1990).
A flexibilidade social é outro fator característico da vida nas ilhas flutuantes. Como foi ilustrado na introdução, pela prática de separar ilhas em conflito,
a estrutura física flexível das ilhas abre toda uma série de possibilidades de
modelagem da vida social de maneiras inimagináveis para populações que
vivem em terra firme. A divisão e a união de ilhas são também usadas como um
recurso político. Quando, em 2005, os Uros mantiveram um guarda florestal
da Reserva como refém por mais de um dia na ilha de Tribuna, o promotor
público abriu procedimentos criminais contra as autoridades principais dos
Uros. Como procedimento padrão de uma investigação criminal, uma delegação, que incluía o juiz designado e o promotor público, decidiu visitar a
ilha de Tribuna, então definida como cena de crime. Para evitar se envolver,
a população da ilha inventou a seguinte solução, como um deles explicou:
Decidimos separar a ilha. Demos às duas partes novos nomes e puxamos a
escola para o lado oposto do rio Huili. Então, no dia em que a delegação chegou para inspecionar o lugar, eles perguntavam “onde está a ilha de Tribuna?”.
E todos respondiam “qual ilha?”, “nunca ouvi falar”, ou “não existe nenhuma
Tribuna”. Assim foi como nos salvamos.
Desta forma, o habitat móvel e as práticas territoriais flexíveis dos Uros
permitiram que se desmanchasse no ar o que tinha sido definido como uma
cena de crime.
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Para uma família é ainda mais fácil se separar de uma ilha; tudo o que
precisa fazer é cortar as cordas de sua plataforma de junco particular. Assim, à
mobilidade das ilhas flutuantes corresponde a circulação de indivíduos ou famílias Uros entre ilhas. Ao longo do curso de suas vidas, a maior parte dos Uros
terá morado em pelo menos meia dúzia de ilhas diferentes. Julio, por exemplo,
aos 37 anos tinha circulado entre sete ilhas. Ao recontar sua trajetória de vida,
as razões dadas para mudar de ilha incluíam casamento, conflitos com companheiros ilhéus, melhores oportunidades de trabalho no turismo e um emprego
na escola da ilha de Tribuna. Ele concluiu com a seguinte reflexão:
No lago é bem fácil; se você não está contente, você pega a sua plataforma e vai
para outro lugar. Você não pode fazer isso na terra, se você tem uma briga com
os seus vizinhos, você não pode se mudar, ou você tem que vender sua casa e
tudo. Aqui no lago você pode se mudar quantas vezes quiser.
Assim, para os habitantes das ilhas flutuantes, mudar de um lugar para
outro é uma resposta facilmente disponível para lidar com uma variedade de
situações, incluindo o conflito social, novas oportunidades econômicas ou
mudanças nas relações de parentesco. Essa mobilidade física tem paralelo
na flexibilidade social, já que mudar de ilha normalmente envolve travar
um novo conjunto de relações. Em suma, tanto em nível individual quanto
coletivo, as vidas sociais e as práticas territoriais dos Uros desenvolvem-se
em um fluxo permanente entre união e separação. Se as alianças são sempre
relativamente frágeis, as rupturas nunca são permanentes. Uma separação é
simples de desfazer, e é bastante comum que famílias que um dia estiveram
em lados opostos depois da separação de uma ilha se unam novamente em
um ou outro momento.
Para muitas populações nômades ao redor do mundo, envolver-se nos
processos variados associados à modernidade resultou em uma obliteração
gradual de sua característica móvel e das especificidades culturais que
dela resultam (Casimir & Rao 1992). Entre os Uros, contudo, parece se dar
o oposto. Como foi discutido na introdução, o desenvolvimento do turismo
e a competição interna pelos benefícios por ele gerados resultaram numa
proliferação de ilhas, tendo aumentado a volatilidade das práticas territoriais dos Uros.
A seguir, voltarei minha atenção para o contexto social e político mais
amplo no qual os Uros operam, apenas para retornar às suas práticas territoriais internas na última seção deste artigo. A seção seguinte introduzirá as
comunidades ribeirinhas e a Reserva Nacional do Titicaca, bem como suas
práticas territoriais e suas relações com os Uros.
559
560
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Os Uros, as comunidades ribeirinhas e a Reserva
Além dos Uros e da população urbana de Puno, a Baía de Puno também
acolhe uma densa população ribeirinha de mais de 100.000 pessoas, constituída por Quechuas, em sua costa oeste e norte, e Aymaras, do lado sudeste.
A criação de rebanhos de gado em pequena escala é a atividade econômica
predominante dessas comunidades. Isto faz dos juncos um recurso importante também para elas, servindo de forragem durante os invernos secos
quando o pasto se esgota na terra firme. De maneira a garantir seu acesso
aos juncos, as comunidades ribeirinhas estabeleceram direitos territoriais
privilegiados em relação às seções do lago adjacentes à sua costa. Ben Orlove
e Dominique Levieil documentaram amplamente a onipresença de territórios aquáticos costumeiros no Lago Titicaca (Levieil & Orlove 1990; Orlove
1991, 2002). Em função de variações na profundidade do lago, os juncais são
distribuídos de maneira desigual. Por isso, comunidades com um excedente
de juncos frequentemente permitem que estranhos cortem juncos em seu
território em troca de diversas coisas, incluindo o acesso às terras de pasto, a
execução de tarefas de manutenção nos diversos canais que cortam por entre
os juncais ou o pagamento direto, em forma de comida ou dinheiro.
O denominador comum “comunidades ribeirinhas” representa inúmeras e diferentes formas de organização social, bem como relações bastante
heterogêneas entre pessoas e lugares. Comunidades camponesas, parcialidades, anexos, Centros Poblados e grupos de herdeiros de famílias donas de
terras reivindicam partes dos juncais da Baía de Puno. Além disso, arranjos
costumeiros mostram uma mistura complexa entre propriedade coletiva e
privada. Enquanto os juncais de algumas comunidades são divididos em
lotes de propriedade privada de famílias, em outros casos todo o território
aquático de uma comunidade está aberto a cada um de seus membros.
Esses territórios não são exclusivos, e seus limites são permeáveis
mesmo em áreas em que os juncais são divididos em lotes familiares.
À medida que a entrada ocasional é tolerada, é mais frequente as pessoas
de outras comunidades terem permissão de cortar juncos em troca de alguma comida ou acesso ao pasto. Portanto — tal como no caso dos Uros — as
práticas territoriais das comunidades ribeirinhas são caracterizadas por altos
níveis de flexibilidade, limites relativamente permeáveis e uma mobilidade
considerável. As ambiguidades resultam, em parte, do uso de fatores naturais como marcas desses limites, muitos dos quais não são pontos fixos no
espaço. Este é o caso específico das faixas de juncos, que podem se tornar
móveis ao se desprenderem do fundo do lago e cuja constelação também
muda com as variações nos níveis do lago.
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Essa mesma flexibilidade caracterizava, até recentemente, a relação entre
as comunidades ribeirinhas e os Uros. Os Quechuas cortadores de junco, bem
como caçadores e pescadores Uros circulavam continuamente, entrando e
saindo dos territórios de cada um sem grande impedimento. Como acontece
no ambiente climático de alto risco dos Andes, essa flexibilidade é um importante elemento de estratégias de atenuação de riscos. Por exemplo, quando
nas épocas de seca os juncos escasseiam mais perto da costa, os pastores de
gado da beira do lago passam a precisar de acesso às partes mais profundas e
distantes dos juncais. Da mesma forma, quando durante períodos de cheia no
lago os pássaros afluem para as partes mais rasas perto da costa, os caçadores
Uros passam a depender dos territórios ribeirinhos.
No caso das populações Aymaras da costa sul, arranjos foram estabelecidos em termos mais formais, de acordo com os quais os Uros alugavam
partes dos seus juncais (Orlove 1991).3 A permeabilidade de limites também
se aplicava a ilhas flutuantes inteiras, que em diversas ocasiões eram toleradas dentro de territórios das comunidades ribeirinhas. Estas flexibilidade
e abertura de fronteiras desaparecem por completo, no entanto, em épocas
de seca rigorosa, quando os juncais se tornam terra firme. Durante esses
períodos — o mais recente deles ocorrido entre 1996 e 2000 — conflitos
territoriais tornam-se generalizados pelos juncais, pois pessoas entram na
área com seu gado, plantam e fincam marcas claras de fronteiras.
Em 1978, os juncais da Baía de Puno foram declarados área protegida
através da criação da Reserva Nacional do Titicaca, atualmente administrada pelo Instituto Nacional de Recursos Naturais (INRENA), de caráter
estatal. Foi apenas em 1996, no entanto, que uma subvenção de dez anos do
governo alemão proveu os fundos necessários para a efetiva administração
da Reserva.4 Desde então, sua administração tem revelado uma orientação
territorializante pronunciada, por exemplo, por meio de esforços para colocar
boias e placas de informação em seus limites, inscrever sua propriedade
legal dessa área em registros públicos e patrulhar os juncais. A produção
de um corpo de mapas e o estabelecimento de subdivisões territoriais também projetaram uma qualidade cada vez mais fixa ao território da Reserva.
Para poder demarcar sua fronteira com a terra pertencente às comunidades
ribeirinhas, a Reserva lidou com ciclos periódicos de aumento e queda dos
níveis do lago por meio do estabelecimento de uma linha fictícia dividindo
o lago e a terra.
O caráter móvel das práticas territoriais dos Uros também foi alvo de
intervenções por parte da Reserva. Por exemplo, em 2001 a Reserva tentou
“fixar” o contínuo movimento das ilhas flutuantes dos Uros ao impor um sistema de licenças para as ilhas, tornando qualquer mudança em seu número,
561
562
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
em seu tamanho ou em sua localização sujeita à aprovação da Reserva. Este
plano foi abandonado depois da forte oposição dos Uros, que o viram como
uma ameaça à sua autonomia e à sua prerrogativa de mobilidade. De 2005
em diante, tornou-se um objetivo explícito da administração da Reserva estabelecer os Uros em terra firme, mantendo apenas um número limitado de
ilhas modelares para propósitos turísticos. Assim, a pronunciada investida
fixadora da Reserva contrasta significativamente com as formas pelas quais
os Uros e as populações ribeirinhas se relacionam com os juncais.
Desde 1996, os esforços da Reserva para regular o uso de recursos nos
juncais constituíram outro motivo para aumentar as tensões com os Uros.
No entanto, a partir de 2001, foram as tentativas da administração de obter
controle sobre o lucrativo empreendimento turístico centrado nas ilhas flutuantes o que levou ao conflito aberto (Kent 2006). Como resposta, os Uros
tentaram manter o domínio do turismo em seu território ao demandarem
a sua conversão em Reserva Comunal, uma categoria no sistema de áreas
protegidas do Peru concebida para a administração direta por populações
indígenas. Em junho de 2002, os Uros ocuparam o centro de controle principal da Reserva na ilha Foroba e declararam unilateralmente a criação da
Reserva Comunal. Estabelecendo sua própria rede de guardas florestais,
desde então eles têm impedido a Reserva de patrulhar a área. Ao apelarem
para a sua identidade indígena distintiva e os seus direitos costumeiros, os
Uros mobilizaram com sucesso a opinião pública, bem como um número cada
vez maior de atores regionais e nacionais do Estado, em prol da criação da
Reserva Comunal, incluindo Alejandro Toledo, presidente do Peru.
Como resposta, a Reserva construiu alianças com comunidades ribeirinhas que viam seu acesso aos juncais ameaçado pelos planos da Reserva
Comunal dos Uros. Juntos reconstruíram os territórios aquáticos costumeiros dessas comunidades, criando reivindicações concorrentes nas quais o
território dos Uros era expressivamente reduzido. A Reserva elaborou um
Mapa de Zonas de Uso Ancestral para apoiar essas reivindicações. Comitês
de Conservação locais foram estabelecidos em comunidades ribeirinhas, e
a Reserva treinou guardas florestais comunitários para patrulhar seus territórios aquáticos, assim impedindo os Uros de imporem suas reivindicações
em definitivo. Confrontos entre os Uros, a Reserva e as comunidades ribeirinhas cresceram gradativamente, culminando com um grande conflito de
rua que deixou dezenas de feridos na capital regional de Puno, em 2005.
Por fim, em 2006, o Estado peruano reconheceu oficialmente os direitos das
comunidades ribeirinhas aos seus territórios aquáticos.5
Assim, ao invés de uma oposição estrutural, este conflito revela entrelaçamentos complexos de uma variedade de atores do Estado e grupos indí-
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
genas, tanto em nível político como conceitual. Esses emaranhados resultam
do intenso trançar e misturar de alianças, estratégias, argumentos e sistemas
normativos (Kent 2009). Este contexto nebuloso é de importância crucial
para entender a transformação das práticas territoriais que foi deflagrada
pelo confronto a propósito dos juncais, a ser discutido em seguida.
Conflito político e a transformação de práticas territoriais
Essa breve visão geral sobre a história do conflito revela que ele resultou
na introdução de novos estatutos territoriais nos juncais da Baía de Puno,
como as Zonas de Uso Ancestral e a Reserva Comunal. Também provocou
profundas transformações nas abordagens e nas práticas territoriais implicadas nas relações entre os Uros, as comunidades ribeirinhas e a Reserva.
Tais transformações são mais bem ilustradas ao se contrastarem as situações
antes e depois da emergência do conflito.
No ano 2000, uma seca rigorosa converteu os juncais em terra firme.
Isto provocou disputas territoriais intensas envolvendo diversas comunidades ribeirinhas e os Uros. Para mediar esses conflitos, a Reserva organizou
uma reunião com as autoridades dos Uros e 16 comunidades ribeirinhas.
As atas deste encontro registram que: “Todos os delegados se comprometem a
respeitar os limites ancestrais, reconhecendo a área de recreação6 de aproximadamente 10.000 hectares como limite da comunidade Uros-Chulluni”.
Outros documentos também revelam que, naquela época, os Uros
reivindicavam uma área vagamente definida de “aproximadamente 10
mil hectares” sem nenhuma fronteira explícita. Além disso, nas atas, as
comunidades ribeirinhas definiam suas próprias áreas como “não tendo
limites”. Assim, territórios costumeiros existiam então, mas não eram claramente definidos e não tinham limites precisos. As atas dessas reuniões
revelam também que a Reserva e as comunidades ribeirinhas reconheciam
explicitamente esta área de cerca de 10.000 hectares como pertencente aos
Uros. No ano 2000, em diversas ocasiões, funcionários da Reserva chegaram a atuar em defesa dos Uros ao expulsarem populações ribeirinhas ou
seu gado desta área.
Em 2004, no entanto, líderes Uros já reivindicavam um território aquático definido com precisão: 11.383,75 hectares. Eles apoiaram suas reivindicações em mapas profissionais, uma definição de fronteiras em coordenadas
dadas por GPS, documentos emitidos pelas instituições regionais do Estado
reconhecendo a legitimidade de suas reivindicações e documentos antigos
que atestavam a propriedade de partes da área. Os Uros argumentaram
563
564
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
que a criação da Reserva em 1978 significou a usurpação de seu território
costumeiro, há muito estabelecido. Eles enfatizaram a antiguidade dos seus
direitos por meio da vinculação retórica de sua presença nos juncais aos
tempos das populações pré-coloniais Uru.
A administração da Reserva e as autoridades do Comitê de Conservação, por sua vez, argumentavam que o conflito era causado pela invasão
dos territórios costumeiros das comunidades ribeirinhas, nos juncais, pelos
Uros. Para apoiar esse raciocínio, eles elaboraram um mapa que define
precisamente essas “Zonas de Uso Ancestral” (ver mapa 2). Nesse mapa,
os Uros recebem uma área residual não reivindicada por nenhuma comunidade ribeirinha, limitando seu território a 3.003,90 hectares, ou 26%
do que demandavam. As populações ribeirinhas também apoiaram suas
reivindicações em referências frequentes a documentos antigos — títulos
de propriedade, transações de vendas ou decisões judiciais — e no estabelecimento ou na defesa de seu território por seus ancestrais. De acordo com
os Uros, o mapa de Zonas de Uso Ancestral, no entanto, deliberadamente
infla os territórios aquáticos das comunidades ribeirinhas. A sobreposição
das reivindicações territoriais dos Uros e das comunidades ribeirinhas é
mostrada no mapa 2.
Embora representações contrárias do conflito coexistissem, elas tinham
algo em comum: supunham a preexistência de territórios costumeiros claramente definidos e exclusivos, que precisavam ser defendidos de apropriações externas ilegítimas. Isto foi agravado pelos quadros de referência das
reivindicações dos Uros e das comunidades ribeirinhas, que mostram uma
mistura de elementos antigos e modernos. Ambos os grupos expressavam
suas reivindicações em uma linguagem de ancestralidade, fazendo alusões
frequentes a velhos documentos e a ancestrais que defenderam o território antes deles, com isto traçando simbolicamente uma linha no tempo de
continuidade territorial e sua defesa incansável. Ao mesmo tempo, também
fizeram uso de técnicas modernas para a definição precisa de territórios,
como mapas, planos de zoneamento, coordenadas de GPS e a expressão de
tamanho em hectares, com até dois dígitos depois da vírgula decimal, ou
seja, chegando ao metro quadrado. Isto sugere que, em um intervalo relativamente curto de tempo — não mais do que quatro anos — uma transição
bastante profunda tomou lugar: de uma forma mais aberta e permeável
de territorialidade para uma modalidade mais fechada e fixa. As próximas
duas seções explorarão como esta transformação aconteceu na prática, analisando separadamente os processos interrelacionados por meio dos quais
os territórios na Baía de Puno se tornaram (a) definidos com precisão e (b)
interditados para estranhos.
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Mapa 2 — Territórios reivindicados pelos Uros e pelas comunidades ribeirinhas
A definição de territórios
Para esta discussão, centrar-me-ei na área mais disputada nos juncais, destacada com pontilhado no mapa 2. De acordo com os Comitês de Conservação
de Capujra, Millojachi, Huerta Huaraya e Collana, seus limites territoriais
com os Uros eram estabelecidos pelo canal de Balsero Mayo. Na visão dos
Uros, no entanto, era o rio Huili que formava seu limite comum. Ambos ale-
565
566
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
gavam ter possuído a área entre o rio Huili e o Balsero Mayo desde “tempos
ancestrais”. Contudo, como discuti anteriormente (Kent 2008), um exame
dessa ocupação histórica complica esse quadro. Embora os Uros e as comunidades ribeirinhas tenham estado presentes, no transcorrer do século XX,
na área sob contenda, eles o fizeram em períodos diferentes, com intensidade
relativamente baixa e sem engajar-se em contato substancial.
Os Uros foram os primeiros a formalizar suas reivindicações para a
área contestada, em 1975, durante o processo que levou ao seu reconhecimento como uma comunidade camponesa. Embora as restrições impostas
pela Lei da Água tenham limitado o território formal da comunidade a
78 hectares em terra firme, a instituição estatal responsável pela reforma
agrária também demarcou precisamente o território aquático nessa ocasião.
Durante uma expedição de dois dias, funcionários do Estado e autoridades
dos Uros viajaram pelos juncais e registraram as fronteiras deste grupo.
Antes disso, eles tinham solicitado às comunidades ribeirinhas, aos donos
de terras e a outros grupos vizinhos que colocassem bandeiras nos limites
de seus territórios. Depois de admitir que o território original dos Uros era
delimitado pelo Balsero Mayo, Romualdo — uma das autoridades dos Uros
que participavam da demarcação — falou sobre esta expedição: “Apenas as
populações de Chimu e Yanico estavam lá com suas bandeiras. Onde não
havia bandeira fincada, reivindicamos como nosso, assim foi como aumentamos nosso território”.
Como resultado, o território aquático dos Uros foi definido em 11.383
hectares. Assim, eles formalizaram suas reivindicações para toda a área
entre o rio Huili e o Balsero Mayo por omissão, já que, com poucas exceções, as comunidades ribeirinhas permaneceram ausentes. Subsequentemente, essa definição caiu no esquecimento, como ficou evidenciado pela
demanda dos Uros, nos estágios iniciais de sua contenda com a Reserva,
por um território de “cerca de 10.000 hectares”. A definição de 1975 só foi
recuperada por volta de 2001, quando uma demarcação territorial precisa
tornou-se necessária como parte de suas requisições para as qualificações
como município e Reserva Comunal. Este fato revela a relação próxima entre
definições territoriais precisas e a necessidade de se conformar às categorias
territoriais do Estado.
As comunidades ribeirinhas, por sua vez, formalizaram suas reivindicações para a área contestada a partir de 2002. Nesse meio tempo, a
relação entre as populações Quechua, da costa noroeste, e os Uros mudara
significativamente, em função da migração em massa destes últimos para
o rio Huili e Chulluni a partir de 1987. A intensificação de contatos diretos
que resultaram desta nova proximidade teve consequências contraditórias.
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Por um lado, levou ao estabelecimento de relações de compadrio entre
cortadores de juncos da beira do lago e caçadores e pescadores Uros. Por
outro lado, no entanto, também causou uma série de choques entre os dois
grupos em razão da área entre o rio Huili e o Balsero Mayo, que se tornara
importante nos anos 1990 por causa da seca rigorosa. Com a piora da seca,
as populações ribeirinhas começaram a fazer seu gado pastar além do rio
Huili, movendo-se cada vez mais perto da nova localização dos Uros. Apesar
dos protestos enérgicos dos Uros, que dependiam dos juncos que iam ficando
mais escassos nessa área para manter suas ilhas, o gado permaneceu ali.
Como último recurso, os Uros organizaram, em duas ocasiões, uma batida
para expulsar a população ribeirinha e seu gado daquela área.
Assim, quando os Uros intensificaram seus esforços por reconhecimento
territorial, não foi apenas a Reserva que se sentiu ameaçada, mas também as
comunidades ribeirinhas. Em meados de 2001, quando o governo municipal
de Puno elevou o estatuto dos Uros-Chulluni de comunidade camponesa
a município e reconheceu os 11.383 hectares aquáticos como parte de sua
jurisdição, outro confronto direto aconteceu. Com documentos em mãos, os
Uros formaram um grande grupo para inspecionar seu recém-reconhecido
território e estabelecer marcas delimitadoras visíveis em suas fronteiras.
Depois de terem encontrado pouca resistência nos juncais entre Capujra e
Millojachi no primeiro dia de inspeção, na manhã seguinte as populações
de Huerta Huaraya e Collana esperavam por eles em grande número. Uma
batalha se sucedeu e os Uros não conseguiram demarcar suas fronteiras nessa
área. O que se seguiu foi um efeito cascata de reivindicações territoriais e
definições de fronteiras. Como explicou Ubaldo, secretário da direção do
Comitê de Conservação e habitante de Huerta Huaraya:
Foi depois que os Uros vieram para demarcar seu território que tudo começou,
“não toque nisto; isto é meu, meu, meu”. Então, todo mundo começou a demarcar território. [...] Porque antes era livre. Claro que sabíamos que esta parte
pertencia a Huerta, mas não nos importávamos se alguém viesse e cortasse
juncos. Tínhamos mais que o suficiente, outros tinham pouco, então, podiam
chegar e pegar. E os Uros vinham caçar e pescar. Como só usávamos os juncos,
não era um problema.
Ainda assim, as comunidades entre Capujra e Collana apenas formalizaram suas reivindicações para a área entre o Balsero Mayo e o rio Huili
durante a elaboração do mapa de Zonas de Uso Ancestral, ou seja, depois
que os Uros e a Reserva tinham colidido em relação ao posto de controle na
ilha Foroba, em junho de 2002. Assim, não foi apenas a sua disputa com os
567
568
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Uros durante a seca que detonou essa definição territorial, mas seu envolvimento com uma instituição estatal em conflito com os Uros. O incentivo
para definir os territórios aquáticos das comunidades ribeirinhas veio da
Reserva, como explicado por Miguel, chefe interino da mesma em três períodos entre 2000 e 2002:
Começamos com as Zonas de Uso Ancestral depois que os Uros tomaram a ilha
de Foroba. Pensamos nisso como uma estratégia contra as suas reivindicações,
mas não dissemos isso de maneira explícita às comunidades ribeirinhas. Eles
se interessaram pela ideia porque também sentiam a pressão dos Uros.
Como essa foi uma estratégia deliberada de defesa contra as reclamações dos Uros, durante a demarcação dos territórios aquáticos, a Reserva
e as comunidades ribeirinhas tinham o interesse comum em estender as
fronteiras da comunidade para tão longe quanto possível lago adentro.
No decorrer da elaboração do mapa, houve uma diferença nítida entre as
formas com que se estabeleceram as fronteiras laterais entre comunidades
ribeirinhas e suas fronteiras com os Uros, para dentro do lago. De acordo
com Miguel,
Quando fizemos as inspeções visuais para demarcar os territórios dos Comitês,
convidamos as autoridades da comunidade e de seus dois vizinhos do lado. Eles
deveriam estabelecer sua fronteira comum; isso sempre causou muito conflito,
essas inspeções frequentemente terminavam no pôr do sol ou sem acordo.
A fronteira para dentro do lago era mais fácil, porque os Uros não estavam
presentes. As comunidades nos diziam onde era e copiávamos aquilo.
As autoridades dos Uros declinaram de participar na demarcação dos
territórios costumeiros das populações ribeirinhas porque se recusavam a reconhecer a legitimidade desse processo, ou da Reserva como mediadora.
Dessa maneira, tanto os Uros quanto as comunidades ribeirinhas
formalizaram suas demandas em contextos em que a outra parte não estava presente, apropriando-se assim de toda a área por omissão, ao invés
de negociarem uma fronteira comum. Não tendo encontrado qualquer
resistência na época de sua formalização, ambas as partes passaram a ver
suas reivindicações como incontestes e agora consideram toda a área como
indubitavelmente sua. Essa precisa definição de territórios, no entanto, foi
apenas um passo em direção à emergência de territórios costumeiros sem
ambiguidades. Outro processo desempenhou um papel igualmente crucial:
o fechamento gradual desses territórios ao seu uso por estranhos.
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
O fechamento de territórios
Inicialmente, a redefinição conceitual de territórios aquáticos como precisamente delimitados não se refletiu, contudo, em uma mudança substancial
das práticas nos juncais. Como foi mencionado antes, arranjos costumeiros
foram caracterizados por um nível considerável de flexibilidade, ambiguidade, permeabilidade de fronteiras e trocas recíprocas. Por algum tempo, Uros
e populações ribeirinhas, caçadores e cortadores de juncos continuaram a se
mover para dentro e para fora do território um do outro sem grande impedimento. No entanto, como nos Andes o usufruto factual de territórios e de seus
recursos é um importante elemento na maneira como os direitos territoriais
são afirmados, a escalada do conflito fez com que, para ambas as partes, o
impedimento da presença do outro na área contestada adquirisse cada vez
mais importância política. Em decorrência, o conflito também resultou no
fechamento e na exclusividade gradual dos territórios. Essa transformação
pode ser ilustrada com o exemplo da caça de pássaros pelos Uros.
Devido a flutuações nos níveis do lago, os territórios aquáticos das
comunidades ribeirinhas são cruciais para os caçadores Uros. Os pássaros
concentram-se em volta de juncos densos. Como o lago no território dos Uros
é mais fundo, durante a estação chuvosa do ano os juncos ficam submersos
nessa área,7 e os caçadores seguem os pássaros que afluem para as partes
mais rasas, perto da costa. Tanto os caçadores quanto as autoridades do Comitê de Conservação declararam repetidamente que isso nunca foi um problema antes: como os Uros caçam e as populações ribeirinhas cortam juncos,
não havia concorrência pelos recursos. As relações, pelo contrário, tendiam
a ser relativamente boas: muitos caçadores Uros estabeleceram relações de
compadrio com ribeirinhos, aprenderam quechua e compartilhavam parte
de suas caças com os cortadores de juncos que encontraram. Essa relação
relativamente amigável sofreu, no entanto, profundas mudanças depois que
emergiu o conflito, como ilustra Valentin, um caçador Uro:
Antes, os ribeirinhos eram sempre agradáveis comigo quando eu ia caçar em
suas áreas, se eu os encontrasse normalmente daria a eles uma ou duas chok’as
[carquejas]. Só algumas vezes, quando eu já tinha caçado muitos pássaros, pediam
que eu me retirasse. Mas agora eles vêm e te perseguem, te pegam e confiscam tudo
que é teu, tua espingarda. Isso nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com outros.
Eles saem para patrulhar com quatro, cinco pessoas. Um tempinho atrás eu encontrei
pessoas da beira do lago. Eles perguntaram de onde eu era. Como eles fazem mais
rebuliço com pessoas dos Uros e de Chulluni, eu disse que era de K’api.8 Eles responderam: “se você é de K’api tudo bem, nós só queremos pegar gente dos Uros”.
569
570
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Figura 4 — Pescando em balsa de juncos
A primeira vez em que um Uro fez menção de um caso desses de perseguição a caçadores foi em março de 2005, sintomaticamente pouco mais de
um mês depois de um guarda florestal da Reserva ter sido feito refém por um
dia pelos habitantes das ilhas flutuantes. Um ano depois, rumores de guardas
florestais comunitários caçando Uros tinham se tornado numerosos. Autoridades dos Comitês de Conservação reconheceram que havia uma intenção
deliberada nisso, como ilustrava Nestor, presidente do Comitê de Collana:
Esse mês fizemos uma patrulha especial com os nossos guardas florestais comunitários e com a Reserva. Não foi anunciada, para que pudéssemos capturar
caçadores e pescadores Uros. Fomos até a fronteira mais distante, o Balsero
Mayo. Mas naquele dia, não tinha ninguém lá.
Essas táticas receberam fortes estímulos dos funcionários da Reserva.
Por exemplo, depois de diversos presidentes de Comitês de Conservação
reclamarem, durante sua reunião mensal de abril de 2006, que os guardas
florestais comunitários estavam sofrendo ameaças de caçadores Uros, um
dos guardas da Reserva respondeu desta forma:
Precisamos que vocês façam mais rondas. Se forem ameaçados, saiam com mais
gente. Já pedimos a vocês que nomeiem mais guardas florestais, nós queremos
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
muito mais guardas. [...] Quando formos patrulhar as áreas de vocês, vocês
precisam nos acompanhar com 50 pessoas; nós viremos com a polícia, assim
vocês vão ter o território de vocês respeitado. Esta é a forma de nos fazermos
presentes, de recuperar dos Uros, aos poucos, a nossa jurisdição.
Naquela altura, a Reserva já treinara mais de 100 guardas florestais
comunitários. As autoridades de diversos Comitês de Conservação alegavam
que, como patrulhavam com mais frequência, o número de Uros entrando em
seu território diminuíra consideravelmente. As patrulhas conjuntas de guardas da Reserva e da comunidade tinham como objetivo o estabelecimento de
um clima de medo que desencorajasse os Uros a entrar na área contestada.
Num irônico revés de sorte, os caçadores Uros tinham se tornado a presa.
Cada vez mais tomavam precauções, entrando nos territórios das populações
ribeirinhas no fim da tarde, quando os últimos cortadores de juncos tinham
regressado a terra, e evitando por completo as áreas reivindicadas pelas
comunidades mais antagônicas. O fechamento territorial resultante desses
processos impediu os Uros de efetivamente imporem suas reivindicações
por meio do usufruto da área contestada.
Assim, nos juncais da Baía de Puno, o envolvimento entre populações
indígenas e o Estado resultou na transformação de territórios relativamente
flexíveis, vagamente definidos e permeáveis em territórios mais fixos, claramente delimitados e exclusivos. Estas transformações nas práticas territoriais
não tiveram, contudo, apenas consequências nas relações entre os Uros e
o mundo exterior. Como revela a introdução, elas também tiveram efeitos
profundos no âmbito da comunidade, em especial por meio da mobilização
de técnicas de fixação com o objetivo de controlar a contínua fusão e cisão
de ilhas flutuantes. Como resultado, a interação dinâmica entre flexibilidade
e fixação que caracterizava o choque entre práticas territoriais indígenas
e estatais nos juncais encontrou expressão também no nível comunitário.
É com uma análise desse processo que terminará este artigo.
A organização de ilhas flutuantes entre fixação e flexibilidade
Como foi discutido na introdução, os esforços de alguns Uros em concentrar
os benefícios advindos do turismo levaram a uma proliferação crescente de
ilhas cada vez menores no rio Huili. Em resposta ao crescimento das desigualdades econômicas decorrentes desse processo, habitantes das ilhas com
pequena participação no turismo começaram a pressionar as autoridades
dos Uros por medidas voltadas para uma distribuição mais ampla de bene-
571
572
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
fícios. Em especial, demandavam a fusão de ilhas em unidades maiores, a
proibição da separação de ilhas e o estabelecimento de um sistema rotativo
de barcos de turismo, fazendo com que visitassem todas as ilhas. A maioria
das autoridades dos Uros — tanto dentro do município como entre as ilhas
— era favorável a esse plano por uma razão adicional: a proliferação de ilhas
flutuantes tornava a sua administração cada vez mais difícil.
Duas tentativas anteriores ao que se tratava geralmente como a “organização” (organización) de ilhas foram feitas em 2003 e 2004. Embora em ambos os
casos a fusão de ilhas em unidades maiores tenha sido inicialmente um sucesso,
uma vez que a pressão política arrefeceu, os Uros com laços mais privilegiados
com guias turísticos logo se separaram outra vez. Depois de cada tentativa
fracassada, o número de ilhas aumentou. Por exemplo, em abril de 2004 havia
12 ilhas flutuantes no rio Huili, com uma média de 13 famílias em cada uma.
Estas se fundiram em sete unidades maiores, a maior parte das quais com mais
de 20 famílias. Até o início de 2005, no entanto, elas tinham se separado novamente em 20 ilhas, muitas das quais com seis famílias ou menos.
Como resposta a essa desintegração, muitos Uros buscaram no uso
de regulação formal e nas técnicas de fixação das práticas territoriais uma
solução para fazer da fusão das ilhas um sucesso mais permanente. Quando
as autoridades Uros iniciaram a organização de ilhas pela terceira vez, em
fevereiro de 2005, houve uma demanda considerável, por parte da população das ilhas, por medidas mais rigorosas. A despeito da forte oposição
de ilhas menores, a maioria tomou as seguintes decisões: uma nova lei
interna proibiria a separação das ilhas; cada ilha receberia a sua resolução
— equivalente a uma licença — citando o número de famílias habitantes,
e qualquer mudança desse número teria que ser aprovada pelo conselho
diretivo da ilha; um mínimo de 12 famílias por ilha foi estabelecido, mais
tarde reduzido a oito. Ilhas que não conseguissem obedecer a estas regras
seriam punidas com a proibição de receber turistas.
Estas medidas implicavam uma transposição parcial da abordagem
mais fixa de territorialidade com a qual os Uros e suas autoridades tinham
se familiarizado desde sua campanha para a Reserva Comunal. O sistema
de licenças acabou por trazer de volta, ironicamente, o plano da Reserva
Nacional que os Uros tão firmemente tinham rejeitado em 2001. Em seu
conflito com a Reserva Nacional, o uso de uma abordagem fixadora da territorialidade ocasionara efeitos positivos importantes para eles, incluindo
o aumento da legitimidade de suas reivindicações territoriais aos olhos de
outros atores estatais, a consolidação de um apoio político mais amplo e a
conquista de um espaço relativamente autônomo para além da influência da
Reserva. Tais efeitos positivos tornaram a aplicação dessa abordagem fixadora
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Figura 5 — Reunião de autoridades
atraente para a solução de problemas sociais internos nas ilhas flutuantes.
Logicamente, as medidas que as autoridades Uros introduziram não eram
cópias diretas de regras estatais existentes: eram construções criativas a
partir de inumeráveis elementos disponíveis, moldados na imagem que eles
tinham do que significa controlar práticas territoriais.
Depois de diversas reuniões de autoridades, muita discussão e progressiva
pressão nas ilhas menores, foi estabelecido o prazo de 30 de abril para que todas
as ilhas chegassem a um mínimo de oito famílias, ou penalidades seriam postas
em prática. O encontro de autoridades agendado para o dia 30 de abril começou
em tom esperançoso. Como resultado da pressão política, dois conjuntos de
ilhas com quatro a seis famílias tinham se fundido. Duas outras ilhas tinham
conseguido aumentar seus números para oito famílias. Cinco das seis ilhas remanescentes com menos de oito famílias prometeram obedecer no período de
uma semana. Então, de repente, a reunião virou do avesso quando o presidente
da ilha de Totora anunciou a divisão de sua ilha. Uma discussão acalorada se
seguiu entre as duas facções de Totora que iriam se separar. Pouco depois, o
presidente de Tribuna — a maior e mais antiga ilha do rio Huili — informou
que sua ilha decidira também se separar. A reunião terminou ao anoitecer, em
573
574
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
meio ao caos, com participantes gritando por sanções e conflitos sendo travados
abertamente. Sendo a finalização da união das ilhas o ponto central da pauta,
sua desintegração se impôs à reunião. Quando deixei o campo, seis semanas
depois, já existiam 30 ilhas. Desde então, tentativas de organização das ilhas
em unidades maiores foram inteiramente abandonadas. No momento em que
escrevo, em 2011, existem mais de 60 ilhas.
Em todas as tentativas de organização das ilhas havia tanto forças
centrífugas quanto centrípetas em operação. As primeiras relacionavam-se,
principalmente, aos interesses das ilhas pequenas, especializadas em turismo, enquanto as últimas associavam-se às autoridades políticas e a uma
maioria de habitantes de ilhas marginalizados do turismo. Há, no entanto,
uma diferença nítida entre a organização das ilhas em 2005 e os esforços
anteriores. Em 2003 e 2004, quando a fusão das ilhas foi realizada sem o
uso das técnicas formais voltadas para a fixação permanente de práticas
territoriais, ela foi conseguida — mesmo que apenas temporariamente.
Quando tais medidas foram introduzidas na terceira tentativa, constatou-se
a impossibilidade de se completar a organização de ilhas. Portanto, a abordagem fixadora terminou por provocar o efeito oposto: a prática territorial
tornou-se ainda mais volátil e incontrolável, e o número de ilhas expandiu-se
significativamente. Alguns moradores das ilhas pareciam estar cientes dessa
relação. Por exemplo, quando o encontro de 30 de abril saiu do controle,
um de seus participantes disse: “Será que vocês não veem que quanto mais
tentamos organizar as ilhas mais elas se separam? Quanto mais forçarmos
as pessoas a viverem juntas mais conflito haverá”.
Por que a organização de ilhas provou ser ainda mais difícil de ser alcançada quando a regulação e a abordagem fixadora da territorialidade foram
mobilizadas para fazê-la valer? Fixar o caráter flexível das ilhas flutuantes
teria um impacto que iria muito além de meramente afetar os interesses
econômicos de ilhas bem-sucedidas no turismo. Também tocaria diretamente num dos princípios básicos da vida social dos Uros. Como foi discutido
antes, a capacidade de se mover de um lugar para o outro, mudar de ilha
ou fundar uma nova está no centro das estratégias flexíveis com as quais os
Uros historicamente confrontaram os diversos desafios ambientais, sociais,
políticos e econômicos com que se depararam — tanto em nível individual
como coletivo. Isto explica por que os habitantes das ilhas acataram a sua
organização em 2003 e 2004, quando tinha um caráter menos compulsório,
mas se recusaram a fazer o mesmo quando a regulação foi introduzida com
o objetivo de fixar esse processo de forma mais permanente. Embora muitos
Uros tenham passado a ver a proliferação de ilhas e as desigualdades dela
resultantes como um problema, poucos pareciam dispostos a abrir mão de
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
sua prerrogativa de mobilidade e flexibilidade. Consequentemente, suas
autoridades tiveram tão pouco sucesso quanto a Reserva em disciplinar e
fixar a contínua fusão e separação de ilhas flutuantes.
Conclusões
As práticas territoriais de populações indígenas cada vez mais se moldam na
interseção de suas próprias abordagens costumeiras flexíveis e a orientação
pronunciadamente mais fixa introduzida pelas instituições estatais com as
quais interagem. De forma a entender essas práticas em seu contexto mais
amplo, é de especial importância concentrar a análise nas duas dimensões
interrelacionadas exploradas neste artigo. Estas consistem, primeiro, na
tensão-chave entre flexibilidade e fixação e, segundo, na interação dinâmica
entre práticas territoriais no nível da comunidade e aquelas que medeiam
relações com o mundo exterior. Como revelou o caso dos Uros, essas práticas territoriais internas e externas apresentam diferenças significativas nas
maneiras pelas quais a tensão entre flexibilidade e fixação se desenrola. No
entanto, elas também dão forma uma à outra mutuamente.
A flexibilidade de práticas territoriais nas ilhas flutuantes foi espelhada
pelos arranjos territoriais igualmente flexíveis que os Uros estabeleceram
com as populações Aymara e Quechua ribeirinhas. Seu progressivo envolvimento com a Reserva, contudo, resultou na emergência de tensões
entre essas abordagens flexíveis e a orientação pronunciadamente fixa da
territorialidade, própria da visão estatal. Paradoxalmente, o ponto de vista
altamente flexível da territorialidade dos Uros contribuiu para a facilidade
com que eles se apropriaram de técnicas de fixação. Em decorrência, as
práticas territoriais que mediavam relações entre os Uros e as comunidades
ribeirinhas passaram por profundas mudanças.
No lapso de poucos anos, territórios relativamente flexíveis, vagamente definidos e permeáveis, transformaram-se em territórios mais fixos,
demarcados de forma clara e exclusivos. Essas transformações, contudo,
não se limitaram às relações sociais externas. Quando as autoridades Uros
começaram a usar uma abordagem mais fixa da territorialidade de modo a
regular as relações internas nas ilhas flutuantes, isto resultou na reprodução de tensões similares entre flexibilidade e fixação no nível comunitário.
O desfecho neste caso foi, contudo, bastante diferente. Esforços da população
das ilhas para preservar sua prerrogativa de mobilidade — um elemento
central em suas respostas aos desafios climáticos, sociais e econômicos —
resultaram em uma volatilidade maior de suas práticas territoriais.
575
576
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
No restante das conclusões, concentrar-me-ei nas implicações teóricas
adicionais dos processos analisados neste artigo para as relações entre populações indígenas e o Estado. Em primeiro lugar, o envolvimento do Estado com
territórios e práticas costumeiros produz mudanças expressivas nestes últimos.
A aceitação, por atores estatais, da existência de arranjos e territórios costumeiros
não necessariamente implica uma ratificação de práticas preexistentes. Pelo
contrário, no presente caso, a codificação pela Reserva de territórios e práticas
costumeiros resultou em transformações consideráveis nos arranjos locais:
formar uma argumentação admissível da existência de territórios costumeiros
da população ribeirinha implicava, de fato, construir esses territórios.
No processo, a Reserva passou por cima de arranjos costumeiros existentes,
de modo a criar o tipo de regras e territórios “costumeiros” que fossem de uso
mais estratégico para ela mesma e para seus aliados ribeirinhos. Consequentemente, a elaboração do mapa de Zonas de Uso Ancestral alterou de maneira
considerável o tamanho e a forma dos territórios aquáticos. A Reserva também
transformou a natureza dos arranjos locais ao homogeneizar uma mistura de regras de acesso privadas e coletivas em um único formato de territórios coletivos.
Outra alteração consistiu na mudança na distribuição do acesso aos juncais para
os aliados e os oponentes da Reserva. Por fim, esses processos — em conjunto
com a definição e o fechamento de territórios — reduziram significativamente
ambiguidades, facilitando com isso o controle territorial.
Os incentivos que grupos indígenas recebem para reivindicar seus
territórios costumeiros são ao mesmo tempo investidas em direção à fixação
desses territórios. Isto significa que, em um nível conceitual, eles enfrentam
um dilema crucial: obter o reconhecimento formal de seus territórios costumeiros também resulta em uma gradual supressão da própria natureza desses
territórios. De fato, poder-se-ia argumentar que, como os arranjos costumeiros
costumam ser flexíveis e se adaptar continuamente à realidade local em transformação, sua codificação em um corpo fixo de regras implica, por si mesma,
uma profunda transformação, o que denota ser uma homogeneização e uma
hierarquização de regras muito diversas e dispersas, aplicadas de forma diferente de acordo com o contexto. Por sua vez, plantam-se assim as sementes
do futuro conflito, já que os elementos fixos se tornam objeto de contestação
por pessoas envolvidas numa prática em mudança contínua (cf. Almeida &
Franco 2000). A perspectiva é a de um jogo interminável.
Uma segunda implicação teórica é a de que os conflitos territoriais, como
o travado na Baía de Puno, resultam em uma convergência entre práticas territoriais estatais e indígenas. Embora a Reserva não tenha conseguido tomar o
controle do território dos Uros, ela atingiu seus objetivos em outros domínios.
Compeliu os Uros e as populações ribeirinhas a jogarem de acordo com as regras
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
do Estado, priorizando formas de territorialidade fixas e delimitadas. É claro
que não foi apenas o Estado que se beneficiou desse jogo. O uso de categorias
fixas e exclusivas propostas pelo Estado — fossem elas originadas na lei formal
ou na apropriação seletiva do Estado dos arranjos costumeiros — trouxe aos
grupos indígenas de ambos os lados do conflito um benefício importante: aumentou o tamanho e o peso político de suas reivindicações territoriais. Este não
foi, entretanto, um processo unidirecional. Embora os Uros ainda não tenham
conseguido o reconhecimento de suas reivindicações, eles foram bem-sucedidos
em forçar o Estado a jogar de acordo com as regras dos indígenas, nas quais
arranjos costumeiros, propriedade coletiva e tempo de usufruto desempenham
um papel central. Assim, grupos indígenas e o Estado forçaram um ao outro a
atender, no conflito, às regras do jogo de cada um deles.
Os Uros, as comunidades ribeirinhas e a Reserva estavam inicialmente
envolvidos em formas de territorialização muito distintas. Como resultado
do conflito, estas convergiram para um processo comum de territorialização, a partir do qual vieram à tona uma linguagem comum e regras compartilhadas. Este fato possibilitou que todas as partes se envolvessem e se
confrontassem em torno da mesma área, no âmbito de uma arena política
compartilhada. A despeito de seus muitos desentendimentos, os Uros, as
comunidades ribeirinhas e a Reserva pareciam concordar com os termos do
debate: direitos territoriais e sua antiguidade. Por meio desta convergência
gradual de concepções territoriais, o conflito construiu pontes que tornaram
possível o envolvimento de atores do Estado e indígenas.
No nível da comunidade, no entanto, ao invés de construir pontes,
essas inovações das práticas territoriais resultaram na emergência de
novas divisões entre os Uros. Elas reproduziram as mesmas tensões entre
flexibilidade e fixação que tinham sido mediadas, em parte, na sua relação
com a Reserva por meio da articulação de abordagens indígenas e estatais.
Em decorrência disto, as práticas territoriais dos Uros começaram a se desdobrar nessa interação dinâmica entre flexibilidade e fixação, e suas vidas
sociais continuaram a se desenvolver num fluxo permanente entre tendências
centrípetas e centrífugas, entre a união e a divisão de ilhas.
Recebido em 10 de setembro de 2011
Aprovado em 13 de outubro de 2011
Tradução de Fernanda Guimarães
Michael Kent é professor da Universidade de Manchester. E-mail: <Michael.
[email protected]>
577
578
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Notas
Os dados nos quais este artigo se baseia foram coletados ao longo de quatro
períodos de trabalho de campo que duraram de dois a quatro meses, entre 2003 e 2006.
A pesquisa foi financiada pela Escola de Ciências Sociais da Universidade de Manchester e pelo Royal Anthropological Institute. Sou particularmente grato a Penny Harvey,
John Gledhill, Peter Wade, Olivia Harris (falecida), Karen Sykes e Andrew Canessa
por suas contribuições valiosas à reflexão desenvolvida neste artigo. Desejo também
agradecer a Karl Hennermann por sua perícia na elaboração dos dois mapas.
1
Se esta reivindicação é legítima ou não, sujeita-se a considerável debate em
Puno, envolvendo argumentos sociais, culturais, linguísticos, etno-históricos e mesmo genéticos (Kent 2011). Atualmente há apenas três outros grupos reconhecidos
como Uros, todos situados na Bolívia, com população total de aproximadamente
2.500 pessoas.
2
3
Esses arranjos foram desfeitos como resultado da criação da Reserva, cujas
políticas eram voltadas para conceder acesso direto à população ribeirinha sem a
mediação dos Uros e a negar por completo o acesso a grupos que vivessem fora da
Baía de Puno (Kent 2006).
Para a história da criação da Reserva, ver Orlove (1991). Relações entre a
Reserva e as populações locais foram tensas desde o começo. Durante a fase de
planejamento, a oposição inicial conseguiu excluir substanciosas áreas de juncos da
Reserva. No menor dos dois setores da Reserva — a Baía de Ramis, no canto nordeste
do Lago Titicaca — as populações locais conseguiram impedir sua administração
efetiva. Na primeira década de sua existência, a Reserva foi administrada com fundos
limitados e estabeleceu uma fraca presença na Baía de Puno. Entre 1990 e 1996, sua
administração ficou abandonada por completo.
4
5
Decreto Supremo 009-2006 AG. Este decreto reconhece os direitos de posse,
uso e usufruto. Não garante, contudo, direitos de propriedade.
Área de Recreação foi o nome dado, no zoneamento provisório da Reserva, à
área em que o turismo era permitido.
6
Períodos de seca são uma exceção, já que durante esse tempo os juncos não
ficam submersos.
7
8
Ver mapa 1. Com o termo “Uros”, as populações ribeirinhas e os funcionários
da Reserva geralmente se referem apenas a (habitantes das) ilhas flutuantes do rio
Huili. Habitantes de Chulluni são chamados de Chullunis e os Uros das ilhas flutuantes localizadas mais para dentro dos juncais são chamados de K’apiños. O foco
inicial das patrulhas sobre os habitantes das ilhas flutuantes do rio Huili é compreensível, já que, com poucas exceções, populações de Chulluni e K’api tinham pouco
envolvimento na luta por autonomia territorial.
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Referências bibliográficas
ALBERT, Bruce. 2004. “Territorialidad,
etnopolítica y desarrollo: a propósito
del movimiento indígena en la Amazonía brasileña”. In: A. Surrallés & P.
García Hierro (eds.), Tierra adentro;
territorio indígena y percepción del
entorno. Copenhague: IWGIA. pp.
221-258.
ALLIES, Paul. 1980. L’invention du territoire. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
ALMEIDA , Mauro W. Barbosa de &
FRANCO, Mariana C. Pantoja. 2000.
“A justiça local: caça e estradas de
seringa na Reserva Extrativista do
Alto Juruá”. XXII Reunião Brasileira
de Antropologia, Brasília.
ALONSO, Ana Maria. 1994. “The politics
of space, time, and substance: state
formation, nationalism and ethnicity”. Annual Review of Anthropology,
23:379-405.
AUGÉ, Marc.1992. Non-lieux: introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: Seuil.
BOURDIEU, Pierre. 1980. “L’identité et la
représentation; éléments pour une réflexion critique sur l’idée de région”.
Actes de la Recherche en Sciences
Sociales, 35:63-72.
BOUYSSE-CASSAGNe, Thérèse & HARRIS,
Olivia. 1987. “Pacha: en torno al
pensamiento Aymara”. In: T. Bouysse-Cassagne; V. Cereceda; O. Harris
& T. Platt (eds.), Tres reflexiones sobre el pensamiento andino. La Paz:
Hisbol.
BRUNET, Roger. 1986. “L’espace, règles du
jeu”. In: F. Auriac & R. Brunet (eds.),
Espaces, jeux et enjeux. Paris: Fondation Diderot/Fayard. pp. 297-316.
BRYSK, Alison. 2000. From tribal village to
global village: indian rights and inter-
national relations in Latin America.
Stanford: Stanford University Press.
CASIMIR, Michael J. & RAO, Aparna.
1992. Mobility and territoriality: social and spatial boundaries among
foragers, fishers, pastoralists, and
peripatetics. New York: Berg.
CERTEAU, Michel de. 1980. L’Invention
du quotidien. 2 vols. Paris: Union
Générale D’Éditions.
CREAMER, Howard. 1988. “Aboriginality in New South Wales: beyond the
images of cultureless outcasts”. In:
J. Beckett (ed.), Past & present: the
construction of aboriginality. Victoria:
Australian Institute of Aboriginal
Studies. pp. 131-146.
DELEUZE , Gilles & GUATTARI , Felix.
1992. A thousand Plateaus. Capitalism and schizophrenia. London, New
York: Continuum.
FERGUSON , James & GUPTA , Akhil.
2005. “Spatializing states: toward an
ethnography of neoliberal governmentality”. In: J. X. Inda (ed.), Anthropologies of modernity: Foucault,
governmentality, and life politics.
Malden, MA: Blackwell Pub.
GALLOIS, Dominique Tilkin. 1998. “Brazil:
the case of the Waiãpi”. In: A. Gray;
A. Parellada & H. Newing (eds.), From
principles to practice: indigenous
peoples and biodiversity conservation in Latin America. Copenhagen:
IWGIA.
GARCÍA HIERRO, Pedro & SURRALLÉS,
Alexandre. 2004. “Introducción”. In:
___. (eds.), Tierra adentro; territorio
indígena y percepción del entorno.
Copenhague: IWGIA. pp. 9-24.
GEERTZ, Clifford. 1959. “Form and variation in balinese village structure”.
American Anthropologist, 61:991-1012.
579
580
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
GREEN, Sarah F. 2005. Notes from the
LEVIEIL, Dominque P. & ORLOVE, Benja-
Balkans: relocating marginality and
ambiguity on the Greek-Albanian
border. Princeton, N.J.: Princeton
University Press.
GUPTA, Akhil & FERGUSON, James. 1992.
“Beyond ‘culture’: space, identity,
and the politics of difference”. Cultural Anthropology, 7(1):6-23.
___. 1997. “Culture, power, place: ethnography at the end of an era”. In: ___. (eds.),
Culture, power, place: explorations in
critical anthropology. Durham, London:
Duke University Press. pp. 1-32.
HIRSCH, Eric. 1995. “Landscape: between
place and space”. In: ___. & M. O’Hanlon
(eds.), The anthropology of landscape;
perspectives on place and space. Oxford:
Clarendon Press. pp. 1-30.
KENT, Michael. 2006. “From reeds to
tourism: the transformation of a territorial conflict in the Titicaca National
Reserve”. Current Issues in Tourism,
9(1):86-103.
___. 2008. “The making of customary territories: social change at the intersection of state and indigenous territorial
politics on Lake Titicaca, Peru”. Journal of Latin American and Caribbean
Anthropology, 14(2):283-310.
___. 2009. “How to make the State listen:
indigenous violence, State fears and
everyday politics in Peru”. Etnofoor,
21(2):11-34.
___. 2011. “A importância de ser Uros:
movimentos indígenas, políticas de
identidade e pesquisa genética nos
Andes Peruanos”. Horizontes Antropoloìgicos, 35:297-324.
LACOSTE, Yves. 1986. “Géographie et géopolitique”. In: F. Auriac & R. Brunet (eds.),
Espaces, jeux et enjeux. Paris: Fondation
Diderot/Fayard. pp. 283-296.
LEHMANN, David. 1982. Ecology and
exchange in the Andes. Cambridge;
New York: Cambridge University
Press.
min S. 1990. “Local control of aquatic
resources: community and ecology
in Lake Titicaca, Peru”. American
Anthropologist, 92(2):362-382.
LIMA, Antonio Carlos de Souza. 1995.
Um grande cerco de paz: poder tutelar, indianidade e formação do Estado
no Brasil. Petrópolis: Vozes.
MACKENZIE, John M. 1990. Imperialism
and the natural world. Manchester,
New York: Manchester University
Press.
MALLKI, Liisa H. 1997. “National geographic: the rooting of peoples and
the territorialization of national identity among scholars and refugees”.
In: A. Gupta & J. Ferguson (eds.),
Culture, power, place: explorations
in critical anthropology. Durham,
London: Duke University Press. pp.
52-74.
MURRA , John V. 1975. Formaciones
económicas y políticas del mundo
andino. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú/
Instituto de Estudios Peruanos IEP.
NASH, Roderick. 1970. “The american
invention of national park”. American
Quarterly, 22(3):726-735.
OLIVEIRA, João Pacheco de. 1998. “Uma
etnologia dos ‘índios misturados’?
Situação colonial, territorialização e
fluxos culturais”. Mana. Estudos de
Antropologia Social, 4(1):47-77.
ORLOVE, Benjamin S. 1991. “Mapping
reeds and reading maps: the politics
of representation in Lake Titicaca”.
American Ethnologist, 18(1):3-38.
___. 2002. Lines in the water: nature and
culture at Lake Titicaca. Berkeley:
University of California Press.
PELUSO, Nancy Lee. 2005. “Whose woods
are these? Counter-mapping forest
territories in Kalimantan, Indonesia”.
In: M. Edelman & A. Haugerud (eds.),
The anthropology of development and
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
globalization: from classical political
economy to contemporary neoliberalism. Malden, MA: Blackwell Pub.
RAFFESTIN, Claude. 1986. “Ecogénèse
territoriale et territorialité”. In: F. Auriac & R. Brunet (eds.), Espaces, jeux
et enjeux. Paris: Fondation Diderot/Fayard. pp. 173-186.
RAMOS , Alcida R. 1998. Indigenism:
ethnic politics in Brazil. Madison:
University of Wisconsin Press.
RAPPAPORT, Joanne. 1985. “History, myth,
and the dynamics of territorial maintenance in Tierradentro, Colombia”.
American Ethnologist, 12(1):27-45.
RODMAN, M. C. 1992. “Empowering
place: multilocality and multivocality ”. American Anthropologist,
94:640-656.
SCOTT, James C. 1998. Seeing like a
state: how certain schemes to improve
the human condition have failed.
New Haven: Yale University Press.
SIEDER, Rachel. 2002. Multiculturalism
in Latin America: indigenous rights,
diversity, and democracy. Houndmills, Basingstoke; Hampshire, New
York: Palgrave Macmillan.
SPENCE, Mark David. 1999. Dispossessing the wilderness: indian removal
and the making of the national parks.
New York: Oxford University Press.
VAN COTT, Donna Lee. 1994. Indigenous
peoples and democracy in Latin America. New York: St. Martin’s Press.
VANDERGEEST, Peter & PELUSO, Nancy
Lee. 1995. “Territorialization and State
power in Thailand”. Theory and Society,
24(3):385-426.
VIESNER, Frédéric. 2002. “Dynamique
territoriales des Aborigènes Pitjantjatjara (Australie-Méridionale)”.
Études Rurales, 163-164:267-282.
WACHTEL, Nathan. 1990. Le retour des
ancêtres: les indiens Urus de Bolivie,
XXe-XVIe siècle; essai d’histoire régressive. Paris: Éditions Gallimard.
581
582
PRÁTICAS TERRITORIAIS INDÍGENAS ENTRE A FLEXIBILIDADE E A FIXAÇÃO
Resumo
Abstract
Em sua busca pelo reconhecimento de
seus territórios costumeiros, as populações indígenas das Américas têm progressivamente lançado mão de técnicas
modernas para a definição precisa de
territórios. Isto resultou em tensões entre
suas práticas muitas vezes altamente
flexíveis e as modalidades mais fixas
de territorialidade produzidas por tais
técnicas. O objetivo deste artigo é explorar essas tensões e suas consequências
sociais por meio da análise das práticas
territoriais dos Uros, um grupo indígena
que habita ilhas flutuantes nos juncais do
lago andino Titicaca. Tais práticas serão
analisadas tanto no nível da comunidade
quanto em suas relações conflitantes com
as comunidades vizinhas na costa do lago
e com uma área protegida administrada
pelo Estado peruano. As práticas territoriais internas dos Uros revelam elevados
níveis de mobilidade física e flexibilidade
social, resultantes do constante fundir
e separar das ilhas artificiais de junco.
No entanto, seu envolvimento com o
Estado e suas práticas territoriais têm
resultado em profundas transformações
em seus arranjos com as comunidades
ribeirinhas. Em especial, redundou numa
transformação dos territórios flexíveis,
vagamente definidos e compartilhados,
em territórios fixos, claramente definidos
e exclusivos. Por fim, analisarei conflitos
que emergiram entre os Uros quando
seus líderes tentaram aplicar mecanismos de fixação territorial, de forma a
controlar a constante fusão e separação
das ilhas flutuantes.
Palavras-chave Movimentos indígenas,
Práticas territoriais, Estado, os Andes.
In their quest for the recognition of their
customary territories, indigenous populations of the Americas have increasingly
made use of modern techniques for the
precise definition of territories. This has
resulted in tensions between their often
highly flexible territorial practices and
the more fixed modalities of territoriality
produced through such techniques. The
objective of this article is to explore such
tensions and their social consequences
by analysing the territorial practices of
the Uros, an indigenous group living on
floating islands in the reed beds of the
Andean Lake Titicaca. It will analyse
such practices both at the community
level and in their conflictive relations
with neighbouring lakeshore communities and a protected area administered
by the Peruvian state. The Uros’ internal
territorial practices reveal high levels of
physical mobility and social flexibility,
resulting from their continuous merging and scission of the artificial reed
islands. However, their engagement with
the state and its territorial practices has
resulted in profound transformations to
their arrangements with the lakeshore
communities. In particular, it has resulted in a transformation of flexible,
vaguely defined and shared territories
into fixed, clearly defined and exclusive
territories. Finally, I will analyse conflicts
that emerged among the Uros when
their leaders tried to apply mechanisms
for territorial fixation in order to control
the continuous merging and scission of
floating islands.
Key words Indigenous movements; territorial practices; the state; the Andes.
MANA 17(3): 583-606, 2011
MEMÓRIA E
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL:
TRABALHADORES DE CIDADES INDUSTRIAIS*
José Sergio Leite Lopes
Introdução
As mudanças na organização do trabalho na indústria e na agroindústria
têm provocado a tendência a uma diminuição drástica no número de trabalhadores empregados nestes setores. A assim chamada classe operária,
anteriormente concebida como grupo social crescente, enquanto paralelamente os grupos estudados pelos primeiros antropólogos estariam em
desaparecimento diante da expansão mundial do capitalismo, é vista por
sua vez, um século depois, ela própria como classe social minguante. Talvez
então possa ela ser incluída ironicamente como objeto legítimo da curiosidade antropológica clássica, agora que está envolvida em um processo de
extinção de suas propriedades sociais características.
Alimentado pelo efeito-teoria de visões macrossociais que o projetavam
como modelo da sociedade futura, o operariado parece, ao contrário, ter
perdido recentemente sua morfologia social do grande número concentrado,
que impressionava os observadores contemporâneos do seu surgimento —
como os irmãos Lumière, que dedicaram algumas das primeiras filmagens
do seu novo invento ao registro do movimento massivo das saídas de fábrica.
De símbolo de progresso, mudança e transformação social, os trabalhadores
industriais passaram a ser objeto de memória. É bem verdade, por outro
lado, que os antropólogos estão acostumados a desconfiar das previsões de
desaparecimento de povos ou de grupos sociais. No caso presente, observase um conjunto de fenômenos em transformação, desde um deslocamento
geográfico do trabalho fabril até a sua recriação com outras roupagens na
agricultura e nos serviços.
Não somente os antropólogos, mas os trabalhadores — desde que
em condições de preservar e transmitir entre suas gerações experiências
passadas — poderão relativizar o ineditismo das previsões apocalípticas de
precarização ou extinção do trabalho manual. Eles já viveram tais situações
584
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
em outros períodos históricos. De fato a capacidade de transmissão da própria
história entre as gerações de trabalhadores varia de grupo para grupo. Minha
experiência de pesquisa baseou-se na comparação entre dois grupos sociais de
trabalhadores do ponto de vista de sua relação com a história e a formação de
uma memória coletiva. São eles: a) os operários industriais de usinas de açúcar
no Nordeste; e b) os operários e as operárias têxteis, e suas famílias, em uma
fábrica e em uma vila operária exemplar, em Pernambuco, como caso-limite das
fábricas dos primeiros 70 anos da industrialização brasileira do século XX.
Diferentes grupos sociais, diferentes historicidades
Estes dois grupos estudados sucessivamente e comparados a posteriori
apresentam uma relação diferenciada e mesmo polarizada em diferentes
concepções de história. Os operários do açúcar apresentam a concepção de
um tempo estrutural cíclico, alternado por administrações sucessivas. Devido
à importância das relações constituídas no interior de tais administrações,
ocorrem periodicamente migrações por equipes ou cliques no mercado de
trabalho das usinas de açúcar. Um mestre ou chefe de seção que sai tende
a levar seus homens de confiança para o emprego seguinte. Trata-se de
uma história masculina, na qual a família operária se apresenta como pano
de fundo, dependente dos trabalhadores masculinos, os pais de família.
Tal concepção tem todas as aparências de uma “história fria”, sobretudo se
comparada com seus vizinhos de processo agroindustrial, os trabalhadores
rurais situados na mesma área de plantation.
Os operários do açúcar, por serem considerados “industriais”, foram
beneficiados pela legislação nacional do trabalho implantada nos anos 1940,
durante um período de governo ditatorial (o que, por sinal, contribuiu para
quebrar a resistência patronal a essas medidas). Em contraste com os trabalhadores da parte rural da plantation, que constituíam a grande maioria
excluída desses direitos, eles passaram a ocupar uma posição de superioridade relativa na hierarquia das usinas. Ao contrário, os trabalhadores
rurais, moradores e depois trabalhadores de rua, também conhecidos como
clandestinos, tiveram acesso aos direitos trabalhistas vinte anos depois dos
operários, em pleno período democrático e de forte mobilização social. Estes
foram, logo depois, o alvo principal, na área canavieira, da repressão por
parte da nova ditadura implantada pelos militares em 1964.
O processo então desencadeado, a partir da inclusão tardia dos trabalhadores rurais aos direitos sociais e da subsequente expulsão dos moradores por
parte dos proprietários, proporcionou a estes trabalhadores a comparação entre
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
um passado idealizado, de acesso a concessões anexas à moradia e a relações
personalizadas com alguns patrões, e um presente de dificuldades maiores.
O instrumental cognitivo proporcionado por essa visão do passado, aliado à
curta vivência no início dos anos 60 de um sentimento de libertação, dava a este
grupo social a possibilidade e a vontade de associação reivindicativa mesmo sob
condições severas de repressão. Enquanto isso, os operários do açúcar guardavam distância do momento de entrada dos direitos nos anos 40 sem a mesma
mobilização dos camponeses e dos trabalhadores rurais vinte anos depois. No
período repressivo pós-64 não dispunham dos mesmos instrumentos associativos
e resistiam a uma exploração cotidiana do trabalho de forma atomizada.
Já os operários e as operárias têxteis da grande companhia industrial
que criou uma cidade no início do século XX apresentavam uma alta sensibilidade quanto à apropriação singular de acontecimentos internos e externos
que traziam consequências sobre a vida social local. A trajetória do campo
para a fábrica, comum à grande maioria destes trabalhadores, a grandeza e o
carisma patronais, a luta pelo cumprimento dos direitos desde os anos 1940,
as greves dos anos 50 e início dos 60 e o movimento contra a opressão aos
operários estáveis entre os anos de 1967 até o início dos anos 80 são todos
fatores de elaboração de uma historicidade “quente”. Por sinal, comparável
à sensação “térmica-social” não dos operários industriais do açúcar, mas à
dos trabalhadores rurais canavieiros dos anos 60 e 80.
Os operários na literatura antropológica
O que havia de disponível na literatura para se tratar de forma antropológica os operários industriais no momento em que essas pesquisas foram
feitas? Como a minha pesquisa inicial se deu no interior de um projeto coletivo visando estudar a plantation canavieira, partíamos do conhecimento
dos estudos de Eric Wolf e Sidney Mintz no Caribe, dentro da tradição da
antropologia cultural norte-americana. O tema da proletarização aparecia
nos estudos sobre campesinato e sociedades camponesas. Também estava
presente nas pesquisas de Pierre Bourdieu do início dos anos 60 sobre o
campesinato e os trabalhadores urbanos argelinos. E se encontrava nos
capítulos de análise histórica ancorada em material empírico do Livro 1
de O Capital, de Karl Marx. Também se dispunha do conhecimento de
resultados das pesquisas de antropologia urbana que faziam parte dos estudos de sociologia e antropologia da chamada segunda geração da escola
de Chicago, como a análise interacionista das instituições totais de Ervin
Goffman. E, finalmente, se dispunha do instrumental criado para o estudo
585
586
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
de sociedades “tribais” (“simples”, “indígenas” etc.), como as classificações
coletivas de Mauss e Durkheim, o pensamento selvagem de Lévi-Strauss, o
tempo estrutural de Evans-Pritchard, a serem apropriados para o contexto
agroindustrial e fabril pesquisado.
Também se colocava a questão do acesso ao campo, da entrada nos
domínios da empresa que incluíam não só a fábrica como a moradia dos
seus trabalhadores. Quando desta tematização na entrada do Vapor do Diabo,
em 1975, contava-se com as reflexões de Simone Weil sobre sua experiência
operária dos anos 30, na França. Mas ainda não da descrição e da análise
de Robert Linhart como établi, termo que significa o militante político implantado na fábrica, no caso, na Citroën de Paris, que só foi publicada em
1978. E eu mal conhecia a experiência de Donald Roy como pesquisadorenquanto-operário, nos anos 40, em Chicago, orientando de Everett Hugues,
que recentemente tem sido revalorizada. Roy havia sido colega de turma de
Howard S. Becker. Não se tratava para mim, na ocasião, de trabalhar como
operário para fazer assim observação participante. Naquele momento, em
1972, os établis locais (como o Betinho) estavam sendo procurados pelo
DOI-CODI. Era o caso simplesmente de ter acesso aos trabalhadores com
a possibilidade de estabelecer as relações de confiança necessárias para
a pesquisa etnográfica. (Na época se conhecia também a experiência de
Richard Hoggart, mas dele se falará mais adiante).
Assim, em meados dos anos 70, eu pensava estar entrando em um território inexplorado pela antropologia, aquele ocupado pelas condições de
trabalho e de vida dos operários. De fato, só depois fui buscar antecedentes de
um enfoque antropológico em estudiosos universitários ou não universitários
sobre as classes trabalhadoras, inclusive o dos antropólogos profissionais.
Em parte os operários haviam sido encontrados pelos etnógrafos em algum
lugar no meio do folk-urbano formulado pelos antropólogos culturais norte-americanos. Foram, assim, desde os trabalhadores têxteis indígenas da
localidade de Cantel, na Guatemala, estudados por Manning Nash (com a
colaboração de June Nash) nos anos 1950, até os operários de Yankee City
descritos por Lloyd Warner, ou os metalúrgicos de Chicago, aos quais se
incorporou como nativo e pesquisador não declarado Donald Roy.
A proximidade da antropologia e da sociologia na tradição da escola de
Chicago fez com que antropólogos como Warner e Foote-Whyte transitassem
de estudos de temas clássicos da disciplina antropológica (no caso do primeiro) e de comunidades étnicas urbanas (no caso do último) para estudos
assemelhados à sociologia industrial, embora fortemente instrumentalizados
pela etnografia. Algumas universidades norte-americanas fundaram nos
anos 1940 institutos de relações humanas associados às indústrias, onde se
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
incluíam projetos de antropologia aplicada, geralmente reformadores, em
torno do tema de “relações industriais”. Este fato não deixa de ter relação
com o que era ensinado na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo,
com a presença de Donald Pierson, ao lado de disciplinas de administração e relações industriais, e com a posterior entrada do antropólogo Mario
Wagner Vieira da Cunha na primeira direção do Instituto de Economia e
Administração da USP e do recrutamento para lá do jovem Juarez Brandão
Lopes. Mas este é assunto para outra ocasião.
No caso de outros centros mundiais das ciências sociais, como a França
e a Inglaterra, a espera pelo retorno à casa da antropologia (Anthropology at
Home) à primeira vista parecia ser necessária para que os antropólogos se
interessassem pelos trabalhadores em suas próprias cidades industriais. Na
Inglaterra houve precursores, como o estudo de Raymond Firth sobre família
no bairro proletário do East End de Londres (Two studies of kinship in London),
ou as famílias e as redes sociais de Elisabeth Bott, que incluíam famílias de
trabalhadores. Havia os estudos de comunidade depois sistematizados por
Ronald Frankenberg. Entre estes estavam o de Dennis, Henriques e Slaughter
(Coal is our life) e o de Young e Wilmott (Family and Kinship in East London).
Por sinal, os autores de Coal is our life agradecem fortemente a orientação de
Meyer Fortes e Max Gluckman. Também os estudos das cidades mineiras no
Copperbelt da Rodésia do Norte fazem com que os antropólogos da escola de
Manchester, atraídos pelas transformações nos comportamentos tribais nas
cidades, se encontrem com trabalhadores industriais.
É interessante também a trajetória da antropóloga norte-americana
Hortence Powdermaker, que circulou com desenvoltura entre as tradições da
disciplina acadêmica de seu país e da Grã-Bretanha, assim como se moveu
entre temas clássicos e heterodoxos. Fez tese, sob orientação de Malinowski,
na LSE, em Lesu, na Melanésia, indo em seguida estudar relações raciais
no Mississipi, respaldada por Sapir. Depois foi etnografar Hollywood após
ter observado o lugar da recepção do cinema no sul dos EUA. E, finalmente
estudou os mineiros africanos na sua monografia Copper Town, no Copperbelt
da Rodésia do Norte. Tudo isso após um ímpeto de juventude que a levou
da graduação universitária em História ao trabalho de ativismo sindical no
setor de confecções em seu país.
A hipótese da tradição transformadora
Mas estas são considerações a posteriori de que eu não dispunha no momento
de começar a fazer a segunda pesquisa com operários e operárias têxteis em
587
588
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Pernambuco, na busca por uma espécie de plantation estendida à cidade e
ao subúrbio nas particularidades das vilas operárias industriais. O que de
fato fui lendo no entremeio das primeiras idas ao campo foi o livro de E.P.
Thompson, The Making of the English Working-Class, publicado em 1963,
e reeditado pela Penguin em 1968. Ali aparecia de forma clara, com base
na experiência da revolução industrial inglesa, a hipótese da importância
do passado, da memória, da história incorporada para a possibilidade de
criação do novo.
Ao contrário de se ver no novo proletário industrial, o criador do movimento operário, Thompson mostrava através de farta documentação a
importância de artesãos, trabalhadores a domicílio e trabalhadores rurais,
destituídos pelas transformações capitalistas, como os motores ativos do
novo movimento. Seriam estes, que têm um quadro de referência anterior —
dado por suas tradições de trabalho e de vida, por sua cultura, por sua religião — os que teriam condições de enfrentar os novos modos de dominação
social em gestação. Era algo assemelhado a isto que eu e a colega Rosilene
Alvim estávamos encontrando na cidade de Paulista, na Grande Recife.
O predomínio da história do grupo operário sobre sua vida presente no
relato espontâneo dos trabalhadores entrevistados; a ambiguidade entre
as realizações de grandeza da empresa que se refletiam nas condições de
vida e na experiência dos trabalhadores; e ao mesmo tempo o orgulho pela
participação em protestos contra a ilegitimidade da dominação patronal.
Ao declarar que: “a experiência de classe é determinada em grande
medida pelas relações de produção em que os homens nasceram”, [mas o
que nos interessa aqui] “é a forma como essas experiências são tratadas
em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e
formas institucionais”, E.P. Thompson, no verdadeiro prefácio-manifesto do
seu livro The Making of the English Working-Class, invertia o senso comum,
inclusive o acadêmico, ao atribuir o protagonismo não ao polo moderno da
transformação capitalista, a fábrica e seus operários, mas àqueles aos quais
tais mudanças estavam deslocando e destruindo. Eram eles: os artesãos, os
trabalhadores rurais e os camponeses, os trabalhadores a domicílio. Com
isto, ele estava reforçando a recuperação de processos históricos cuja explicação se unia ao que estava acontecendo com a expropriação das sociedades
camponesas e dos grupos artesanais na contemporaneidade da segunda
metade do século XX. Também a microrresistência surda que existia no interior dos chãos de fábrica era assim valorizada — com os operários sendo
destituídos constantemente de formas anteriores de produzir e de costumes
e cargas de trabalho, o que acarretava o aumento crescente de seu esforço
sub-remunerado.
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Isto de fato tinha a ver com o que havíamos observado na área canavieira
do Nordeste. Como a memória da figura tradicional do morador estava sendo
reforçada no momento mesmo em que ela tendia a desaparecer — como
aparece na construção retrospectiva de seu tipo-ideal no artigo “Casa e Trabalho” ou “Morar”, de Moacir Palmeira. Ou ainda na adição aparentemente
paradoxal dos antigos costumes personalizados e “paternalistas” da relação
tradicional de morada com os novos direitos alcançados em 1963 e então já
ameaçados, efetuados pelos trabalhadores canavieiros — como analisado
por Lygia Sigaud. Ou como a tradição das “artes industriais”, ostentadas
pelos artistas das seções de manutenção das usinas de açúcar, fornecia uma
linguagem legítima para a reivindicação dos direitos de todos os operários,
que eu pude perceber no Vapor do Diabo, graças ao trabalho anterior de
Rosilene Alvim sobre os ourives. Ou ainda a ambiguidade dos operários têxteis, que se manifesta na soma de argumentos aparentemente contraditórios
para efetuar a crítica à situação contemporânea da relação entre empresas
e trabalhadores, através de relatos que registramos na segunda metade dos
anos 1970, em Paulista, Pernambuco. Por um lado, são ressaltados os aspectos
positivos selecionados que tinham as suas relações com os patrões na cidade
industrial dos anos de 1930 e 1940. Por outro, também é narrada a grandeza
da luta pela aplicação dos novos direitos sociais apropriados pela associatividade operária. De fato, mais do que uma aparente incoerência lógica
na soma heterogênea de práticas “tradicionais” e “racionais-modernas”,
os trabalhadores operavam na lógica do fluxo contínuo e do tênue limite
das apropriações dos usos das concessões e dos direitos. Como formula E.P.
Thompson para o contexto diverso dos trabalhadores que vivem o início da
revolução industrial inglesa, no livro Costumes em Comum:
Minha tese é a de que a consciência dos usos costumeiros era especialmente
robusta no séc. XVIII. De fato, alguns “costumes” foram de invenção recente,
e na verdade eram reivindicações de novos “direitos”. O costume constituía a
retórica de legitimação de quase todo uso, prática ou direito reclamado. Por
isso o costume não codificado — e até mesmo o codificado — estava em fluxo
contínuo. Longe de exibir a permanência sugerida pela palavra tradição, o costume era um campo para a mudança e a disputa, uma arena na qual interesses
opostos apresentavam reivindicações conflitantes.
Assim, apesar de grande parte do operariado têxtil de Paulista guardar
a imagem positiva da memória dos tempos em que a personalização patronal
era exercida localmente, desde que os direitos sociais se instalaram e se
tornaram disponíveis, no pós-guerra de 1945, disseminou-se rapidamente
589
590
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
a prática da inscrição de reclamações na Justiça do Trabalho através do
sindicato. Apesar de poderem ser vistos os trabalhadores brasileiros sob
a aparência de estarem “afogados em leis”, na expressão do historiador
John D. French diante do tamanho da CLT, as leis servem de instrumento
de negociação pelos trabalhadores diante da face autoritária dos costumes
do patronato no trato com sua mão de obra. A apropriação das novas leis
pelos trabalhadores se dá enquadrada pelo entendimento das suas relações
anteriores com o patronato.
Este argumento thompsoniano do peso do passado nas disposições
presentes dos trabalhadores, da importância de sua experiência, pode vir
assim ao encontro do que está pressuposto no processo de atualização de
um habitus de grupo (ou de uma história incorporada) tal como formulado de forma mais geral por Bourdieu. A hipótese de Thompson se dá na
própria origem da revolução industrial, o que faz dotar seu argumento de
uma generalidade maior que o simples caso, já que está ele presente paradoxalmente no evento associado à modernidade econômica capitalista ela
mesma. Argumento semelhante encontra-se reeditado no caso da Alemanha,
examinado por Barrington Moore Jr. em seu livro Injustiça. O autor mostra
que, comparados aos metalúrgicos recém-surgidos no início do século XX
na região do vale do rio Rhur, os mineiros da mesma região, cujas tradições
remontavam ao período anterior à revolução industrial, possuíam padrões
de legitimidade constituídos no passado do processo de trabalho da corporação artesanal em que estavam inseridos para condenar a intensificação
do trabalho no presente.
Já aos metalúrgicos reunidos nas novas siderúrgicas da região faltavam
tais padrões de legitimidade enraizados no passado para lhes fornecerem um
instrumental de resistência às suas condições de exploração. Os mineiros do
vale do Ruhr obtiveram assim, no início do século XX, um sucesso maior nas
suas lutas e reivindicações. Também o historiador norte-americano William
Sewell Jr., que foi aluno de Geertz, reforça esta argumentação ao focalizar o
peso que tem o idioma artesanal corporativo dos trabalhadores franceses durante as revoluções de 1830 e 1848, apesar do anátema da grande revolução
de 1789 sobre as instituições do antigo regime monárquico. Este também é um
caso estratégico para o argumento thompsoniano, na medida em que ele pode
se verificar mesmo no caso francês, atravessado pela revolução de 1789. Aqui
um historiador não francês tem a vantagem de liberar-se das divisões entre
períodos consagrados em que se especializam os profissionais da História, ao
estudar ao mesmo tempo o fim do antigo regime e o período pós-revolução, e
assim observar a continuidade do idioma corporativo na constituição de um
discurso socialista que passa a se opor ao das novas classes dirigentes.
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Posteriormente a essas revoluções, o republicano Durkheim vem frisar a
necessidade de reforçar o idioma e a prática profissional-corporativo-sindical
diante das potencialidades de anomia provocadas pela moderna divisão do
trabalho. E se os artesãos e os camponeses são vistos por E.P. Thompson
como personagens ativos na revolução industrial capitalista com a qual
se defrontam entre o fim do séc. XVIII e o início do XIX, também é nesse
mesmo período que se desenrola, na Polinésia, o drama entre os ingleses e
os havaianos, em que morre o Capitão Cook. Através da explicação desta
morte, Marshall Sahlins mostra, na contracorrente, quão ativas podem ser
as vítimas do assim chamado Sistema Mundial Capitalista, acionando suas
tradições e seus habitus para se reapropriarem criativamente das trocas
oferecidas por seus futuros conquistadores.
Não somente os historiadores sociais e culturais têm contribuído para
problematizar a relação aparentemente paradoxal entre memória, tradição
e transformação social, mas também outros especialistas provenientes de
estudos sobre a recepção social da produção literária. Aparece aqui a figura
de Richard Hoggart, professor de literatura inglesa que se debruçou sobre
os usos populares do letramento (The uses of literacy) no final dos anos
1950, através das transformações e das repercussões de publicações de
massa, como revistas de bancas de jornal sobre o público leitor das classes
populares. Para isso, Hoggart fez primeiro uma caracterização do que seria
a cultura das classes trabalhadoras inglesas, no interior das quais ele viveu
na primeira metade do século XX. Desta forma, ele realizou uma etnografia utilizando-se da observação direta no momento que antecedeu à sua
escritura do texto. Mas o fez também através da recuperação sistemática
de sua memória como criança e jovem de uma família operária da região
industrial de Leeds.
Esta etnografia retrospectiva de Hoggart abre espaço para outra forma
de observação direta das classes trabalhadoras. Menos a observação direta
do pesquisador, acadêmico ou não, que se coloca na pele do trabalhador
diante da máquina no interior da fábrica, durante um período de tempo,
como Simone Weil, Robert Linhart, Donald Roy ou Michael Burawoy, e
mais a observação da vida cotidiana e do código interno do grupo diante da
vida social, tal como o universitário egresso das classes trabalhadoras pode
fazer em certas condições de revalorização cognitiva de sua experiência
familiar de origem. Diante da avassaladora produção do entretenimento
de massa dirigida às classes populares, que parece transferir sua baixa
qualidade ao que seria a baixa qualidade de recepção do público, o autor
pode opor a menos conhecida resistência desse mesmo público, ressaltando
suas tradições cotidianas que não são atingidas pela produção da indústria
591
592
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
cultural de massa. O consumo oblíquo (isto é, a atitude de não levar a sério
tal produção), a apropriação conforme os seus habitus, a existência de uma
minoria resistente e resiliente em busca de outro acesso aos bens culturais
no interior das classes populares são todos eles fenômenos que se opõem à
produção de massa voltada para o lucro imediato.
E são esses universitários — que tiveram parte de suas carreiras voltadas para o ensino aberto de adultos das classes populares, nas associações
educacionais de trabalhadores ou nas open universities inglesas — que
inspiraram os chamados “cultural studies” que depois se difundiram no
mundo anglo-saxônico e para além dele. E.P. Thompson, Raymond Williams,
Richard Hoggart estiveram ligados a estas instituições universitárias de
adultos, de formação continuada. E muito de sua formulação acadêmica
teve a influência do contato renovado com essa minoria resistente das
classes populares inglesas. Alguns dos historiadores culturais, como Roger
Chartier, se inspiraram diretamente em Hoggart para desenvolver a noção
de apropriação cultural na circulação de ideias entre grupos e classes sociais. E não foi à toa que Bourdieu e Passeron promoveram desde 1970 a
tradução para o francês de The Uses of Literacy como uma obra inspiradora
para as pesquisas que desenvolveram em torno da sociologia da educação
e da cultura. Além disso, como ambos se consideravam trânsfugas de classe
como Hoggart, apoiaram-se na sinceridade sistemática deste último usado
como método para desenvolver partes de suas próprias teorias. (E Bourdieu,
ao final de sua vida, pratica a sinceridade sistemática de Hoggart em seu
livro póstumo Elementos para uma autoanálise).
Mas nem só de acadêmicos ingleses envolvidos com as classes populares
estavam constituídos os quadros das open universities. Havia também a entrada
de intelectuais exilados do nazismo, como Karl Polanyi e Norbert Elias, que
passaram por aqueles postos universitários menos estáveis a caminho de outras
vagas. E é com o pensamento aguçado pela experiência de “ovo da serpente”
que havia vivido na Alemanha, que Elias vem colocar uma restrição à possível
generalização da hipótese de Thompson sobre a força transformadora ancorada
nas tradições. Não foi à toa que Elias se interessou pelo que estava encontrando em campo o seu aluno John Scotson na pequena cidade industrial por eles
chamada ironicamente de Winston Parva. Ali, uma parcela de trabalhadores,
com antiguidade na pequena cidade e na sua vida associativa, começou a
estigmatizar, através das fofocas e dos rumores, moradores de novos conjuntos
habitacionais, também trabalhadores ingleses, transferidos de Londres no pósguerra em consequência do bombardeio de suas antigas casas.
Sem outras diferenças entre si, étnicas ou de classe, além da antiguidade no lugar, Elias mostra como em certas circunstâncias a antiguidade ou a
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
tradição pode dar lugar não à construção de um instrumental de resistência
que sirva para a libertação de muitos, do maior número possível, mas ao
contrário, que pode propiciar o fechamento e a aristocratização do pequeno
grupo. Um ambiente, em plena Inglaterra de meados dos anos 1950, que
parece evocar, na pequena cidade industrial, aquele encontrado na soturna
aldeia rural austríaca do filme A Fita Branca. Uma advertência de Elias ao
otimismo implícito nos estudos de comunidade sobre a classe trabalhadora
inglesa, em que nunca está ausente a solidariedade de classe. E uma autoadvertência ao otimismo contido nas suas próprias análises evolucionárias
do processo de civilização.
De fato, há que se estar atento às especificidades históricas de cada
grupo social, de cada trajetória de indivíduos representativos de seus grupos
sociais de origem. Há diferenças entre os operários do açúcar e os operários
e as operárias têxteis, todos eles de Pernambuco. Como há diferenças entre
a trajetória de Garrincha e a de Pelé, embora ambos sejam originários de
grupos das classes populares.
A tecelagem de uma memória coletiva
Ao retornar aos meus objetos de pesquisa, vou começar pelo fim: enquanto
a fábrica têxtil que originou a cidade de Paulista fechou definitivamente
suas portas em meados dos anos 1990, a usina de açúcar na qual estudei
continua funcionando bem, sendo uma das mais sólidas do estado de Pernambuco, sobrevivendo à falência de muitas de suas similares desde o início
da década dos 90. No entanto, com os operários e as operárias de Paulista
pudemos construir uma relação que tem durado desde 1976 até os dias de
hoje, enquanto a comunicação com os operários da usina pouco durou.
O território da usina e sua vila operária continuaram sendo o monopólio do
poder da empresa. Já a cidade de Paulista havia transbordado de sua vila
operária original, com a perda do monopólio da companhia sobre o território
da cidade tendo se consolidado na segunda metade dos anos 1960. Quando
lá estivemos pela primeira vez em 1976, a maior parte das casas da vila
operária havia sido revertida às famílias operárias por força de indenizações
trabalhistas, e podíamos visitá-las sem interferência da administração da
companhia.
Como já dissemos, os operários e as operárias têxteis de Pernambuco
apresentam uma maior sensibilidade à acumulação de uma memória social
que sirva de capital para a transformação, mais do que seus colegas operários das usinas de açúcar. Para isso, cremos que haja uma série de razões.
593
594
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Algumas são da ordem de uma morfologia social. A concentração de famílias
operárias na cidade de Paulista com vistas ao recrutamento de trabalhadores
para suas fábricas, promovida pela companhia têxtil fundadora da cidade,
deu uma significativa grandeza à sua vila operária, superior às dimensões
habituais. Com uma vila de 6 mil casas em 1950 e com uma força de trabalho, quando no seu auge, em torno de 15 mil trabalhadores, a Companhia
de Tecidos Paulista era uma das maiores fábricas em escala internacional
(perto de uma CSN em Volta Redonda). A fábrica de Amoskeag, em Manchester, New Hampshire, EUA, considerada a maior do mundo no setor
têxtil, teve, no auge, 17 mil trabalhadores em 1915 (segundo a historiadora
Tamara Hareven).
O fato de a fábrica têxtil utilizar-se igualmente de trabalhadores masculinos e femininos traz importantes repercussões na formação de uma
comunidade operária mais estável. Como mostram os trabalhos de Rosilene
Alvim, a fome de operárias para postos de trabalho na fiação e na tecelagem
por parte da fábrica repercutiu no recrutamento de famílias numerosas.
O atendimento a tal aliciamento era conveniente especialmente para as famílias camponesas, com muitas filhas mulheres, composição que dificultava o
sustento no campo. Além disso, essa necessidade de trabalhadoras mulheres
implicava um recrutamento secundário de membros familiares por parte das
unidades domésticas quando as operárias tinham filhos e novos membros
eram requisitados para serviços na casa. Como os membros masculinos e os
femininos podiam ser empregados pela fábrica, isto aumentava as possibilidades de as famílias continuarem a usufruir das casas da vila operária, em
comparação com as usinas de açúcar onde só os homens trabalhavam.
Em períodos de crise da fábrica têxtil, provocando dispensas e desemprego, os homens, que têm um projeto permanente voltado para o trabalho,
saíam da cidade em busca de emprego. Já as mulheres, voltadas para a
família e de hábito incorporando projetos temporários de emprego, permaneciam nas casas. Quando havia uma volta cíclica de expansão e os empregos
retornavam, as mulheres estavam disponíveis para o trabalho, enquanto os
homens não regressavam. Há também aquelas operárias que encarnam as
provedoras da família e que permanecem celibatárias pelo menos até a sua
saída da fábrica. Tais práticas repercutem numa estabilidade maior ao longo
do tempo do grupo operário e em maiores chances de permanência das várias
gerações de uma mesma família na vila operária e na cidade.
Por outro lado, o próprio tamanho das instalações fabris e da vila operária
fez a companhia industrial reivindicar o estatuto de município, desmembrando-se de Olinda em 1935. Inicialmente sob o controle da companhia, a
administração local teve seu estatuto público reivindicado pelo governador
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
do estado desde o final dos anos 30. O choque entre uma concepção de cidade-oikos (uma cidade-empresa) e outra, de cidade diversificada, defendida
por setores diferentes, animou a disputa política local desde então.
O caso do grupo operário de Paulista tem assim todas as características de formação do que Elias chama, estendendo Weber, de um carisma de
grupo. Pois de fato a coesão dos grupos operários, geralmente pressuposta
no efeito-teoria da consciência de classe possível, é algo a ser construído e
demonstrado. É de se perguntar mais frequentemente como alguns desses
grupos alcançam uma coesão e um estado de mobilização diante de tantas
condições e circunstâncias desfavoráveis. Assim, por exemplo, Maurice
Halbwachs considera a classe operária, na sua versão de uma alienação proletária, como uma classe voltada para a matéria e isolada da sociedade. Mas
também podemos considerar o próprio laboratório secreto da fábrica como
uma microssociedade com suas hierarquias, divisões e solidariedades.
Os operários do açúcar com suas diferenciações e autoclassificações
internas polarizadas pelas categorias de arte e de artista, características dos
operários de manutenção, acabam construindo um código interno que se
difunde a todos os trabalhadores da usina, o código da arte, que reforça a
coesão operária em face dos chefes da hierarquia interna, deslegitimados
por não serem produtores diretos da matéria. É como se uma face da dupla
verdade do trabalho proposta por Bourdieu — o gosto pelo trabalho bemfeito e o orgulho da profissão — pregasse uma peça na outra face, a verdade da exploração do trabalho, deslegitimando-a. Mas se aos operários do
açúcar falta uma historicidade ativa que impulsione sua mobilização para
a diminuição daquela exploração, isto não esteve ausente da trajetória dos
operários de Paulista.
Dentre as características prescritivas das histórias individuais que
deveriam seguir um padrão para se encaixarem na história comum concebida pelo grupo operário de Paulista há as seguintes: 1. O aliciamento de
famílias numerosas de trabalhadores e trabalhadoras, em geral das áreas
rurais, para o trabalho na fábrica; 2. O ritual de apresentação dos membros
das novas famílias recrutadas, dispostos em fila, para serem apreciados pelo
patrão em carne e osso, na varanda da casa-grande. Tratava-se do singular
desempenho de uma teatralização industrial da dominação personalizada
tradicional; 3. O trabalho para todos, inclusive das crianças e dos velhos,
dentro da fábrica ou em setores externos; 4. A concessão de roçados aos
velhos pais de família camponeses nas proximidades da vila operária ou de
lotes de terra em áreas mais distantes para famílias camponesas, conjugada
com a canalização da produção agrícola dali obtida para uma feira com
preços administrados pela companhia. Com isso, os salários mais baixos que
595
596
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
a CTP pagava aos seus operários eram compensados por um custo de vida
também mais baixo; 5. O controle da vida social da cidade, com a promoção de banda de música, clubes de futebol, folguedos, abertura dos jardins
da casa-grande nas tardes dos domingos para a população, mas também
com a atuação de um corpo de vigias da companhia por toda a cidade e no
interior do município; 6. O controle da vida religiosa, com a promoção da
Igreja católica e o desfavorecimento dos cultos evangélicos, assim como a
tendência ao controle da vida política local. (É interessante assinalar que
a Juventude Operária Católica, apoiada inicialmente pela companhia nos
anos 40 e metade dos 50, passa a ser nos anos 60 uma das principais fontes
de recrutamento sindical).
Grande parte destes itens dava uma legitimidade à dominação patronal
diante da população local. Este equilíbrio, que favorecia a legitimidade da
companhia, foi ameaçado pelas tentativas de implantação das leis sociais
localmente, o que provocava fortes reações da companhia, produzindo acontecimentos que se incorporaram à memória da população operária.
Essa forte ligação entre memória individual e memória histórica, que
passa pela memória do próprio grupo e que se manifesta nas características
da forma de dominação estabelecida localmente, também se atualiza nas
peripécias das reivindicações por melhores condições de vida, pela aplicação
dos direitos sociais e por uma maior autonomia da cidade em relação ao
poder econômico. Ainda era lembrada pelos mais velhos a luta de Roberto
Marques, chamado pelo patrão de Roberto do Diabo, o primeiro sindicalista de 1932 que lutou pela aplicação da lei da jornada de 8 horas, e que
saiu da cidade com o sindicato fechado. A este episódio era associada uma
versão do mito do fim dos galos de briga do Coronel Frederico, que teria
mandado matá-los após ser acordado em algum dia dos anos 30 com o canto
anunciador de cocorocó-sindicato. Também era lembrada a saída teatral da
cidade do último coronel, o Comendador Arthur, depois que foi impedido de
entrar em uma de suas fábricas pelo piquete dos operários na greve de 1963.
No interior daquela fábrica localizava-se a casa de banhos no antigo sítio
dos galos, onde aquele patrão exercitava seu banho cotidiano matinal.
Nosso trabalho foi orientado inicialmente pela interpretação dos relatos e das interpretações dos trabalhadores quanto à sua história, ressaltada
espontaneamente. Mas os fatos que apontavam tal confluência de memórias
individuais e históricas, embora contadas oralmente entre os operários na
forma de uma memória subterrânea, para usar o termo de Michael Pollak,
também deveriam ter deixado marcas nos registros escritos. Esse corpus de
relatos nos orientou subsequentemente na procura de uma documentação
que correspondesse às informações e às representações contidas na memória
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
dos trabalhadores; em coleções de jornais, em relatórios anuais aos acionistas
da companhia publicados na imprensa; em documentos governamentais e
em arquivos sindicais — cada fonte de informações tendo que sofrer um
processo de interpretação pertinente.
A demanda pela objetivação da memória no campo revisitado
Ao retornarmos ao campo perto de trinta anos depois de nossa primeira ida,
a situação encontrada era a finalização de um processo anunciado, comum
a outras fábricas constituídas no início do século XX no Brasil, processo este
dominado pelo declínio.
Quando terminamos, em 1983, a fase mais intensa e prolongada de
nossa pesquisa com os operários de Paulista, parecia-nos que estavam dadas
condições favoráveis para que a história e a memória daquele grupo social,
que lhe conferiam identidade, fossem transmitidas às gerações seguintes. Ali
estava um grupo formado por relações densas de parentesco e vizinhança,
com uma história cheia de peripécias envolvendo não somente a política e a
vida social locais, mas atingindo as escalas da política estadual e nacional,
com uma trajetória que finalizava parcialmente vitoriosa através do acesso à
propriedade das casas da vila operária por efeito de indenização trabalhista.
E havia se constituído no município, em terras vendidas pela companhia,
um distrito industrial com novas fábricas, que mantinham as expectativas
de emprego das novas gerações operárias. No entanto, a partir de meados
dos anos 80, transformaram-se as próprias condições do modo de geração
dos descendentes daquele grupo operário. Declinaram as chances de emprego industrial estável para as novas gerações; aumentaram os esforços
das famílias numa escolarização mais prolongada de seus filhos sem que
isto redundasse em melhores empregos; a população da cidade mudou sua
composição com a chegada em massa de novos habitantes provenientes do
Recife para ocuparem os novos conjuntos habitacionais.
É neste contexto que aparecem fortes demandas pela recuperação e a
sistematização da memória social da cidade por parte de agentes significativos do espaço público local. E em que a volta dos pesquisadores ao local
sobre o qual produziram teses e livros não passa despercebida a tais agentes;
a própria condição de pesquisador-coletor de dados é vista de forma diferente
e transformada em pesquisador testemunha da história, em sistematizador
e colaborador na divulgação da história local. Já Raymond Firth, em 1954,
após seu reestudo nos dois anos anteriores da Tikopia que ele havia pesquisado em 1928 e 1929, procura refletir sobre os estudos bissincrônicos
597
598
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
feitos por alguns antropólogos numa sequência espaçada de visitas a um
mesmo campo com a finalidade de captar a mudança social. No seu caso
de revisita com o antropólogo canadense James Spillius, eles acabaram
tendo um papel de mediadores entre o grupo estudado e as autoridades em
função de um período de fome e escassez. No nosso caso, havia uma fome
de reconstituição da memória coletiva do grupo, ameaçada de ser relegada
ao silêncio e ao esquecimento.
Em diversas áreas industriais antigas, como as ex-vilas operárias de
fábricas têxteis (e de outros setores industriais) na área metropolitana de
Recife, movimentos sociais locais esboçam lutas por maior participação
dos moradores na administração local, procurando minorar os impactos
que desfiguram o formato tradicional desses bairros, como, por exemplo,
no caso extremo da conversão de estradas locais em complexos de autoestradas, destruindo, devido ao seu traçado avaliado em termos econômicos
estritos, a paisagem usual, o que aconteceu na própria cidade de Paulista.
As transformações nessas antigas cidades industriais se dão no sentido de
uma dispersão de sua força de trabalho, antes concentrada localmente, por
toda a região metropolitana, aumentando os fluxos de deslocamento de
trabalhadores. Nessas áreas, o patrimônio histórico potencial representado
pelas vilas segue sendo descaracterizado e transformado, sem constituir-se
num recurso de políticas públicas voltadas para a história e a cultura locais.
Antigos terrenos e galpões desativados tornam-se um passivo ambiental sem
perspectivas de compensação.
Por sinal, a nova noção de “direitos difusos” pode aplicar-se tanto à
penalização e à correção de danos ambientais (neste caso, terrenos baldios
e ruínas industriais, eventualmente contaminados) quanto à promoção da
patrimonialização de um espaço material significativo para a memória social
como uma forma de compensação ambiental. Setores das sociedades civis
destas cidades não desconhecem esses novos direitos, numa tendência que
uma equipe de pesquisadoras que eu tive a felicidade de coordenar com
Shelton Sandy Davis caracterizou, em termos gerais, como a ambientalização
dos conflitos sociais.
O interesse do sindicato dos tecelões de Paulista pela sistematização
e divulgação da história local, ressaltando suas tradições operárias, foi o
principal fator através do qual nossa nova pesquisa na localidade, nos anos
2000, acabou desembocando em atividades de busca e coleta de registros
visuais e sonoros que pudessem ser divulgados publicamente. Os diretores
sindicais fazem parte de uma geração que trabalhou nas fábricas do distrito
industrial, filiais de fábricas do Sul e multinacionais da era Sudene. Eles
assumiram, no fim dos anos 80, sob os ventos do novo sindicalismo com
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
uma chapa de denominação autoirônica: os papa-pelos (em referência às
partículas de algodão desprendidas nas fábricas). Esse distrito industrial, por
sua vez, sofreu também entre os anos 90 e 2000 um processo de desindustrialização. Os mentores da associatividade inicial destes sindicalistas foram
alguns de nossos antigos pesquisados-chave, que se tornaram personagens
do filme que acabamos fazendo. Para os novos sindicalistas, de resto seguindo
a tradição do senso comum local, a história a ser privilegiada é a da antiga
fábrica que criou a cidade, a CTP das Casas Pernambucanas.
Ao desencadear-se a feitura de um documentário sobre a memória dos
ex-operários sobre sua trajetória e vida cotidiana no “tempo da companhia”,
foram-se acumulando materiais visuais, novos personagens e eventos voltados para uma objetivação desta memória social. No dia 1º. de maio de 2005,
participamos da organização de um evento na sede do sindicato denominado
“Memória dos Tecelões”, quando foram projetadas antigas fotos da cidade e
foi constituída uma mesa com ex-operários, que falaram sobre suas experiências na fábrica e na cidade. Seguiu-se a abertura de novos depoimentos por
parte de membros do público presente. Com isso, deu-se a partida pública
para um trabalho em conjunto com uma rede de ex-pesquisados dos anos 70
e de sindicalistas atuais, que vinha sendo planejado em conversas e reuniões anteriores. Tal evento incentivou a troca de informações e pôs o foco na
viabilidade de iniciativas de articulação em torno da história local.
Estava presente um grupo de jovens de formação universitária e professores secundários moradores na cidade, alguns deles filhos e netos de
ex-operários e funcionários da companhia, também interessados na memória local. No final de 2005, eles constituíram o “movimento pró-museu de
Paulista”, diante dos rumores da venda da casa-grande e seus jardins por
parte dos proprietários da CTP para uma grande empresa nacional de lojas
de departamento, o que acarretaria a destruição da casa-grande e do “jardim
dos coronéis”. O movimento defende o patrimônio material e imaterial do
município, mas prioritariamente a casa-grande e seu jardim. É interessante
que grupos da sociedade civil local tenham se fixado na casa-grande patronal como monumento da memória da cidade e das famílias operárias que a
construíram (e que estão na origem de muitas das famílias atuais). Na falta
da possibilidade de aproveitamento para fins públicos das ruínas das duas
fábricas de Paulista, e na falta de lugares públicos histórica e simbolicamente
significativos nos múltiplos arruados do conjunto arquitetônico da grande
vila operária, a casa-grande passa novamente a se destacar.
Para a atual direção da CTP, a venda do terreno da casa-grande e de
seus jardins para uma loja de departamentos seria uma de suas maiores
transações com ativos dentre os muitos de que ainda dispõe. Esta iniciativa
599
600
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
não contava em seus planos com a mobilização de setores do espaço público de Paulista, como o sindicato dos tecelões e os jovens professores do
movimento pró-Museu. Em 2007 foi constituído um sítio na internet deste
movimento “pró-museu”, e foi reivindicado o tombamento da área disputada
junto ao Conselho Estadual de Cultura. Para os ex-trabalhadores da cidade,
a casa-grande está associada ao “tempo dos coronéis”, com suas grandezas
e conflitos, desde sua frequentação como lazer concedido pelo patrão aos
seus operários, e de visitas e fotos abaixo do busto do Coronel Frederico,
até os episódios da greve de 1963 e do cerco à casa-grande através do corte
de abastecimento de água. Após um longo período de tramitação no Conselho Estadual de Cultura e de discussões sobre a prioridade ou não deste
tombamento industrial, finalmente tal Conselho deu um parecer favorável
a esta patrimonialização. Resta saber como se processarão as negociações
com o que resta da CTP, seu poder econômico tendo força junto ao poder
municipal; e se haverá vontade deste último de estimular a organização
do centro cultural pretendido, e como se darão ali as disputas em torno da
memória. De qualquer forma, a perspectiva do apagamento da memória
deste grupo social não se confirma facilmente, com a reconversão de antigos
grupos sociais para novas disputas e com o aparecimento de outros agentes
sociais (com suas subsequentes gerações) e a apropriação de instrumentos
de políticas públicas e novos direitos sociais.
O filme Tecido Memória registra assim, através de outra linguagem,
esse novo período de campo após o intervalo de trinta anos, através dos
instrumentos da antropologia visual que nossas (e nossos) colegas especialistas desta área vinham aperfeiçoando. A etnografia de longa duração pode
agora conter um documento construído com a participação explícita dos
pesquisados — editados e mostrados publicamente em carne, osso e palavra;
um documento a ser apropriado de forma mais favorável pelo próprio grupo
retratado e seus descendentes.
Se o reverso dos antropological blues pode ser o entusiasmo da observação participante, da comunhão com os pesquisados, de estar lá, na
máquina como operário, à feição de Donald Roy ou Burawoy, para depois
praticar o distanciamento na análise, tal entusiasmo talvez possa ser alcançado com uma objetivação participante que, além de analisar, proporcione
a devolução ao grupo de instrumentos de emoção e reflexão. Os praticantes
de uma etnografia de longa duração com grupos de trabalhadores, como
Huw Beynon, Michel Pialoux, Abdelmalek Sayad, Robert Cabannes, William
Wilson, entre outros, alcançaram isto com seus escritos. O gosto pelas consequências da prática antropológica de muitos colegas de métier — tais como
o apoio às populações indígenas e às populações tradicionais, às minorias
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
estigmatizadas, às populações camponesas ameaçadas, aos trabalhadores
em situação de injustiça, e aos movimentos que defendem o patrimônio cultural, ambiental, histórico, material e imaterial — algo deste mesmo gosto
pode também estar presente na devolução de um artefato numa linguagem
estética que consiga encenar uma palavra coletiva, mas com os indivíduos
aparecendo, se reconhecendo no produto e se emocionando.
O filme Tecido Memória termina com as palavras do ex-tecelão e exsindicalista de base Marcelo Castanha que comenta, no final da entrevista
filmada, quando a câmera já estava para ser desligada:
Olha, até hoje eu tenho saudade da fábrica. Tenho saudade da fábrica. Se tivesse
possibilidade, eu ainda ia trabalhar. A gente sente saudade da convivência com
os companheiros. Um não podia ver o outro triste, todo mundo era colega, todo
mundo brincava. Hoje em dia, se eu pudesse, se tivesse possibilidade... nem 12
nem 30 não, mas umas seis máquinas eu ainda tocava. Se pudesse, eu ainda ia
trabalhar, só porque a vida do trabalhador é boa, é sofrida, mas é boa.
Estas palavras aludem ao mesmo tempo à sua aposentadoria individual
e ao processo coletivo de fechamento de fábricas, como se fosse a despedida
de certa classe operária. No entanto, as lições de vida social que deixa esta
experiência secular permanecem como instrumentos para as novas classes
trabalhadoras. E deixa ensinamentos inesperados para a sobrevivência diante
de novas formas de dominação no presente e no futuro, como pode indicar
a metáfora dos “jardins murados” usada por Hermano Vianna, em artigo
recente em que compara as regras do jogo de uma determinada companhia
de redes sociais na internet, o Facebook, com um “condomínio cercado por
muros e seguranças, com serviços ‘públicos’ próprios e onde todas as casas
são propriedade de uma única empresa e não de quem mora nelas”. Em
suma, digo eu, de vilas operárias de fábricas virtuais. Ou ainda, a experiência
de resistência da classe operária concentrada deixa legados para o estudo e
para o respeito às profissões humildes diversificadas que proliferam no novo
mundo globalizado e que já Everett Hughes acenava, nos anos 50, como
alvo principal do drama social do trabalho.
Se a memória coletiva é, como vimos, um instrumento para a transformação social, também certas grandes transformações estimulam uma
demanda premente por uma memória objetivada e transmissível. Além
disso, a memória, ela própria, se transforma ao longo do tempo de acordo
com as necessidades e as disputas do presente, podendo tornar-se, em certas circunstâncias, um elemento de coesão ou um campo de novos conflitos
sociais. É importante assinalar que as especificidades históricas dos grupos
601
602
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
de trabalhadores como os aqui apresentados podem ser estratégicas para o
avanço do conhecimento ao chamarem a atenção para certas configurações
de vontades coletivas e de imponderáveis da vida real na escala de desenvolvimentos históricos imprevistos. Ao objetivar uma memória em disputa,
inclusive no pensamento dos indivíduos, e conseguir formas de transmitir
tal objetivação aos grupos estudados, a antropologia social pode participar
na elaboração do mundo e contribuir para um sentimento de libertação de
dominações incorporadas.
Uma pequena palavra final. Gostaria de registrar aqui a generosidade de
Luiz Fernando Dias Duarte de considerar que seu momento de prestar este
concurso deveria ser o seguinte. E gostaria de homenagear duas colegas
que, caso este concurso pudesse ter sido realizado alguns anos antes, por
motivos diferentes, deveriam estar aqui no meu lugar: Lygia Sigaud e Giralda Seyferth.
Recebido em 13 de outubro de 2011
Aprovado em 13 de outubro de 2011
José Sergio Leite Lopes é professor titular do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social, Museu Nacional, UFRJ. E-mail: <[email protected]>
Nota
*Conferência proferida em 24 de agosto de 2011 no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, UFRJ, por ocasião do concurso para
professor titular da mesma instituição. No texto original, escrito para ser lido, não
havia referências bibliográficas. Elas foram inseridas para que o leitor tenha acesso
às fontes que serviram de base ao que foi mencionado no texto.
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Referências bibliográficas
ALVIM, Rosilene, 1983. “Artesanato, tradição
ELIAS , Norbert & SCOTSON , John L.
e mudança social: um estudo a partir da
arte do ouro de Juazeiro do Norte”. In:
O artesão tradicional e a sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: FUNARTE.
___. 1997. A sedução da cidade; os operários camponeses da fábrica dos Lundgren. Rio de Janeiro: Graphia.
___. & Leite Lopes, José Sergio. 1990.
“Famílias operárias, famílias de
operárias”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 14(5):1-17.
BEYNON, Huw. 1985 [1973]. Working for
ford. Harmondsworth: Penguin.
___. & AUSTRIN, Terry. 1996. Masters and
servants: class and patronage in the
making of a labour organisation. Rivers: Oram.
Bourdieu, Pierre. 1963. Travail et travailleurs en Algérie. Paris, La Haye:
Mouton & Co.
___. 2001. Meditações pascalianas. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil.
___. 2005. Esboço de autoanálise. São
Paulo: Companhia das Letras.
BURAWOY, Michael. 2003. “Revisits. An
outline of a theory of reflexive ethnography”. The American Sociological Review, 68:645-679.
CABANNES, Robert. 2002. Travail, famille,
mondialisation: récits de la vie ouvrière,
São Paulo, Brésil. Paris: Karthala.
Dennis , Norman; Henriques , Fernando; Slaughter, Clifford. 1969
[1956]. Coal is our life; an analysis
of a Yorkshire mining community.
London: Tavistock Publications.
DURKHEIM, Emile & MAUSS, Marcel.
1969 [1903]. “De quelques formes
primitives de classification. Contribution à l’étude des représentations collectives”. In: Oeuvres. Paris: Minuit
(org. Victor Karady).
1994 [1965]. The established and the
outsiders. A sociological enquiry into
community problems. London: Sage
Publications [Ed. brasileira: Os estabelecidos e os outsiders: sociologia
das relações de poder a partir de uma
pequena comunidade. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000].
EVANS-PRITCHARD, E .E. 1978[1940].
Os Nuer. Uma descrição do modo de
subsistência e das instituições políticas de um povo nilota. São Paulo:
Perspectiva.
FRENCH, John D. 2004. Drowning in laws:
labor law and brazilian political culture.
North Carolina: University of North
Carolina Press. [Ed. bras. Afogados
em leis. A CLT e a cultura política dos
trabalhadores brasileiros. São Paulo:
Fundação Perseu Abramo, 2001].
Frankenberg, Ronald. 1966. Communities in Britain; social life in town and
country. Harmondsworth: Penguin
Books.
FIRTH, Raymond. 1964. “Social organization and social change [1954]”,
“Some principles of social organization [1955]”. In: Essays in social
organization and values. London:
Athlone. pp. 30-87.
GOFFMAN, Erving. 1971 [1961]. Asylums. Essays on the social situation
of mental pacients and other inmates.
Harmondsworth: Penguin Books.
HAREVEN, Tamara. 1982. Family time &
industrial time. London: Cambridge
University Press.
HOGGART, Richard. 1969 [1957]. The
uses of literacy. Aspects of workingclass life with special reference to
publications and entertainements.
Harmondsworth: Penguin Books.
603
604
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Hugues, Everett. 1971. The sociological
eye. Chicago: Aldine-Atherton.
Leite Lopes, José Sergio. 1976. O vapor
do diabo: o trabalho dos operários do
açúcar. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
___. 1988. A tecelagem dos conflitos de
classe na “cidade das chaminés”.
São Paulo-Brasília: Marco Zero/Ed.
da UnB.
Leite Lopes, Sergio; ALVIM, Rosilene e
BRANDÃO, Celso. 2008. Tecido memória. Documentário longa metragem
em DVD (70 min). Rio de Janeiro:
Museu Nacional.
LEITE LOPES et alli. 2004. A ambientalização dos conflitos sociais; participação
e controle público da poluição industrial. Rio de Janeiro: Relume-Dumará
(coleção Antropologia da Política).
Levi-strauss, claude. 1962. La pensée
Sauvage. Paris: Plon.
Linhart, Robert. 1978. L’Établi. Paris:
Minuit [Ed. bras. Greve na Fábrica.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980].
MARX, Karl. 1984 [1867] O Capital. Crítica da economia política. São Paulo:
Editora Abril.
Mintz , Sidney. 1960. Worker in the
cane. A puerto rican life history. New
Haven: Yale University Press.
___. 2003. O Poder amargo do açúcar. Produtores escravizados, consumidores
proletarizados. Recife: Editora Universitária UFPE.
MOORE Jr., Barrington. 1979. Injustice.
The social basis of obedience and
rebellion. London: MacMillan.
NASH, Manning. 1958. Machine age maya.
The industrialization of a guatemalan
community. The American Anthropological Association, Memoir n. 87.
Palmeira, Moacir. 1976. “Morar: a lógica da plantation tradicional”. Actes
du xlii Congrès International des
Américanistes, i:305-315.
PALMEIRA et alli. 1976. “Emprego e mudança sócio-econômica no Nordeste
(projeto de pesquisa)”. Anuário Antropológico 1976.
PIALOUX, Michel. 2011. “Avant-propos”.
In: Christian Corouge & Michel
Pialoux (orgs.), Résister à la chaîne.
Dialogue entre un ouvrier de Peugeot
et un sociologue. Marseille: Agone.
Pollak , Michael. 1989. “Memória,
esquecimento e silêncio”. Estudos
Históricos, 2(3):3-15.
Powdermaker, Hortense. 1962. Copper
town, changing Africa. The human
situation on the Rhodesian Copperbelt. New York: Harper Colophon
Books, Harper & Row Publishers.
___. 1962. Stranger and friend; the way of
an anthropologist. New York: W. W.
Norton & Company.
Roy , Donald. 2006. Un sociologue à
l’usine. Paris: La Découverte (org. J.
M. Chapoulie).
SAHLINS, Marshall. 1988. “Cosmologias
do capitalismo: o setor transpacífico
do sistema mundial”. Conferência
apresentada à XVI Reunião Brasileira de Antropologia. Campinas, 27
a 30 de março de 1988 [cap. 13 de
SAHLINS, M. Cultura na prática. Rio
de Janeiro: Editora da UFRJ, 2004].
Sayad, Abdelmalek. 1998. A imigração
ou os paradoxos da alteridade. São
Paulo: EdUSP.
SIGAUD, Lygia. 1980. “A nação dos homens: uma análise regional de ideologia”, Anuário Antropológico 78.
Thompson, Edward P. 1968 [1963]. The
making of the english working-class.
Harmondsworth: Penguin Books.
___. 1998. Costumes em comum. São Paulo:
Companhia das Letras.
WARNER, W. Lloyd & LOW, J. O. 1965
[1947]. The social system of the modern
factory. The strike: a social analysis.
New Haven and London: Yale University Press.
Weil, Simone. 1951. La condition ouvrière. Paris: Gallimard [Ed. bras. WEIL,
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Simone. A condição operária e outros
escritos sobre a opressão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979].
WILSOM, William Julius. 1997. When
work disappears. The world of the
new urban poor. New York: Vintage
Books.
WOLF, Eric. 2003 [1959]. “Aspectos específicos dos sistemas de plantations no Novo
Mundo: subculturas das comunidades
e classes sociais”. In: Bela Feldman
Bianco & Gustavo Lins Ribeiro (orgs.),
Antropologia e poder; contribuições de
Eric Wolf. Brasília: EdUnB.
WOLF, Eric e MINTZ, Sidney. 2003 [1957].
“Fazendas e plantações na mesoAmérica e nas Antilhas”. In: Sidney
Mintz. O poder amargo do açúcar.
Produtores escravizados, consumidores proletarizados. Recife: Editora
Universitária UFPE.
Young, Michael & Willmott, Peter. 1962.
Family and kinship in East London. Harmondsworth: Penguin Books.
605
606
MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Resumo
Abstract
O artigo, apresentado anteriormente como
conferência proferida em concurso, trata
dos usos da antropologia social do trabalho
no momento em que grande número de
grupos de trabalhadores, numa escala internacional, é atravessado por transformações
atingindo identidades coletivas anteriormente construídas. Argumenta-se que, se a
memória coletiva é um instrumento para a
transformação social, certas grandes transformações também estimulam a demanda
premente por uma memória objetivada e
transmissível. Além disso, a memória, ela
própria, transforma-se ao longo do tempo de
acordo com as necessidades e as disputas
do presente, podendo tornar-se, em certas
circunstâncias, um elemento de coesão
ou, inversamente, um campo de novos
conflitos sociais. Procura-se mostrar que
as especificidades históricas dos grupos de
trabalhadores como os apresentados no texto podem ser estratégicas para o avanço do
conhecimento, ao se chamar a atenção para
certas configurações de vontades coletivas
e de imponderáveis da vida real na escala
de desenvolvimentos históricos imprevistos.
Por um lado, são comparados operários
industriais do açúcar e, por outro, operários
e operárias têxteis, segundo suas diferentes
concepções de história. Mostra-se ainda
como uma etnografia de longa duração com
estes últimos operários e operárias pode ser
apropriada por eles na construção de uma
experiência de antropologia visual.
Palavras-chave Demanda social por memória coletiva objetivada, Hipótese da
tradição transformadora, Desobreirização e história incorporada, Disputa pela
memória e pelo patrimônio industrial.
The present article was originally presented as part of a class taught for an
employment interview. It deals with the
uses of the social anthropology of work
at a moment in which a large number of
workers, on an international level, are
being rocked by ttransformations of their
previously constructed collective identities. I argue that collective memory is
an instrument for social transformation
and that certain large transformations
stimulate the demand for an objectified
and transmittable memory. I also argue
that memory itself changes over time in
accordance with the demands of present-day disputes, becoming in certain
circumstances and cohesive element or –
inversely – an element that generates
new social conflicts. I seek to show that
the historical specificities of the workers’
groups presented in the text can be understood as strategic for the advancement
of knowledge by calling attention to certain configurations of collective will and
of the impoderable facts of real life at the
level of unforseen histgorical developments. Here I compare industrial workers
in the sugar industry with textile workers,
according to their differing conceptions
of history. I show how an ethnography of
the longue dureé of textile workers can
be appropriated by the workers themsselves via the construction of a visual
anthropological experiment.
Key words Social demand for objectified
collective memory, Hypothesis of the transformative tradition, The decline of the working class and injcorporated history, Disputes
over memory and industrial patrimony.
MANA 17(3): 607-624, 2011
A “ARMA DA CULTURA” E
OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
Clara Mafra
Se a categoria de cultura foi central para a constituição da antropologia, há
já alguns anos seus usos e significados multiplicaram-se, ampliaram-se e
transformaram-se, avançando muito além de suas fronteiras disciplinares.
Em um mundo que muitos definem como multicultural e pós-colonial, os
antropólogos dificilmente têm reconhecida a sua autoridade de “reguladores
dos usos do termo”, e “nativos” dos quatro cantos do planeta apropriam-se
da categoria para, em nome do valor de sua própria “cultura”, defender seus
modos de ser específicos em relação a alteridades humanas e institucionais
com diferentes pesos e medidas. Assiste-se, assim, a agenciamentos muitas
vezes inusitados, constituindo redes e espaços de compartilhamento com
horizontes que ampliam ou fecham, que “paroquializam” ou universalizam.
Tanto é assim que um Sahlins “quase” otimista chegou a sugerir que, mesmo
que os significados atribuídos à categoria cultura não sejam assemelhados
ou até mesmo mutuamente ininteligíveis, a categoria pode, ainda assim,
constituir-se como uma “arma” especialmente eficaz de agenciamento de
grupos e comunidades em um mundo globalizado (Sahlins 1997).
Neste artigo, a metáfora da “cultura como arma” será central.1 Isto não
apenas porque a expressão põe em destaque a recusa de uma definição essencialista — não se trata da busca de uma cultura “original” mais autêntica
que as demais — mas também porque implicitamente rejeita uma noção
construtivista radical, como quando se insiste que a continuidade cultural
se realiza na soma casual de escolhas arbitrárias. Sobretudo na metáfora
da “cultura como arma” está em relevo a capacidade de “objetificação”
do reconhecimento da cultura, algo que ocorre quando alguém de fora se
dispõe a representar o que as comunidades vivem e experimentam. Mais
do que isto, temos a continuidade em reverso desse processo, como quando
o sujeito “objetivado” se apropria da representação e dos pressupostos do
observador, explorando a borda de reconhecimento mútuo a fim de propiciar
a emergência de um “terceiro termo” ou algo novo (Sansi 2007). Neste caso,
608
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
a “arma da cultura” pode ser contrabandeada e apropriada pelos vizinhos
“observados” na expectativa política de que eles defendam seus próprios
valores em um espaço mais abrangente e multicultural.
Para seguir com a metáfora, noto que, como no caso de qualquer relação entre o homem e um artefato, existem aquelas pessoas que são mais
destras que outras na sua manipulação. Se nos voltarmos para o campo das
religiões no Brasil, por exemplo, é conhecido que as primeiras tentativas
de preservação de bens culturais foram realizadas tendo em vista objetos
materiais e imateriais ligados ao barroco colonial (Gonçalves 1996; Pontes
1998). Desde então, houve todo um desenvolvimento das categorias e das
instituições voltadas para a preservação da “cultura nacional”, sem rupturas
profundas com a percepção de que o catolicismo é o “nosso” caso emblemático de possessão inalienável. Ainda hoje, bens sob a guarda da Igreja
Católica, como objetos de arte sacra de Tiradentes, Ouro Preto, Congonhas
etc., são referências primeiras de uma herança coletiva nacional consensualmente referida. A frequente peregrinação de turistas e devotos para estas
cidades confirma em outro plano algo que a chancela de órgãos públicos
como o IPHAN e a UNESCO apenas referendam (Camurça & Giovannini
2003; Gracino Jr. 2010). Não seria absurdo seguir com a metáfora e afirmar
que a “arma da cultura brasileira” foi fabricada levando-se em conta a forma
da mão do padre.
Segundo Roger Sansi, uma das performances mais surpreendentes e
bem-sucedidas no campo das artes e cultura no século XX foi a dos líderes
das religiões afro-brasileiras (Sansi 2007). Seus cultos, que no início do século
XX eram objeto de perseguição e acusação de feitiçaria, ao longo do século
foram sendo transformados em referência de arte, de exposição de museu,
de cultura moderna radical e autêntica (Dantas 1988; Capone 2004; Castillo
2008; Sansi 2007). Para esta transformação histórica, afirma Sansi, é importante atentar para os laços de cooperação e ajuda mútua estabelecidos entre
os pais e as mães de santo, em especial do Candomblé, com artistas, intelectuais e antropólogos nacionais e internacionais. O “povo do Candomblé”, ao
invés de se recusar a participar de um processo de objetivação do Candomblé
como “cultura afro-brasileira” — processo puxado por intelectuais e por boa
parte dos antropólogos e dos sociólogos — apropriaram-se desta reificação,
transformando o Candomblé em um espaço aberto e nobre. Neste sentido,
a “arma da cultura” foi utilizada em seu potencial máximo, transformando
um objeto carregado de negatividade — o Candomblé como feitiçaria — em
signo de herança digna e enobrecedora da cultura nacional.
Poucas vezes os evangélicos brasileiros ousaram utilizar a “cultura
como arma” a seu favor e, quando o fizeram, demonstraram uma grande
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
falta de familiaridade com o instrumento. Lembro, por exemplo, o episódio
que ficou conhecido como “a tentativa do senador Marcello Crivella de inclusão dos templos religiosos na lei Rouanet”.2 Em 2005, o então senador,
ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), apresentou o projeto
de lei que propunha a alteração da Lei nº 8313, o Programa Nacional de
Apoio à Cultura (PRONAC), popularmente conhecida como Lei Rouanet.
O projeto previa duas modificações: 1. ampliar os sujeitos que poderiam ser
objeto de apoio da lei, incorporando “as crenças, as tradições e a memória”.
2. incluir, entre os possíveis beneficiários do Fundo Nacional de Cultura
(FNC), as “fundações culturais de qualquer natureza e os templos”. Com
esta segunda modificação, o leque de entidades beneficiadas pela lei seria
exponencialmente ampliado e seria revista uma previsão restritiva da lei
original (que indica apenas as “fundações culturais com fins específicos,
como museus, bibliotecas, arquivos”).
Em 2007, o projeto foi amplamente noticiado na grande imprensa. Inicialmente, circulou uma versão distorcida, pois afirmava que uma das ementas estaria propondo “o desvio de recursos” da lei Rouanet para os “templos
religiosos” (Folha de São Paulo, 04/04/2007). Notícia divulgada, replicada,
contestada e reapresentada, a proposta sofreu uma forte reação da sociedade civil, em especial de artistas e intelectuais. Artistas e celebridades —
agentes tradicionalmente envolvidos na produção da cultura nacional, como
o então ministro da Cultura, Gilberto Gil — vieram a público manifestar-se
contra a proposta. A associação automática do projeto de lei com uma imagem
reificada da IURD como a “igreja mercantil que confunde os pobres para
tirar dinheiro deles” impossibilitou um exame mais ponderado da proposta,
levando em conta, inclusive, seus possíveis efeitos positivos na distribuição mais democrática dos recursos do Fundo Nacional da Cultura (FNC).
Em 2009, o senador João Tenório assinou um parecer favorável à modificação
do primeiro ponto, mas contrário ao segundo. Neste último caso, o senador
Marcello Crivella, que talvez pretendesse utilizar a “arma da cultura” para
atender aos interesses de sua própria clientela religiosa e de parceiros mais
próximos, acabou “dando um tiro pela culatra”.
Neste artigo, vou explorar os argumentos implícitos no caso do projeto
de lei de Crivella conforme as seguintes questões: por que os evangélicos,
esses agentes religiosos que têm sido tão eficazes na conquista de um espaço no campo da política no cenário nacional (Freston 1993; Oro, Corten &
Dozon 2003; Burity & Machado 2005; Machado 2006), têm tido uma atuação
tão marcadamente desastrosa no terreno da cultura? Por que quando esses
líderes tentam apropriar-se da linguagem “da cultura” e buscam apresentar
os seus “objetos sagrados” como “objetos de cultura e de arte”, ao invés de
609
610
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
encontrarem o conforto do reconhecimento social, são remetidos ao campo do
espúrio, do não autêntico, do mercado? Por que não é raro ouvir dos líderes
evangélicos que o que eles fazem “não é cultura”, mas algo sagrado que
deve ser mantido “em separado”? Será que os evangélicos são incapazes de
segurar a “arma da cultura” por algum defeito congênito?
O primeiro passo que dou para explorar estas questões é o da atenção
à diversidade interna do campo evangélico. De forma alguma a IURD pode
ser descrita como um representante “médio” deste segmento social. A posição desta igreja no campo, muito pelo contrário, é singular, assim como
sua história, que é relativamente recente se levarmos em conta a presença
das demais denominações evangélicas no Brasil. Inicialmente, procurarei
descrever algumas das facetas das tentativas de negociação de reconhecimento de presbiterianos, assembleianos e iurdianos com interlocutores
oficiais do campo da cultura e das artes no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Após uma apresentação etnográfica relativamente breve, retomarei a questão mais abrangente, projetando o debate para um campo mais genérico e
antropologicamente pertinente.
Objetos sagrados: juntos e separados
Quando os evangélicos e os agentes da cultura se dispõem (ou não se dispõem) a negociar os sentidos e as fronteiras entre “sagrado”, “arte” e “cultura”, eles estão atualizando um debate conceitual de longa duração cujo
ponto de inflexão é a entrada na modernidade. Isto porque os “objetos de
arte e cultura” passaram a ser reconhecidos como tais com a emergência da
modernidade. Eles foram definidos em oposição à noção de “mercadoria” —
bens de fácil reprodução, cujo valor se relaciona com um jogo complexo de
produção, circulação, posse e consumo. No contraste, os objetos de arte e
cultura foram definidos por carregar uma “aura”, um valor inalienável, algo
de tendência universalista, que transcende o indivíduo. Esta qualidade a
mais dos objetos de arte vinculou-os a um conjunto de práticas relacionadas
a esforços de “preservação” e “exposição”. Aparatos institucionais, como os
museus, os centros de cultura e demais espaços de exposição, foram criados
para responder a esta nova sensibilidade. Enquanto as “mercadorias” estão
ligadas ao transitório, ao consumo e ao descarte, os “objetos de arte e cultura”
reafirmam sua aura pelo olhar, pelo reconhecimento de sua singularidade
entre vizinhos de uma mesma galeria ou box.
Pode-se afirmar que os objetos sagrados são anteriores a esta classificação
moderna, deram origem a um dos termos — os “objetos de cultura e arte” —
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
e, ainda assim, não se encaixam adequadamente na nova classificação.
Nos objetos sagrados há sempre alguma coisa em excesso ou em falta, algo
que não é contido pela disciplina do nome. Relíquia, ídolo, ícone, fetiche,
amuleto são termos desenvolvidos para descrever objetos sagrados, boa
parte deles referindo-se de modo preconceituoso e deturpado a tradições do
sagrado entre povos tradicionais. Para dar conta deste descompasso, Alfred
Gell (1998) propôs que uma apreensão adequada da relação entre pessoas e
coisas nas culturas tradicionais só viria a ocorrer se expandíssemos o sentido
do objeto para além de uma relação passiva, sublinhando a capacidade de
agência das coisas — os objetos deveriam ser vistos como extensões de uma
“pessoa distribuída”. Na relação entre pessoas e coisas na Polinésia, por
exemplo, não há objetivo de posse, de instrumentalidade ou de acúmulo, e
muitos dos objetos são produzidos para serem mantidos fora das relações
de troca. Produzem-se mesclados de pessoas e de objetos, tão fundamentais
para a identidade da pessoa como a noção de interioridade para os ocidentais. Como afirmou Strathern, algumas vezes “os objetos são criados não em
contradição com a pessoa, mas fora da pessoa” (Strathern 2006).
Não é fortuito que o debate que vem adensando os sentidos de “objetos de arte e cultura” no Ocidente progrida dando preferência a relações
desenvolvidas por povos de cultura tradicional. Esta abordagem une uma
tradição iluminista com experimentos de vanguarda modernistas. Artistas e
intelectuais ocidentais tendem a duvidar de que seus conterrâneos crentes
(cristãos ou não) venham a produzir “objetos sagrados”, isto é, objetos que
ensinem as pessoas a transcenderem suas convenções apoiando-se em ideias
inusitadas, ou então que ajudem as pessoas a ampliar criativamente a sua
própria cultura. Postula-se que as religiões cristãs estariam enraizadas em
um passado pré-moderno e apenas “lá” encontraríamos o traço autêntico
da arte sacra cristã, algo que cumpre reconhecer e preservar. Já as religiões
ocidentais recentes, nascidas no seio da sociedade de mercado, seriam mais
bem reconhecidas por uma busca compulsiva do “objeto mesclado” ou objeto-pessoa para destruí-lo, purificá-lo, discipliná-lo. As frequentes guerras
iconoclastas perpetradas por religiosos cristãos contemporâneos contra povos
de cultura tradicional tendem a ratificar esta imagem.
No entanto, quando nos aproximamos de agentes e coletivos religiosos
contemporâneos, observamos que eles também se debruçam e são tensionados por questões referentes à constituição de futuros abertos e criativos,
e eles também procuram caminhos culturais que os incluam como agentes
preservadores e produtores de objetos sagrados.
Observe-se, por exemplo, a Igreja Católica, que reúne um dos acervos
mais extraordinários de arte sacra nacional. Segundo Anna Paola Baptista
611
612
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
(2002), um debate longo e intenso tem sido travado entre os seus próprios
pares sobre os termos da definição da arte sacra. Um momento de inflexão
no debate foi a construção da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte.
No início do século XX, boa parte da intelectualidade católica defendia
que, na modernidade, templos construídos como réplicas de períodos
passados deveriam ser evitados pois, entre outros motivos, ao invés de
educarem o povo sobre a semelhança do belo e do divino, multiplicavam o mau gosto e o “pastiche”. Em resposta, surgiu uma vertente que
defendia que artistas, mesmo que declaradamente não crentes, estariam
plenamente autorizados, com sua alma de artistas, à produção de objetos
sacros. Objetos com beleza e graça produzidos por não crentes dariam
melhor testemunho sobre o transcendente que objetos toscos construídos
por artistas crentes inábeis.
Escritos neste sentido circulavam no meio católico quando dois artistas
ateus brasileiros, o arquiteto Oscar Niemeyer e o artista plástico Cândido
Portinari, foram chamados por Juscelino Kubitschek para construir a Igreja
da Pampulha. Sem entrar em detalhes e sem retomar questões que levaram
a discordâncias intermináveis entre o clero, o arquiteto e o artista, gostaria
apenas de registrar que, depois de a Igreja da Pampulha ter sido fundada
em caráter civil, em 1945, ela permaneceu 14 anos sem a bênção da Igreja
Católica. Neste sentido, a Igreja da Pampulha é um testemunho vivo da
pregnância do debate sobre as fronteiras entre arte sacra e cultura no Brasil, ou seja, a questão da representação do transcendente segue em aberto
mesmo no interior do cristianismo mais estabelecido.
Como já indiquei anteriormente, no Brasil os evangélicos foram gradualmente sendo associados à imagem de “iconoclastas”. Nas últimas décadas,
esta associação se fortaleceu, especialmente com o avanço da teologia da
batalha espiritual, pois, segundo ela, as imagens têm agência e poder e, por
isto, devem ser ativamente combatidas (Meyer 1999; Mariz 1999). Desta
forma, as disputas e as controvérsias de evangélicos com católicos, membros
de cultos de Candomblé e de Umbanda e agentes da cultura ocuparam as
praças e as ruas, e estão bem registradas e analisadas em estudos de cientistas
sociais (Giumbelli 2002; Mafra 2002; Mariano 1999; Oro, Corten & Dozon
2003). Entretanto, o fato de parte significativa desses religiosos ter aderido
a campanhas iconoclastas não quer dizer que eles tenham conseguido desenvolver relações com o sagrado ignorando a mediação de objetos. Como
nos lembra Engelke, boa parte das religiões vive sob o signo do dilema “da
presença”, pois se a divindade é transcendente e invisível, o coletivo de
adoradores, de homens e mulheres, tende a demandar algum tipo de objetivação que facilite o compartilhamento do culto (Engelke 2007).
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
Na sequência, descreverei como estes “destruidores de imagens” têm se
comportado quando está em causa a objetivação de sua própria identidade,
para si mesmo e para os outros. Por uma questão de economia de escrita, eu
me concentrarei na descrição de etnografias realizadas em três denominações evangélicas — os presbiterianos, os assembleianos e os iurdianos — e
sua atuação em duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Reconheço que
o recorte é arbitrário e não exaustivo, mas espero que sirva para adensar a
reflexão. As pesquisas de campo foram desenvolvidas entre 2005 e 2010 e
contei com a colaboração dos pesquisadores Rodrigo da Silva, Bruna Lasse
Araújo e Bernardo Britto Guerral.3
Destruidores e produtores de objetos sagrados
A comunidade presbiteriana não é extensa no Brasil (cerca de 980 mil membros — Censo 2000), mas tem, relativamente, uma longa trajetória histórica de
inserção no país com a formação de uma identidade socialmente reconhecida.
Segundo os registros da igreja, em 12 de agosto de 1859 chegou ao Brasil o primeiro missionário presbiteriano, enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados
Unidos, o missionário Ashel Green Simonton. Entre as igrejas evangélicas de
missão (metodistas, luteranos, anglicanos etc.), os presbiterianos se destacaram desde os primeiros anos por formarem excelentes oradores e polemistas.
Além disso, como as outras igrejas evangélicas de missão, os presbiterianos
desenvolveram uma estratégia de inserção social via educação formal. Eles
são os responsáveis pela fundação de um dos primeiros colégios não católicos
no país, em especial em 1870, o Colégio Mackenzie — atualmente uma rede
importante de ensino privado (Ramalho 1976).
Esta trajetória histórica desaguou em um ethos congregacional estreitamente vinculado aos valores da educação formal e da tradição iluminista.
Tal singularidade dificilmente passa despercebida para o visitante. Enquanto
realizávamos nossa pesquisa, fomos lembrados várias vezes de que estávamos nos relacionando com “doutores”; que o conselho de presbíteros é
formado por advogados, juízes, engenheiros; que o reverendo Guilhermino
Cunha, líder máximo da catedral do Rio de Janeiro, é advogado constitucionalista e representou os evangélicos na Comissão dos 50, responsável
pela elaboração do pré-projeto da Constituição de 1988; que a igreja tem o
seu próprio historiador.
Se nos guiarmos pela narrativa de nossos entrevistados presbiterianos,
foi apenas nas últimas décadas que eles se deram conta do tesouro histórico
que possuíam na edificação da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro —
613
614
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
um dos poucos prédios não católicos em processo de tombamento pelo
INEPAC (Instituto Estadual de Patrimônio Histórico). Segundo nossos
informantes, o valor da edificação foi revelado acidentalmente. Ao longo do
governo de Anthony Garotinho (1999-2002), o primeiro governador presbiteriano do estado do Rio de Janeiro, foi implementada uma política de
valorização dos prédios históricos da cidade e, em função disto, vários deles
foram incluídos em um projeto de iluminação noturna. A ideia era colocar
em destaque na paisagem noturna da cidade alguns dos seus monumentos
culturais e naturais. A Catedral Presbiteriana entrou na lista. Com isto, uma
visitação esporádica de desconhecidos, sendo a maioria alunos de arquitetura
interessados em conhecer o estilo neogótico, diversificou-se e ampliou-se.
Diante do aumento da visitação, a congregação angariou fundos para uma
reforma do prédio, imprimiu folders e se preparou para recepcionar bem
seus novos visitantes, muitos deles simplesmente “turistas”.
Contudo, esta generosidade da congregação com seus visitantes não
transformou tudo “em flores”. Com a maior visibilidade pública, a catedral
foi objeto de duas tentativas de tombamento, ambas sem o conhecimento
e/ou a concordância da congregação. Na primeira vez, em 2003, corria o
governo de Rosinha Garotinho, esposa de Anthony, também presbiteriana.
Com acesso ao palácio do governo, a congregação presbiteriana pressionou
contra, e o projeto, depois de alguns percalços, foi arquivado. O segundo
projeto, apresentado na gestão do governador Sérgio Cabral, foi negociado
sob tensão. Na percepção do reverendo Guilhermino Cunha, desta vez,
vários impasses foram mal resolvidos em função da condição minoritária de
denominação. Com baixo poder de pressão política, a congregação teve que
aceitar não só a ideia do tombamento, como assumir várias das prescrições
quanto aos termos e ao formato de sua efetivação.
Gostaria de sublinhar nesse processo a oscilação dos presbiterianos
entre a aceitação e a rejeição da sua inclusão em uma política patrimonialista
mais ampla. Além dos desgastes decorrentes da relação entre um segmento
social minoritário e um Estado de tradição autoritária, esta oscilação está
ligada a uma tradição iconoclasta Reformada, na busca de um Deus que
deve ser reverenciado sem ter sua face materializada. Contudo, após resistências iniciais, os presbiterianos sucumbiram à dinâmica patrimonialista
mais geral, em grande medida porque a Catedral Presbiteriana tornou-se
ícone dos evangélicos no leque da diversidade religiosa da cidade. Deste
modo, foi aberta uma nova porta no esforço de preservação da memória dos
presbiterianos na região.
Ao longo da última década, com maior visibilidade e aceitação por
parte dos poderes públicos, os presbiterianos tiveram licença para inaugurar
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
vários monumentos no centro da cidade (na Praça João Calvino em frente à
igreja, a estátua em homenagem aos 450 anos do primeiro culto evangélico
no Brasil com os huguenotes); o monumento em homenagem a Maurício de
Nassau (calvinista presbiteriano) na praça Mauá. Isto quer dizer que eles
estiveram atentos em estabelecer homologias inclusivas, nas quais, como
representantes de um cristianismo diverso, afirmam uma presença ampliada
no tempo — são 450 anos e não apenas 150 anos de evangélicos no país —
e no espaço — nas praças com suas estátuas interativas, didáticas e de gosto
duvidoso.
Segundo o reverendo Guilhermino Cunha, o interesse crescente da
população pela história da Igreja Presbiteriana responde tanto a uma curiosidade mais geral da população pelo “passado” quanto a uma busca de novos
grupos evangélicos pela memória do “seu grupo”. Nas suas palavras: “Eu
diria que interessa aos grupos novos [pentecostais e neopentecostais] saber
que eles têm uma origem evangélica, uma tradição evangélica histórica. [...]
Estamos celebrando 450 anos do primeiro culto evangélico no Brasil. Isso
dá uma sensação de permanência e historicidade”.
Com uma inserção social burguesa, a posse de objetos que se encaixam
razoavelmente nas expectativas dos agentes de cultura sobre “arte sacra”4
faz com que os presbiterianos estejam especialmente bem qualificados para
criar pontes entre diferentes redes sociais — com especialistas da cultura e
da religião, com a indústria do turismo, com os irmãos evangélicos menos
afortunados em termos de “memória material patrimonializável”. Para o [interior do] campo denominacional, o custo é a hierarquização das memórias,
na qual os presbiterianos ocupam o topo e representam simultaneamente a
parte e o todo do segmento evangélico.
Esta posição, entretanto, tanto pode ser disputada quanto ignorada pelos
demais evangélicos. Lembro a Assembleia de Deus, uma das primeiras igrejas
pentecostais formadas no país, e que representa cerca de 50% da população
pentecostal nacional, com mais de 8 milhões de membros (Censo 2000).
Em 2011, essa denominação celebra seus 100 anos de história. O marco inicial
para este cálculo é a chegada de dois missionários suecos — Gunnar Vingren
e Daniel Berg — em Belém do Pará, norte do país. Aparentemente, mesmo
com uma estrutura institucional fortemente segmentada e policêntrica, há um
razoável consenso entre os assembleianos sobre este marco inicial.
Ao longo dos últimos anos, multiplicou-se a produção de publicações do
tipo diário, livro, mensagens de orientação moral, assim como museus e centros de celebração em torno destes dois homens. Porém, em sintonia com essa
mesma estrutura organizacional, não houve um grande encontro para celebrar o centenário. Inicialmente as duas principais convenções (Convenção
615
616
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
Geral das Assembleias de Deus [CGADB] e a Convenção Nacional de Madureira [CONAMAD]) concordaram em estabelecer um calendário com dois
anos de festa, no qual reuniões com 16.000 obreiros do sudeste seguem-se
à reunião dos 500 anciãos no nordeste e a de 21.000 homens e mulheres de
Deus em Belém do Pará. Nesses dois anos, cadeias autocelebrativas multiplicaram-se pelo país, e taças e camisetas comemorativas do centenário
foram distribuídas entre milhares de “homens e mulheres de Deus” em todo
o Brasil como sinal de reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos com
o mesmo “espírito” dos missionários precursores.
Nesta mesma linha celebrativa, depois de dois anos de campanha do
jornal O Mensageiro da Paz — editado pela CGADB — foi inaugurado no
Rio de Janeiro o Memorial Gunnar Vingren. Neste Memorial — de difícil
acesso e que conta com agendamento e visitas monitoradas por membros
da igreja — o visitante encontra uma coleção de objetos que ajudam a relembrar a vida pessoal e pública de um conjunto expressivo de homens e
mulheres ligados à história da instituição. Em destaque, no Memorial, o
visitante pode ver as réplicas do quarto dos missionários, bíblias exaustivamente anotadas, sublinhadas e comentadas, cartas, agendas, histórias
de pessoas que se encontraram com os missionários e o violino de Gunnar.
Os objetos estão dispostos para valorizar a trajetória individual e a subjetividade dos pioneiros da igreja. Isto quer dizer que os assembleianos encontraram um modo de narrar a sua história em que a qualidade maior do
objeto está na sua ligação íntima com o antigo proprietário. Isto acontece até
mesmo quando se está narrando a história institucional — como o primeiro
contrato editorial, o primeiro LP, as primeiras fitas cassete.
Este estilo de materialização da memória apresenta certa semelhança
com alguns museus judaicos. Por ser diversa e diaspórica a comunidade judaica, uma longa história de perseguição e do Holocasto criou um compromisso
de “jamais esquecer”, sendo então valorizadas as trajetórias individuais com
suas estratégias diferenciadas de sobrevivência. Se, segundo a ortodoxia, o
transcendente não pode ser objetivado, os homens que se relacionaram de
modo excepcional com ele devem ser lembrados e celebrados.
Outra semelhança está no sentimento compartilhado de “minoria perseguida”. O acúmulo de eventos tensos entre a diáspora e os diferentes Estados
Nacionais levou a comunidade judaica à prática sistemática da criação de
museus e centros autônomos geridos por membros da própria comunidade.
Os museus e os centros culturais que visitamos da Assembleia de Deus no
Sudeste (AD do Brás, Memorial Gunnar Vingren, AD de Madureira)5 ou
estão localizados no interior de espaços sacros ou têm acesso restrito. Todos
são monitorados por membros da comunidade.
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
Desta forma, encontramos entre os assembleianos um tratamento da cultura material igualmente ambíguo, ainda que com um estatuto diferente do dos
presbiterianos. Por um lado, eles rejeitam a lógica da celebração da memória
através de monumento e grandiosidade física e dedicam-se à recolha, à seleção
e à celebração de objetos que ganham valor pela relação íntima com pessoas
excepcionais. Uma soma de objetos heterodoxos é destacada do cotidiano para
dar testemunho de uma trajetória coletiva carinhosamente celebrada.
Por outro lado, os centros e os museus que reúnem esses objetos são
administrados e geridos por membros da comunidade, e não são facilmente
acessíveis a não membros. Há um temor (razoavelmente fundado) de que a
atitude de reverência que eles próprios têm para com esses objetos-agentes
não seria mantida pelo visitante curioso. Neste sentido, eles se apropriam de
uma lógica de colecionador, própria da tradição secular, mas se recusam a
compartilhar “sua” história material, por exemplo, nas exposições feitas nos
espaços oficiais de celebração da memória popular no Brasil, que acontece
especialmente por meio de festas e folguedos religiosos (Cavalcanti & Gonçalves 2010). Misturar os seus objetos com objetos sacros dos cultos concorrentes significaria torná-los equivalentes ao fetiche que se quer combater.
Outra denominação que desenvolveu uma política patrimonial singular
foi a Igreja Universal do Reino de Deus — terceira maior igreja pentecostal
no país, com cerca de 2,5 milhões de fiéis (Censo 2000). Fundada em 1977
e com uma trajetória inicial de ocupação de salas antigas de cinema para
suas reuniões, a igreja foi objeto de acusações não só de “inautenticidade”,
no sentido genérico, mas de implementar uma política ativa de destruição
da memória coletiva (Gomes 2004). De 1995 em diante, a liderança da igreja
mudou de estratégia e passou a construir a partir da raiz megacatedrais em
pontos estratégicos da metrópole (Gomes 2004; Mafra & Swatowiski 2008;
Almeida 2009). Em 2000, a IURD inaugurou o Centro Cultural Jerusalém,
uma réplica “cientificamente” reproduzida de “Jerusalém na época do
segundo templo” (www.centroculturaljerusalem.com.br/institucional.php.
Visita em 24/08/2010). Em agosto de 2010, em um evento amplamente
coberto pela mídia nacional e internacional, o líder Edir Macedo lançou a
pedra fundamental da construção da réplica do Templo de Salomão. Em seu
blog, o bispo descreve da seguinte forma a tarefa:
Esta construção terá 126 metros de comprimento com 104 metros de largura,
dimensões que superam as de um campo de futebol oficial e as do maior templo
da Igreja Católica da cidade de São Paulo, a Catedral da Sé. São mais de 70 mil
metros quadrados de área construída num quarteirão inteiro de 28 mil metros.
A altura de 55 metros corresponde a de um prédio de 18 andares, quase duas
617
618
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
vezes a altura da estátua do Cristo Redentor. Com previsão de entrega para
daqui a 4 anos, a obra será um marco na história da igreja Universal do Reino
de Deus. Para a igreja, haverá o antes e o depois de 2014 (http://bispomacedo.
com.br/blog. Visita em 24/08/2010).
Nesta construção, os líderes da igreja não se preocupam em fornecer
indícios de uma relação minimamente autêntica com um passado vivido.
A força de persuasão da magnificência do Templo de Salomão está, se seguirmos as palavras de Edir Macedo, na sugestão de outro “entendimento”
do cristianismo, segundo o qual, na longa narrativa judaico-cristã, Roma e
Europa seriam largamente ignoradas. Com o templo, uma linha espaçotemporal cruzará o Mediterrâneo e o Atlântico, ligando Israel ao Brás, em
São Paulo, sem desvio em terras europeias. Há aqui um diálogo com a tese
do “mal-estar da civilização” — se a Europa filtrou a mensagem cristã de tal
forma que ela se autorrepresentou no topo da hierarquia do mundo, sustentando a reprodução de uma humanidade crescentemente desigual, está na
hora de ignorar estes interlocutores consagrados e reler a mensagem cristã
em novos termos. Se estou capturando esta metanarrativa corretamente, a
proposta inusitada de reorganização da memória coletiva segue um princípio
evolutivo básico — “o que causa dor e autodepreciação deve ser evitado”.
Além disso, com o Templo de Salomão, Edir Macedo procura superar
as ambiguidades entre objeto sacro e objeto cultural que tanto incomoda
seus pares evangélicos. Para não estabelecer equivalência entre os seus
objetos sacros e os objetos de outros cultos, boa parte dos quais considerados fetichistas, Macedo opta por celebrar uma história de dimensões não
humanas. Nesta história, sentidos mais autênticos e verdadeiros do culto
judaico, ignorados por mais de vinte séculos, aterrissariam abruptamente
em um bairro de trabalhadores migrantes na periferia do capitalismo.
O interessante é que, ao fazer isto, Edir Macedo aproxima ainda mais
o seu culto a características marcantes do capitalismo contemporâneo,
especialmente neste seu caráter arbitrário e fugidio de deslocamento dos
centros de produção da riqueza (Comaroff & Comaroff 2001).
Considerações finais
Comecei este artigo apontando a aparente inadequação da conjugação das
palavras “cultura” e “evangélico”. No Brasil, enquanto soa crível e usual
falar em “cultura católica” e “cultura afro-brasileira”, o mesmo não acontece
quando pronunciamos o compósito “cultura evangélica”. Ao longo do artigo,
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
procurei indicar alguns dos caminhos que ajudaram a promover esta relação
de exterioridade e como isto foi se fortalecendo gradualmente.
Sem que os evangélicos tenham sido “vítimas” de uma dinâmica que veio
de fora e os modelou, as indicações etnográficas sugerem que os movimentos
disjuntivos ganharam força no interior das próprias congregações estudadas.
Presbiterianos, assembleianos e iurdianos hesitam de modos distintos em
se alinhar com as políticas patrimoniais propostas pelo Estado e agências
transnacionais de caráter secular. Dessa forma, ao longo do artigo, procurei
situar como os presbiterianos comungam parte do vocabulário dos agentes
do Estado sobre política patrimonial. Porém, eles se recusam a participar de
um processo de “tombamento” cujo principal resultado é a perda do controle
comunitário sobre o bem. Muito a contragosto, eles se submeteram a essa
política patrimonial no caso da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, e
conseguiram tirar algum proveito político-cultural em sua implementação.
Os assembleianos, por sua vez, estão em sintonia com a noção de cultura
na modernidade segundo um plano muito básico de resgate e preservação
da memória coletiva através da produção de coleções. Muitos assembleianos
tornaram-se exímios colecionadores, formadores e preservadores de acervos
ecléticos e diversificados da história cotidiana das camadas populares no país.
Porém, esses evangélicos hesitam ou se recusam a abrir as portas de seus centros culturais e museus para um público heterogêneo. No fundo, eles entendem
que a audiência não iniciada permanecerá cega e surda à história narrada.
Quase como um contraponto, a Igreja Universal cria objetos com alguma remissão arqueológica, algo que venha a se tornar índice da excepcionalidade
histórica da própria denominação. Com o Terceiro Templo de Salomão, por
exemplo, eles estão sugerindo uma conexão direta com uma remota história
judaica e, ao mesmo tempo, repudiando um modo convencional de construção
da história cristã, que necessariamente passa pela Europa.
Nestas disjunções, ao invés de relações pacificadas dos evangélicos com
o seu passado ou com o passado dos outros segmentos sociais que compõem
a nação, temos relações tensas, disputadas, retoricamente marcadas pela
negação. Esta tendência talvez os vincule a uma história messiânica, mais
comprometida com o futuro do que com o presente. Mas, talvez, mais que
religiosos messiânicos, os evangélicos sejam adequadamente descritos por seu
comprometimento com uma “cultura parcial”. Com este termo, Simon Coleman
(2006) procurou chamar a atenção para a tendência dos pentecostais, e algumas
vezes dos evangélicos em geral, em se vincularem a uma visão de mundo que
está em contato com outras visões de mundo cujos valores são rejeitados.
Em outras palavras, os evangélicos tendem a formar culturas que ao mesmo
tempo rejeitam e reconhecem o convencional contextual. Isto garante, segue
619
620
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
Coleman, que o pentecostalismo tenha grande facilidade de circulação em diferentes contextos sociais, pois frequentemente essa cultura motiva as pessoas
a permanecerem vigilantes sobre seu passado e sobre a sua própria propensão
para o pecado, sem desvinculá-las completamente de seu contexto particular.
Um horizonte universalista é parcialmente desenvolvido na interconexão de
“cultura evangélica” com “cultura hegemônica regional”. Sobretudo, segundo
Joel Robbins, como promovedores de “culturas parciais”, os evangélicos podem
ser comparados com outros atores sociais engajados na promoção de universalismos, pois “nenhum universalismo se realiza em si mesmo” e, complementarmente, “todos os universalismos são culturas parciais” (Robbins 2010).
Recebido em 26 de março de 2011
Aprovado em 15 de agosto de 2011
Clara Mafra é antropóloga e professora do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais (PPCIS) da UERJ. E-mail: <[email protected]>
Notas
Neste artigo, estou explorando uma das dimensões da categoria cultura. Não
ignoro a importância de sentidos mais básicos, como o desenvolvido por Roy Wagner
em A invenção da cultura (2010). Contudo, estou atenta à interlocução em um espaço público onde o Estado é um dos agentes, o que conduz a um encompassamento
politizador dos processos de objetivação e dupla-reflexão.
1
Emerson Giumbelli chamou a atenção para este projeto de lei no artigo
“A presença do religioso no espaço público: modalidades no Brasil”, reconhecendoo como um caso interessante para pensar os modos de pertença dos evangélicos
no espaço público brasileiro. No presente artigo, ao invés de tomar como suspeita
a pretensão do senador Crivella de incluir os templos evangélicos no estatuto de
bem cultural e de me surpreender pela tentativa de subordinação do “religioso” ao
“cultural” (Giumbelli 2008:93), parto da observação contrária. Enquanto católicos e
afro-brasileiros conseguiram negociar de modo relativamente vantajoso a inclusão de
sua cultura material e imaterial como bens de arte e cultura nacional, mesmo com a
subordinação momentânea do “religioso” ao “cultural”, pergunto, ao longo do artigo,
por que os evangélicos poucas vezes se arriscaram a entrar nesta negociação. Ver
www.senado.marcellocrivella (consultado em 30/02/2010).
2
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
3
A pesquisa contou com os seguintes financiamentos: bolsa Prociência Faperj,
bolsa Produtividade CNPq, IC CNPq e IC Pibic-Faperj.
Não é consenso que a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro seja um
monumento “legítimo” de arte sacra. Afinal, o prédio foi construído segundo uma
maquete produzida a partir de fotografias de várias igrejas góticas europeias (cf.
www.catedralrio.org.br, consultado em 30/11/2010). Deveria, neste sentido, ser
considerada um pastiche, cópia anacrônica de um estilo arquitetônico de épocas
passadas. Porém, a boa resolução dos problemas de engenharia e arquitetura e a falta
de referentes semelhantes afirmam o seu valor mesmo para um público “cultivado”.
Para um levantamento historiográfico sobre o debate em torno da arte sacra no país,
ver Baptista (2002).
4
5
Noto que estou realizando a descrição de um processo social muito dinâmico.
Conversando com alguns pastores da Assembleia de Deus sobre a questão da restrição
da visitação aos seus museus e espaços de preservação da memória, alguns deles
lamentaram o fato, indicando razões variadas. Por exemplo, o Memorial Gunnar
Vingren foi instalado no interior de um parque gráfico, quer dizer, em uma empresa comercial, na qual a circulação deve necessariamente ser restrita e controlada.
Em alguns casos, como na Assembleia de Deus de Belém, houve uma mudança de
postura. O pastor Samuel Câmara, líder desta igreja, contando com a assessoria de
uma museóloga, fez o movimento de transferência dos documentos e objetos que
compunham o museu do interior da mesma, com acesso restrito, para uma casa no
centro da cidade. Este novo espaço, o Museu Nacional das Assembleias de Deus, foi
concebido para receber um público amplo e inaugurado na semana de comemoração
do centenário em Belém do Pará, em 16 de junho de 2011.
Referências bibliográficas
ALMEIDA, Ronaldo de. 2009. “Pluralismo
BIRMAN, Patrícia (org.). 2003. Religião
religioso e espaço metropolitano”. In:
Clara Mafra & Ronaldo de Almeida
(orgs.), Religiões e cidades – Rio de
Janeiro e São Paulo. São Paulo: Editora Terceiro Nome, pp. 29-50.
BAPTISTA, Anna Paola Pacheco. 2002.
O eterno ao moderno: arte sacra no
Brasil, anos 1940-50. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação
em História Social/UFRJ.
e espaço público. São Paulo: CNPq/
Pronex/Attar Editorial.
BURITY, Joanildo & MACHADO, Maria
das Dores (eds.). 2005. Os votos de
Deus: evangélicos, política e eleições
no Brasil. Recife: Fundação Joaquim
Nabuco.
CAMURÇA, Marcelo & GIOVANNINI JR,
Oswaldo. 2003. “Religião, patrimônio
histórico e turismo na Semana Santa
621
622
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
em Tiradentes (MG)”. Horizontes
Antropológicos, 9(20):225-247.
CAPONE, Stefania. 2004. A busca da África no candomblé. Tradição e poder no
Brasil. Rio de Janeiro: Contra Capa.
CASTILLO, Lisa Louise Earl. 2008. Entre
a oralidade e a escrita – percepções
e usos do discurso etnográfico no
candomblé da Bahia. Salvador:
EDUFBA.
CAVALCANTI, Maria Laura & GONÇALVES, Reginaldo. 2010. “Cultura, festas e patrimônios”. In: Carlos Martins
& Luiz F. Duarte (coords.), Horizontes
das ciências sociais no Brasil – antropologia. São Paulo: Barcarolla-Discurso Editorial. pp. 259-292.
COLEMAN , Simon. 2006. “Studying
‘global’ pentecostalism: tensions,
representations and opportunities”.
PentecoStudies, 5(1):1-17.
COMAROFF, J. & COMAROFF, J. 2001.
“Millenial capitalism: first thoughts
on a second coming”. In: ___. (eds.),
Millenial capitalism an the culture
of neoliberalism. Durham & London:
Duke University Press. pp. 1-56.
DANTAS, Beatriz Góis. 1988. Vovó Nagô e
Papai Branco — usos e abusos da África no Brasil. Rio de Janeiro: Graal.
ENGELKE, Matthew. 2007. A problem
of presence – beyond scripture in an
african church. Berkeley: University
of California Press.
FRESTON , Paul. 1993. Protestantes e
política no Brasil: da Constituinte ao
impeachment. Tese de doutorado,
Programa de Pós-Graduação em
Sociologia/ Unicamp.
GELL, Alfred. 1998. Art and agency – an
anthropological theory. Oxford: Clarendon Press.
GIUMBELLI, Emerson. 2002. O fim da religião – dilemas da liberdade religiosa
no Brasil e na França. São Paulo:
CNPq/Pronex/Attar Editorial.
___. 2008. “A presença do religioso no espaço público: modalidades no Brasil”.
Religião e Sociedade, 28(2):80-101.
GOMES , Edlaine de Campos. 2004.
A era das catedrais. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais/UERJ.
___. 2010. “Dinâmica religiosa e trajetória das políticas de patrimonialização: reflexões sobre ações e reações
das religiões afro-brasileiras”. Interseções (no prelo).
GONÇALVES, José Reginaldo Santos.
1996. A retórica da perda – os discursos do patrimônio cultural no Brasil.
Rio de Janeiro: UFRJ/Ministério da
Cultura-IPHAN.
GRACINO Jr, Paulo. 2010. “‘A demanda
por deuses’: religião, globalização e
culturas locais”. Tese de doutorado,
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais/UERJ.
MACHADO, Maria das Dores C. 2006. Política e religião. Rio de Janeiro: FGV.
MAFRA, Clara C. J. 2002. Na posse da
palavra. Religião, conversão e liberdade pessoal em dois contextos
nacionais. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.
___. & SWATOWISKI, Claudia. 2008. “O balão e a catedral: trabalho, lazer e religião
na paisagem carioca”. Anthropológicas,
19(1):141-167.
MARIANO, Ricardo. 1999. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Loyola.
MARIZ, Cecilia. 1999. “A teologia da Batalha
Espiritual – uma revisão da literatura”.
Boletim de Informação Bibliográfica em
Ciências Sociais, 47(1):33-48.
MEYER, Birgit. 1999. Translating the devil –
religion and modernity among the
Ewe in Ghana. Trenton-Asmara: Africa World Press.
ORO, A. P.; CORTEN, A. & DOZON, J.
(eds.). 2003. A Igreja Universal do
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
Reino de Deus: os novos conquistadores da fé. São Paulo: Paulinas.
PONTES, Heloisa. 1998. Destinos mistos –
os críticos do Grupo Clima em São Paulo
1940-1968. São Paulo: Cia das Letras.
RAMALHO, Jether Pereira. 1976. Prática
educativa e sociedade – um estudo
de sociologia da educação. Rio de
Janeiro: Zahar Editores.
ROBBINS, Joel. 2010. “Anthropology,
pentecostalism, and the New Paul:
conversion, event, and social transformation”. South Atlantic Quarterly,
109(4):633-652.
SAHLINS , Marshall. 1997. “O ‘pessimismo sentimental’ e a experiência
etnográfica: por que a cultura não é
um ‘objeto’ em via de extinção (Parte
I e II). Mana. Estudos de Antropologia
Social, 3(1):41-74; 3(2):103-150.
SANSI, Roger. 2007. Fetishes & monuments. Afro-brazilian art and culture
in the 20th century. New York, Oxford:
Berghahn Books.
SANTOS, Cecilia R. 2001. “Novas fronteiras e novos pactos para o patrimônio
cultural”. São Paulo em Perspectiva,
15(2):43-48.
STRATHERN, Marilyn. 2006 [1988]. O gênero da dádiva – problemas com mulheres
e problemas com a sociedade na Melanésia. Campinas: Editora Unicamp.
WAGNER, Roy. 2010. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify.
623
624
A “ARMA DA CULTURA” E OS “UNIVERSALISMOS PARCIAIS”
Resumo
Abstract
Neste artigo, parto da indagação sobre
a relativa inabilidade dos evangélicos
no Brasil em “empunharem a arma da
cultura”. Enquanto agentes de outras religiões, em especial, católicos e afro-brasileiros, investiram em negociações e subordinações do “religioso” ao “cultural” –
como estratégia de ganho em termos de
reconhecimento e de legitimidade social
via inclusão de si no leque da diversidade
cultural que compõe a nação – os evangélicos tendem a desenvolver relações
externalistas com as políticas culturais
propostas pelo Estado e por agências
transnacionais de aporte secular. Com
base em dados etnográficos, sugiro que
as hesitações e as ambiguidades dos
evangélicos em relação a estas políticas
estão relacionadas a um engajamento
mais básico de produção de “universalismos parciais”, ou seja, faz parte da
“cultura evangélica” manter vínculos
tensos, de aceitação e rejeição, entre as
visões de mundo convencionalmente
aceitas no contexto.
Palavras-chave Evangélicos, Memória,
Políticas culturais, Diversidade religiosa,
Universalismo parcial.
In the present article, I begin by inquiring
about the relative inability of Brazilian
evangelical Christians to utilize “culture as
a weapon”. While agents of other religions –
and in particular Catholics and members
of African-Brazilian religions – have negotiated a certain subordination of the
“religious” to the “cultural” as a strategy
of increasing their ecognittion and social
legitimacy by including themselves in the
set of “cultures” which make up the nation, Evangelical Christians have ended
to develop extenalist relationships with the
cultural policies proposed by the state and
by transnational secular agencies. Based
on ethnographic data, the present article
suggests that the hesitations and ambiguities of the Evangelicals with regards to
these politics are related to a more basic
engagement with the production of “partial
universalisms”. In other words, I argue
that is a constituitive part of Evangelical
Christian culture to maintain tense linkages of acceptance or rejection with those
visions of the world that are conventionally
accepted within this context.
Key words Evangelical Christians, Memory, Cultural politics, Religious diversity,
Partial universalism
MANA 17(3): 625-652, 2011
O BEIJO DE SPADE:
GÊNERO, NARRATIVA, COGNIÇÃO *
Luís Felipe Sobral
1
Spade tocou a campainha apenas para avisar que entrava no apartamento,
pois possuía a chave. Brigid estava ansiosa: perguntou se a polícia sabia
algo sobre ela; Spade colocou o chapéu sob um abajur, atirou o sobretudo
em uma cadeira e respondeu que, por enquanto, não. Ela questionou se não
arranjaria problemas para si; ele replicou que não se importava em arranjar
problemas. Convidou-o a sentar-se; sem encará-lo, verificou as unhas e
ajeitou o ornamento florido que lhe enfeitava o vestido. Spade desabotoou
o paletó e observou-a de pé, com um sorriso de quem se diverte. Sentou-se
e comentou, fleumático, que ela não era exatamente o tipo de pessoa que
fingia ser; Brigid dissimulou, mas ele esclareceu: “O jeito de boa moça.
Você sabe: enrubescendo, gaguejando e tudo isso”. Confessou-lhe que
não teve uma vida boa, que tinha sido má, pior do que ele podia imaginar.
Spade preferiu assim, pois, do contrário, fingindo ser quem não era, não
chegariam a lugar algum. “Não serei inocente”, garantiu, e Spade mostrou-se satisfeito, e emendou: “A propósito, vi Joel Cairo esta noite”. Brigid
reagiu com uma impassividade rígida: perscrutou-o e inquiriu se conhecia
o dito Cairo; Spade respondeu que apenas vagamente. Ela levantou-se e,
de costas para ele, atiçou o fogo na lareira. Observou-a, divertindo-se com
a artimanha de sua performance. Sem sair de sua poltrona, tomou-lhe o
atiçador das mãos; ela buscou outra coisa para ocupar-se, o que a levou
à cigarreira sobre um aparador no centro da sala. Enquanto acendia um
cigarro, os esboços de sorriso de Spade às suas costas transformaram-se
em uma risada de escárnio: “Você é boa. Você é muito boa”. Sem jamais
virar-se para ele, sentou-se no braço da poltrona no outro extremo da lareira e indagou o que Cairo dissera sobre ela; “Nada”, foi a resposta. De
esguelha, perguntou do que falaram, e Spade revelou que Cairo oferecera
5 mil dólares pelo pássaro negro. Brigid levantou-se. Spade, com as mãos
626
O BEIJO DE SPADE
trançadas, inquiriu se ela continuaria arrumando as coisas e atiçando o
fogo; com um sorriso nervoso, falou que não e, enfim, voltou-se para ele,
ansiosa por saber o que respondera a Cairo: “Que 5 mil é muito dinheiro”.
Confessou-lhe, derrotista, que era mais do que poderia oferecer por sua
lealdade. Spade, com um sorriso curto, saltou da poltrona. “É engraçado,
vindo de você”, disse, ao aproximar-se. “O que me deu além de dinheiro?
Alguma vez me disse a verdade?”. Inclinou-se levemente sobre ela: “Não
quis comprar minha lealdade com dinheiro?”. E ela, aflita: “Com o que
mais poderia comprá-la?”. Agarrou-a pelo rosto e a beijou. Os polegares
enterraram-se nas suas bochechas, e os olhos se fincaram. Spade afastou-se
e, olhando para a janela, disse-lhe que não ligava para seus segredos; não
poderia, contudo, prosseguir a investigação sem um pouco de confiança
nela: teria de convencê-lo de que não era apenas um jogo. Ela suplicou
um pouco mais de confiança; ele perguntou o que ela esperava. “Tenho
de falar com Joel Cairo”. Spade disse que ela poderia vê-lo aquela noite e
arremeteu-se ao telefone: Cairo fora ao teatro e, assim, deixara um recado
em seu hotel. Brigid apoiou-se no sofá; angustiada, protestou, enquanto ele
discava o número: Cairo não poderia saber onde ela estava, pois o temia.
Irredutível, Spade, sem soltar o fone, concordou que o encontro seria em
seu apartamento. Brigid, afinal, resignou-se.
2
Trata-se de uma cena de O falcão maltês, interpretada por Humphrey Bogart
(1899-1957) e Mary Astor.1 Há uma discrepância entre a brutalidade do beijo
de Spade e o extenuante processo de filmagem da cena: foram necessárias
sete tentativas para satisfazer o diretor John Huston, pois Bogart tinha dificuldade com o beijo. Isto se justifica por dois motivos: o primeiro, alegado
pelo próprio ator, refere-se à falta de prática oriunda dos inúmeros capangas
de gângster que encarnara até então, aos quais eram interditadas as cenas
de beijo; o segundo, indicado por Astor, circunscreve-se ao desconforto do
colega com o acúmulo de saliva em um canto da boca, devido à cicatriz no
lábio superior (Sperber & Lax 1997:159-160). Tal cicatriz provocava um leve
sibilo característico na pronúncia de Bogart, e existem várias versões de sua
origem, todas apócrifas: infligida pelo pai na infância; causada pelo estilhaço
de um projétil durante a Primeira Guerra Mundial; decorrente do confronto
com um prisioneiro no período em que serviu à Marinha (Sperber & Lax
1997:27, 34-35); produto da briga desenrolada em uma bebedeira. Entre
o insolente beijo de Spade e a obscura cicatriz de Bogart interpõe-se uma
O BEIJO DE SPADE
descontinuidade, a saber, aquela que separa a imagem de seu processo de
produção e, em particular, a imagem artística, da trajetória social do artista.
É esta descontinuidade que ambiciono superar neste ensaio.
3
O público cinematográfico de hoje, diante de O falcão maltês, assume naturalmente o fato de Spade ser um detetive particular cínico e oportunista
que, em meio a uma série de personagens de moral duvidosa, mostra-se,
afinal, ao lado da lei; na verdade, o público espera por isso, pois é Bogart
quem encarna Spade: através da continuidade entre a figura do ator e as
subsequentes apropriações culturais às quais foi submetida, Spade é um
personagem familiar. Contudo, diante dos papéis de Bogart anteriores a este
filme, o mesmo público passaria por uma experiência de estranhamento: “Ele
[Bogart] rosnou e balbuciou em toda uma série de papéis superficiais [...].
Ganhava 650 dólares por semana e, lá pelo fim da maior parte dos filmes,
era baleado, rosnando” (Friedrich 1988:93). Assim, o público de 1941 não
poderia esperar algo muito diferente, mesmo tendo havido algumas poucas
exceções nessa série. A atuação de Bogart como Spade, em O falcão maltês —
filme produzido durante a era dos estúdios pela Warner Bros., especialista
em filmes de gângster — representa, a um só tempo, uma ruptura em relação
a todos os papéis que interpretara e um resultado da experiência adquirida
através deles.
4
Bogart iniciou, destituído de treinamento profissional, sua carreira de ator na
Broadway, onde, de 1922 a 1935, atuou em pelo menos 17 peças e percorreu
uma trajetória irregular, com algumas críticas favoráveis.2 A partir de 1928 —
com o advento do cinema sonoro e a demanda por artistas que soubessem
falar em cena (Schatz 1991:72-80; Sklar 1992:21-24) — empreendeu uma
série de incursões a Hollywood: fez alguns filmes esporádicos que, todavia,
não lhe proporcionaram um contrato a médio prazo, o primeiro passo para
alojar-se na indústria cinematográfica. O insucesso dessas empreitadas
explica-se por duas razões inter-relacionadas: primeiro, a obsolescência
de alguns personagens que representou, uma vez que incorporou, como
fazia na Broadway, o “tipo juvenil” — arrivista charmoso que ambiciona
triunfar por meio do casamento com uma jovem rica — encarado, em uma
627
628
O BEIJO DE SPADE
época de depressão, com crescente impopularidade; segundo, a inépcia de
Bogart diante das câmeras, que oscilava desde uma gestualidade repetitiva
e desconfortável até erros crassos, como dar as costas à câmera durante uma
cena importante (Sklar 1992:24-26).
Entre a Broadway e Hollywood, porém, Bogart pôde esboçar um novo
tipo: de um modo geral, enquanto no teatro continuava a interpretar o
“tipo juvenil”, no cinema ensaiava o vilão coadjuvante. Eles não estavam
separados, pois o segundo emergia do primeiro, de forma que, na primeira
metade da década de 1930, apesar de um visível envelhecimento, “ele ainda
tinha a inexperiente aparência de um jovem”, da qual se delineava “uma
voz áspera, um visual austero, e um ar de violência mal contida, acentuados por um novo gesto de frisar seu lábio superior e descobrir seus dentes”
(Sklar 1992:59).3
O estabelecimento de Bogart em Hollywood, enfim, não ocorreu de
forma direta, através de suas incursões à Costa Oeste; foi sua interpretação
do foragido ladrão de bancos Duke Mantee, na peça A floresta petrificada,
de 1935, que possibilitou seu acesso à indústria cinematográfica. É preciso
entender o interesse de Hollywood — e da Warner Bros., em particular — por
esta peça teatral.
5
A segunda metade da década de 1910 e o final dos anos 1950 são as balizas
temporais que delimitam o sistema de estúdios, uma maneira específica de
fazer filmes que, a despeito de suas variações ao longo desse intervalo, é
identificável pela estabilidade de suas linhas gerais. Consistia na estrutura
social, econômica e cultural que, a partir de um processo industrial — que
controlava e executava todas as etapas da produção de um filme, desde a
elaboração do roteiro até sua exibição nas salas de cinema — formava um
sistema integrado entre os escritórios de Wall Street e os estúdios de Los
Angeles, cujo objetivo final era gerar lucros (Schatz 1991:17-26). Tratava-se
de um oligopólio, cada estúdio “constituindo uma variação distinta do estilo
clássico de Hollywood” (Schatz 1991:23), com especificidades de produção
e, consequentemente, produtos peculiares; a MGM, por exemplo, não estava
preparada, nem tinha os profissionais certos, a começar pelos intérpretes,
para produzir um filme de gângster do tipo da Warner que, por sua vez, não
poderia fazer um filme de terror como os da Universal, e assim por diante —
os estúdios devem, portanto, ser pensados em sua história inter-relacionada
(Schatz 1991:23-26).
O BEIJO DE SPADE
O ponto de acesso para uma análise do sistema de estúdios é através dos
arquitetos do estilo de cada estúdio, os pouquíssimos produtores executivos —
os quais “eram sempre homens” (Schatz 1991:21) — que, por meio da mediação
entre o polo dominado de produção cultural (Hollywood) e o polo econômico
dominante (Wall Street), uniam em uma estrutura hierárquica vertical o que
estava separado horizontalmente por uma distância continental; em suma,
“traduziam o orçamento anual, apresentado pelo escritório de Nova York, numa
programação específica de filmes” (Schatz 1991) e, nesse processo, concentravam, de uma perspectiva ampla, toda a operação do estúdio (Schatz 1991:2122). A posição do executivo, contudo, só é inteligível em relação às outras do
estúdio — isto é, as posições de diretores, roteiristas, atores e atrizes, técnicos
de som e de iluminação, e assim por diante — pois esse cinema é uma arte
coletiva por excelência; mas, diante dos múltiplos interesses em questão,
“a realização cinematográfica de estúdio era menos um processo de colaboração do que uma arena de negociações e de luta” (Schatz 1991:26). Um filme
da era de estúdios, portanto, é oriundo desse campo de forças sociais.
6
O estúdio que se interessou por A floresta petrificada foi a Warner Bros., que
apresentava “o estilo mais diferenciado de Hollywood” (Schatz 1991:147),
estabelecido na passagem para a década de 1930 e pautado na combinação
de uma dupla economia (técnica e narrativa) em consonância com uma rigorosa política financeira. “Renunciando ao brilho e ao glamour da MGM e da
Paramount, a Warner optou por uma visão de mundo mais sombria e inóspita”
(Schatz 1991), que a levou a especializar-se em filmes de ação masculinos, em
particular os filmes de gângster, diretamente vinculados ao empreendimento
sonoro pioneiro da Warner (tiros, gritos, pneus cantando) e às manchetes jornalísticas da Depressão (Schatz 1991:146-157; 1981:85). Em linhas gerais, o
gângster consistia em um renegado urbano de proporções heróico-anárquicas
que era criado pela cidade e por ela destruído; nele coabitavam impulsos
contraditórios que oscilavam entre interesses individuais incontroláveis e
constrições sociais inflexíveis: ele morria no final do filme e, assim, sublinhava
de modo ambíguo seu individualismo, porque seu comportamento era autodestrutivo, incapaz de equilibrar indefinidamente essa tensão e, ao mesmo
tempo, impersuadível a deixar de tentar fazê-lo (Schatz 1991:82-85).
Em 1935, quando A floresta petrificada foi produzida na Warner, dois
eventos intervieram na indústria cinematográfica de um modo geral e, em
particular, na figura do gângster: por um lado, a autocensura — saída política
629
630
O BEIJO DE SPADE
de Hollywood para defender-se das inúmeras comissões de censura municipais
e estaduais — cujo código de produção impunha restrições especialmente
aos crimes contra a lei e à sexualidade, sob pena de não conceder o selo que
autorizava a exibição do filme (Douin 1998:155-157); por outro, o governo de
Roosevelt empreendia uma campanha contra a ilegalidade, e pressionava a
mídia popular a encerrar a glamorização do gângster (Sklar 1992:62).
A segunda metade da década de 1930 testemunhou uma curiosa reformulação, na qual a tensão passou a ser externa ao protagonista: não mais
uma tendência criminal quase inata assumida como destino anárquico, mas
uma escolha entre o mundo do crime e a lei. Isto permitiu duas variações:
manter a postura bruta e cínica do gângster, mas deslocada para o durão
defensor da lei; e contrapor o gângster a uma figura a favor da ordem social,
de apelo simbólico equivalente e da mesma origem social. Este já não era
mais o gângster do início da década e do gênero, uma vez desprovido da
força simbólica advinda de sua ambiguidade: “Quando o gângster não era
mais o herói do filme de crime urbano, tornou-se, muito simplesmente, um
criminoso endurecido” (Schatz 1981:99). Impôs-se, assim, um distanciamento entre ele e o público: este não simpatizava, não se identificava mais com
aquele, personagem complexo metamorfoseado em um tipo plano (Schatz
1981:98-102). Foi sob esta imagem que Bogart, na forma de Duke Mantee,
estabeleceu-se em Hollywood: “Alguém poderia temer Mantee, ser aterrorizado por ele, até mesmo sentir pena dele — mas a interpretação compacta,
reprimida e aberrante de Bogart tornou improvável alguém jamais desejar
ser ele” (Sklar 1992:63, grifo do autor).
Dessa forma, o interesse da Warner por A floresta petrificada — que,
em sua versão dramatúrgica, já supunha todas essas constrições — explicase pela convergência, de um lado, da forma e do conteúdo da peça e, de
outro, do estilo de produção do estúdio. Pode-se resumir isto tudo através
da perspectiva do gênero narrativo, pois esta
[...] (1) assume que a produção de filmes é uma arte comercial e, portanto, que
seus criadores contam com fórmulas testadas para economizar e sistematizar a
produção; (2) reconhece o contato próximo do cinema com sua audiência, cuja
resposta a filmes individuais tem afetado o gradual desenvolvimento de fórmulas
de enredo e práticas de produção padronizadas; (3) trata o cinema, em primeiro
lugar, como um meio narrativo (contar uma história), cujas histórias familiares
envolvem conflitos dramáticos, os quais são eles mesmos inspirados em conflitos
culturais correntes; e (4) estabelece um contexto no qual a carreira artística cinemática é avaliada em termos da capacidade de nossos cineastas em reinventar
convenções formais e narrativas estabelecidas (Schatz 1981:vii-viii).
O BEIJO DE SPADE
7
Um fato envolvendo dois atores, em particular, contribuiu para que a Warner
mantivesse Bogart na adaptação cinematográfica de A floresta petrificada.
Edward G. Robinson foi lançado à fama como o protótipo do gângster com
Alma no lodo, de 1931; tal sucesso tornou-o um dos atores mais bem pagos
da Warner e concedeu-lhe uma autonomia relativa, na forma de um contrato sem exclusividade, que lhe permitia fazer filmes em outros estúdios,
e com direito de aprovação prévia de roteiros. Meses se passaram sem que
Robinson e a Warner chegassem a um meio-termo para definir o próximo
filme do ator — até ele ler o roteiro de A floresta petrificada e deparar-se
com Mantee (Sperber & Lax 1997:52).
Robinson era irredutível em seu direito — também garantido por contrato — de crédito, na abertura de seus filmes, acima de qualquer outro ator, e a
Warner já havia acertado o primeiro lugar com o protagonista Leslie Howard;
Robinson aceitava, no máximo, dividi-lo com Howard (Sklar 1992:61). Este,
preeminente figura da Broadway e ator em Hollywood, interpretara o escritor
errante e desiludido na peça, da qual detinha os direitos junto com o produtor,
o diretor e o dramaturgo. Ele havia garantido a Bogart o papel no cinema
e, acima de tudo, tinha consciência de que o sucesso da peça residia, em
grande medida, no contraste entre sua interpretação e a de Bogart; exigiu,
então, a permanência deste para encarnar Mantee novamente (Sperber &
Lax 1997:50-53). “Ele [Bogart] estava de volta aos filmes, e [a maneira] como
os outros administravam suas carreiras tinha maior impacto em sua fortuna
do que como ele administrava a sua própria” (Sklar 1992:61).
O artista no sistema de estúdio era um ser em luta com a estrutura de
produção: todo o seu esforço estava voltado para conquistar e manter uma
autonomia relativa.4 Esta só era alcançada se seu trabalho fosse capaz de
gerar lucro através da recepção do público, o que era mais provável segundo uma fórmula narrativa testada, pois cumpria a expectativa da audiência
por meio de um produto que o estúdio estava imediatamente preparado
para produzir. Já para manter a autonomia, o artista deveria ser flexível
o suficiente para adaptar as convenções cinematográficas aos respectivos
temas, que acompanhavam as questões culturais do momento. Como se vê,
o artista encontrava sua autonomia relativa na estrutura da perspectiva do
gênero narrativo citada acima: por este motivo é que ele tendia a se especializar em um determinado gênero e, assim, em personagens similares.
Não obstante, se, de um lado, a continuidade da imagem artística, ao longo
de pequenas variações eficazes, garantia um valor de mercado estável, de
outro, ameaçava desvalorizá-lo pelo risco de tornar-se desgastada. Portanto,
631
632
O BEIJO DE SPADE
do artista no sistema de estúdio exigia-se a habilidade propriamente política
de, a um só tempo, esquivar-se das constrições estruturais — sem jamais ter
êxito completo, porque estruturais — e utilizá-las a seu favor: nesta faixa
estreitíssima é que ele encontrava sua autonomia.
8
O historiador Robert Sklar, a partir da perspectiva performática, aproximou os
personagens interpretados por James Cagney e Bogart em Hollywood, sem
deixar de notar quão distantes são as origens sociais dos dois atores. Ambos
nasceram em 1899, em Nova York: o primeiro, no Lower East Side, filho de
um proprietário de bar, católico e irlandês; o segundo, no Upper East Side,
filho de um médico e de uma sufragista então famosa por ilustrar populares
livros infantis anglo-saxões protestantes (Sklar 1992:4-6). Cagney e Bogart
começaram suas carreiras na Broadway: o primeiro interpretava uma variante
do delinquente que o levaria a Hollywood (Sklar 1992:12-17); o segundo,
o romântico juvenil que repetiria à exaustão e que lhe interditaria o acesso
à indústria cinematográfica. Se Cagney foi obrigado a se afastar da figura
do gângster para proporcionar autonomia à sua carreira cinematográfica já
estabelecida, Bogart, no mesmo período, apenas conseguiu estabelecer-se
em Hollywood encarnando uma variante da mesma figura contraventora
na Broadway.
Há uma evidente convergência entre, de um lado, os personagens — o
delinquente e o “tipo juvenil” — que marcaram o início das duas carreiras
e, de outro, as respectivas origens sociais; longe de apontar para qualquer
espécie de determinismo, tal convergência parece ter sido traçada não
apenas pelo que as experiências sociais de ambos, em circuitos distintos da
metrópole, diferenciavam-nos, mas sobretudo pelo que compartilhavam, isto
é, a ausência de educação dramatúrgica formal, fatores que os dispuseram
a aprender o ofício a partir daquilo que conheciam melhor. Ao longo do
tempo, todavia, essa convergência foi transformada pelas duas vivências
profissionais que, apesar de comporem histórias individuais distintas, foram
expostas às relações de força da estrutura de produção hollywoodiana e, em
particular, da Warner. A despeito das origens sociais, portanto, a lógica do
processo era a mesma, mas as trajetórias dos dois não estavam sincronizadas: em 1936, enquanto Cagney, estabelecido há meia década, lutava por
autonomia, Bogart, o outsider, ainda deveria mostrar seu valor ao estúdio.
De fato, tratava-se de um período conturbado da vida de Bogart. Logo
completaria 36 anos, e seria a primeira vez na vida que teria estabilidade
O BEIJO DE SPADE
financeira por conta própria. Decepcionara os pais, que o educaram com
o intuito de que frequentasse uma universidade de prestígio, como Yale,
aonde nunca chegou, pois foi expulso por reprovação da escola preparatória; subsequentemente, alistou-se na Marinha em fins da Primeira Guerra
(Friedrich 1988:92-93).
O investimento escolar — visto como meio de produzir e manter o status
social — não pode ser menosprezado na vida do ator: os Bogart não apenas
eram de classe média alta como reivindicavam marcas aristocráticas, inscritas na profissão de médico do pai e de ilustradora educada em Paris da mãe
(Sperber & Lax 1997:11-13). Isto era particularmente visível no nome de seu
filho, Humphrey DeForest Bogart: Humphrey era a transformação em nome
do sobrenome da mãe, Maud, de origem inglesa, ligada por uma conexão
lateral aos Churchills; DeForest provinha do pai, Belmont DeForest Bogart,
cujo pai, fazendeiro descendente de holandeses emigrados nos Seiscentos,
ascendeu de pequeno hoteleiro de província a manufatureiro de anúncios
publicitários na Nova York da segunda metade do século XIX, e proveu o
filho com os nomes de duas famílias novaiorquinas preeminentes (Sperber
& Lax 1997:8-10, 13-14). Assim, o fracasso escolar minava a aspiração aristocrática dos pais nutrida por meio da continuidade genealógica: excluída a
passagem por uma universidade de elite, o estabelecimento de uma posição
com status social elevado era remoto.
Quando A floresta petrificada estreou na Broadway, em janeiro de 1935,
a posição de Bogart era particularmente delicada: seu segundo casamento,
com a atriz de teatro Mary Philips, deteriorava-se, pois as infrutíferas incursões de Bogart em Hollywood os mantinham separados — situação que iria
se acentuar após seu contrato com a Warner — uma vez que ela ocupava
uma sólida posição na Broadway; a Depressão esvaziava os teatros, onde
ambos estavam ancorados financeiramente; meses antes, em setembro de
1934, o pai de Bogart falecera, deixando dívida a ser paga (Sperber & Lax
1997:42-47); e, enfim, um ano e pouco depois de assinar o contrato com a
Warner, uma de suas duas irmãs morreu, enquanto a outra, diagnosticada
maníaco-depressiva em decorrência de um parto dificílimo, era abandonada pelo marido falido, forçando Bogart a assumir seus cuidados e despesas
(Sperber & Lax 1997:42, 85-86).
Em 10 de dezembro de 1935, assinou, afinal, o contrato de exclusividade com a Warner, que passava a reter todos os direitos sobre seu trabalho,
não apenas no estúdio, mas em qualquer lugar e mídia em que aparecesse.
Com efeito, “Bogart abriu mão de tudo, exceto sua sombra” (Sperber & Lax
1997:61): trocou todas as formas de sua imagem por mais uma aposta no
sucesso hollywoodiano e, sobretudo, pela estabilidade financeira, que lhe
633
634
O BEIJO DE SPADE
garantia 26 semanas de trabalho a 550 dólares cada, ao final das quais o
estúdio se reservava o direito de decidir pela renovação do contrato por outro
período equivalente, aumentando em 50 dólares o pagamento (Sperber &
Lax 1997).5 Com uma margem de manobra estreita, devido a todas as constrições sociais e econômicas citadas, Bogart aceitou todas as intempéries
em que o trabalho no estúdio o lançavam: representou, muitas vezes sem
intervalo, em um filme após o outro, e chegou a atuar em mais de um filme
em um único dia; trabalhou, via empréstimos lucrativos para a Warner, em
filmes de produtores independentes e de outros estúdios; mostrou várias
vezes, com algumas poucas exceções, certo deslocamento nas interpretações dos papéis que poderiam salvá-lo da série de bandidos que lhe era
imposta; especializou-se e aprimorou um tipo de vilão coadjuvante, isto é,
o capanga de gângster (Sklar 1992:63-71, 88). “Assim, Humphrey Bogart,
que fracassou no caminho que lhe era destinado em Yale, tornou-se um
gângster” (Friedrich 1988:93).
9
Na cena descrita de O falcão maltês que abre este artigo, vislumbra-se
uma duplicidade na figura de Spade. Pode-se dividir a descrição em duas
partes, demarcadas por “Spade, com um sorriso curto, saltou da poltrona”.
Até então, por meio de uma postura fleumática, ele pareceu ter o domínio
completo da situação: entrou no apartamento de Brigid munido da própria
chave; mostrou-se à vontade ao retirar o chapéu e o sobretudo; respondeu
à questão dela sobre a polícia de forma direta; rechaçou a preocupação
consigo mesmo; mostrou a ineficácia das dissimulações de Brigid; provocou
sua aflição ao falar de Cairo e sua proposta pelo pássaro negro; divertiuse, enfim, com a constante dissimulação de Brigid. Na segunda parte, a
impassibilidade insolente de Spade, que aparentemente lhe garantia certo
controle, é obscurecida pela paixão: levantou-se do sofá movido pela cólera;
beijou-a com o desejo atiçado pela ira; reivindicou honestidade para o bem
da investigação, exigência vagamente separável do beijo desferido; atendeu, afinal, à súplica de Brigid por mais confiança através do encontro com
Cairo. No momento em que Spade parecia estar no controle da situação,
sua posição estava sendo minada pela sequência infatigável de táticas de
Brigid, que culmina no uso explícito da sedução.
Tal divisão analítica, contudo, não pode levar a crer que as duas fases são
homogêneas em suas características, pois então Spade seria um personagem
descontínuo e, portanto, inverossímil para os padrões da narrativa clássica
O BEIJO DE SPADE
hollywoodiana. De forma inversa, pode-se dizer: a paixão intervém como
parte do próprio motivo da presença de Spade no apartamento de Brigid; e
a postura fleumática é requerida logo após o beijo, na tentativa de retomar
um pragmatismo em benefício da posição segura do trabalho. A brutalidade
da indiferença e a vulnerabilidade da paixão não se combinam, em Spade,
como termos excludentes, mas conviventes: uma tensão que oscila entre a
superfície e a profundidade do personagem. O beijo de Spade concentra e
potencializa essa tensão: o desejo colérico de beijar Brigid torna-o vulnerável, e por isso a beija com uma fúria insolente. A duplicidade de Spade,
assim, repousa na marca de gênero característica da mediação dramática
entre indiferença e vulnerabilidade, desenvolvida ao longo da narrativa de
O falcão maltês.6
10
De setembro de 1929 a janeiro de 1930, a revista de entretenimento popular Black Mask publicou, em cinco partes, o romance policial O falcão
maltês, logo em seguida editado por Alfred A. Knopf em Nova York (Hammett 1999:960-961). Dashiell Hammett, seu autor, havia trabalhado para a
Agência Nacional de Detetives Pinkerton, e aí fizera todo tipo de serviço,
desde seguir pessoas até sabotar greves de sindicatos (Friedrich 1988:87).
O protagonista de seu romance é o cínico Sam Spade, detetive particular
em San Francisco, trabalho que executa ao lado de um sócio, cuja esposa é
sua amante. Quando o sócio — ao seguir o perigoso homem que fugira com
a irmã da senhorita Wonderly, linda cliente dos detetives — é assassinado,
Spade vê-se diante de um caso intrincado, no qual nenhum elemento, ou
ninguém, se revela por completo: a senhorita Wonderly — “de tirar o fôlego”,
na verdade Brigid O’Shaughnessy, que inventou a história sobre a irmã —
suplica ajuda e recusa-se a expor suas reais intenções; o levantino Joel Cairo,
que anda “com passinhos curtos, afetados, saltitantes”, apresenta-se a Spade
como cliente, apenas para, munido de uma pistola, vasculhar o escritório do
detetive em busca de um obscuro artefato; Wilmer, um “espião baixinho”
que segue Spade de forma indiscreta pelas ruas de San Francisco; e o gordo
Casper Gutman, cujas “protuberâncias balofas” sacodem-se quando anda e
que, por meio de uma postura cavalheiresca e um discurso sobre confiança,
pretende fazer negócio com Spade acerca de um valioso objeto histórico,
cuja origem é o único a conhecer.7
Logo Spade descobre que estão todos atrás de uma relíquia inestimável —
o falcão do título — e que não medirão esforços para possuí-la. Spade, por
635
636
O BEIJO DE SPADE
sua vez, é tão ambíguo quanto os outros personagens, pois seu pragmatismo
cínico confunde-se com oportunismo, ao dizer sempre o que é vantajoso para
si, de acordo com a situação. O subterfúgio narrativo de Hammett — e aqui
repousa a força do livro — não é menos ambíguo: o narrador apresenta-se
em terceira pessoa, sem jamais abandonar a perspectiva de Spade que, portanto, estende-se de forma ubíqua ao longo do livro. Tudo se passa como se
o leitor, de certa distância, seguisse Spade em suas perambulações por San
Francisco: ele sabe, por um lado, que o detetive não é culpado do crime,
pois acompanha-o ininterruptamente; por outro, que ele seria perfeitamente
capaz de cometê-lo, de acordo com a avaliação dos outros personagens.
11
John Huston — ex-boxeador, ex-membro da cavalaria mexicana, ex-pintor,
filho do ator Walter Huston e, no começo da década de 1940, escritor promissor na Warner — pautou-se no argumento de que o livro de Hammett
“nunca tinha sido na realidade levado à tela” e no direito, estabelecido por
seu agente em cláusula no contrato com o estúdio, de escolher um filme para
dirigir, e escreveu um roteiro fiel a O falcão maltês (Friedrich 1988:87-90).8
O método de Huston não era usual: ao invés de escrever o roteiro a partir
do enredo do livro, o que tinha por resultado, em geral, uma adaptação
distante na qual intervinham em seguida o produtor, o diretor, o elenco, e
assim por diante, ele quis seguir o livro, isto é, acompanhar cada guinada
de ação. Em suma, concentrava em suas mãos grande parte do processo
criativo de O falcão maltês.
No começo de 1941, Bogart, a despeito do sucesso de O último refúgio,
continuava negligenciado pela Warner: perdera as disputas pelos filmes que
lhe interessavam, fora remetido de volta à série de personagens secundários
e, afinal, recusara-se a trabalhar e fora suspenso (era um direito do estúdio)
por seis meses (Sperber & Lax 1997:141-147). Quando retornou, Huston
preparava-se para filmar O falcão maltês, e Bogart demonstrou interesse,
mas foi submetido ao jogo político-econômico típico dos estúdios: a Warner
queria Henry Fonda para um filme específico, mas o ator tinha contrato
com a Fox que, por sua vez, queria em troca George Raft; para ter espaço
de barganha, a Warner escalou Raft para interpretar Spade. Este, todavia,
poderia recusar o encargo — privilégio garantido por seu contrato — e o
fez, justificando sua decisão com o fato de que O falcão maltês “não era
um filme importante”; tal recusa abria caminho para Bogart, preferido por
Huston (Sperber & Lax 1997:149-151).9
O BEIJO DE SPADE
Enquanto isso, o produtor Henry Blanke assinava os contratos temporários de três artistas de fora do estúdio: Mary Astor, que havia trabalhado com
Bette Davis, interpretaria Brigid; o expatriado austro-húngaro Peter Lorre,
que havia trabalhado no cinema alemão até a ascensão nazista, seria Cairo;
e o inglês veterano do teatro Sydney Greenstreet, então com 61 anos, faria
sua estreia no cinema como Gutman (Schatz 1991:314-315). Em 18 de julho
de 1941, após 34 dias de filmagem, Huston concluiu o filme com dois dias
de antecedência em relação ao cronograma e 54 mil dólares de economia
em relação ao orçamento. As prévias — série de testes de audiência que
antecedia o lançamento do filme — mostraram que a recepção seria boa,
prognóstico confirmado pela estreia em 3 de outubro (Schatz 1991:316-317).
A crítica, em particular, prestigiou o filme, indicado a três Oscars, apesar
de não ter ganho nenhum: melhor ator coadjuvante (Greenstreet), melhor
filme, melhor roteiro (Huston). Em O último refúgio, Bogart, apesar de ter
sido o protagonista, teve o nome anunciado em segundo lugar; agora, pela
primeira vez na carreira, tinha seu nome exposto em primeiro lugar nos
créditos do filme, índice do seu novo estatuto de estrela. Bogart, o gângster,
havia se transformado em Bogart, o detetive particular.
12
Parti da descrição de uma cena de O falcão maltês para indicar a descontinuidade que se verifica entre a imagem visível na tela e seu processo invisível
de produção. Contrapus o olhar do público de hoje, habituado a uma imagem
de Bogart sedimentada ao longo do século, ao do contemporâneo a 1941,
acostumado com os repetitivos gângsteres que encarnava, para apontar a situação em que se encontrava o ator em sua carreira cinematográfica. Esbocei
sua trajetória profissional, da Broadway a Hollywood, e seus condicionantes
sociais, econômicos e culturais, e também, de uma forma geral, os do artista
na era dos estúdios. Delineei o que caracterizou, do ângulo performático,
a emergência de Bogart como um intérprete estabelecido em Hollywood: a
mediação dramática entre indiferença e vulnerabilidade. Nesse percurso,
tratei os estúdios como um sistema não isolado de produção industrial e
ressaltei a pertinência do gênero narrativo como perspectiva organizadora
da prática cinematográfica correspondente.
No entanto, uma vez que se tratava de uma arte comercial popular que
contava histórias a um público por meio de convenções narrativas reformuladas ao longo do tempo na própria relação com tal público, é necessário um
exame de tais convenções. Em outras palavras, analiso a seguir o que o his-
637
638
O BEIJO DE SPADE
toriador da arte Michael Baxandall denominou “estilo cognitivo do período”,
isto é, no caso, a cultura visual — oriunda da experiência social — que, a
despeito das distintas vivências entre produtores e consumidores de imagens,
permitia-lhes compartilhar histórias comuns (Baxandall 1988:38-40).
13
A melhor descrição jamais feita do estilo cognitivo hollywoodiano da era dos
estúdios há de equiparar-se à lição do executivo Monroe Stahr em The last
tycoon. Este romance inacabado e póstumo de F. Scott Fitzgerald (2001),
escrito a partir de sua experiência como roteirista em Hollywood, foi publicado em 1941, um ano após seu falecimento repentino ter interrompido a
redação, e mesmo ano de O falcão maltês.
A chegada de George Boxley ao escritório de Stahr precede o excerto.
Boxley, romancista inglês contratado para escrever roteiros em Hollywood,
quase nunca assiste a filmes. Ele está perturbado pelas dificuldades que encontra no trabalho, particularmente em relação aos diálogos, que considera
“artificiais” (Fitzgerald 2001:39). Stahr pede que esqueça os diálogos por
um momento; pergunta ao escritor se seu escritório possui um aquecedor
que se acende com fósforos, e Boxley, empertigado, diz que pensa que sim,
mas nunca o usa. Stahr prossegue:
“Imagine que você está em seu escritório. Você tem travado duelos ou escrito o
dia todo e está muito cansado para lutar ou escrever mais. Você está lá sentado
fitando — entorpecido, como nós todos ficamos às vezes. Uma bonita estenógrafa
que você já viu antes entra na sala e você a observa — de forma indolente. Ela
não vê você, apesar de estar muito próximo. Ela despe as luvas, abre sua bolsa
e a esvazia sobre uma mesa.”
Stahr levantou-se, meneando seu chaveiro sobre sua mesa.
“Ela tem vinte centavos e um níquel — e uma caixa de fósforos. Ela deixa o
níquel sobre a mesa, põe os vinte centavos de volta em sua bolsa e leva suas
luvas pretas ao aquecedor, abre-o e as coloca dentro. Há um fósforo na caixa e
ela começa a acendê-lo, ajoelhada ao aquecedor. Você percebe que há um vento
firme soprando da janela — mas aí então seu telefone toca. A garota atende, diz
alô — escuta — e diz deliberadamente ao telefone, ‘Eu nunca possuí um par de
luvas pretas em minha vida’. Ela desliga, ajoelha-se ao aquecedor outra vez, e
precisamente quando ela acende o fósforo, você olha ao redor muito repentinamente e vê que há outro homem no escritório, observando cada movimento
que a garota faz.”
O BEIJO DE SPADE
Stahr deteve-se. Pegou suas chaves e colocou-as em seu bolso.
“Continue”, disse Boxley, sorrindo. “O que acontece?”
“Eu não sei”, disse Stahr. “Eu estava apenas fazendo filmes”.
Boxley sentiu que estava sendo colocado em contrassenso.
“É apenas melodrama”, disse.
“Não necessariamente”, disse Stahr. “Em todo caso, ninguém se moveu violentamente ou falou diálogo barato ou teve absolutamente quaisquer expressões
faciais. Houve somente uma fala ruim, e um escritor como você poderia melhorá-la. Mas você estava interessado”.
“Para que era o níquel?”, perguntou Boxley, evasivo.
“Eu não sei”, disse Stahr. De repente, riu. “Ah, sim — o níquel era para o cinema.”
[...] Ele [Boxley] relaxou, inclinou-se para trás em sua cadeira e riu.
“Para que diabos você me paga?”, inquiriu. “Eu não entendo a maldita coisa.”
“Você entenderá”, disse Stahr arreganhando os dentes, “ou você não teria perguntado sobre o níquel” (Fitzgerald 2001:40-41).
O drama de Boxley consiste em, munido de palavras, enveredar-se por
um ofício visual: se um roteiro de cinema é feito de palavras, seu objetivo é
visual. A engenhosidade da lição de Stahr repousa em eleger um elemento
da vivência cotidiana de Boxley — o aquecedor em seu escritório, mesmo
que dele não faça uso — para, em sua vizinhança, construir uma narrativa
fundamentalmente visual: trata-se de ficção, mas é verossímil que ocorresse
ali mesmo, em seu local de trabalho. O efeito dessa didática é a aproximação
máxima entre a narrativa e Boxley que, entretido pela riqueza de detalhes (o
entorpecimento da rotina, a beleza da estenógrafa, seu comportamento misterioso) passa a fazer conjecturas para preencher as lacunas desse fragmento
de história: daí a questão sobre o níquel, do qual não se diz uma palavra, mas
o olhar da suposta câmera expõe como significativo para se compreender
a trama. Em suma, Stahr explica a Boxley — que, incoerente, não cultiva a
vivência do cinema, mas escreve para ele — o que é o cinema clássico.
14
A lógica narrativa do filme clássico consiste em apresentar personagens
individualizados por traços particulares bem delineados que compõem uma
identidade homogênea, confirmada na primeira aparição e cuja consistência
se mantém por repetição. Uma vez apresentados, os personagens são orientados para a busca de um objetivo, o que estabelece uma corrente linear de
639
640
O BEIJO DE SPADE
causas e efeitos, ações e reações que esculpe as expectativas do público na
forma de hipóteses a serem testadas (Bordwell 1985:13-18). Como a narrativa
clássica é fundamentalmente confiável, é possível, para o público, organizar
as hipóteses por probabilidade e, assim, reduzir a amplitude de alternativas
de ação, cujo sentido está voltado para o que irá ocorrer a seguir. Ao longo
desse eixo narrativo, o movimento é gerado contínua e sistematicamente pela
abertura de brechas logo preenchidas, sendo que nenhuma brecha é permanente (Bordwell 1985:40-41). Se o espectador é o detetive da narrativa clássica
hollywoodiana, é um detetive que, com um pouco de atenção, sempre resolve
seu caso; daí a convicção de Stahr de que Boxley, por estar atento ao níquel,
acabará por compreender a mecânica cinematográfica. “O filme hollywoodiano
não nos leva a conclusões inválidas [...]; na narrativa clássica, o corredor pode
ser sinuoso, mas nunca é desonesto” (Bordwell 1985:41).
O livro de Hammett é inteiramente compatível com essa forma narrativa.
Primeiro, a identidade de cada personagem: o cinismo pragmático de Spade;
as mentiras sedutoras de Brigid; a afetação delicada de Cairo; a obsessão
cavalheiresca de Gutman; a inabilidade de Wilmer como capanga. Segundo, o objetivo: ao indicar apenas o de Spade — empreender a investigação
para descobrir o assassino de seu sócio — o livro obriga o leitor a deduzir
progressivamente, através da linearidade de causas e efeitos construída
pelas ações dos personagens, o objeto obscuro em torno do qual todos gravitam. A busca pela relíquia não passou de um pretexto para estabelecer as
relações entre os personagens. O fato de o leitor acompanhar tais relações
ininterruptamente a partir da perspectiva de Spade indica que o objetivo
último de O falcão maltês é descrever o olhar do detetive. A perspicácia de
Huston residiu em ter notado a homologia poderosa entre o olhar do detetive mediado por palavras e o olhar do detetive mediado pela câmera, o que
supõe, em ambos os casos, o público como duplo — a consciência aguda da
representação clássica, que teria seu apogeu com Um corpo que cai e, de
uma forma geral, com o cinema de Alfred Hitchcock.10
A principal diferença entre o livro de Hammett e o filme de Huston
reside no rompimento — o único — que Huston opera no olhar de Spade.
Trata-se da única cena em todo o filme em que Spade não está presente, a
saber, a do assassinato do sócio, baleado enquanto trabalhava no caso de
Brigid, que se passava por senhorita Wonderly. Nota-se que o sócio surge
de chapéu e sobretudo, com as mãos no bolso e um leve sorriso, e parece
reconhecer seu algoz; seu sorriso se encerra ao ver, antes do espectador, o
revólver apontado em sua direção; ele é baleado e rola barranco abaixo. Ela
não está presente no livro porque rompe a continuidade do olhar de Spade
e, afinal, é inútil, pois a polícia colocará o protagonista (e o público) a par
O BEIJO DE SPADE
dos detalhes do crime. Tal rompimento não reforça as suspeitas que pairam
sobre Spade, pois o sorriso do sócio para o assassino misterioso não é o tipo
de sorriso que lançaria a um homem: seu algoz é uma mulher.
Em suma, pode-se dizer:
Como um detetive particular, o herói durão era por natureza um solitário isolado,
um vigoroso individualista, e um homem com seu próprio código pessoal de
honra e justiça. De fato, em seu passado obscuro, o detetive invariavelmente
havia resignado ou sido despedido de uma posição oficial de lei e ordem, e compartilha com o elemento criminal um profundo ressentimento das autoridades
legítimas. Neste sentido, ele tem mais em comum com o herói do western do
que com o gângster, o policial, ou o mais tradicional detetive no estilo Sherlock
Holmes. Como o westerner, a capacidade do detetive para a violência e o conhecimento das ruas aliavam-no ao elemento fora da lei, enquanto seu código
pessoal e idealismo o comprometiam à promessa da ordem social. E tal como
interpretado por Bogart, o detetive durão provou ser um tipo cinematográfico
ideal para o pré-guerra — um herói irreverente e relutante, um idealista amarrotado cujo exterior duro e cínico esconde um homem sensível, vulnerável e
fundamentalmente íntegro. E, de forma significativa, esse tipo cinematográfico
também provou ser prontamente adaptável para o contexto de guerra, como
Bogart demonstraria após Pearl Harbor (Schatz 1997:115-116).
Esta foi a parte que coube a Bogart — em sua estreitíssima margem de
manobra — executar; sua competência como ator advém do fato circunstancial de estar apto a oferecer, por meio da experiência profissional acumulada,
uma performance adequada aos elementos contingentes que escapavam
completamente de seu domínio. Fosse ele inábil, ou caso não estivesse
preparado para executar seu trabalho de acordo com tais circunstâncias, ou
ainda, fossem outros os elementos contingentes, então a história teria sido
outra e, talvez, jamais tivesse superado a categoria de promessa de estrela
cinematográfica que ocupava na passagem para a década de 1940. Havia,
enfim, no sistema de estúdios, um imenso desequilíbrio estrutural na relação
entre o reduzido espaço de negociação de Bogart e a vastidão de elementos
que intervieram, de forma direta e indireta, em sua carreira.
15
Ao tratar dos traços que caracterizaram as interpretações de Bogart — do início de sua carreira na Broadway até O falcão maltês — falei de tipo, imagem,
641
642
O BEIJO DE SPADE
figura; não falei de identidade, palavra capciosa e discordante do movimento
analítico processual privilegiado aqui. A historiografia do cinema norte-americano, por sua vez, distingue um termo interessante: persona cinematográfica
(screen persona). Considere-se o seguinte excerto que, apesar de longo, tem a
dupla vantagem de, por um lado, oferecer uma visão geral do período decisivo
da carreira de Bogart e justificar, em certa medida, minha escolha pelo ator,
que permite um recorte histórico bem delineado; por outro, mostrar bem o
que a historiografia entende por persona cinematográfica.
O sono eterno [1946] proveu um veículo adequado para levar Bogart além dos
anos de guerra, assim como O falcão maltês tinha adequadamente introduzido
tal período. De fato, havia uma simetria notável na carreira de Bogart no começo
dos anos 1940: seu retrato pré-guerra do detetive Sam Spade e seu pós-guerra
Philip Marlowe efetivamente colocaram entre parênteses a era de guerra, enquanto Bogart abria e fechava o próprio período de guerra com outros dois filmes
estranhamente simétricos, Casablanca [1942] e Uma aventura na Martinica
[1944]. Estes, por sua vez, colocaram entre parênteses vários filmes de combate
feitos em 1943, no meio da guerra. Aqui também há uma trajetória linear, um
claro desenvolvimento da persona cinematográfica de Bogart. O falcão maltês
e Casablanca estabeleceram firmemente a persona de Bogart justo quando
Cagney e Robinson deixaram a Warner, e eles também distinguiram Bogart do
outro astro masculino principal da Warner, Errol Flynn. Enquanto Flynn era
vigoroso e atlético, Bogart era contemplativo e um pouco sedentário. Flynn era
hipercinético; Bogart era essencialmente “frio”. Flynn cintilava beleza jovial
e transpirava sexualidade; Bogart era amarrotado e próximo da meia-idade.
(Bogart era, na verdade, dez anos mais velho que Flynn.) Flynn estava em movimento constante e ofegante; Bogart era uma figura em repouso, arqueado em
um casaco de trincheira com um cigarro pendente dos lábios. Bogart também
provou em Ação no Atlântico Norte [1943] e Saara [1943] ser mais adaptável ao
filme de guerra que Flynn, enquanto também poderia sustentar-se em papéis
mais românticos (Schatz 1997:221).11
Na comparação entre Bogart e Flynn, ator australiano da Warner que se
estabeleceu como herói de capa e espada, percebe-se que a ideia de persona
consiste em uma individualidade artística delineada pela performance na
tela — uma vez que é discriminada entre os filmes ao longo da carreira —
a partir da qual é descrita através de traços físicos e gestos corporais. A implicação é que os personagens dos dois atores não são intercambiáveis: Flynn
ficaria esquisito como detetive particular e Bogart seria impensável como Robin
Hood. A noção de persona artística, então, diferencia um intérprete de outro,
O BEIJO DE SPADE
ou seja, é um mecanismo de distinção não apenas artística, mas também, e
fundamentalmente, social, uma vez que estabelece uma posição para se alojar
na estrutura de produção cinematográfica, tal como esboçada acima.
Essa interpretação evoca duas noções bem conhecidas da antropologia
que remetem a Marcel Mauss: a de pessoa e a de técnicas corporais (Mauss
2003b; 2003c). Em relação à noção de pessoa, é preciso lembrar, por um
lado, que a conclusão do autor ressalta a incompletude do processo, isto é,
tal noção persiste em se transformar; por outro, que o sentido de artifício do
termo não é explorado na mesma medida em que o de “Eu”. Ora, ao tomar
a imagem de Bogart, produto do artifício mecânico (câmera) e performático
(corpo), devo levar em conta que há outro Bogart, ou seja, o ator, acessível
através dos depoimentos biográficos e da historiografia do cinema, mas que
apenas o primeiro é diretamente observável por meio dos filmes.
Se a noção de pessoa varia ao longo do tempo e entre as sociedades, ela é —
ao menos na acepção com que Mauss fez a história social — uma abstração
êmica; já as técnicas corporais são um conceito forjado pelo autor a partir de
observações concretas. Ora, estas últimas é que são diretamente observáveis
nos filmes: através das performances do intérprete, isto é, dos usos dramáticos
que Bogart faz de seu corpo ao longo do tempo é possível descrever sua persona
cinematográfica. Tal descrição será sempre um esforço comparativo, uma vez
que a arte performática hollywoodiana pressupõe sempre uma relação — seja
entre os intérpretes de um filme, como na descrição que abre este ensaio, seja
entre intérpretes contemporâneos, como no excerto que contrapõe Bogart e
Flynn, ou entre distintas performances do mesmo intérprete.
Qual a relação entre essas duas personas — entre Spade e Bogart?
Estaria em cena, na tela, a representação de uma noção de “Eu” — senão nos
tipos, ao menos nos personagens com espessura dramática, como Spade —
que, oriunda da performance, é distinta, mas inseparável, da persona cinematográfica de seu intérprete? Até que ponto tais personas se confundem,
se é que podem efetivamente ser diferenciadas, mesmo analiticamente?
Qual é, afinal, a forma que a ideia de persona, em seu duplo significado
(representação do “Eu” e artifício cinematográfico), assume na Hollywood
da era dos estúdios e, em particular, no caso de Bogart?
16
Heloisa Pontes (2004) — ao enfrentar a equação entre nome, gênero, corpo
e convenções, através de um fenômeno singular, a saber, o elevado prestígio
desfrutado pelas atrizes do jovem teatro moderno brasileiro — delineou o que
643
644
O BEIJO DE SPADE
chamou de mecanismo social e cultural de burla teatral: o acordo tácito entre
profissionais do teatro e público que permite aos intérpretes, em benefício
do espetáculo, contornarem constrangimentos diversos: físicos, sociais, de
gênero. A eficácia do mecanismo, próprio do teatro, repousa na corporificação de um intérprete capaz de produzir uma performance simbolicamente
persuasiva (Pontes 2004:231-238).
O caso exemplar é a atriz Cacilda Becker, dona de uma “flama interior”,
de acordo com o crítico Décio de Almeida Prado (Pontes 2004:245). Somente
através do mecanismo de burla é que se compreende como ela pôde transitar
por personagens tão heteróclitos como a rainha Mary Stuart e o menino PegaFogo: em seu trabalho de interpretação, a atriz possuía a sagacidade de fundir
recursos de verossimilhança — respectivamente, o traje real e o esparadrapo
que lhe diminuía os seios — e sua própria experiência pessoal, o que lhe
conferia uma eficácia dramática capaz de sustentar a negociação tácita que
está na base do mecanismo (Pontes 2004:258). O poder deste é equivalente
à habilidade que demanda. O fato de que Cacilda estava, em certa medida,
deslocada dos padrões estéticos do pós-guerra é particularmente relevante:
a beleza é uma marca difícil de contornar nas artes performáticas e tende
a sabotar o esforço de burla teatral (Pontes 2004:254) — a beleza permitiria
a Cacilda incorporar a rainha, mas seria um estorvo na interpretação do
menino. Vinte anos depois, ela comentou sobre sua incursão infrutífera ao
cinema nos anos 1940: “E fui considerada, na época, pessoa não feita para
o cinema, isto é, antifotogênica, de ossos expostos etc.” (Pontes 2004:250).
O cinema não possui o mecanismo de burla porque o intérprete e seu
público, apartados, não podem estabelecer o acordo: os constrangimentos —
principalmente as marcas corporais — são, em grande medida, incontornáveis para a câmera que medeia a relação. Assim, o intérprete cinematográfico é selecionado menos pela competência do que pelas marcas de sua
aparência — processo fisiognomônico inverso ao teatro — e a repetição de
sua performance não faz outra coisa senão reforçar sistematicamente tal
aparência, de forma que o esforço de mudança geralmente é vão e refém da
convergência de um grande número de elementos contingentes. Em suma,
o cinema concentra uma especialidade imagética; o teatro amplia uma diversidade performática. Pontes indica que, quando Cacilda morreu de modo
prematuro em 1969, Carlos Drummond de Andrade escreveu: “Morreram
Cacilda Becker”. Não é possível dizer o mesmo de Bogart: o ator faleceu em
1957, mas sua persona cinematográfica — a única que possuía — continua
viva por meio da reprodutibilidade técnica.
Quando Walter Benjamin, em um célebre ensaio, comparou o teatro e
o cinema, sublinhou do segundo uma característica sui generis e de grande
O BEIJO DE SPADE
importância do ponto de vista social: o intérprete representa diante da câmera
e de um “grêmio de especialistas” que podem intervir a qualquer momento;
tal procedimento transforma a interpretação em uma série de testes a serem
aprovados e destitui o ator da unidade da representação, pois fica sujeito a um
cronograma de filmagem fracionado e previamente estabelecido (Benjamin
1994). Em outras palavras, ao intérprete cinematográfico é interditada a entrada no interior de um papel, como é exigido de seu correspondente teatral que
encarna de forma ininterrupta, do começo ao fim, a existência completa de um
personagem (Benjamin 1994:181). No cinema, o ator e a atriz percorrem uma
rotina de descontinuidade performática cuja única continuidade é o fato de
que estão, todos os dias, a executar sob contrato a cena exigida. É assim que
Benjamin evoca Luigi Pirandello: “O ator de cinema sente-se exilado. Exilado
não somente do palco, mas de si mesmo” (Benjamin 1994:179).
Da perspectiva de Bogart em O falcão maltês, vê-se que: após uma
enorme série de personagens insípidos, obteve certo sucesso, mas o estúdio
continuou a negligenciá-lo; protestou e foi suspenso por quase seis meses; no
retorno, mostrou interesse pelo papel de Spade; obteve-o porque outro ator
o descartou; dirigiu-se ao estúdio de acordo com o cronograma de Huston;
executou seus testes performáticos até obter aprovação — o que, algumas
vezes, como na cena do beijo, podia demorar um pouco; concluiu a parte que
lhe cabia no filme e foi trabalhar em outro; meses depois, o filme era lançado
no cinema; nele, Spade, afinal, apresentou-se por inteiro na sequência completa da montagem, manipulação de outrem de imagens que contêm, entre
outros, Bogart; obteve, enfim, uma reação de público e crítica. Ora, o controle
de Bogart nesse processo todo é mínimo e aquele seu outro que vê na tela lhe
é estranho: da descontinuidade da produção advém a descontinuidade entre
Bogart e Spade — mas é através deste, primeiro personagem de uma série,
que a persona cinematográfica daquele começa a ser construída.
De um lado, conforme a persona se delineia, Bogart passa a obter maior
controle sobre a produção de seus filmes, pois sedimenta uma posição; de
outro, torna-se cada vez mais dependente de tal persona, pois ela é que
medeia sua posição no estúdio. Como Spade fez sucesso, Bogart viu-se obrigado a repeti-lo com uma pequena variação e a compor outra interpretação
descontínua que gerou outro personagem completo apenas como imagem
na tela do cinema. A variação diferencia um personagem do outro, mas ela
é sempre mínima para forjar a unidade da persona. Em resumo, através de
um trabalho performático fragmentado e coletivo, Bogart compôs Spade,
personagem que medeia com eficácia a sua posição no estúdio por meio
do esboço de uma persona cinematográfica que o distingue artística e socialmente — e do qual, a partir de então, o ator é dependente. A persona,
645
646
O BEIJO DE SPADE
assim, é o único elemento presente nos dois mundos — dentro e fora da tela,
em Spade e em Bogart — e, portanto, só é apreensível na relação entre tais
mundos, ou seja, na mediação imagética, sem reduzir-se a uma imagem,
entre relações sociais: em Bogart, através de Spade, e vice-versa.
“O ator cinematográfico típico só representa a si mesmo”, afirmou Benjamin (1994:182, grifos do autor). Esse “si mesmo”, entretanto, já não é mais
o próprio ator: é sua persona cinematográfica, produto da representação coletiva do qual está, a um só tempo, radicalmente separado por uma série de
intermediários e inseparavelmente ligado pelas imagens que compartilham.
Em suma, a persona cinematográfica — expressão das relações sociais nas
quais foi elaborada — é dupla do ator.
17
A cena escolhida que abre este artigo serve de fio condutor — descritivo,
narrativo, explicativo. É necessário ter em vista o célebre comentário de
Marcel Mauss de que “é preciso observar o dado” (2003a:311). Ora, o dado
não é Hollywood, mas seus filmes; não é Bogart nem sua persona, mas sua
imagem. Se as imagens são o acesso mais pertinente a um grupo social
voltado completamente à cultura visual, é necessário, contudo, atravessar
esse labirinto de imagens com o intuito de restituí-las às condições e às
experiências sociais que as possibilitaram.
O historiador da arte Michael Baxandall (1988), ao tratar da pintura
italiana dos Quatrocentos, explicou: a partir dos fatos sociais, desenvolvemse habilidades e hábitos visuais particulares que são identificáveis no estilo
de um pintor, ou seja, a pintura quatrocentista é um depósito de relações
sociais (entre pintor e público), econômicas (entre pintor e comanditário)
e culturais (entre a habilidade do pintor e a experiência visual do público)
mediadas por convenções pictóricas; o movimento, portanto, é de mão dupla:
se as pinturas são impensáveis afastadas da sociedade em que vieram à tona,
nossa percepção da mesma sociedade é aprimorada através das pinturas.
Pierre Bourdieu, em breve exame do livro de Baxandall — que denomina ora
de uma “sociologia da percepção artística”, ora de uma “etnologia histórica”
(Bourdieu 2005:348-356) — resumiu o assunto na relação entre “um habitus histórico e o mundo histórico que o povoa, e que ele habita” (Bourdieu
2005:356, grifos do autor).
Assim, tomar a dimensão pictórica — ou imagética — como posto de
observação é estabelecer-se na interseção estratégica de todas essas forças.
Entretanto, o que era experiência prática incorporada para as pessoas que
O BEIJO DE SPADE
frequentavam o universo social no qual se alojava a pintura quatrocentista,
é reconstituição analítica fragmentada da respectiva experiência social para
o pesquisador. Nesta imensa distância histórica, reside o perigo da “semicompreensão ilusória”, como diz Bourdieu; a implicação, aponta Baxandall,
é a dificuldade, a impossibilidade mesmo, de reconstruir por completo uma
experiência social, daí o valor do testemunho pictórico (Baxandall 1988:152153). Tal desafio analítico toma forma na distância incomensurável entre,
de um lado, visualizar e, de outro, descrever. A descrição é sempre uma
representação do que se pensa ter visto em um quadro e, por isso, encerra
uma demonstração de caráter ostensivo: é inseparável do próprio quadro,
sob pena de se tornar vaga (Baxandall 2006).
Neste argumento há um perspicaz discernimento dos limites da representação e do conhecimento histórico. O raciocínio de Baxandall é extensível
a esta pesquisa. Neste caso, meu desafio se localiza na margem oposta à
que se encontra Boxley, o roteirista transtornado de Fitzgerald, pois entre
as duas abre-se a distância intransponível entre imagens e palavras: para
Boxley, trata-se de produzir palavras que se tornarão imagem; para mim,
de expressar em palavras o que vi nas imagens. Se o meu olhar e as minhas
palavras são onipresentes nestas linhas, precisam estar explícitos; é preciso
considerar a geometria das distâncias implícita nessa investigação e, para
tanto, é necessário fazer uma distinção.
18
Quando, em 1934, o romance policial O falcão maltês foi incluído na série
Modern library, Hammett escreveu uma breve introdução na qual relata
como criou os personagens a partir de sua experiência como detetive. Por
último, ao chegar em Spade, escreve:
Spade não teve original. Ele é um homem de sonho no sentido de que é o que
a maioria dos detetives particulares com quem trabalhei gostaria de ter sido
e o que apenas alguns em seus momentos mais empertigados pensaram se
aproximar. Pois o detetive particular não quer — ou não queria, dez anos atrás
quando era meu colega — ser um erudito esclarecedor de charadas ao modo
de Sherlock Holmes; ele quer ser um cara duro e astuto, capaz de tomar conta
de si mesmo em qualquer situação, capaz de obter o melhor de qualquer um
com quem entre em contato, seja criminoso, espectador inocente ou cliente
(Hammett 1999:965).
647
648
O BEIJO DE SPADE
Neste excerto valioso, Spade é descrito como um modelo de masculinidade em função de sua maneira de conhecer o mundo, de relacionar-se com
as pessoas; por contraposição, localiza Sherlock Holmes como outro modelo
de masculinidade e seu respectivo método cognitivo — ambos podem fazer
uso de pistas, mas o que os caracteriza são métodos distintos: o primeiro é
mundano, o segundo, cerebral. A distância que os separa é a exata distância
que afasta esta pesquisa de Spade (e de Bogart), pois meu método não é outro
senão o de Holmes; mais precisamente, da maneira como foi apropriado por
Carlo Ginzburg para compor o que denominou paradigma indiciário sob a
máxima detetivesca: “Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas
— sinais, indícios — que permitem decifrá-la” (Ginzburg 2002:177), um
método histórico pautado em pistas infinitesimais que servem de fio condutor
para uma investigação exposta em forma de narrativa. Se este é um jeito de
proceder, persiste a resignação lúcida e melancólica de Baxandall sobre a
impossibilidade de se atingir a realidade.
O detetive, enfim, compartilha com o analista do produto cultural — antropólogo, historiador, sociólogo — o traço mais peculiar de seu ofício: ambos
só tomam contato com seus respectivos casos, na maioria das vezes, após os
eventos terem ocorrido, de modo que lhes restam apenas algumas pistas.
Todo o esforço analítico se resume, assim, em reconstituir o caso através dos
fatos, e estes, por meio das pistas. Trata-se de um método empirista, isto é,
de uma análise a posteriori que busca explicar as causas a partir dos efeitos,
de trás para frente, como um rolo de filme ao contrário, no qual, como se
sabe, o olhar não é inocente.
19
Parti de uma pista oriunda do âmbito de gênero, localizada em um produto
cultural hollywoodiano, para indicar a descontinuidade entre tal produto e
o mundo social que o elaborou. A superação dessa distância — que corresponde àquela entre o beijo de Spade e a cicatriz de Bogart — exigiu não
apenas o enfrentamento da cultura visual, dimensão simbólica que condiciona a geometria de olhares, mas também o desafio de descrever como essa
cultura é impensável apartada de uma experiência social localizada. A pista
não é evidente; depende de as minhas palavras estabelecerem a mediação.
Um jogo duplo, então, toma forma entre as dimensões cinematográfica e
etnográfico-histórica, a saber, a relação entre um modelo cognitivo e uma
forma narrativa e descritiva. Portanto, estabelecido esse nível referencial
comum, torna-se possível uma comparação precisa entre estes dois modelos
O BEIJO DE SPADE
de conhecimento. Assim, ao longo desse percurso, esbocei o processo inicial de elaboração da persona de Bogart, poder simbólico que lhe permitiu
estabelecer-se na indústria cinematográfica, e cuja eficácia dependia da
marca de gênero que se alimentava da tensão dramática entre indiferença
aparente e vulnerabilidade súbita.
Recebido em 09 de março de 2011
Aprovado em 11 de novembro de 2011
Luís Felipe Sobral é doutorando em antropologia social pela Unicamp. E-mail:
<[email protected]>
Notas
* Versão resumida do primeiro capítulo de Bogart duplo de Bogart. Pistas da
persona cinematográfica de Humphrey Bogart, 1941-46, dissertação em antropologia
social orientada por Heloisa Pontes, financiada pelo CNPq e defendida em abril de
2010, na Unicamp. Agradeço à Heloisa Buarque de Almeida e Silvana Rubino, que
compuseram a banca, pelas críticas e sugestões. Esta versão também foi apresentada no 34º Encontro Anual da Anpocs, em outubro de 2010, no simpósio temático
“Imagem e suas leituras nas ciências sociais”, organizado por Ana Paula Simioni e
Marco Antonio Gonçalves; agradeço a eles e a Scott Head pelo diálogo.
O falcão maltês (The Maltese Falcon, dirigido por J. Huston, produzido por H.
B. Wallis e H. Blanke, Warner Bros., 1941).
1
Antes de ser ator, Bogart foi office-boy, dirigiu um pequeno filme e trabalhou
como gerente de produção (Duchovnay 1999:6-7).
2
3
Salvo indicação contrária, todas as traduções são minhas.
Ver, por exemplo, a revolta de James Cagney – que havia alcançado o sucesso
em 1931 com Inimigo público, filme pioneiro do gênero gângster – contra a Warner;
tal disputa envolvia questões salariais e a querela sobre a autoria de sua imagem
artística (reivindicada pelo produtor Darryl Zanuck) que, em grande medida, levou
Cagney a tentar se afastar da figura do delinquente urbano que o estabelecera em
Hollywood (Sklar 1992:35-44). Ou ainda, a longa luta de Bette Davis para se livrar,
na Warner, “da pecha de ‘James Cagney de saias’ e dos thrillers urbanos, passando
4
649
650
O BEIJO DE SPADE
a estrelar [...] alguns dos maiores melodramas da história de Hollywood”, processo
dificílimo, “uma vez que a transformação de sua persona cinematográfica contrariava
o tradicional ethos masculino do estúdio — ethos que predominava tanto no conteúdo
dos filmes quanto entre os executivos da Warner” (Schatz 1991:234-235).
5
Uma estatística de 1939 indica que apenas 6% dos atores e das atrizes hollywoodianos recebiam pelo menos 2 mil dólares por semana; 79,9% recebiam menos de 1000
dólares semanais e 20,1%, entre 1000 e 2 mil dólares semanais (Rosten 1941:344).
No romance de Hammett, essa tensão é menos intensa: Spade coloca-se em
posições vulneráveis, tanto física quanto emocionalmente, mas sua postura é muito
mais dura. Veja o equivalente da cena descrita no início deste ensaio em Hammett
(2001:78-79). A duplicidade performática de Bogart esboçou-se em O último refúgio,
de 1940, porém seu personagem ainda era fundamentalmente um gângster.
6
7
As descrições estão em Hammett (2001:8, 58-59, 71, 141).
A Warner comprara os direitos do livro de Hammett no ano de sua publicação, e
produzira duas versões sem grande sucesso (The Maltese Falcon, de 1931; e Satan Met
a Lady, de 1936) e um terceiro roteiro inacabado (Sperber & Lax 1997:148-149).
8
9
Com seu orçamento modesto de 380 mil dólares, O falcão maltês não era
um filme de prestígio, isto é, uma superprodução nos moldes de ...E o vento levou,
por exemplo; todavia, também não era um filme B, realizado com baixo orçamento
(Schatz 1997:115). Na verdade, consistia em um “veículo de estrela” (star-vehicle),
principal produto dos estúdios cujo objetivo era veicular a imagem de um artista com
estatuto de estrela, ou com potencial para se tornar uma, como era o caso de Bogart
(Schatz 1997:41-43).
10
“Kate Cameron, do Daily News, considerava a direção de Huston [em O falcão
maltês] ‘comparável ao melhor de Hitchcock’ [...]” (Schatz 1991:317). Remeto ao
ensaio em que Ismail Xavier (2003:31-57) mostra como, em Um corpo que cai, filme
de Hitchcock de 1958, o público acompanha cada passo do detetive protagonista,
contratado para seguir o misterioso percurso urbano de uma mulher; ao longo dessa
narrativa, verifica-se uma geometria de olhares que impõe uma distância entre a
mulher e o detetive (mediada pela perseguição), e entre este e o público (mediada
pela câmera). O subsequente rompimento de tal geometria no filme expõe não apenas
o processo cognitivo cinematográfico e a fragilidade do método de conhecimento
detetivesco, mas também a homologia entre eles. Ver, ainda, que Cidadão Kane, de
1941, um dos principais filmes produzidos pela Hollywood clássica, pode ser lido
como uma história de detetive: a investigação que busca entender o significado de
Rosebud (derradeira palavra de Kane que faz as vezes de pista) acaba por traçar um
retrato do magnata (Schatz 1981:120-122).
Trato desses outros filmes, assim como do restante da trajetória social de Bogart
pertinente à elaboração de sua persona cinematográfica, em Sobral (2010:71-121).
11
O BEIJO DE SPADE
Referências bibliográficas
BAXANDALL, Michael. 1988. Painting
MAUSS, Marcel. 2003a. “Ensaio sobre a
and experience in fifteenth-century
Italy. A primer in the social history of
pictorial style. 2a. ed. Oxford: Oxford
University Press.
___. 2006. Padrões de intenção. A explicação histórica dos quadros. São Paulo:
Companhia das Letras.
BENJAMIN, Walter. 1994a. “A obra de arte
na era de sua reprodutibilidade técnica. Primeira versão”. In: Magia e
técnica, arte e política. Ensaios sobre
literatura e história da cultura. São
Paulo: Brasiliense. pp. 165-196.
BORDWELL, David. 1985. “The classical hollywood style, 1917-60”. In: D. Bordwell,
J. Staiger & K. Thompson (orgs.), The
classical hollywood cinema. Film style &
mode of production to 1960. New York:
Columbia University Press. pp. 1-84.
BOURDIEU, Pierre. 2005. As regras da arte.
Gênese e estrutura do campo literário.
São Paulo: Companhia das Letras.
DOUIN, Jean-Luc. 1998. Dictionnaire de
la censure au cinéma. Paris: Presses
Universitaires de France.
DUCHOVNAY, Gerald. 1999. Humphrey
Bogart. A bio-bibliography. Westport,
Connecticut: Greenwood Press.
FITZGERALD, F. Scott. 2001. The last tycoon. London: Penguin.
FRIEDRICH, Otto. 1988. A cidade das
redes. Hollywood nos anos 40. São
Paulo: Companhia das Letras.
GINZBURG, Carlo. 2002. “Sinais. Raízes
de um paradigma indiciário”. In:
Mitos, emblemas, sinais. Morfologia
e história. São Paulo: Companhia das
Letras. pp. 143-179.
HAMMETT, Dashiell. 1999. Complete novels.
New York: The Library of America.
___. 2001. O falcão maltês. São Paulo:
Companhia das Letras.
dádiva. Razão e forma da troca nas
sociedades primitivas”. In: Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac
Naify. pp. 183-314.
___. 2003b. “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de ‘Eu’”.
In: Sociologia e antropologia. São
Paulo: Cosac Naify. pp. 367-397.
___. 2003c. “As técnicas do corpo”. In:
Sociologia e antropologia. São Paulo:
Cosac Naify. pp. 399-422.
PONTES, Heloisa. 2004. “A burla do gênero. Cacilda Becker, a Mary Stuart de
Pirassununga”. Tempo Social, 16(1):
232-262.
ROSTEN, Leo C. 1941. Hollywood. The
movie colony, the movie makers. Nova
York: Harcourt, Brace and Company.
SCHATZ, Thomas. 1981. Hollywood genres.
Formulas, filmmaking, and the studio
system. New York: McGraw-Hill.
___. 1991. O gênio do sistema. A era dos
estúdios em Hollywood. São Paulo:
Companhia das Letras.
___. 1997. Boom and bust. American
cinema in the 1940s. Berkeley: University of California Press.
SKLAR, Robert. 1992. City boys. Cagney,
Bogart, Garfield. Princeton: Princeton
University Press.
SOBRAL, Luís Felipe. 2010. Bogart duplo
de Bogart. Pistas da persona cinematográfica de Humphrey Bogart,
1941-46. Dissertação de Mestrado,
Unicamp, Campinas, São Paulo.
SPERBER, Ann M. & LAX, Eric. 1997. Bogart. New York: William Morrow.
XAVIER, Ismail. 2003. “Cinema: revelação
e engano”. In: O olhar e a cena. Melodrama, Hollywood, Cinema Novo,
Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac
Naify. pp. 31-57.
651
652
O BEIJO DE SPADE
Resumo
Abstract
Este artigo descreve a primeira elaboração da persona cinematográfica do ator
norte-americano Humphrey Bogart, em
O falcão maltês, de 1941. Argumento que
tal noção de pessoa hollywoodiana produz a mediação entre a imagem do artista
e sua trajetória social: ela é uma espécie
de poder simbólico capaz de estabelecer o artista na estrutura de produção
cinematográfica. Assim, a partir de uma
cena de O falcão maltês, relaciono os dois
eixos analíticos deste argumento: de um
lado, a marca de gênero que caracteriza
a persona de Bogart entre a indiferença
aparente e a vulnerabilidade súbita; de
outro, a cultura visual – impensável apartada de uma experiência social localizada –
dimensão simbólica que condiciona a
geometria de olhares (público, câmera,
elenco). Minha narrativa percorre uma
série de pistas oriundas de fontes diversas (filmes, literatura, biografias, historiografia) e compartilha com o cinema
clássico hollywoodiano seu traço mais
característico: a forma de conhecimento
detetivesca.
Palavras-chave Humphrey Bogart (18991957), Hollywood, Gênero, Noção de
pessoa.
This article is an initial elaboration of
the screen persona of the American actor
Humphrey Bogart at the film The Maltese
Falcon of 1941. I argue that the notion of
the Hollywoodian person produces the
mediation between the image of the artist
and his/her social trajectory. It is a kind of
symbolic power, capable of establishing
the artist within the structure of cinematographic production. In this manner, I use
a scene from the The Maltese Falcon to
relate the two analytical axes of this argument: on the one hand, the sign of gender
that characterizes Bogart’s persona, alternating between apparent indifference
and sudden vulnerability; on the other, the
visual culture – unthinkable as separated
from a local social experience – a symbolic
dimension that constrains the geometry of
the eyes (audience, camera, cast). My narrative searches through a series of clues
collected from various sources (films,
literature, biographies, historiography),
sharing with the Hollywoodian classic
its most characteristic trait: the detective
mode of knowledge.
Key words Humphrey Bogart (1899-1957),
Hollywood, Gender, Notion of person.
MANA 17(3): 653-673, 2011
RESENHAS
ARAÚJO, Íris Morais. 2010. Militão Augusto
de Azevedo. Fotografia, história e antropologia. Prefácio de Lilia Moritz Schwarcz.
São Paulo: Alameda. 268pp.
Bernardo Borges Buarque de Hollanda
CPDOC/FGV
Os últimos anos têm assistido, em âmbito
editorial, a um expressivo número de
livros consagrados à fotografia. Expostas
em galerias e em centros de visitação do
Rio de Janeiro e São Paulo, as fotos são
oferecidas também nas vitrines e nas
estantes das livrarias, com o destaque
característico de luxuosas edições de
arte. Em capas duras, formatos amplos
e papel especial, convidam o passante/
leitor à fruição de imagens que parecem
conter um duplo valor imanente: artístico
e histórico.
Os livros vêm sendo publicados graças
à ação de editores, instituições e colecionadores que, em movimento homólogo ao
empreendido nos domínios da pintura,
procuram organizar e documentar o pas­
sado nacional, valendo-se das especificidades da fonte imagética. Tais agentes
oferecem as fotografias ao conhecimento
do grande público, sob a forma de um
produto comercial, estilizado e reconfigurado para padrões de consumo. Com tal
finalidade, as imagens são apresentadas
por textos de críticos abalizados, que não
descuram de introduções e contextualizações esclarecedoras.
Em parte significativa desses volumes,
o interesse pela organização e pela documentação tem por foco central o século
XIX, centúria marcada pela criação de
inúmeros inventos técnico-científicos,
dentre eles o próprio daguerreótipo, e
pela importação dos primeiros aparelhos
fotográficos para o Brasil. Na segunda
metade dos Oitocentos, ganham relevo, nas lentes de Marc Ferrez e outros
pioneiros, a paisagem e a população
da cidade do Rio de Janeiro, capital
imperial-republicana, palco da transição
político-institucional brasileira.
Embora se valha de consultas ao tipo
de obra acima aludido, o trabalho acadêmico de Íris Morais Araújo, fruto de uma
dissertação de mestrado em Antropologia
Social na Universidade de São Paulo
(USP), mostra-se oportuno porquanto
se situa nos antípodas do processo de
estilização e de estetização da fotografia.
O exame do período histórico, e do olhar
de um fotógrafo incorporado ao panteão
do métier – apesar de situado na capital
da então província de São Paulo – é feito
por Íris Araújo mediante o cotejo de
outros materiais documentais, decisivos
para a reconsideração das fotos: cartas,
legendas, manuscritos, álbuns, índices,
coleções, entre outros.
A iconografia é menos um objeto
de contemplação e mais um meio de
654
resenhas
confrontação com outros documentos.
A foto é reinscrita em uma periodização
mais cerrada com o tempo assinalado e
o método opera um “cruzamento analítico” das fontes primárias. A dimensão
técnica e a materialidade físico-química
do artefato fotográfico permitem a decomposição de suas partes constitutivas,
seja em forma, seja em conteúdo. Lado
a lado com a operação metodológica, o
material decomposto possibilita ainda
situar a problemática do livro no bojo do
debate historiográfico contemporâneo
sobre os paradoxos da modernização no
Brasil fin-de-siècle.
Para tanto, a autora mobiliza interlocutores como Lilia Moritz Schwarcz, sua
orientadora de dissertação, José Murilo
de Carvalho, Nicolau Sevcenko e Richard
Morse. Além destes, embasa-se em inúmeras pesquisas uspianas em nível de
pós-graduação – nas áreas de arquitetura/
urbanismo, história e antropologia – que
tratam do tema, do período e do autor,
com destaque para três autoras: Vânia
Carneiro de Carvalho, Solange Ferraz
de Lima e Fraya Frehse. Do mesmo
modo, são mapeados os ensaios canônicos sobre fotografia, de Walter Benjamin
a Roland Barthes, e expõem-se o debate
e a fortuna crítica acerca do fotógrafo
em questão.
A interrogação primordial do livro é
a seguinte: quem era o personagem em
destaque e por que, apesar de “pouco
exemplar”, dada a excepcionalidade da
condição de sua atividade na época, foi
um intérprete original das mudanças
político-sociais experienciadas em fins
do século XIX?
Augusto Militão de Azevedo (18371905) foi um profissional da fotografia
que atuou nos estúdios e nas ruas de São
Paulo durante um intervalo de 25 anos,
tempo em que a cidade contava menos de
50 mil habitantes. Ator de teatro no Rio de
Janeiro, por razões obscuras radicou-se
na capital da Província e converteu-se
ao comércio de fotos a partir da década
de 1860. Seus cliques miraram as vistas
panorâmicas da capital provincial e os
retratos dos rostos dos seus moradores.
Dentre notórios e anônimos, chegou a
revelar 12 mil fotografias.
Eis a razão de ser da dissertação de
Araújo: atraída pela temática do progresso, da aceleração e da transformação urbana, encontrou em Militão um
personagem até certo ponto descentrado
e estranho. Dono de um utensílio poderoso, meio e expressão do maravilhoso
mundo nascente, Militão utilizou-se da
camera obscura para revelar uma espécie
de “progresso às avessas”. Observador
controvertido, crítico da realidade nacional, contestou os paladinos da transição
automática rumo à civilização e posicionou-se ceticamente em face dos arautos
da República.
A questão vai ser fisgada num livro
sugestivamente intitulado Álbum comparativo da cidade de São Paulo (18621887). Nele é retratado, por meio de 60
imagens e 18 pares de comparação, um
conjunto de habitações reformadas, casas
comerciais, chácaras, edifícios públicos,
bondes, cemitérios, estradas de ferro,
quiosques, tílburis, carroças, tomadas
panorâmicas e ruas centrais da cidade.
O propósito do álbum, revelado em
cartas escritas a amigos anos mais tarde,
era ser a despedida do personagem da
sua profissão. As missivas revelavam a
pretensão de deixar um legado, fecho de
um tempo iniciado em 1862, quando o
fotógrafo contava 25 anos de idade. Tal
empreendimento tinha a ambição de se
tornar o grand finale de uma carreira, a
obra-prima, conforme testemunha o fotógrafo, ao evocar Verdi e sua composição
derradeira, Otelo.
A periodização da obra segue dois
marcos temporais precisos. Estes orientam o olhar fotográfico em retrospectiva e
resenhas
projetam o caráter sui generis da inédita
comparação. Por um lado, captura-se a
mudança da paisagem da cidade através
da chegada do comércio de luxo, dos
meios de transporte elétricos, do crescimento populacional, do espaçamento
das calçadas, dos trilhos eletrificados,
dos estilos arquitetônicos, entre outros
motivos flagrados aqui e ali. Por outro
lado, nas mesmas fotos, evidenciam-se
pessoas atadas a um tempo lento e a um
modo de vida, por assim dizer, provincianamente rural.
A visão de Militão é captada de perto
e de longe pela autora, atenta aos detalhes da angulação, às pistas contidas
nas legendas, às minúcias de posicionamento do fotógrafo e às interpolações de
sujeito-objeto nos panoramas a que se
propõe registrar.
Do ponto de vista historiográfico, inte­
ressa pensar como o fotógrafo distingue
um “antes” e um “depois”, um “ontem”
e um “hoje” para a cidade. A baliza
temporal se afigura tão arbitrária quanto
idiossincrática, pois nenhuma das duas
datas citadas no título emblematiza a
priori acontecimentos cruciais na passagem de uma ordem tradicional para
outra, moderna. A São Paulo antiga e a
São Paulo moderna são assim definidas
pelo próprio fotógrafo, segundo o critério
estabelecido no ano de 1887, véspera da
Abolição e antevéspera da República.
Embora sejam registradas mudanças
de costumes no hiato de um quarto de
século, a comparação entre os dois anos
acentua menos rupturas e mais continuidades no Brasil “monárquico, rural
e escravocrata”, que absorve da Europa
as fórmulas científico-ideológicas de sua
redenção.
Em consonância com a historiografia
acima citada, Araújo põe em xeque a suposição de um sentido retilíneo e límpido
para a história, ao postular as interpenetrações do “passado” no “presente”
das fotografias comparadas por Militão.
A decifração de tais processos inacabados
de transformação histórica só será possível, para a autora, graças ao levantamento
de centenas de cartas escritas pelo autor
entre 1883 e 1902, localizadas nos fundos
da Coleção Militão Augusto de Azevedo e
depositadas no Museu Paulista/USP.
O primeiro dos cinco capítulos principais do livro trata justamente de aspectos
relacionados ao destino e à conservação
do corpus documental do fotógrafo. Intitulado “O legado de Militão e seu processo
de musealização”, o capítulo recupera o
“itinerário tortuoso” do material fotográfico. O objetivo desta parte inicial é evidenciar a construção do estatuto artístico-histórico da fotografia, por meio da descrição
da incorporação político-institucional do
acervo daquele fotógrafo.
A apropriação do legado de Militão
assistiu a uma série de etapas e de agentes que variaram ao longo do século XX.
Do acervo textual e imagético disperso,
posto que comercializado em vida, parte
foi herdada pela família. Outra parte
considerável foi comprada por empresas, dentre elas a canadense São Paulo
Tramway, Light & Power Company, responsável pela implantação dos bondes
elétricos na cidade durante as primeiras
décadas do século XX.
Além de ter interessado ao prefeito
Washington Luís durante a Primeira
Guerra, as fotografias de Militão foram
depois estrategicamente utilizadas por
ocasião das celebrações do IV Centenário
da cidade em 1954, quando as fotos do
álbum apareceram reproduzidas sob a
forma de cartões-postais, a exibir com orgulho a emergente metrópole moderna.
Em contraponto à vertente que realça
o imaginário da modernidade paulistana,
as fotos também foram apropriadas pelo
viés passadista da “São Paulo antiga”. É o
que ocorre com o IHGB paulista em 1913
e com o Museu Paulista em 1922, este
655
656
resenhas
último sob a direção de Afonso Taunay, no
contexto comemorativo do Centenário da
Independência. Representativos da província de outrora, os cliques de Militão
passaram a seguir por um processo de
catalogação empreendido pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de São
Paulo, nos anos 1930, sendo igualmente
objeto de estudo de Gilberto Ferrez, autor,
em 1946, de artigo para a Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
As décadas de 1970 e 1980 assistem a
alterações na concepção artístico-documental da fotografia. Elevada à condição
de arte, a fotografia vai ser alvo de exposições em instituições como o MASP, o MIS
e a USP, nas quais a obra de Militão sempre comparece. Por fim, nos anos 1990, o
acervo do fotógrafo torna-se coleção do
Museu Paulista e integra-se aos fundos
da instituição, não sem o questionamento,
por parte de suas curadoras-historiadoras,
dos usos sociais dos objetos museológicos
e do contexto de produção das fotos.
Feitas as ressalvas quanto à reificação/fetichização da série fotográfica,
descreve-se em seguida a totalidade da
coleção: 48 negativos de vidro, 12 mil retratos, seis álbuns, 150 paisagens urbanas
e um variegado número de documentos
escritos. Ao longo do capítulo 2, Araújo
examina o estado da arte do autor, vendo
“a obra de Militão sob vários ângulos e
interpretações”.
Os estudos iniciam-se com os trabalhos de Boris Kossoy, que distingue os
aspectos formais (história da fotografia)
dos aspectos conteudísticos (história pela
fotografia). Às investigações pioneiras de
Kossoy seguem-se debates menos preocupados com questões de ordem técnica e
mais interessados no que poderia se chamar de uma fenomenologia do olhar: a
foto seria um reflexo da realidade ou uma
produtora de percepções da mesma?
Os estudiosos interessam-se também
pelas condições de produção, circulação e
consumo das imagens em seu tempo, bem
como pelas trocas mercantis do fotógrafo
com sua clientela. Há igualmente interesses pontuais em torno dos carte-de-visite,
modelo de retrato popular existente à
época, assim como considerações sobre
os objetos cenográficos dos ateliês e as
posturas encenadas pelos retratados.
Depois de abordar os estudos de recepção institucional das fotos de Militão
e de explorar a série de panoramas feita
na Santos portuária, Araújo levanta seu
ponto crítico diante do conjunto de trabalhos dedicados ao fotógrafo. Argumenta
criticamente quanto ao pressuposto de
uma apropriação da fotografia no Brasil,
ocorrida nos mesmos moldes da Europa,
sem a consideração da realidade local
na qual se inscreve o personagem nem
das particularidades da modernização
brasileira, ou das suas “historicidades”,
para falar com Claude Lefort.
O terceiro capítulo trata do “lugar
social oblíquo do fotógrafo”. Com o
subtítulo “Sobre as tramas de relações
e algumas desditas mediadas pela fotografia”, reconstitui o percurso biográfico
da personagem e menciona a importância das experiências de viagem aos
Estados Unidos e à França, com vistas a
tecer comparações sobre os modos e os
costumes nacionais, manifestos na sua
correspondência epistolar. Araújo trata de
apresentar a rede de sociabilidade tecida
no Rio Janeiro e a conversão de Militão à
fotografia na capital paulistana, onde se
torna dono de estabelecimentos e desenvolve seu tino de comerciante.
Se a fotografia era uma maneira de
“calcular o lugar olhado das coisas”,
Araújo situa igualmente as estratégias
de ascensão social de Militão, um autoproclamado homem de classe média. As
relações pessoais travadas com amigos,
fregueses, inquilinos, estudantes de
direito, donos de estúdios, industriais,
banqueiros, editores de jornais e fotógra-
resenhas
fos de outras cidades permitiam-lhe uma
“mobilidade social ascendente”. Esta não
o impede de desistir, em certa altura da
carreira e da vida, do ofício escolhido
havia 25 anos.
O capítulo 4, subintitulado “Militão
anota a República”, debruça-se sobre rascunhos de um assim chamado livro-copiador de cartas, com anotações do fotógrafo
deixadas originalmente em um caderno.
A correspondência ativa da personagem,
escrita no curso de duas décadas, faculta
a compreensão de como o “nativo” viu o
debate sobre as transformações políticas
de seu tempo.
Endereçadas a contemporâneos, seja
a um industrial norte-americano, a um
comerciante francês ou a um funcionário
carioca, Militão emite seus juízos no calor
dos acontecimentos, tachando a República de mera “mudança de rótulo”. Logo de
início, mostra-se descrente com o movimento republicano, incapaz de corrigir
um “povo ruim” e uma política na qual
campeiam a falsidade e a “gatunagem”.
As passagens antológicas do capítulo,
para não dizer do próprio livro, tal como
destaca já no prefácio Lilia Schwarcz,
encontram-se nas cartas transcritas do
fotógrafo. Ainda em novembro de 1889,
Militão envia a seguinte mensagem ao
senhor Luiz Jablonski, residente em Paris:
“Como deve ter sabido pelo telégrafo no
dia 15 do corrente, almocei monarquista
e jantei republicano. Isso mostra que as
coisas por aqui se fazem rápidas como o
século que elas representam: eletricidade
e caminho de ferro. Julgo não haver na
história universal uma mudança radical
de governo tão pacífica como esta. Das
duas, uma: ou este povo não tem convicções nem opina, resultado da convivência
com a escravidão desde o nascer. Ou então eminentemente filosofa e compreende
que apenas houve mudança de rótulo.”
No mês seguinte, a fórmula é reutilizada em outra missiva, valendo-se quase
das mesmas palavras. Desta feita, a carta
é enviada ao Sr. J. P. de Castro: “Como
deve ter saber, no dia 15 de novembro
almocei monarquista e jantei republicano. As peripécias que se dirão dignas
de um povo altamente filosófico como
no nosso escuso comentá-las (mesmo
porque entalado ando eu) pois já deve
saber pelos jornais daqui. Com o que
eu estou admirado é com a quantidade
de republicanos que havia encobertos.
Todos agora são republicanos. Há quem
os chame, a estes, de depois da república,
de filhos naturais, não pensando que a tão
senhora irá tão depressa... Enfim nós cá
estamos... e que remédio...”
Ainda em dezembro daquele ano,
fustiga outro amigo – Tavares Sobrinho –
em tom que varia entre respeitoso, mordaz e irônico: “Pela sua carta vejo que
o amigo continua firme nas convicções
que sempre lhe conheci: de Republicano
puro, sem mistura. Não obstante, notolhe ainda uma outra coisa do sistema
retrógrado e façanhudo da carunchosa
monarquia. [...] O amigo passa dois riscos
nos escudos prolongando-os até a barba
do Pedro de Alcântara, assim, como que
diz as pusestes de molho.”
Com o uso frequente do humor, que
lembra as charges de caricatura política de
um contemporâneo como Ângelo Agostini
(1843-1910), Militão refere-se nos maços
de missivas à “senhora” República. Esta,
apesar de recém-instaurada, já era de provecta idade, sem conseguir acompanhar o
ritmo do progresso. A República de Militão
ora tratava de ser uma versão feminina
já decadente de Marianne, a francesa
revolucionária, ora encarnava a imagem
da mulher brasileira, vista pelo pejorativo
de uma prostituta. Eco do humorismo
reinante na imprensa de então, com seus
cronistas, chargistas e caricaturistas, Militão também escarnecia da política.
Na “feia” e “imoral” República, salvava-se Floriano Peixoto, político hábil e
657
658
resenhas
bravo, capaz de “endireitar o Brasil” e de
apaziguar crises nacionais como a Revolução Federalista e a Revolta da Armada.
O entusiasmo com Floriano faz Militão
propor chamar Prudente de Moraes, seu
sucessor, de Floriano II. Ao longo da década de 1890, o fotógrafo observou ainda
o mundo das ruas, com as comemorações
populares do carnaval e as festas do Dia
de Reis, em uma estranha sintonia com o
universo das tradições que se chocavam
naquela altura com os sentidos modernizadores da República.
O capítulo 5, denominado “O espetáculo do progresso de São Paulo ou o
álbum comparativo de Militão”, constitui
o clímax do livro, voltado para a obra
magna do fotógrafo. A inusitada ideia
de comparação entre as imagens feitas
por Militão no início da carreira e as
realizadas em fins do decênio de 1880
parecia não ser “rendosa” financeiramente, mas estimulou o fotógrafo em
sua última empreitada. O cotejo de pares
compostos permitia identificar mudanças
e permanências na paisagem da cidade,
com base nos mesmos pontos fotografados havia décadas.
O olhar de Íris Morais Araújo não
mira apenas as imagens, mas também
as legendas assinadas por Militão e os
ângulos de tomada que revelam o caráter
autoral do álbum. A intenção da antropóloga é captar, ginzburguiana e indiciariamente, as transformações da cidade, tais
como as viu Militão, sem desconsiderar as
especificidades do “progresso” na capital
provincial. A captação das mudanças,
algumas delas inacabadas, é feita de
alto a baixo, por intermédio de planos
gerais, médios e curtos, indo da cidade
aos bairros e destes às ruas.
Focam-se assim lugares como o Jardim
Público, os rios Pinheiros e Tamanduateí,
os Campos Elíseos, a torre da Sé, a igreja
do Rosário, a ladeira do Carmo, o largo
do Palácio, o caminho para o Brás, a rua
Miguel Carlos, os postes de luz a gás, as
calçadas pavimentadas, as habitações de
três pavimentos. Um a um, são esmiuçados os pares de vistas da rua da Quitanda,
da rua da Glória, da rua Alegre e da rua
Florêncio de Abreu. Narra-se a mutação
do chão batido e das casas rústicas para
ambientes pedestres iluminados, pavimentados e movimentados.
As indumentárias e a diversidade de
personagens são contrastadas; a arquitetura também é confrontada; findam-se
os sobrados coloniais e emerge o modelo
neoclássico. Se os pares fotográficos são
feitos de modo a realçar a passagem de
uma época a outra, Araújo vai sempre interpelar a divisão estanque entre um momento e outro. Defende a existência de um
arranjo entre os dois, exemplificado em
ornamentos de “ontem” – gelosias, muxarabiês e beirais – e de “hoje” (balcões de
ferro, janelas de vidro, platibandas).
Last but not least, as considerações
finais de Araújo poderiam a princípio
sugerir ao leitor o arremate do livro com
um apanhado das ideias gerais apresentadas no trabalho. Não é o que acontece.
A conclusão “Antigos paulistas em meio
à modernização” é menos sintética e mais
analítica do que se poderia esperar.
A par da cronologia biográfica de
Militão, o encerramento da carreira não
equivale a um afastamento e a uma inação sobre seu legado. O trabalho investiga uma listagem de quinhentos nomes
de fotografados, descritos no manuscrito
Índice das fotografias de antigos paulistas. Sai de cena a paisagem urbana, entra
o retrato humano.
A interpretação de Araújo é a de que o
retrato – elemento, diga-se de passagem,
argutamente analisado por Georg Simmel
em seu livro sobre o pintor neerlandês
Rembrandt – e o ofício de retratista também receberam uma atenção estratégica
por parte de Militão. Naquele documento, o fotógrafo mostra-se consciente
resenhas
das distinções sociais que diferenciam o
registro dos clientes individualizados no
ateliê dos transeuntes comuns e anônimos nas ruas.
O interesse pela fisionomia de determinados indivíduos em espaços sociais
fechados como os estúdios não é aleatório. Todo o exercício de individualização
dos fotografados é descrito. Para tal
processo de singularização, leva-se em
consideração ainda a teatralidade, isto é,
as poses, as roupas, o cenário.
Ao consignar naquele momento seus
retratados como “antigos paulistas”,
Militão dava evidências do propósito
de demarcar um passado e estimar a
importância que tais bustos retratados
poderiam vir a ter no futuro. A título de
exemplo, cite-se o escritor Eduardo Prado
(1860-1901), fotografado “em menino”, e
o senador Rui Barbosa, em meio a colegas
de mocidade, flagrado e etiquetado como
“estudante”.
Concluída a leitura das mais de 250
páginas do livro, fica-se com a impressão
de uma dupla contribuição do trabalho.
Por um lado, em se tratando de uma
dissertação de mestrado que, nos dias de
hoje, conseguiu o raro feito de se converter em livro, a contribuição é metodológica e direcionada aos iniciantes nas ciências históricas e antropológicas: Araújo
evidencia seu talento ao confrontar fontes
arquivísticas – textuais e imagéticas – e
mostra sua capacidade de estranhar uma
obra facilmente rubricável como uma
“ode ao progresso”, posto que portadora
de um engenho técnico, a fotografia.
Por outro lado, a contribuição diz respeito ao próprio debate levantado com
a historiografia que aborda a transição
política do Império à República. Focando
outros atores, na esteira da micro-história
ou de uma “antropologia em arquivos”, é
possível ver a realidade brasileira com um
outro olhar. No caso de Militão, com o inusitado olhar do “progresso às avessas”.
COMAROFF, Jean & COMAROFF, John L.
2009. Ethnicity, Inc. Chicago: University of
Chicago Press. 234pp.
Thaddeus Gregory Blanchette
UFRJ
Por volta de 1987, a Banda Augustina dos
Índios da Missão Cahuilla (Augustine
Band of Cahuilla Mission Indians), da
Califórnia, nos EUA, perdeu seu último
membro vivo, Roberta Ann Augustine.
Para muitas pessoas, a morte de Roberta deve ter sido a última página da
história da banda, o ponto final para um
dos 561 grupos indígenas registrados
como “legítimos” pelo governo federal
estadunidense. Todavia, na década após
sua morte, a neta de Roberta, Maryann
Martin, uma mulher que até então se
autoidentificava como afro-americana,
redescobriu sua “herança indígena” e
tomou posse da reserva da banda, um
loteamento medindo uns 500 hectares,
localizado em Riverside County, perto da
metrópole Los Angeles.
Nos primeiros anos do século XXI,
Martin – agora devidamente intitulada
“Tribal Chairwoman” – de uma tribo que
consistia nela e em suas sete crianças –
assinou um contrato com o governador da Califórnia para construir um
cassino na reserva. Abrindo em 2002,
o cassino e o renascimento da Banda Augustina foram louvados pelos
grupos indígenas da Califórnia, que
viram no empreendimento a resposta
definitiva ao processo de etnocídio que
tinha quase acabado com os grupos
indígenas do estado. Através da união
do capital financeiro da companhia
Paragon Gaming LLC, de Las Vegas, e
o capital humano dos oito membros da
Banda Augustina, a sra. Martin e suas
crianças transformaram-se num grupo
étnico certificado e com um futuro
659
resenhas
das distinções sociais que diferenciam o
registro dos clientes individualizados no
ateliê dos transeuntes comuns e anônimos nas ruas.
O interesse pela fisionomia de determinados indivíduos em espaços sociais
fechados como os estúdios não é aleatório. Todo o exercício de individualização
dos fotografados é descrito. Para tal
processo de singularização, leva-se em
consideração ainda a teatralidade, isto é,
as poses, as roupas, o cenário.
Ao consignar naquele momento seus
retratados como “antigos paulistas”,
Militão dava evidências do propósito
de demarcar um passado e estimar a
importância que tais bustos retratados
poderiam vir a ter no futuro. A título de
exemplo, cite-se o escritor Eduardo Prado
(1860-1901), fotografado “em menino”, e
o senador Rui Barbosa, em meio a colegas
de mocidade, flagrado e etiquetado como
“estudante”.
Concluída a leitura das mais de 250
páginas do livro, fica-se com a impressão
de uma dupla contribuição do trabalho.
Por um lado, em se tratando de uma
dissertação de mestrado que, nos dias de
hoje, conseguiu o raro feito de se converter em livro, a contribuição é metodológica e direcionada aos iniciantes nas ciências históricas e antropológicas: Araújo
evidencia seu talento ao confrontar fontes
arquivísticas – textuais e imagéticas – e
mostra sua capacidade de estranhar uma
obra facilmente rubricável como uma
“ode ao progresso”, posto que portadora
de um engenho técnico, a fotografia.
Por outro lado, a contribuição diz respeito ao próprio debate levantado com
a historiografia que aborda a transição
política do Império à República. Focando
outros atores, na esteira da micro-história
ou de uma “antropologia em arquivos”, é
possível ver a realidade brasileira com um
outro olhar. No caso de Militão, com o inusitado olhar do “progresso às avessas”.
COMAROFF, Jean & COMAROFF, John L.
2009. Ethnicity, Inc. Chicago: University of
Chicago Press. 234pp.
Thaddeus Gregory Blanchette
UFRJ
Por volta de 1987, a Banda Augustina dos
Índios da Missão Cahuilla (Augustine
Band of Cahuilla Mission Indians), da
Califórnia, nos EUA, perdeu seu último
membro vivo, Roberta Ann Augustine.
Para muitas pessoas, a morte de Roberta deve ter sido a última página da
história da banda, o ponto final para um
dos 561 grupos indígenas registrados
como “legítimos” pelo governo federal
estadunidense. Todavia, na década após
sua morte, a neta de Roberta, Maryann
Martin, uma mulher que até então se
autoidentificava como afro-americana,
redescobriu sua “herança indígena” e
tomou posse da reserva da banda, um
loteamento medindo uns 500 hectares,
localizado em Riverside County, perto da
metrópole Los Angeles.
Nos primeiros anos do século XXI,
Martin – agora devidamente intitulada
“Tribal Chairwoman” – de uma tribo que
consistia nela e em suas sete crianças –
assinou um contrato com o governador da Califórnia para construir um
cassino na reserva. Abrindo em 2002,
o cassino e o renascimento da Banda Augustina foram louvados pelos
grupos indígenas da Califórnia, que
viram no empreendimento a resposta
definitiva ao processo de etnocídio que
tinha quase acabado com os grupos
indígenas do estado. Através da união
do capital financeiro da companhia
Paragon Gaming LLC, de Las Vegas, e
o capital humano dos oito membros da
Banda Augustina, a sra. Martin e suas
crianças transformaram-se num grupo
étnico certificado e com um futuro
659
660
resenhas
econômico sustentável – pelo menos no
curto ou médio prazo.
A história da Banda Augustina e sua
transformação é apenas uma das muitas
recontadas pelos antropólogos sul-africanos Jean e John Comaroff em seu novo livro Ethnicty Inc. O livro levanta uma série
de casos advindos da Europa, Ásia, África
e América do Norte para argumentar
que a etnicidade – até então entendida,
de acordo com os autores, como “cultura
+ identidade” – está se transformando
através de várias alianças inusitadas com
o capital. Essa nova “etnicidade S.A.”
não é apenas a comodificação da cultura
étnica. Seus vendedores são muito mais
do que um proletariado alienado, reificando sua própria essência cultural para
vendê-la no mercado: em muitos casos,
como no dos índios da Banda Augustina,
a venda da alteridade cultural, ou sua
manipulação na construção de um nicho
competitivo no mercado global, acaba se
transformando numa expressão cultural
do próprio grupo. Maryann Martin e sua
família não são índios que foram forçados
a capitalizar sua etnicidade para sobreviver: é precisamente a capitalização
que permite que eles se (re)construam
como índios.
Os Comaroffs reconhecem que o
marketing da identidade étnica pode
acabar sendo uma barganha faustiana,
em que grupos étnicos pobres arriscam
a liquidação do valor tradicional de sua
herança cultural, criando uma espécie de
autoparódia. Todavia, os autores apontam
que boa parte dos dados etnográficos
vindos do campo tende a indicar outro
destino: a venda da etnicidade como
bem de consumo também pode reanimar
a subjetividade cultural, recarregando
a autoconsciência coletiva e incentivando a formação de novos padrões de
sociabilidade.
O livro está dividido em cinco capítulos, um prólogo e uma conclusão.
O primeiro capítulo propriamente dito
(de fato, capítulo dois, sendo que “Capítulo 1” é o prólogo) estabelece a questão principal do livro, apresentando a
crescente onda de empreendimentos
corporativistas e étnicos na África do Sul
onde, de acordo com os autores, a venda
de cultura dos povos ditos tradicionais
está cada vez mais substituindo a venda
de sua mão de obra. Após ancorarem suas
observações em seu campo predileto (a
etnografia africana), os Comaroff apresentam um breve panorama de situações
semelhantes em lugares tão diversos
como Escócia e o sul da Califórnia, indicando o alcance global do fenômeno de
cultural branding e demonstrando que
ele não é apenas restrito a grupos étnicos
taxados como “tribais”.
No segundo capítulo, os Comaroff se
engajam com as teorias da comodificação
cultural, explodindo a distinção entre
cultura como marca de autenticidade e
cultura como comodity. De acordo com
os autores, numa época de consumismo
em massa, o crescimento do comércio
étnico está tendo efeitos contraintuitivos
que parecem minar tanto a teoria crítica
quanto a clássica a respeito da comodificação. Com o deslocamento da produção,
na arena global, para coisas imateriais
(conhecimentos e propriedades intelectuais, para dar somente dois exemplos),
o comércio transcende à mera venda de
bens e serviços. Dessa maneira, o novo
do comércio das ideias, o intercâmbio
das comodidades e a construção das
diferenças sociais se confundem e se
contaminam.
No capítulo três, os autores examinam
os dados advindos do “capitalismo de
cassino” entre os povos indígenas dos
Estados Unidos. Notando que muitos
desses grupos têm formado “corporações
tribais” desde 1934, como a promulgação
do Ato Wheeler-Howard, os Comaroff
analisam a crescente onda de estabele-
resenhas
cimento de cassinos de jogos de azar nas
reservas estadunidenses, identificando
sete dimensões que são ativas no “negócio de identidades” e que potencializam
indianess como big business.
As sagas de duas etnicidades sulafricanas – os San e os Tswana – dominam o quarto capítulo, com os autores
analisando as tentativas dos grupos de
fazerem sua identidade render no mercado global. Particularmente interessante,
neste sentido, é a história dos San. De
acordo com os autores, essa etnicidade
é uma construção social recente, cuja
estabilidade futura depende da sua
transformação numa corporação étnica.
O etnoempreendedorismo dos San é
movido pelo turismo e pela venda de
propriedades intelectuais, tais como seus
conhecimentos de biologia regional e, em
particular, do cultivo do hoodia gordonii,
uma planta usada pelos San para reduzir
a sensação de fome em épocas de seca
e que é veiculada nos Estados Unidos e
na Europa como remédio para a redução
de peso.
O quinto e último capítulo estende o
conceito de “etnicidade S.A.” para duas
outras áreas de pertencimento social que
sempre foram intimamente associadas
com a etnicidade: a religião e o nacionalismo. Os autores comparam e contrastam
a “incorporação” desses dois campos de
formação de identidade com o de etnicidade, notando que em todos os casos
existe uma crescente tendência para unir
cultura e propriedade; o passado e o futuro; ser e fazer negócios. Concluem que a
existência concreta dos seres humanos é
cada vez mais inflectida por – e cada vez
mais inflecte – as tendências generalizadoras do mercado. No admirável mundo
novo da “etnicidade S.A.”, a cultura e a
comodificação se constituem em uma
coprodução.
Se o livro tem um ponto fraco, é o
fato de os autores não engajarem, com a
devida profundidade, o papel histórico
que o mercado teve na construção da etnicidade no passado. Como quase todos
os pensadores clássicos têm remarcado,
uma das formulações típicas de etnicidade é a criação de nichos étnicos econômicos e até comerciais em sociedades
pluriétnicas. Ou seja, olhando para os
estudos de autores como Barth e Cohen, é
de se perguntar até que ponto o entrecruzamento do mercado com a identidade
étnica é, de fato, um fenômeno novo.
É claro que a situação que os Comaroff
descrevem é diferente no sentido de que
hoje é a própria identidade étnica e seus
derivados que estão sendo vendidos:
compra-se artesanato indígena porque
é indígena e não por causa de seu valor
de uso. Todavia, questiona-se até que
ponto isto é um desenvolvimento completamente novo, dado um capitalismo
em que bens de consumo sempre foram
fetichizados.
O livro dos Comaroffs representa um
acréscimo interessante ao debate que
se desenvolve em terras brasilis sobre o
que é e o que deve constituir um “grupo
indígena” e quais são os tipos de relações
que tais grupos podem manter com o
mercado. Aponta para possíveis desenvolvimentos do etnocapitalismo que, até
agora, só se manifestou de forma bastante
rudimentar em fenômenos como o famoso
“Pataxopping” mantido pelos índios Pataxó em Porto Seguro. Mas o livro também
traz uma série de insights bastante úteis
para os estudiosos engajados na análise
de como o Brasil está se situando como
“marca” nesse mundo pós-industrial
e pós-moderno dos BRICs. Afinal de
contas, como os Comaroff descrevem tão
bem, no mundo da “etnicidade S.A.”,
identificar-se é cada vez mais ser um
empreendedor.
661
662
resenhas
FERREIRA, Letícia Carvalho de Mesquita.
2009. Dos autos da cova rasa: a identificação
de corpos não identificados no Instituto
Médico-Legal do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: E-papers/LACED/Museu Nacional.
198 pp.
Juliana Farias
Doutoranda – PPGSA/IFCS/UFRJ
Quantas pesquisas antropológicas nos
informam sobre o encontro entre um
homem desconhecido (já morto) e um servente de pernoite do IML-RJ? Dos autos
da cova rasa está repleto de encontros
como estes – insignificantes aos olhos
de muitos. Atribuindo-lhes relevância
social e científica, Letícia Carvalho de
Mesquita Ferreira enquadra-os em sua
investigação sobre o processo de identificação dos corpos não identificados que,
entre 1942 e 1960, se encontravam assim
designados no Instituto Médico-Legal do
Rio de Janeiro (IML-RJ).
A ausência de registro de nome próprio
na documentação analisada por Ferreira
(2009) é, ao mesmo tempo, traço comum
do material selecionado e condição de
possibilidade da pesquisa: “foram mortes
que originaram documentos destituídos
do privilégio do sigilo burocrático” (:162).
Como explica a autora, o acesso ao material – parte da série “Mortos”, ou de
exames cadavéricos, do fundo Instituto
Médico Legal do Arquivo Público do
Estado do Rio de Janeiro (Aperj) – foi
relativamente facilitado devido ao seu
interesse nos casos de pessoas não identificadas, visto que uma das exigências
institucionais àqueles que desejassem
trabalhar com o mesmo fundo documental era o compromisso com a não divulgação dos nomes dos periciados.
O período recortado para a análise está
diretamente ligado às especificidades
do arquivo pesquisado: não só o número
reduzido de alterações na legislação e na
estrutura administrativa do IML-RJ entre
os anos de 1942 e 1960 foi levado em conta, como também o fato de os formulários
da instituição correspondentes a esse período terem sofrido menos modificações.
Ferreira descreve de forma detalhada as
escolhas metodológicas desta pesquisa
em arquivo, designando as variadas
combinações de documentos referentes
a cada corpo como “fichas”, as quais
formariam, reunidas, o conjunto que
apresenta como sua “aldeia-arquivo”.
Mais do que instrumento de pesquisa, a
“papelada” cuidadosamente selecionada
e transcrita também é encarada como o
objeto mesmo da investigação, pois a produção e o arquivamento de autos, guias,
requisições e boletins são atrelados aqui
ao conjunto de práticas que compõem a
identificação dos não identificados; são
compreendidos como ações construtoras
dessa identidade específica.
Argumentando, então, que “cada iden­
tificação de um não identificado confere
vigor a um modo específico de gerir estes
corpos e suas mortes” (:34), Ferreira costura o enquadramento teórico-analítico
de seu estudo. Desde a referência ao
cadáver entregue à dissecação como
espaço discursivo feita na introdução
do livro, fica explícita a centralidade da
obra de Foucault: a identificação dos não
identificados é encarada como parte de
processos de formação de Estado e produção de sujeitos e populações. A autora
apresenta os corpos não identificados do
IML-RJ (vulgarmente conhecidos como
indigentes) como “corpos sujeitados e
geridos por saberes e técnicas que tanto
se propõem a administrá-los, quanto
fazem por construí-los como tais” (:17) –
declarando que a análise em questão é
informada por (mas não seria equivocado
afirmar aqui o fato de ela estar também
informando) referências de um quadro de
gestão composto por outros corpos, como
resenhas
os “índios”, os “menores”, os “vadios” e
os “loucos-criminosos”, que habitam os
trabalhos de Souza Lima, Vianna, Cunha
e Carrara, respectivamente.
A influência foucaultiana impressa
em todo o trabalho tem lugar especial na
articulação do debate travado no primeiro
capítulo do livro: “Identificando os não
identificados”. Tal processo de identificação é alinhado a técnicas de controle
conformadas a uma racionalidade propriamente governamental: identificar,
contar, documentar indivíduos constituem
processos de produção de sujeitos – no
plano de unidades isoladas; e de produção
de populações – no plano totalizante de
percepção e intervenção, configurando,
assim, processos de formação de Estado.
Em Dos autos da cova rasa, portanto, o
Estado é entendido como um conjunto
de práticas, algumas das quais aparecem
como peças-chave desta engrenagem que
identifica cada um (inclusive os “desconhecidos” já mortos) e os aloca em seus
respectivos cadastros coletivos.
Ferreira descreve e discute uma série
de técnicas que, ao mesmo tempo indi­
vidualizantes e massificantes, entrecruzam-se neste arranjo dos mecanismos de controle governamentalizados.
A recuperação da prática da datiloscopia, por exemplo, abre espaço para
a discussão sobre a transformação da
identificação criminal em identificação
civil, demais estreitamentos entre a ciência da identificação e a criminologia, e
ainda sobre imbricações entre os campos
da medicina, do direito e da polícia. Um
debate como este – tão indigesto quanto
necessário – comunica ao leitor a força da
tendência de “estatização do biológico”,
característica do séc. XIX, e seus formatos
de atualização e amplificação através do
combate às ameaças do desconhecido.
Como controlar o que não se conhece?
O imperativo da legibilidade do todo
e de suas partes alimentaria, então, as
rotinas de trabalho de variadas repartições
e aparelhos administrativos estatizados –
processo capturado pelas lentes de Ferreira ao analisar sua amostra. Desde
a remoção de um cadáver de uma via
pública ou de um hospital público para
o IML-RJ até o enterro do mesmo em
vala comum no Cemitério São Francisco
Xavier (aquele “do Caju”), operava-se um
processo formal e padronizado de identificação que a autora descreve de forma
detalhada no primeiro capítulo e analisa
enquanto “empreendimento classificatório” no seguinte.
“Os vários nomes do anonimato” foi
o título escolhido para este segundo capítulo, cujo roteiro é pautado em função
da exposição da lógica classificatória
do processo de identificação, atrelada
à entrevista que Ferreira realizou com
um médico legista e situada através de
uma recuperação da história do IML-RJ.
A partir da análise da “aldeia-arquivo”
e, em especial, da ficha “Aperj IML ec
0024/2647” – escolhida pelas questões
que suscitou à pesquisadora ainda no
período de levantamento do material
– são enumeradas (e generosamente
explicadas) dez características gerais da
identificação dos não identificados. A primeira delas é a nomeação dos cadáveres
com designações genéricas, como “Um
homem”, na ficha escolhida e em várias
outras, ou outros nomes também bastante
encontrados, como “Não identificado”,
“Um feto”, “Recém-nascido”, “Um menor ”, “Uma criança”, “Uma mulher ”,
“Homem”, “Um homem completamente
desconhecido”, “Fulano de Tal” e ainda
“João de Tal”, “Maria de Tal”, “Vulgo
Bahiano” e “Jecatatu”.
Também caracteriza a lógica classificatória descortinada por Ferreira o fato
de as combinações de documentos de
cada cadáver não se prestarem à sua individualização – configurando um “jogo
classificatório” no qual frouxidão e inexa-
663
664
resenhas
tidão são parte do processo e não falhas.
As outras características gerais destacadas são: a combinação entre a repetição
de dados de cada corpo e a exibição do
desconhecimento de informações através
de lacunas e pontos de interrogação, por
exemplo; a frequente presença de dados
soltos em documentos; a economia de
esforços por parte dos funcionários da
organização envolvida nas trajetórias
dos corpos (somada à descrença destes
profissionais na utilidade dos documentos que produziam); a inadequação e o
descuido material com os documentos; a
serventia da produção destes documentos à exibição de um suposto controle (e
cuidado) de corpos e territórios; o valor
do procedimento de remoção – com destaque para a “guia de remoção” como
marco inicial das trajetórias dos corpos
como não identificados – o que antecipa
a nona característica geral, que seria a
importância desigual dos documentos
arquivados.
O fato de a palavra “indigente” não
aparecer como nome genérico nas fichas,
apenas nas suas margens, em anotações
ou carimbos, configura o décimo aspecto
geral desta lógica classificatória – direcionando a pesquisadora à possibilidade
da interpretação de “indigente” como
“categoria geral” que, entre 1942 e 1960,
reunia cadáveres nomeados com outras
designações genéricas. Esta abrangência
do termo fica ainda mais clara no terceiro
capítulo, “O saber de uns, a morte de
outros”, quando o trabalho analítico é
redesenhado a partir da reunião das fichas em cinco grupos específicos, dando
continuidade à dissecação do material
de pesquisa.
Esta divisão dos grupos, denominados
pela autora a partir dos “nomes dados
ao anonimato” dos não identificados,
é apresentada como uma tipologia dos
corpos e como possibilidade de reflexão
sobre especificidades da concepção de
morte envolvida em tal classificação.
Argumentando que “não se separa das
circunstâncias da morte a classificação
do cadáver ” (:104), Ferreira apresenta
os grupos alinhavando suas reflexões a
descrições analíticas, resumos e trechos
das fichas. “Corpos Liminares” seriam
aqueles que ainda não teriam nascido
(“Um feto”; “Um recém-nascido”), cujas
mortes são paradoxalmente colocadas em
dúvida em seus registros; “Corpos Recusados” seriam aqueles cujos exames não
foram realizados no IML-RJ (geralmente
por não terem sofrido “morte violenta ou
suspeita”), pré-classificação destacada
pela autora por marcar eventualidades
também conformadoras desse processo
de identificação, paralelamente à lógica
classificatória desvelada.
“Pernambuco” e “Orlando vulgo
Treme Terra” foram nomes preenchidos
em fichas que Ferreira reuniu no grupo
“Corpos Conhecidos” por possuírem
algum documento com dados a respeito
dos corpos, desafiando seu completo
desconhecimento; enquanto as fichas
que, a despeito de apresentarem “nomes
genéricos” como título, traziam em pelo
menos um documento prenome e sobrenome (como “Octavio de Rocha Souza”,
removido como “Um homem” do Hospital
Getúlio Vargas para o IML-RJ) foram
reunidas como “Corpos Identificados”. O
grupo “Corpos Indigentes” reúne fichas
nas quais todos os papéis arquivados só
apresentavam nomes genéricos – grupo
que compreenderia os outros quatro, pois
mesmo quando se sabe o nome ou outra
informação sobre o morto, esse dado é
irrelevante, como se em vida essas pessoas também fossem irrelevantes aos olhos
deste mesmo Estado que as aloca num
genérico “desconhecido” após a morte.
Ao conectar suas considerações finais
à pergunta “A quem serve a vala comum?”, a autora ratifica a ideia da fixação
dos não identificados num lugar social
resenhas
particular, afirmando que o processo de
identificação por ela investigado colocase “como um agregado de procedimentos
e registros burocráticos que marca, a um
só tempo, corpos pessoais e desigualdades sociais” (:171). Redigido inicialmente
como dissertação de mestrado, o trabalho
que, como lembra no Prefácio a orientadora Adriana Vianna, causou espanto,
hoje ocupa prateleiras obrigatórias para
estudos sobre administração pública,
gestão de populações, assimetrias sociais
e Estados – no plural.
HARRIS, Mark. 2010. Rebelião na Amazônia.
Cambridge: Cambridge University Press.
302 pp.
James Andrew Whitaker
Doutorando, Departamento de Antropologia,
Tulane University, New Orleans
Este é o livro mais recente de Mark Harris a
envolver-se com debates relativos à floresta
amazônica e seus povos. É o primeiro livro
em inglês que toma como tema fundamental um paroxismo específico de rebelião que
ocorreu na Amazônia brasileira durante
a década de 1830. Iniciada em 1835 com
a queda de Belém, a revolta veio a ser
conhecida como Cabanagem nas décadas
posteriores do século 19. Este termo significa “a atividade das pessoas que moram
em cabanas, a habitação mais pobre da região” (:5). Harris apresenta uma explicação
densa e sociologicamente detalhada desta
rebelião. Em relação ao período mais amplo
de história brasileira, no qual a Amazônia e
a Cabanagem estão entrelaçadas neste
trabalho, Harris tenta “mostrar como o
sucesso da economia da borracha se tornou possível pela persistência de valores
camponeses e a sujeição da região” (:9).
A pesquisa que fundamenta este livro
abrange tanto fontes primárias quanto
secundárias. Harris usou materiais de
arquivos locais bem como nacionais.
No entanto, ele explica que muitos dos
documentos locais relevantes, que poderiam ter oferecido informação importante
sobre o contexto, foram destruídos pelos
rebeldes durante a Cabanagem. Histórias
orais não foram utilizadas na preparação
deste livro em conformidade com o foco
na historiografia brasileira. No entanto,
em algumas poucas passagens, tais como
na discussão sobre os canhões falsos usados em Ecuipiranga (:254), há referências
à história oral. As notas sobre fontes de
Harris são detalhadas no que se refere
ao conteúdo e à localização do arquivo;
elas serão de grande valor para futuros
pesquisadores.
O rio Amazonas é um símbolo poderoso de confluência não fixa. Harris escreve
que “o rio não era apenas o palco onde a
vida transcorria, ele também escrevia a
peça e atuava na apresentação” (:104).
Mobilidade e fluidez são apresentadas
como temas que conectam e interrompem
aspectos geográficos, sociais, políticos e
econômicos da sociedade paraense. No
entanto, subjacente a esse exterior fluido, há interesses opostos, a maior parte
deles relativa ao controle e à utilização
de trabalho e terra, que tomaram forma
ao longo do tempo para produzir cisões
tanto em nível provinciano quanto nacional. A mobilidade atenuou as tensões até
certo ponto. Em parte devido à paisagem
ribeirinha, as elites ficaram bastante perplexas nas suas tentativas de estabelecer
uma forma de vida fixa e sedentária no
Pará. Os padrões paraenses mutantes de
circulação, interação, expressão religiosa
e mesmo linguagem parecem ter sido
caracterizados pela mistura fluida, empréstimo e fronteiras porosas.
Harris cuidadosamente identifica e
avalia a forma mutável de divisões sociais
(baseadas em raça, classe e etnicidade)
na sociedade paraense. Em relação a
665
resenhas
particular, afirmando que o processo de
identificação por ela investigado colocase “como um agregado de procedimentos
e registros burocráticos que marca, a um
só tempo, corpos pessoais e desigualdades sociais” (:171). Redigido inicialmente
como dissertação de mestrado, o trabalho
que, como lembra no Prefácio a orientadora Adriana Vianna, causou espanto,
hoje ocupa prateleiras obrigatórias para
estudos sobre administração pública,
gestão de populações, assimetrias sociais
e Estados – no plural.
HARRIS, Mark. 2010. Rebelião na Amazônia.
Cambridge: Cambridge University Press.
302 pp.
James Andrew Whitaker
Doutorando, Departamento de Antropologia,
Tulane University, New Orleans
Este é o livro mais recente de Mark Harris a
envolver-se com debates relativos à floresta
amazônica e seus povos. É o primeiro livro
em inglês que toma como tema fundamental um paroxismo específico de rebelião que
ocorreu na Amazônia brasileira durante
a década de 1830. Iniciada em 1835 com
a queda de Belém, a revolta veio a ser
conhecida como Cabanagem nas décadas
posteriores do século 19. Este termo significa “a atividade das pessoas que moram
em cabanas, a habitação mais pobre da região” (:5). Harris apresenta uma explicação
densa e sociologicamente detalhada desta
rebelião. Em relação ao período mais amplo
de história brasileira, no qual a Amazônia e
a Cabanagem estão entrelaçadas neste
trabalho, Harris tenta “mostrar como o
sucesso da economia da borracha se tornou possível pela persistência de valores
camponeses e a sujeição da região” (:9).
A pesquisa que fundamenta este livro
abrange tanto fontes primárias quanto
secundárias. Harris usou materiais de
arquivos locais bem como nacionais.
No entanto, ele explica que muitos dos
documentos locais relevantes, que poderiam ter oferecido informação importante
sobre o contexto, foram destruídos pelos
rebeldes durante a Cabanagem. Histórias
orais não foram utilizadas na preparação
deste livro em conformidade com o foco
na historiografia brasileira. No entanto,
em algumas poucas passagens, tais como
na discussão sobre os canhões falsos usados em Ecuipiranga (:254), há referências
à história oral. As notas sobre fontes de
Harris são detalhadas no que se refere
ao conteúdo e à localização do arquivo;
elas serão de grande valor para futuros
pesquisadores.
O rio Amazonas é um símbolo poderoso de confluência não fixa. Harris escreve
que “o rio não era apenas o palco onde a
vida transcorria, ele também escrevia a
peça e atuava na apresentação” (:104).
Mobilidade e fluidez são apresentadas
como temas que conectam e interrompem
aspectos geográficos, sociais, políticos e
econômicos da sociedade paraense. No
entanto, subjacente a esse exterior fluido, há interesses opostos, a maior parte
deles relativa ao controle e à utilização
de trabalho e terra, que tomaram forma
ao longo do tempo para produzir cisões
tanto em nível provinciano quanto nacional. A mobilidade atenuou as tensões até
certo ponto. Em parte devido à paisagem
ribeirinha, as elites ficaram bastante perplexas nas suas tentativas de estabelecer
uma forma de vida fixa e sedentária no
Pará. Os padrões paraenses mutantes de
circulação, interação, expressão religiosa
e mesmo linguagem parecem ter sido
caracterizados pela mistura fluida, empréstimo e fronteiras porosas.
Harris cuidadosamente identifica e
avalia a forma mutável de divisões sociais
(baseadas em raça, classe e etnicidade)
na sociedade paraense. Em relação a
665
666
resenhas
essas divisões, explicam-se os ambientes
econômico e político (também mutantes) como contexto para a Cabanagem.
O mundo atlântico liberal influenciou
reformas no Pará de fim de século 19 – enquanto dava liberdade a alguns índios –
aprofundou divisões sociais e conduziu
a formação e a instituição de um “campesinato semiautônomo” multiétnico
(:122). É a este campesinato que Harris
se refere ao perceber “a emergência de
um novo agente político” no Pará (:7, 22).
Justapostos às elites coloniais e portuguesas, este campesinato e sua “cultura
popular” foram centrais nos eventos da
Cabanagem. Várias memórias históricas
da resistência do período colonial ficaram
firmemente gravadas na consciência
política do campesinato paraense. Esta
classe vagamente identificável e sua
mobilidade tornaram-se alvo da brutal
repressão pós-Cabanagem.
A formação, o movimento e a subsequente repressão do campesinato são
temas centrais no livro de Harris. Este
livro contribui para a historiografia da
Cabanagem, interrompendo a dicotomia
entre interesse pessoal pragmático versus
ideologia liberal na compreensão das
motivações cabanas. O liberalismo foi interpretado localmente e usado no idioma
para expressar interesses e divisões. As
ideias liberais erodiram a “autoridade”
tradicional, oferecendo “linguagem e
ideologia” limitadas, com as quais se
pode orientar antagonismos e aspirações
(:178, 201). O surgimento da Cabanagem
está situado no contexto de antagonismos
entre brasileiros e portugueses, clivagens
regionais no Brasil pós-Independência,
subordinações político-econômicas,
“valores camponeses amazônicos”, bem
como “experiências de escravidão”
(:175). Embora a Cabanagem tenha sido
representada como se fosse motivada
por questões raciais durante o período
seguinte de repressão, Harris chama a
atenção para o complexo conjunto de
atores envolvidos, argumentando que a
violência racial não foi um ímpeto primordial para a revolta. Na verdade, essa
representação surge depois, construída
por aqueles que tentaram legitimar a
repressão posterior.
Harris dá vida à Cabanagem e aos
fatos que a circundam para o leitor por
meio de sua escrita clara e sua análise
cuidadosa da multiplicidade de contextos
que moldam esse conjunto de eventos
fundamentais. Este livro pretende ser
“uma etnografia histórica escrita por um
antropólogo” (:1). O conceito de “reenactment imaginativo” de R. G. Collingwood
é utilizado por Harris ao referir-se ao
seu objetivo declarado de descrever “as
condições de vida na Amazônia no início
do século XIX: uma forma moldada para
inserir as motivações rebeldes” (:2). Este
é um texto essencialmente etnográfico e
não apenas histórico.
A utilização da estrutura conceitual
da antropologia social feita por Harris –
enfatizando a organização sempre em
mudança da sociedade e a política econômica ao escrever a história da vida paraense durante um período tumultuado de
resistência e rebelião – ecoará bem para
a audiência antropológica. Este livro suavemente transita por capítulos que apresentam desde perspectivas sociológicas
sincrônicas até as perspectivas históricas
diacrônicas. Será de grande benefício
para estudiosos que estejam conduzindo
pesquisas sobre a Cabanagem, a história
do Brasil, a influência da ideologia liberal
na América do Sul e/ou a formação, a
cultura popular e a consciência política
dos campesinatos amazônicos. Seria um
acréscimo muito útil em cursos sobre a
etno-história amazônica ou de antropologia do Brasil e da América do Sul.
resenhas
MALIGHETTI, Roberto. 2007. O quilombo de Frechal: identidade e trabalho de
campo em uma comunidade brasileira
de remanescentes de escravos. Tradução
Sebastião Moreira Duarte. Brasília: Senado
Federal/Conselho Editorial. 268pp.
Marta Antunes
Doutoranda em Antropologia Social, PPGAS/
MN/UFRJ
“Nós não falávamos que éramos quilombolas. Agora, remanescentes de escravos
nós sempre falamos”. Esta frase, proferida
por Inácio, morador de Frechal, assinala
uma dupla referência, patente no título
do livro de Roberto Malighetti que une
os termos quilombo e comunidade remanescente de escravos na discussão
sobre construção identitária em Frechal.
A junção de um termo jurídico-histórico
(quilombo) com um outro que remete à
dominação e à discriminação (remanescentes de escravos) é a base para a inversão operada em Frechal entre identidade
negativa e positiva, no sentido utilizado
por Banton, associada à negritude e ao
jogo entre passado, presente e futuro,
inerentes à construção de identidade
que se fundamenta na história viva do
grupo num contexto de acesso a direitos
focalizados.
Um olhar do exterior da antropologia
brasileira sobre o debate em torno da
identidade quilombola é apresentado em
O quilombo de Frechal, no qual Roberto
Malighetti, italiano, professor de antropologia cultural na Universidade de MilãoBicocca, não se abstém de interpretar as
interpretações dos “Outros”, recorrendo
ao senso crítico para identificar as incoerências, as contradições, as negociações
e as invenções que compõem o processo
de formação da identidade frechalina em
meio à disputa pelo significado do termo
“quilombo” entre os que buscam a ampliação de seu sentido e os que buscam
a sua restrição.
Seguindo uma abordagem epistemológica baseada na análise interpretativa
geertziana, Malighetti medeia o diálogo
entre a teoria antropológica da etnicidade
e os discursos de informantes da comunidade e de organizações de apoio. Diálogo
este que apoia a construção de sucessivas
hipóteses interpretativas que são testadas
e refeitas pelo pesquisador ao longo dos
tempos justapostos de realização do trabalho de campo da análise do material
coletado e da escritura do texto. O autor
recorre à circularidade hermenêutica,
esse mecanismo que busca apreender
no processo de trabalho de campo e
reproduzir na restituição textual “[…]
a processualidade da aprendizagem do
conhecimento antropológico” (:89).
Esse movimento, que Malighetti denomina de dialogismo, pode ser percebido
nos capítulos II, III e IV, deixando explícito às leitoras e aos leitores, através de
seu texto polifônico, essa bricolagem intelectual inerente ao fazer antropológico.
Fortemente apoiada na reflexibilidade,
essa abordagem exige que o trabalho de
“análise” e “escritura” do antropólogo
vá sendo elaborado e modificado num
processo dialético contextual, no espaço
social do qual extrai seu próprio sentido. O antropólogo assume, assim, um
papel de tradutor da negociação entre
os pontos de vista em jogo, recusando
a separação espacial e temporal entre
trabalho de campo e etnografia, conforme
sua frase de abertura – “Ontem eu estava
esquiando” – busca problematizar na
Introdução.
Recorrendo à ideia de working fiction
de Geertz, o autor mostra como o campo
é um espaço social construído em que
pesquisador e interlocutores compartilham um mundo de significados, que
pode ruir a qualquer instante e obrigar
667
668
resenhas
todos a se pensarem como habitantes
de mundos separados e reciprocamente excludentes, revelando que “[…] a
construção do fato etnográfico é algo de
fictício, dinâmico, parcial e contingente
e, portanto, intrinsecamente contextual,
instável e contraditório” (:92). Malighetti
explicita como sua própria identidade vai
sendo construída em campo na interação
com os “Outros”. Enquanto o pesquisador
busca estabelecer-se como “autoridade
etnográfica”, seus informantes driblam
seus esforços exaustivos de instituir o
diálogo por meio de entrevistas e acesso
a documentos e a locais importantes para
o processo de formação de identidade em
Frechal, mostrando a dificuldade de sua
aceitação – branco, europeu, da cooperação internacional – por parte da comunidade e de suas organizações de apoio,
que fizeram com que seus primeiros meses em campo fossem “pouco produtivos”
e extremamente frustrantes, como nos
relata em detalhes no capítulo I – “Sob o
ponto de vista do antropólogo”.
A batalha legal travada por Frechal,
uma comunidade de negros rurais da
Baixada Maranhense, pelo reconhecimento como “comunidade de remanescentes de quilombo” é relatada no
capítulo II – “Processos e negociações”.
As estratégias jurídicas adotadas pelos
advogados da comunidade, assessorados
pelo antropólogo Alfredo Wagner B. de
Almeida, que terminaram garantindo a
desapropriação de 10 mil hectares e a
criação da Reserva Extrativista do “Quilombo Frechal”, em 1992, revelam, numa
leitura atual, a importância do decreto nº
4.887/2003 para garantir às comunidades
quilombolas a titulação coletiva de suas
terras, num momento em que uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade busca
anular tal decreto.
A análise do processo legal e as questões formuladas aos seus informantes
com base nessa análise colocam em
destaque a disputa pelo significado do
termo quilombo, em que, por um lado,
se busca restringi-lo (advogado e historiador contratados pelo fazendeiro) e,
por outro, ampliá-lo, aproximando-o da
ideia defendida pelo Grupo de Trabalho
da Associação Brasileira de Antropologia, criado em 1994, de conceituação de
Terras de Remanescentes de Quilombo.
Malighetti explicita essa disputa por
significados a partir da discussão de identidade, problematizando a necessidade
de mostrar uma identidade homogênea
para acessar direitos, apoiando-se em
um termo que é novo para a comunidade
estudada e que é apre(e)ndido por ela,
de forma diferenciada, no processo de
garantia de direitos.
A riqueza dos relatos dos(as) informantes e sua extensa transcrição permitem às
leitoras e aos leitores entrarem na história
oral e serem remetidas(os) à época do
início de luta e resistência da comunidade do Frechal, onde as referências aos
abusos por parte do fazendeiro, início
dos anos 1980, e à organização coletiva e
à solidariedade do grupo são reforçadas
em diversos episódios que culminam num
ponto de virada, quando a luta passa a realizar-se pelas vias legais, em 1989. Esses
relatos enfatizam ainda o momento do
reconhecimento de Frechal como Reserva
Extrativista do “Quilombo de Frechal”, em
1992, e a ocupação da sede do Ibama por
70 pessoas da comunidade, em 1994, para
que o decreto se tornasse lei e os direitos
sobre a terra se efetivassem.
Malighetti confronta-se no capítulo III,
“Construções, desconstruções, colusões”,
com uma contradição instigante entre sua
prática em campo e sua abordagem epistemológica, quando toma os documentos
do processo legal e as análises históricas
produzidas sobre a região como fontes
“autênticas” de sua etnografia da história
e os coteja com a história oral da comunidade. Ele buscava desconstruir o processo
resenhas
de formação de identidade quilombola da
comunidade para compreender os níveis
acumulados de sua construção ao longo
do tempo, tendo como eixo condutor o
desvelar da “história verdadeira”. Nesse
exercício de colocar em diálogo diversos
discursos sobre a “história” de Frechal,
conclui que da busca da história verdadeira era necessário partir para a busca
da história viva, ou seja, “[…] do modo
como a história era vivida e manipulada
cotidianamente, e como as regras eram
seguidas wittgensteiniamente no plano
local” (:195). Seu foco dirige-se à análise
do jogo de linguagem inerente aos esquecimentos, às hesitações, às contradições,
às recusas de aprofundar discussões e
de mostrar o conteúdo de documentos,
de localizar os locais exatos das reminiscências que “provariam” a continuidade
entre um quilombo histórico e o Frechal
de hoje.
O pesquisador cessa de buscar na
história uma fonte objetiva e passa a tratá-la como mito, compreendendo que o
relato da história oral toma o passado de
forma seletiva, adaptando-o às condições
do presente, e que não é pura memória,
mas um trabalho sobre a memória, um
processo de invenção e reinvenção pela
imaginação projetada para trás, que
entrelaça a história universal e a história
nacional do Brasil, reformulada na interação com diferentes interlocutores na
disputa legal pela propriedade da terra:
“A tradição era preservada à medida em
que era alterada, e alterada enquanto era
preservada” (:232).
Malighetti é, assim, conduzido a adotar um conceito de identidade que permita compreendê-la como um “[…] produto
conjuntural, negocial e fragmentário de
estratégias ativamente perseguidas em
vários níveis: construções, interpretações
do passado, ‘invenções de tradições’[…]”
(:226), no sentido de Hobsbwam e Rangel,
opondo-se a concepções essencialistas e
reificantes da identidade, ao objetivismo e
ao substancialismo. Ao longo do capítulo
IV – “História viva”, passa a enfatizar o
dinamismo inerente às negociações internas e externas ao grupo que constroem
a identidade utilizando “[…] o passado
como uma ética funcional em relação ao
futuro e orientada para ele […]” (:233-4).
A história viva do Frechal reconstruída
por Malighetti é fruto desse mesmo jogo
presente-passado-futuro e emerge da
negociação, mediada pelo seu “ponto de
vista”, entre seus modelos epistemológicos e teóricos e as interpretações das
interpretações de parte de seus informantes, aos quais “[…] atribuía finalidades
de defesa e conquista de espaços físicos
e políticos” (:235); uma narrativa parcial
e localizada no espaço e no tempo.
Seguindo Banton, Malighetti valoriza as inversões operadas na identidade
frechaliana de negativa – produzida por
grupos mais poderosos ou pelo racismo
dos outros – para positiva – autoatribuída e valorizada. É nesse momento que
identifica a dimensão externa, jurídica
e historicamente localizada, em 1740,
do termo quilombo, diferentemente do
termo “terras de preto”, cunhado a partir
da prática contemporânea das comunidades negras rurais. O diálogo crítico
entre Malighetti e o antropólogo Alfredo
Wagner, e aquele entre o pesquisador e
duas lideranças de Frechal são essenciais
no processo de identificação da identidade frechalina como uma narrativa,
no sentido de Ricoeur, um “[…] produto
caleidoscópico e contingente, continuamente criado e recriado pela interação
entre diferentes interlocutores. [U]ma
autêntica ‘ficção’, uma construção simbólica mediante a qual se podia atribuir ao
grupo uma definição do si coletivo continuamente reinventada e reinterpretada
segundo determinadas circunstâncias e
objetivos” (:226-7), um lugar de troca e
de conflitos.
669
670
resenhas
Conclui sua etnografia defendendo a
não existência da identidade, a não ser
como um construto teórico, um limite
ontológico, um “difícil instrumento epistemológico”, essencial para compreender
a realidade de Frechal através da experiência da alteridade que radica o antropólogo em sua própria cultura, uma espécie
de tipo ideal weberiano que organiza a
multiplicidade e a polissemia dos dados
empíricos no interior de sua interpretação
– jogando luz sobre o caráter negocial e
processual da construção do conhecimento antropológico. Seguindo Geertz,
Malighetti encerra seu experimento,
fundado na antropologia interpretativa,
com a certeza de que sua “ficção” sobre
a identidade em Frechal é uma contribuição que almeja o refinamento do debate
teórico e não o consenso.
RIBEIRO COROSSACZ, Valeria. 2009. O corpo
da nação: classificação racial e gestão social
da reprodução em hospitais da rede pública
do Rio de Janeiro. Coleção Etnologia, v. 6.
Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 294 pp.
Letícia Ferreira
Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio
De um lado, o nascimento de bebês
em sua forma medicalizada e burocratizada. De outro, o procedimento de
esterilização feminina, também em sua
forma medicalizada e burocratizada, que
impossibilita de modo irreversível que
mulheres ligadas deem à luz novos bebês.
Estendendo-se entre estes dois extremos
do universo da reprodução, uma densa
trama de relações sociais, atos institucionais e dinâmicas de poder muitas vezes
invisíveis, mas sempre determinantes das
trajetórias biográficas dos agentes nela
enredados. Como pano de fundo, a nação
brasileira como comunidade imaginada e
cotidianamente construída como projeto
de futuro.
Este é o quadro que Valeria Ribeiro
Corossacz recompõe no livro O Corpo
da Nação: classificação racial e gestão
social da reprodução em hospitais da rede
pública do Rio de Janeiro, publicado no
Brasil em 2009. A partir principalmente,
mas não apenas, de impactantes trechos
de entrevistas com pacientes, médicos,
enfermeiros e funcionários de hospitais-maternidade, a autora apresenta os
dilemas, as incoerências e, com especial
atenção, as múltiplas desigualdades vividas por todos esses agentes quando em
face do nascimento de um bebê e/ou da
decisão pela esterilização. Combinando
sensibilidade etnográfica e domínio
da literatura pertinente, a antropóloga
adentra o universo da saúde reprodutiva
e, desde o seu interior, revela as tensas e
intensas matérias que o constituem.
O Corpo da Nação é uma versão revista da tese de doutorado defendida por
Corossacz em 2003, na École des Hautes
Études en Sciences Sociales, em regime
de cotutela com a Universitá degli Studi
de Siena. A partir de pesquisa de campo realizada em dois hospitais da rede
pública municipal do Rio de Janeiro,
ambos situados em bairros da periferia,
a autora encara os fenômenos do nascimento de bebês e da esterilização de
mulheres como objetos particularmente
interessantes para refletir sobre duas
ordens de questões. A primeira gira em
torno da prática da classificação racial de
cidadãos brasileiros e suas ambivalentes
relações tanto com o racismo quanto com
a ideologia da democracia racial vigente
no Brasil. A segunda, por sua vez, orbita
a gestão social da reprodução humana
e as relações de poder e diferenciação
de classe que lhe são constitutivas. Em
conjunto, as indagações que assim se
separam no livro trazem à tona pares de
670
resenhas
Conclui sua etnografia defendendo a
não existência da identidade, a não ser
como um construto teórico, um limite
ontológico, um “difícil instrumento epistemológico”, essencial para compreender
a realidade de Frechal através da experiência da alteridade que radica o antropólogo em sua própria cultura, uma espécie
de tipo ideal weberiano que organiza a
multiplicidade e a polissemia dos dados
empíricos no interior de sua interpretação
– jogando luz sobre o caráter negocial e
processual da construção do conhecimento antropológico. Seguindo Geertz,
Malighetti encerra seu experimento,
fundado na antropologia interpretativa,
com a certeza de que sua “ficção” sobre
a identidade em Frechal é uma contribuição que almeja o refinamento do debate
teórico e não o consenso.
RIBEIRO COROSSACZ, Valeria. 2009. O corpo
da nação: classificação racial e gestão social
da reprodução em hospitais da rede pública
do Rio de Janeiro. Coleção Etnologia, v. 6.
Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 294 pp.
Letícia Ferreira
Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio
De um lado, o nascimento de bebês
em sua forma medicalizada e burocratizada. De outro, o procedimento de
esterilização feminina, também em sua
forma medicalizada e burocratizada, que
impossibilita de modo irreversível que
mulheres ligadas deem à luz novos bebês.
Estendendo-se entre estes dois extremos
do universo da reprodução, uma densa
trama de relações sociais, atos institucionais e dinâmicas de poder muitas vezes
invisíveis, mas sempre determinantes das
trajetórias biográficas dos agentes nela
enredados. Como pano de fundo, a nação
brasileira como comunidade imaginada e
cotidianamente construída como projeto
de futuro.
Este é o quadro que Valeria Ribeiro
Corossacz recompõe no livro O Corpo
da Nação: classificação racial e gestão
social da reprodução em hospitais da rede
pública do Rio de Janeiro, publicado no
Brasil em 2009. A partir principalmente,
mas não apenas, de impactantes trechos
de entrevistas com pacientes, médicos,
enfermeiros e funcionários de hospitais-maternidade, a autora apresenta os
dilemas, as incoerências e, com especial
atenção, as múltiplas desigualdades vividas por todos esses agentes quando em
face do nascimento de um bebê e/ou da
decisão pela esterilização. Combinando
sensibilidade etnográfica e domínio
da literatura pertinente, a antropóloga
adentra o universo da saúde reprodutiva
e, desde o seu interior, revela as tensas e
intensas matérias que o constituem.
O Corpo da Nação é uma versão revista da tese de doutorado defendida por
Corossacz em 2003, na École des Hautes
Études en Sciences Sociales, em regime
de cotutela com a Universitá degli Studi
de Siena. A partir de pesquisa de campo realizada em dois hospitais da rede
pública municipal do Rio de Janeiro,
ambos situados em bairros da periferia,
a autora encara os fenômenos do nascimento de bebês e da esterilização de
mulheres como objetos particularmente
interessantes para refletir sobre duas
ordens de questões. A primeira gira em
torno da prática da classificação racial de
cidadãos brasileiros e suas ambivalentes
relações tanto com o racismo quanto com
a ideologia da democracia racial vigente
no Brasil. A segunda, por sua vez, orbita
a gestão social da reprodução humana
e as relações de poder e diferenciação
de classe que lhe são constitutivas. Em
conjunto, as indagações que assim se
separam no livro trazem à tona pares de
resenhas
oposição estruturantes dos campos da
saúde reprodutiva e da sexualidade no
Brasil, como médicos/pacientes, homens/
mulheres, brancos/pretos. Não obstante,
explicita também as práticas e as representações que distanciam e hierarquizam
os termos dessas oposições.
As duas ordens de questões sobre as
quais Corossacz se debruça apresentamse separadamente no livro. Revelam-se,
aliás, autônomas e ricas o bastante para
dar origem a obras distintas. Por isso, O
Corpo da Nação é dividido em duas partes
independentes, conectadas, sobretudo,
pela premissa teórico-metodológica que
lhes dá base: a necessidade de se examinarem os contextos sócio-históricos em
que atos e fatos concebidos como naturais
ou biológicos são experimentados como
marcadores de diferença e geradores de
desigualdade.
A primeira parte, “A classificação racial
e a identidade nacional”, é composta por
quatro capítulos centrados na prática da
classificação por cor e/ou raça tanto de
bebês nascidos nos hospitais pesquisados
quanto de mulheres que neles estiveram
internadas. De modo a conferir densidade
histórica a tal classificação, Corossacz
analisa não apenas os formulários atualmente preenchidos em instituições de
saúde pública, mas também os recenseamentos populacionais feitos no Brasil nas
últimas décadas. A partir destes e daqueles, discute os sentidos da presença ou
da ausência dos temas cor e/ou raça em
processos de produção de conhecimento
de Estado, bem como as suscetibilidades
dos critérios utilizados na classificação
racial de cidadãos. Como se não fosse
tanto, dedica-se ainda a analisar os
ideários da eugenia, da miscigenação e
da democracia racial propalados pelos
autores do que se convencionou chamar
pensamento social brasileiro, atentandose para seus ecos e atualizações. Desse
modo, Corossacz conecta a produção do
conhecimento de Estado, concretizado
em estatísticas e dados demográficos,
às imaginações coletivas em torno da
nação brasileira. Tudo isso, vale dizer,
sem perder de vista as vozes de agentes
efetivamente envolvidos no nascimento
de um bebê e na determinação oficial
de sua cor e/ou raça, bem como da de
sua mãe.
Para realizar tamanha tarefa, a antropóloga acompanha médicos, enfermeiros,
funcionários e pacientes de hospitais no
ato de preenchimento da Declaração de
Nascido Vivo (DNV), que compila dados
sobre recém-nascidos e suas mães, e de
prontuários clínicos que reúnem informações apenas sobre as mães. Em relação a
esses documentos, interessa-lhe especificamente se há a determinação da cor e/ou
raça desses cidadãos e como isto é feito.
Porque específico, tal interesse permite
a Corossacz deter-se sobre os silêncios
e os embaraços que circundam a prática
da classificação racial, e revelar seus
meandros mais fugidios e menos visíveis,
mas não menos violentos e contraditórios.
Como mostram os primeiros capítulos do
livro, médicos, enfermeiros e funcionários
dos hospitais reiteram que o povo brasileiro é misturado, o que ameaça a validade de práticas classificatórias e torna-as
especialmente difíceis e constrangedoras.
Ao mesmo tempo, porém, desenvolvem
métodos e exercem sua autoridade para
detectar objetivamente a cor e/ou raça de
recém-nascidos e mulheres.
Contudo, nem essa autoridade nem
aqueles métodos minimizam o mal-estar
que circunda a classificação racial e as
apreensões que assombram pacientes,
médicos e demais funcionários nos hospitais. Isto porque, por um lado, para
as pacientes e, com efeito, para seus
maridos ou companheiros, a raça/cor de
seus bebês apresenta-se como índice de
fidelidade conjugal. Um filho classificado com raça/cor distinta da de seu pai
671
672
resenhas
é frequentemente visto como evidência
de infidelidade por parte da mãe, o que
torna o preenchimento desse campo da
DNV especialmente delicado. Por outro
lado, conforme sustentam médicos, enfermeiros e funcionários, não são raras as
ocasiões em que essas mesmas mulheres
preocupam-se e contestam a cor atribuída
a elas mesmas em seus prontuários clínicos. Do ponto de vista desses profissionais, porém, tais contestações acontecem
apenas quando pacientes são registradas
como pretas ou pardas, e desejam que
seus registros sejam branqueados.
Em conjunto, os temores e as queixas
manifestados pelas pacientes ou antecipados (e imaginados) pelos médicos e
funcionários revelam, conforme argumenta Corossacz, que a determinação da cor
e/ou raça na DNV e nos prontuários desdobra-se em dois outros processos, ambos
reprodutores de desigualdades. Primeiro,
a tensa avaliação da legitimidade da vida
sexual da mulher, e apenas da mulher,
como se a cor/raça de sua prole fizesse
as vezes de um silencioso teste de fidelidade. E segundo, a constante atualização
de concepções racistas e hierarquizantes
da população brasileira, alimentada por
discursos e crenças na importância e na
objetividade da classificação racial.
Parcial e sinteticamente, esta é a
complexa trama apresentada na primeira
parte de O Corpo da Nação. Diante dela,
o leitor certamente compartilhará da impressão de que a antropóloga poderia dar
seu trabalho por finalizado, sem prejuízo
para a notável qualidade do texto. Caso
siga a leitura, porém, deparar-se-á com
outra dimensão dessa mesma trama, destrinchada ao longo da segunda parte.
“A reprodução como construção do
futuro do indivíduo e da nação” reúne
três capítulos dedicados à análise das
escolhas, dos impasses e das projeções
de futuro envolvidas no recurso, por
parte de algumas mulheres, à prática
da laqueadura tubária como método
de esterilização. Se na primeira parte
Corossacz parte do preenchimento de
documentos para discutir as questões que
lhe interessam, na segunda seu ponto de
partida é o curso obrigatoriamente oferecido nos hospitais para mulheres que
optam pela esterilização. Por força de lei,
no Brasil, a esterilização só é permitida
em determinadas situações e mediante
manifestação documentada de vontade,
e requer a participação em cursos acerca
dos riscos da cirurgia, das dificuldades de
reversão e de outras opções de contracepção disponíveis. Após acompanhar alguns
desses cursos, a autora sustenta que a esterilização feminina, no âmbito da saúde
pública, compõe um campo discursivo
em que são debatidos e projetados, ao
mesmo tempo, tanto destinos individuais
de cidadãs e cidadãos quanto o futuro
coletivo da nação brasileira.
Constituído por embates e coincidências entre entendimentos sobre as
melhores condições para se ter filhos no
Brasil, o campo discursivo da esterilização revela-se, na pesquisa de Corossacz,
terreno fértil para a reprodução de cortes
de classe e desigualdades de gênero.
Aproxima-se, assim, da trama de relações
e apreensões em torno do nascimento e da
classificação racial de bebês e mulheres.
No caso da esterilização, contudo, os cortes
e as desigualdades que se reproduzem são
bastante específicos. Por um lado, situam
a mulher pobre e negra, concebida como
corpo inadequadamente fértil em relação
ao futuro da nação, no lugar da máxima
subalternidade. Ser irracional, cuja sexualidade é algo fora de controle, a mulher
pobre e negra é, segundo falas ouvidas
pela pesquisadora durante os cursos preparatórios para a esterilização, aquela que
gera famílias numerosas e pode, por isso,
ser responsabilizada pelo fenômeno da
pobreza no Brasil. É ela, portanto, que deve
prioritariamente ser esterilizada.
resenhas
Por outro lado, esses mesmos cortes
e desigualdades posicionam o homem
branco de classe média, emblematicamente representado pelos médicos dos
hospitais pesquisados, em posição de
superioridade, máxima racionalidade e
pleno controle não só de sua sexualidade,
mas também de seu destino. Evidência
disto seriam suas pequenas famílias e
as boas condições materiais de vida que
creem poder proporcionar a seus filhos
tanto no presente quanto no futuro.
Ao dar nome e recompor as trajetórias
biográficas de cidadãos que encarnam
aquela figura da mulher pobre e negra e
esta do homem branco de classe média,
a segunda parte de O Corpo da Nação
expõe de modo claro e sensível mecanismos através dos quais assimetrias de
poder se atualizam cotidianamente no
Brasil. Ademais, consolidando a empreitada realizada por Corossacz na parte
que a antecede, revela o papel crucial
do universo da saúde reprodutiva nessa
atualização de assimetrias. Nesse sentido, o que de mais tocante as duas porções
de O Corpo da Nação têm a dizer a seus
leitores é que, entre o ato inaugural do
nascimento de um bebê e o encerramento
da vida reprodutiva de uma mulher, o que
é efetivamente gestado e dado à luz é um
Brasil dolorosamente cindido e desigual.
Não obstante, e como um sopro de otimismo, as duas partes do livro também
demonstram que desejos e crenças num
futuro melhor, tanto individual quanto coletivo, atravessam as fronteiras invisíveis
que recortam a nação brasileira.
Por tudo isso, além da preciosa contribuição a múltiplos campos de pesquisa,
desde os estudos de gênero até a antropologia da administração pública, O Corpo
da Nação é, sem dúvida, leitura essencial
para todos aqueles que se interessam e
se preocupam com os destinos factuais e
imaginados do nosso país.
673