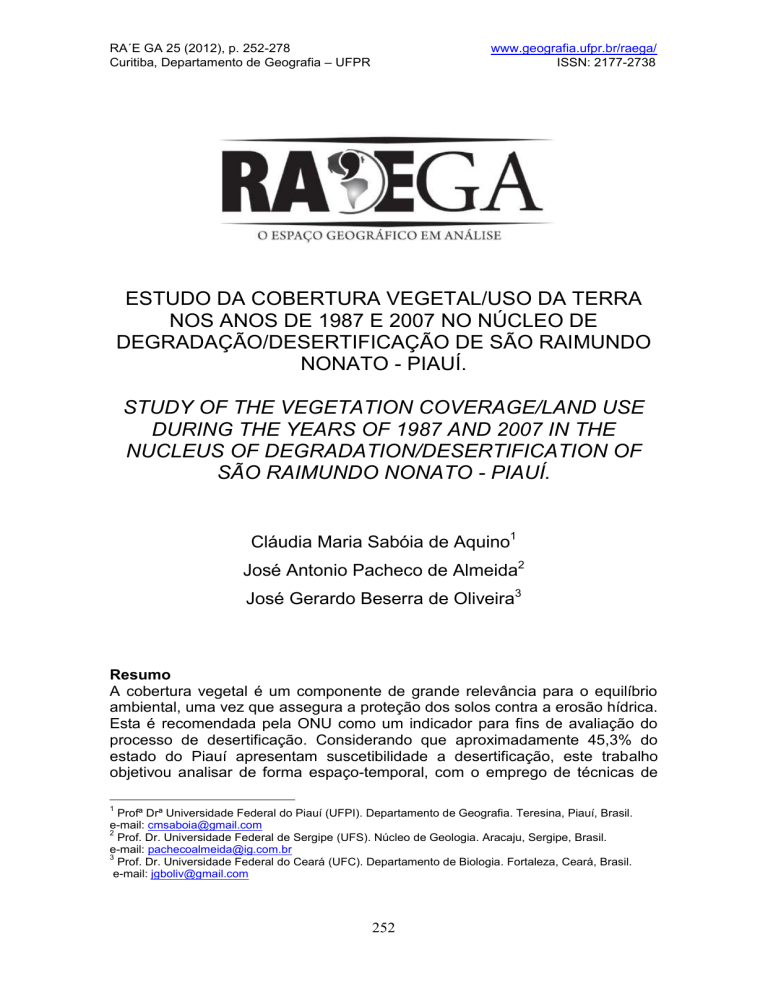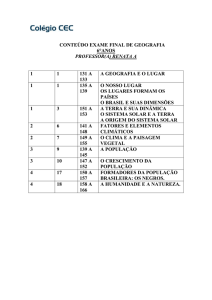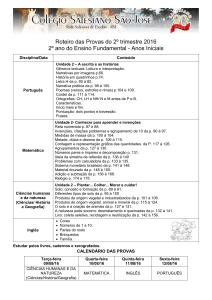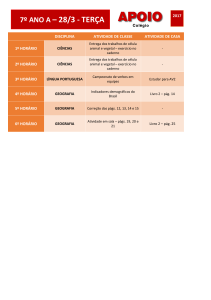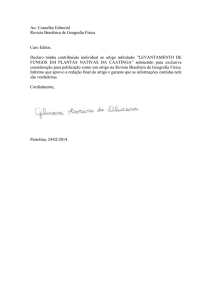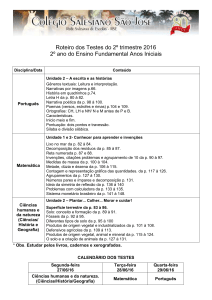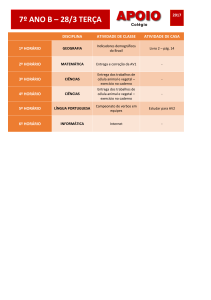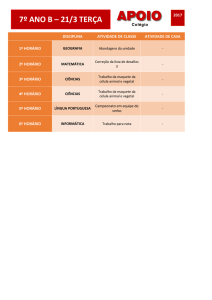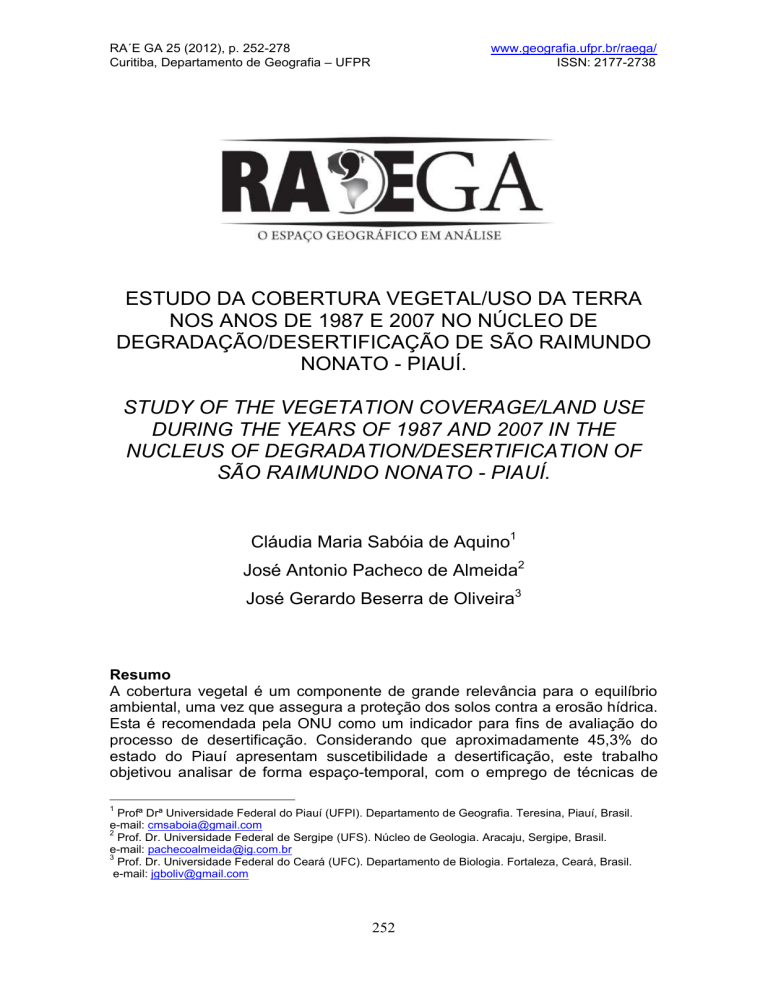
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
ESTUDO DA COBERTURA VEGETAL/USO DA TERRA
NOS ANOS DE 1987 E 2007 NO NÚCLEO DE
DEGRADAÇÃO/DESERTIFICAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO
NONATO - PIAUÍ.
STUDY OF THE VEGETATION COVERAGE/LAND USE
DURING THE YEARS OF 1987 AND 2007 IN THE
NUCLEUS OF DEGRADATION/DESERTIFICATION OF
SÃO RAIMUNDO NONATO - PIAUÍ.
Cláudia Maria Sabóia de Aquino1
José Antonio Pacheco de Almeida2
José Gerardo Beserra de Oliveira3
Resumo
A cobertura vegetal é um componente de grande relevância para o equilíbrio
ambiental, uma vez que assegura a proteção dos solos contra a erosão hídrica.
Esta é recomendada pela ONU como um indicador para fins de avaliação do
processo de desertificação. Considerando que aproximadamente 45,3% do
estado do Piauí apresentam suscetibilidade a desertificação, este trabalho
objetivou analisar de forma espaço-temporal, com o emprego de técnicas de
1
Profª Drª Universidade Federal do Piauí (UFPI). Departamento de Geografia. Teresina, Piauí, Brasil.
e-mail: [email protected]
2
Prof. Dr. Universidade Federal de Sergipe (UFS). Núcleo de Geologia. Aracaju, Sergipe, Brasil.
e-mail: [email protected]
3
Prof. Dr. Universidade Federal do Ceará (UFC). Departamento de Biologia. Fortaleza, Ceará, Brasil.
e-mail: [email protected]
252
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
sensoriamento remoto (detecção de mudanças), a dinâmica da cobertura
vegetal/uso da terra no Núcleo de São Raimundo Nonato, para fins de avaliar a
degradação/desertificação. Os resultados mostraram que houve decréscimo
significativo da classe de cobertura vegetal/uso da terra do tipo
agricultura+solos exposto. Esta decresceu de 31,1% em 1987 para 26,8% em
2007. Já na classe caatinga arbustiva densa, constatou-se incremento de
24,9% para 39,3%. Os resultados sugerem o aumento da proteção oferecida
pela cobertura vegetal que em 1987 era de 15,7% passou para 17,5% em
2007, com consequente diminuição do processo de degradação/desertificação
na área de estudo.
Palavras-chaves: Sensoriamento Remoto; Cobertura Vegetal; Uso da Terra;
NDVI; Desertificação.
Abstract
The vegetation coverage is a component of great relevance for the
environmental equilibrium, since it guarantees the protection of the soils against
hydric erosion. This is recommended by UN as an indicator for the evaluation
process of desertification. Considering that approximately 45,3% of the state of
Piauí presents susceptibility to desertification, this work has the objective of
analysing the spatial-temporal form from the standpoint of employment of
remote sensoring techniques (change detection) for the dynamics of vegetation
coverage/land use in the Núcleo de São Raimundo Nonato, in order to evaluate
the degradation/desertification. The results show that there was a significant
decrease of the class of vegetation coverage/land use of the
agricultural+exposed soils types. This decreased from 31,1% in 1987 to 26,8%
in 2007. In the shruby and dense caatinga, it was noticed an increase from
24,9% to 39,3%. The results suggest an increase in the protection offered by
the vegetation coverage that was equal to 15,7% in 1987, and changed to
17,5% in 2007, as a resulting decrease of the degradation/desertification
process of the studied area.
Keywords: Remote Sensing; Vegetation Cover; Land Use; NDVI;
Desertification.
Introdução
Nos últimos dois séculos é notório o incremento dos danos causados
pela sociedade urbano-industrial ao ambiente. As agressões podem ser
exemplificadas
através
de
práticas
de
desmatamento,
queimadas,
superpastoreio, etc. Estas práticas culminam com o comprometimento dos
recursos naturais, solo, ar, fauna, recursos hídricos, perda e/ou redução da
253
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
diversidade
biológica
e
ainda,
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
da
cobertura
vegetal,
resultando
no
empobrecimento dos ecossistemas, especialmente os áridos, semiáridos e os
subúmidos
secos,
com
o
consequente
desencadeamento
de
áreas
degradadas/desertificadas.
Fenômeno como Dust Bowl que ocasionou intensa degradação de solos
secos de alta erodibilidade no meio oeste americano, nos anos de 1930, e a
intensa seca na região do Sahel na África no período compreendido entre
1967-1970 inauguraram as preocupações relacionadas à desertificação e aos
impactos sociais e econômicos resultantes deste processo nas regiões áridas e
semiáridas do globo, inserindo a temática da desertificação na agenda política
internacional.
Esses dois eventos despertaram o interesse pela temática da
desertificação nos meios acadêmicos e políticos, inserindo definitivamente o
tema na agenda política internacional (Brasil, 2004).
Durante a realização da Conferência de Estocolmo em 1972,
considerando a gravidade das conseqüências da desertificação, decidiu-se na
oportunidade pela realização da I Conferência das Nações Unidas sobre
Desertificação (UNCOD) realizada em 1977 em Nairóbi, no Quênia. Na
ocasião, a desertificação foi considerada como um problema de primeira
magnitude, tendo sido definida como:
O empobrecimento dos ecossistemas áridos, semiáridos
e alguns subúmidos pelo impacto das atividades do
homem. A desertificação é o resultado do abuso da terra
(Rhodes, 1992).
O não estabelecimento de um indicador para identificação das áreas
suscetíveis a desertificação, combinado a inexistência de limites de aridez e,
ainda, a não consideração dos aspectos climáticos na definição resultaram, em
1991, na elaboração de uma nova definição para o fenômeno da desertificação.
Segundo MMA (2008) os resultados alcançados a partir da realização da
Conferência de Nairóbi foram mais do que modestos, fato que levou os países
com problemas de desertificação, especialmente os da África, a elaborarem
254
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
uma Convenção sobre desertificação. Esta Convenção foi realizada durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(ECO-92). Esta Convenção representou um marco de inflexão nas discussões,
posto ter definido o alcance do termo desertificação e o critério para
identificação das áreas sujeitas a este processo. Na ocasião, desertificação foi
definida como: “A degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e
subúmidas secas resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas
e as atividades humanas” (BRASIL, 1996, p. 9).
Por degradação da terra entende-se a redução ou perda, nas zonas
áridas, semiáridas e subúmidas secas, da produtividade biológica ou
econômica das terras agrícolas de sequeiro, das terras agrícolas irrigadas, das
pastagens naturais, das pastagens semeadas, das florestas e das matas
nativas devido aos sistemas de utilização da terra ou a um processo natural
(secas) ou combinação de processos, incluindo os que resultam da atividade
do homem e das suas formas de ocupação do território, tais como:
I. a erosão do solo causada pelo vento e/ou pela água;
II. a deterioração das propriedades físicas, químicas e biológicas ou
econômicas do solo, e
III. a destruição da vegetação por períodos prolongados, com
consequente redução da qualidade de vida das populações afetadas
(BRASIL, 1996)
A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação
considera como zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas todas as áreas –
com exceção das polares e das subpolares – com Índice de Aridez (IA) entre
0,05 e 0,65, que é estimado pelo quociente entre a precipitação média anual
(P) e a evapotranspiração potencial total anual (ETP). Os tipos de clima com
suas respectivas amplitudes de aridez são apresentados no Tabela 1.
255
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Tabela 1 – Tipos de clima segundo a amplitude de variação do Índice de
Aridez (P/ETP) da UNEP (1991).
Zonas climáticas
Hiper-árido
Árido
Semiárido
Subúmido seco
Subúmido e úmido
Amplitude do Índice de Aridez (IA)
< 0,005
0,05 – 0,20
0,21-0,50
0,51-0,65
>0,65
Fonte: UNEP (1991).
De acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à
Desertificação, as áreas susceptíveis à desertificação no Brasil (ASD) estão
localizadas em sua maioria na Região Nordeste, com predomínio de climas
semiáridos e subúmidos secos, e Índice de Aridez variando entre 0,21 a 0,65.
Estas terras secas têm em comum o fato de serem caracterizadas pela
ausência, escassez, quantidade limitada e ainda pela má distribuição das
precipitações pluviométricas, associadas a elevadas taxas de evaporação. Aliese a estas características o uso inadequado da terra e das pressões excessivas
sobre os recursos naturais nesses ambientes.
O intenso dinamismo dos processos e fatores de ordem natural que
atuam na superfície da terra, aliado à totalidade das atividades humanas,
especialmente após a Primeira Revolução Industrial, culmina em intensos
processos de degradação ambiental, que ensejam diagnósticos precisos e
rápidos para sua posterior intervenção e minimização.
Na atualidade, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), ao que se
adita o emprego de imagens orbitais, constituem ferramentas indispensáveis
para a detecção, avaliação e monitoramento espaço-temporal dos problemas
relacionados ao meio ambiente, em virtude da integração e sobreposição de
dados diferentes, em variadas escalas, permitido pelos sistemas de informação
geográfica, facilitando a tomada de decisões e reorientações, quando
necessárias, de políticas de uso e ocupação do solo.
A utilização da cobertura vegetal como indicador nos estudos ambientais
é ratificada pelas afirmativas de Accioly et al.(2002 e 2005), Bertrand (2004),
Vasconcelos Sobrinho (1978) e de Vieira (1978). Este último considera que o
indicador biológico-agrícola mais importante da desertificação, consiste nas
256
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
modificações sofridas pela cobertura vegetal de plantas perenes durante a
estação seca.
Desde a década de 1970 os métodos de levantamento do uso da terra e
da evolução da cobertura vegetal passaram a contar com a utilização de
técnicas de sensoriamento remoto, que se destacam pelo fato de permitirem o
estudo de espaços geográficos de dimensões significativas e de forma
temporal.
A
ferramenta,
Sensoriamento
Remoto,
é
um
dos
indicadores
recomendados pela ONU para avaliar o problema da desertificação. A
avaliação da dinâmica da cobertura vegetal é um componente de grande
relevância para o equilíbrio ambiental, uma vez que garante a proteção dos
solos contra a erosão, condição material para o estabelecimento de processos
de desertificação, conforme demonstra a Figura 1.
Barbosa et al.(2009) estudaram a evolução da cobertura vegetal e uso
agrícola do solos do município de Lagoa Seca- PB. O estudo baseou-se em
fotos aéreas de 1984 e imagens do Landsat TM3, TM4 e TM5 de 1989, aliadas a
levantamentos
através
de
sistema
de
posicionamento
global
(GPS).
Identificaram sete fisionomias diferenciadas de cobertura vegetal e uso agrícola.
Consideram que o emprego das tecnologias de SIG é fundamental para o
resgate do passado e elaboração de planejamento futuro das paisagens.
Sá et al. (2010) analisaram a cobertura vegetal de parte da região do
Araripe Pernambucano com emprego do uso de imagens digitais do sensor
Thematic Mapper (TM) do satélite LANDSAT 5, datadas de 21/09/2008.
Estabeleceram oito classes de NDVI (Índice de Vegetação por Diferença
Normalizada, que indica o vigor da vegetação) e de cobertura vegetal e uso da
terra. Afirmam que o mapeamento da cobertura vegetal e uso da terra na
região do Araripe pernambucano constitui ferramenta bastante útil para o
planejamento do espaço territorial da região da chapada do Araripe.
Silva & Silva (2011), com o emprego de técnicas de geoprocessamento
e sensoriamento remoto combinadas a índices de paisagem, analisaram a
cobertura vegetal de Lucena entre os anos de 1970 e 2005. Constataram
significativa fragmentação de áreas de mata em detrimento especialmente do
257
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
cultivo de cana-de-açúcar. Em 1970, havia cerca de 2.150 ha de matas na área
estudada, enquanto em 2005 esta área era de apenas 769 ha, uma redução
segundo os autores de 1.381 ha de área de mata em 35 anos.
Figura 1 - Relação desertificação e erosão dos solos, adaptada de Roxo &
Mourão (1998) e Aquino (2002)
Causas da Desertificação
Atividades humanas
Processos Naturais
Variabilidade sazonal
e
interanual das chuvas
Pecuária
Agricultura
Irrigação
Indústria e
energia
Terras agrícolas
Superpastoreio
Redução da cobertura
vegetal
Chuvas Intensas e
torrenciais
Degradação
das
pastagens
Erosão dos solos
Erosão dos solos
Remoção da
cobertura
vegetal
Práticas agrícolas incorretas e
degradantes;
Perda de matéria orgânica e da
fauna do solo – esterilização;
(agregados e horizontes)
Erosão dos solos
Corte de Madeira
Práticas agrícolas
incorretas
e
degradantes;
Desmatamentos;
Sedimentação;
Salinização;
Redução dos níveis
freáticos;
Perda da fertilidade dos
solos
Erosão dos solos
Exposição do solo
Erosão dos solos
Criação de condições materiais para o estabelecimento de processos de desertificação e
consequente degradação dos recursos naturais (solo, água e vegetação).
Fonte: Aquino (2010)
258
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Considerando a afirmação de Brasil (2004), de que o uso e ocupação
das terras secas ao longo de várias décadas contribuíram para o
estabelecimento dos processos de desertificação e determinaram a velocidade
de sua ocorrência, objetivou-se neste trabalho: i) identificar e comparar, com
uso de técnicas de sensoriamento remoto, a dinâmica entre os tipos de
cobertura vegetal/uso da terra no Núcleo de São Raimundo Nonato entre os
anos de 1987 e 2007 e ii) estabelecer relações entre os tipos de cobertura
vegetal/uso da terra e o NDVI da área de estudo, para fins de analisar a
degradação/desertificação no Núcleo de São Raimundo Nonato, área
suscetível a desertificação de acordo com Brasil (2004).
2. Material e métodos
2.1. Área de estudo
A área geográfica de estudo localiza-se na porção sudeste do estado do
Piauí, integrando a microrregião de São Raimundo Nonato. Localiza-se entre
as coordenadas de 8º 57’65” a 9º 59’03” de latitude Sul e 42º 06’44” a 43º
03’25” de longitude oeste, totalizando uma área de aproximadamente 6.988
km2 .
O núcleo de São Raimundo Nonato, segundo Aquino (2002), integra
área do estado do Piauí suscetível a desertificação e é composto por cinco
municípios: São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, Bonfim do Piauí, São
Lourenço e Dirceu Arcoverde, distribuídos espacialmente conforme Figura 2.
Considerando a geologia regional, o Núcleo de São Raimundo Nonato
situa-se em três grandes domínios geológicos: as Províncias São Franciscana,
Borborema e Parnaíba. Quanto ao aspecto geomorfológico de acordo com
Brasil (1973) a área de estudo exibe duas unidades morfoestruturais i) a
superfície tabular estrutural representada por planaltos areníticos cuestiformes
e ii) a superfície pediplanada pré-cambriana.
259
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Figura 2 – Localização da área de estudo e distribuição espacial dos
municípios integrantes do Núcleo de São Raimundo Nonato – Piauí.
A análise climática da área de estudo baseou-se em dados de
precipitação das séries anuais disponíveis em SUDENE (1990), no período
compreendido de 1963 a 1985. Foram utilizados 20 postos pluviométricos
localizados dentro e no entorno do núcleo de São Raimundo Nonato para
análise do balanço hídrico considerando uma série histórica de 23 anos A
análise dos dados revelou valores médios anuais de precipitação variando de
996 mm a 707 mm.
A evapotranspiração potencial (ETP) da área de estudo, estimada a
partir de dados de temperaturas médias mensais obtidas de acordo com Lima
et.al (1982), apresenta valores em todos os postos analisados superiores a
1000 mm, com um valor médio de 1.462mm. Estes elevados valores de ETP
resultam em parte das elevadas temperaturas a que está submetida a região
Nordeste, considerada por Conti (2003) como faixa privilegiada em relação ao
recebimento de radiação solar, da concentração de calor e de excedente
energético.
260
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Uma análise comparativa entre os valores médios de precipitação e
evapotranspiração potencial permite inferir o significativo déficit hídrico,
superior a 400 mm/ano no Núcleo de São Raimundo Nonato.
O índice de aridez (IA) proposto pelo UNEP (1991) para a identificação
das terras secas suscetíveis a desertificação foi aplicado e revelou níveis
diferenciados de aridez para a área de estudo com valores de IA variando de <
0,20 a < 0,65, com predominância de valores entre 0,20 a 0,50, permitindo o
enquadramento climático da área na tipologia semiárida. Os valores do Índice
Efetivo de Umidade (Im) (THORNTHWAITE & MATHER, 1955) obtidos
variaram de -33 a -60 reforçando a ocorrência de um clima semiárido para a
área de estudo. O coeficiente de variação do Im oscilou de 28,2% a 43,9%,
evidenciando assim a fragilidade climática e consequentemente ecológica da
área de estudo.
No que concerne à distribuição temporal das precipitações, constata-se
que a área de estudo apresenta de oito a onze meses secos. Os gráficos
ombrotérmicos apresentados na Figura 3 revelam o comportamento médio das
chuvas e das temperaturas nos postos pluviométricos inseridos na área de
estudo e reforçam a constatação da concentração das precipitações num curto
período do ano.
Nos postos analisados constatam-se poucas oscilações, evidenciando
regular distribuição dos valores de temperatura média em todos os meses. O
gráfico também permite inferir serem os meses de janeiro, fevereiro e março os
mais chuvosos e, portanto, de maior atividade vegetal, e que os meses de
junho, julho, agosto e setembro são os mais secos, e caracterizam uma
situação ecológica de déficit hídrico nestes períodos.
A variedade litológica, aliada ao condicionante climático favorecem a
ocorrência diferenciada de solos Latossolo (61,9%), Argissolo (17,4%),
Neossolo Litólico (16,7%), Neossolo Regolítico (3,6%) e Luvissolo (0,4%),
sobre os quais identifica-se a presença de cobertura vegetal xerofítica, com
caducifolia sazonal representada pelas caatingas.
261
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Figura 3 - Gráficos ombrotérmicos dos postos pluviométricos Bom Jardim e
Cavalheiro, localizados no Núcleo de Desertificação de São Raimundo Nonato
– PI, no período de 1963 a 1985.
140
70
120
60
100
50
80
40
60
30
40
20
20
10
0
Temperatura (°C)
Pluviosidade 9mm)
Posto Bom Jardim
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
meses
Pluviosidade (mm)
Temperatura (°C)
.
Posto Cavalheiro
80
150
60
100
40
50
20
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
meses
Pluviosidade (mm)
Fonte: Aquino (2010)
262
Temperatura (°C)
11
12
Temperatura (°C)
Pluviosidade (mm)
200
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
2.2. Aspectos econômicos e demográficos do núcleo de São Raimundo
Nonato
Na sucessão dos tempos históricos, o Núcleo de São Raimundo Nonato,
como o resto do Nordeste brasileiro, teve seu devassamento e povoamento
decorrente da expansão da pecuária que teve início no século XVII, com o
consequente espalhamento das fazendas de gado para o Hinterland. Aliada à
pecuária destaca-se a atividade da agricultura de subsistência, conforme
gráfico da Figura 4.
Figura 4 – Porcentagem das classes de atividades econômicas desenvolvidas
no Núcleo de São Raimundo Nonato nos anos de 1985 e 1995/1996.
Porcentagem das Classes de Atividades Econômicas desenvolvidas no
Núcleo de São Raimundo Nonato nos anos de 1985 e 1995/1996.
Classes de Atividades
Extração Vegetal 0.1
1.2
29.8
Procução Mista 0.2
0.8
Silvicutura
1995/1996
1985
Horticultura ou 0.4
0.2
floricultura
52.1
Pecuária
77.8
16.9
20.8
Agricultura
0
20
40
60
Porcentagem %
263
80
100
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
A Figura 5 apresenta a porcentagem dos principais produtos agrícolas
do Núcleo de São Raimundo Nonato nos anos de 1989, 1995, 2001 e 2006.
Figura 5 – Porcentagem dos principais produtos agrícolas do Núcleo de São
Raimundo Nonato nos anos de 1989, 1995, 2001 e 2006.
Porcentagem dos principais produtos agrícola do Núcleo de São
Raimundo Nonato nos anos de 1989, 1995, 2001 e 2006.
Porcentagem
100
84.9
87.2
80.6
71.3
80
Feijão em graõs
60
Mamona
40
Mandioca
20
4.7 3.4
0
1989
7
7
12.2
0.2
5.3
0.2
1995
2001
7.3
10.78.4
9.6
Milho
2006
Anos
Aquino (2010) afirma que, de modo geral, nos anos de 1989, 1995, 2001
e 2006 constatam-se mudanças significativas (tendência de redução) tanto na
área plantada, como nas quantidades produzidas das culturas de subsistência
(milho, feijão e mandioca). A redução entre os anos de 1989 e 2006 para o
cultivo de milho, feijão e mandioca foi de 95,3%, 91,8% e 97%
respectivamente. Esta redução, na opinião da autora, pode resultar dentre
outros fatores, da queda progressiva da população rural e do aumento da
população urbana, especialmente após o ano de 1993, quando da
264
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
emancipação dos municípios de Bonfim do Piauí, Coronel José Dias e São
Lourenço.
A dinâmica populacional na área de estudo entre os anos de 1970, 1980,
1991, 1996 e 2007 é apresentada na figura 6.
Figura 6 – evolução da População urbana no Núcleo de São Raimundo Nonato
nos anos de 1970, 1980, 1991, 1996 e 2007.
A
consolidação
da
estrutura
dos
municípios
emancipados,
o
conseqüente aumento da possibilidade de acesso a equipamentos públicos,
estão entre os aspectos responsáveis pelo significativo aumento no contingente
urbano da área de estudo.
A pecuária extensiva historicamente tem-se constituído a principal
atividade econômica no Núcleo de São Raimundo Nonato. No entanto, ao
265
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
longo dos anos esta atividade vem sofrendo algumas modificações que podem
ser constatadas a partir dos dados constantes na Figura 7.
Figura 7 – Porcentagem de efetivos bovinos, ovinos e caprinos no Núcleo de
São Raimundo Nonato nos anos de 1991, 1995, 2001 e 2006.
Porcentagem de efetivos Bovinos, Ovinos e Caprinos no Núcleo de São Raimundo
Nonato no anos de 1991, 1995, 2001 e 2006.
47.8
40.3
2006
11.9
51.1
37
2001
11.9
Anos
Caprino
Ovino
Bovino
52.1
1995
28.3
19.6
53.2
1991
28.3
18.5
0
10
20
30
40
50
60
1991
1995
2001
2006
Caprino
53.2
52.1
51.1
47.8
Ovino
28.3
28.3
37
40.3
Bovino
18.5
19.6
11.9
11.9
Porcentagem
266
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
2.3 Procedimentos metodológicos e técnicos
O trabalho baseou-se em técnicas de sensoriamento remoto. Por meio
destas, são fornecidas imagens de grandes áreas, muitas vezes de acesso
difícil, a custo relativamente baixo e com uma certa periodicidade, o que
potencializa sua utilização nos levantamentos dos diferentes tipos de cobertura
vegetal e uso das terras, bem como nos estudos de degradação ambiental.
Estudos como os de Accioly et al.(2002 e 2005), Campos et. al (2004),
Franco et al. (2007), Sousa et. al. (2008), Fernandes et al. (2009), Oliveira et al.
(2009), Lopes et al. (2010), Rosemback et al. (2010), Sá et al. (2010) e Melo et
al. (2011), constituem referência no emprego de técnicas de sensoriamento
remoto para análise da dinâmica da cobertura vegetal e avaliação de áreas
degradadas/desertificadas.
Na restituição de padrões de tipos de cobertura vegetal e uso da terra do
ano de 1987, foram utilizadas as bandas espectrais 2, 3, 4 e 5, do Landsat 5
TM, considerando a resposta espectral dos alvos, aliada a conhecimentos
relativos a clima, solo e relevo da área de estudo conforme sugeridos por
Beltrame (1994).
Para o ano de 2007, as análises das imagens foram realizadas com
base na composição das bandas espectrais 2, 3, 4 e 5, do Landsat 5 TM
combinadas com inspeções de campo. As imagens empregadas com os
respectivos pontos, órbitas, datas de passagem do satélite, sensor e resolução
estão listadas no Quadro 1. As imagens foram adquiridas gratuitamente do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
As imagens orbitais oriundas do INPE foram importadas para o GIS
IDRISI 3.2, em seguida georreferenciadas no sistema de coordenadas
geográficas (latitude-longitude) com emprego do método imagem – imagem.
Após o registro das imagens com o uso do utilitário Mosaic, as imagens foram
mosaicadas, em seguida, com o utilitário Overlay a imagem foi recortada
considerando os limites geográficos da área de estudo.
267
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Quadro1 – Características das imagens LANDSAT com a cobertura de
nuvens < 10% utilizadas para identificação de tipologias de cobertura vegetal e
uso da terra no Núcleo de São Raimundo Nonato.
Ponto
/órbita
Datas
1987
Sensor
Resolução
Ponto
/órbita
Datas
2007
Sensor
Resolução
219/66
09/08/1987; Landsat
06/06/1987
5 TM
30 metros
219/66 01/09/2007 Landsat 30 metros
5 TM
218/66
03/09/1987; Landsat
30/05/1987
5 TM
30 metros
218/66 29/09/2007 Landsat 30 metros
5 TM
218/67
03/09/1987; Landsat
30/05/1987
5 TM
30 metros
218/67 26/09/2007 Landsat 30 metros
5 TM
Fonte: Pesquisa direta. Aquino (Org.), 2009.
O mapeamento da dinâmica da cobertura vegetal e uso do solo foi
realizado com emprego do método de Classificação Supervisionada, do tipo
pixel a pixel objetivando definir regiões homogêneas. A classificação é dita
supervisionada, quando o analista, com base no conhecimento da área ou por
inferência, relaciona áreas da imagem com as classes de cobertura da terra
que deseja separar (CRÓSTA, 2001).
O enquadramento de um pixel a uma determinada classe é feito por
vários métodos, levando-se em consideração os valores de níveis de cinza nas
várias bandas utilizadas (neste estudo, utilizaram-se as bandas 2, 3, 4 e 5) .O
método empregado neste estudo para enquadramento dos pixels foi o
MAKESIG do IDRISI 3.2, associando a cada pixel da imagem uma assinatura
similar. Na sequência utilizou-se o módulo MAXLIKE do IDRISI 3.2, com o
emprego do método da máxima verossimilhança, para atribuir a cada pixel
identificado sua respectiva assinatura espectral, gerando uma imagem
classificada.
As fácies de cobertura vegetal foram identificadas por meio de uma
chave de interpretação, considerando as variáveis forma, textura, tonalidade,
tamanho e localização.
268
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
3 Resultados
3.1 Dinâmica da cobertura vegetal e uso da terra nos anos de 1987 e 2007
As
fácies
de
cobertura
vegetal
identificadas,
considerando
a
estratificação (distribuição das plantas conforme suas alturas) e ainda a
densidade entre as espécies, foram: caatinga arbórea, caatinga arbustiva
densa, caatinga arbustiva aberta e agropecuária + solo exposto. O fato de as
áreas utilizadas para agricultura e pecuária na estação seca exibirem, em sua
maioria, a presença de solo exposto, identificadas nas imagens como sendo as
áreas mais claras, justifica a junção destas duas categorias em uma única
classe. A figura 8 apresenta a fisionomia das classes estabelecidas.
A Figura 9 apresenta a distribuição espacial dos tipos de cobertura
vegetal e uso das terras para os anos de 1987 e 2007. Com base nesta Figura,
constata-se para o ano de 1987 a seguinte distribuição espacial entre as
classes: 12,0% catinga arbórea, 24,9% caatinga arbustiva densa, 32,0%
caatinga arbustiva aberta e 31,1% agropecuária + solo exposto. Para o ano de
2007 a distribuição das fácies apresentadas anteriormente e a seguinte: 4,9%,
39,3%, 29,0% e 26,8% respectivamente.
A avaliação da detecção de mudanças entre os tipos de cobertura
vegetal e uso da terra entre os anos de 1987 e 2007 objetivou identificar e
avaliar processos de degradação e/ou recuperação ambiental na área de
estudo. A avaliação destas mudanças pode ser constatada na Tabela 2, que
apresenta as modificações nos tipos de cobertura vegetal identificados em
1987, com as respectivas alterações sofridas por eles em 2007.
269
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Figura 8 – Fisionomias da cobertura vegetal na área de estudo.
Caatinga arbórea
Fonte: http://www.turismobrasil.gov.br
Caatinga arbustiva aberta
Caatinga arbustiva densa
Solo exposto, recoberto por pedregosidade circundada por vegetação arbustiva aberta
Fonte: Aquino (2010)
270
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Figura 9 – Formações Vegetais e Uso da Terra no Núcleo de S. Raimundo
Nonato nos anos de 1987 e 2007.
Fonte: Pesquisa direta. Aquino (Org.), 2010.
271
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Tabela 2 - Distribuição absoluta e relativa dos tipos de vegetação\uso da terra
na imagem de 1987 e sua dinâmica na imagem de 2007.
Tipos de vegetação\uso da terra
(1987)
Arbórea
Arbustiva
Densa
Arbustiva
Aberta
Agropecuária
+
Solo exposto
Vegetação
no ano de
2007
Área
(Km2)
%
Área
(Km2)
%
Área
(Km2)
%
Área
(Km2)
%
Área
(Km2)
%
Dinâmica dos tipos de vegetação\uso da terra
(2007)
Arbórea Arbustiva Arbustiva Agropecuária
Densa
Aberta
+solos
exposto
835,7
147,3
546,8
93,6
48,0
12,0
1741,2
17,7
60,7
65,4
1035,7
11,2
431,1
5,7
213,7
24,9
2235,6
3,5
64,6
59,5
701,0
24,8
903,0
12,2
567,0
32,0
2175,2
2,9
70,8
31,4
463,4
40,4
596,8
25,3
1044,2
31,1
6887,7
3,3
343,4
21,3
2746,9
27,4
2024,5
48,0
1872,9
100,0
4,9
39,3
29,0
26,8
Fonte: Pesquisa direta. Aquino (Org.), 2009.
Uma análise dos dados constantes na Tabela 2 permite inferir que:
do total de 835,7 km2, que representava a mancha de caatinga arbórea
identificada em 1987, apenas 17,7% permaneceram nesta classe em
2007, pois 65,4%, 11,2% e 5,7% passaram para as classes de caatinga
arbustiva densa, caatinga arbustiva aberta e agropecuária + solo
exposto, evidenciando assim, desequilíbrios/degradação que podem
resultar de variações nas condições climáticas da área e/ou de
desmatamentos;
para o tipo identificado em 1987 como caatinga arbustiva densa,
constatou-se uma recuperação vegetacional em 3,5% da área que
passou em 2007 à categoria de caatinga arbórea, 59,5% da área
mantiveram-se recobertos por caatinga arbustiva densa, 24,8% e 12,2%
272
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
passaram para as classes de caatinga arbustiva aberta e agropecuária +
solo exposto;
na classe caatinga arbustiva aberta também podem ser evidenciadas
modificações substanciais no sentido de recuperação vegetacional, pois
em 2,9% e 31,4% da área desta mancha a vegetação passou em 2007
para as classes de arbórea e arbustiva densa respectivamente
evidenciando assim a ocorrência de sucessão ecológica. Os dados
obtidos revelam que 40,4% desta classe mantiveram-se como caatinga
arbustiva aberta e 25,4%, passaram à categoria agropecuária + solo
exposto, indicando aumento de degradação/desertificação;
mudanças substanciais também foram observadas na categoria
agropecuária + solo exposto. Em 2007 apenas 48,0% da área mapeada
permaneceu nesta classe. Foram evidenciadas sucessões ecológicas,
sendo que em 3,3%, 21,3% e 27,4% do que fora mapeado como solo
exposto em 1987, em 2007 identificou-se cobertura vegetal do tipo:
caatinga arbórea, caatinga arbustiva densa e caatinga arbustiva aberta,
o que permite inferir diferentes estádios de sucessão ecológica
secundária, com consequente melhoria na dinâmica do ambiente;
existe aumento no número de núcleos urbanos, já que em 1987 foram
mapeados apenas os municípios de São Raimundo Nonato e de Dirceu
Arcoverde estes criados em 1961 e 1983 respectivamente. Em 2007,
foram a emancipados destes dois Municípios os de Bonfim do Piauí,
Coronel José Dias e São Lourenço no ano de 1993, que passaram a
constar no mapeamento.
O gráfico da Figura 10 permite visualizar a distribuição dos tipos de
cobertura vegetal e uso da terra nos anos estudados e a consequente melhoria
na proteção oferecida pela vegetação.
273
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Figura 10 – Percentuais dos tipos de Cobertura Vegetal e Uso do Solo
em 1987 e 2007.
Valores Percentuais dos tipos de Cobertura Vegetal e
Uso do Solo nos anos de 1987 e 2007.
39.30%
32%
29%
24.90%
31.10%
26.80%
1987
2007
12%
4.90%
Caatinga Arbórea
Caatinga
Caatinga
Arbustiva Densa Arbustiva Aberta
Agropecuária +
Solo Exposto
Fonte: Pesquisa direta. Aquino (Org.), 2010.
Constata-se uma coerência nos dados obtidos na pesquisa com os
encontrados por Lemos (2003). Esse autor, baseado no porte (altura e
diâmetro), caracterizou um hectare de caatinga do Parque Nacional Serra da
Capivara. Concluiu que dos 5.827 indivíduos amostrados (73,6%) do total
apresentavam de 2,1 a 5,0 metros e apenas 22 indivíduos (0,37) ultrapassaram
8,0 metros de altura e 26,03% registraram altura media de 3,5 metros. Estes
dados confirmam o predomínio de uma caatinga com fisionomia arbustiva com
indivíduos bastante ramificados na área de estudo e a presença de algumas
árvores emergentes esparsas. Freitas (2007) afirma ser o predomínio de
estratos arbustivos um sinal de possível sucessão secundária na área de
estudo.
De acordo com os dados da Tabela anterior, pode-se afirmar que, de
modo geral, houve melhoria nos níveis de proteção vegetal na área de estudo
entre os anos analisados. Analises de Regressão realizadas entre as imagens,
indicou que a proteção da cobertura vegetal, que em 1987 era de 15,7%,
passou para 17,5% em 2007.
274
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Conclusões
Confirma-se a importância do emprego de técnicas de sensoriamento
remoto na avaliação espaço-temporal de mudanças de cobertura vegetal
e uso da terra, para fins de analises da degradação ambiental, contudo,
entende-se a necessidade de emprego de indicadores complementares a
exemplo do NDVI.
A metodologia adotada mostrou-se eficiente, pois a utilização de imagens
orbitais LANDSAT-5, combinadas com técnicas de geoprocessamento, e
inspeções a campo evidenciaram resultados bastante confiáveis.
Os resultados mostraram que houve decréscimo da vegetação de porte
arbóreo entre os anos analisados de 12% para 4,9%. Houve redução
significativa da classe de cobertura vegetal/uso da terra do tipo
agricultura+solo exposto, esta decresceu de 31,1% em 1987 para 26,8%
em 2007, já na classe caatinga arbustiva densa constatou-se incremento
de 24,9% para 39,3%.
As mudanças constatadas nas análises das imagens orbitais entre os
anos de 1987 e 2007 no Núcleo de São Raimundo Nonato revelam de
modo geral melhora em termos de proteção oferecida pela cobertura
vegetal, resultado da ocorrência de uma possível sucessão ecológica
secundária, que refletir-se-á em melhoras na condição ambiental, com
decréscimos da degradação/desertificação na área de estudo.
Uma breve avaliação temporal de aspectos econômicos indicou redução
nos cultivos temporários de subsistência e nos rebanhos (bovino, ovino e
caprino), fatores estes possivelmente responsáveis pelas mudanças nas
classes de cobertura vegetal.
Este resultado enseja a realização de novas pesquisas, que expliquem
empiricamente as causas do aumento da cobertura vegetal na área de
estudo.
A carência de estudos para o estado do Piauí, nesta perspectiva, mesmo
que em caráter exploratório, deve ser considerado elemento norteador de
novas pesquisas.
275
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
Referências Bibliográficas
ACCIOLY, L.J.O.; PACHECO, A.; COSTA, T.C.C.; LOPES, O.F.; & OLIVEIRA,
M.A.J. Relações empíricas entre a estrutura da vegetação e dados do sensor
TM/LANDSAT. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental,
Campina Grande, v. 6, nº 3, p. 492-498, 2002.
ACCIOLY, L.J.O.; GARCON, E.A.M.; BARROS, M.R.O.; & BOTELHO, F.
Avaliação de alvos em áreas sob desertificação no semiárido paraibano com
base nos sensores Hyperion e LANDSAT7 ETM+. In: Anais XII Simpósio
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, p. 347-353, Abril, 2005.
AQUINO, C. M. S. Suscetibilidade Geoambiental das Terras Secas do Estado
do Piauí à Desertificação. Dissertação de Mestrado – Programa Regional de
Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal
do Ceará, Fortaleza, 2002.
AQUINO, C. M. S. Estudo da degradação/desertificação no Núcleo de São
Raimundo Nonato – Piauí. Tese (Doutorado em Geografia) – Núcleo de PósGraduação em Geografia, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa,
Universidade Federal de Sergipe, 2010.
BARBOSA, I; S.; ANDRADE. L. A.; & ALMEIDA, J. A. P. Evolução da cobertura
vegetal e uso agrícola do solo no município de Lagoa Seca, PB. Revista
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina Grande, v.13, nº 5, p.
614-622, 2009.
BELTRAME, A.V. Diagnóstico do meio físico de bacias hidrográficas: modelo e
aplicação. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1994.
BERTRAND, G. Paisagem e Geografia Física global: esboço metodológico.
RA’EGA, Curitiba, nº 8, p. 141 – 152, 2004.
BRASIL. Departamento Nacional de Produção Mineral. Projeto Radam.
Levantamento de Recursos Naturais: Parte das Folhas SC.23 – Rio São
Francisco e SC.24 Aracaju. Rio de Janeiro, Vol.1, 1973.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Convenção das Nações Unidas de
Combate à Desertificação nos Países afetados por seca grave e/ou
desertificação, particularmente na África – CCD. Brasília: MMA, 1996. 89p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa de ação Nacional de Combate
à desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, PAN-BRASIL. Edição
comemorativa dos 10 anos da Convenção das Nações Unidas de Combate à
Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – CCD. Brasília: MMA, 2004.
225p.
CAMPOS, S.; SILVA, M.; PIROLI, E. L.; CARDOSO, L.G. BARROS, Z.X.
Evolução do uso da terra entre 1996 e 1999 no município de Botucatu – SP.
Engenharia Agrícola, Jabotiocabal, vol. 24, nº 1, p. 211-218, jan/abr. 2004.
276
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
CRÓSTA, A.P. Processamento digital de imagens de sensoriamento remoto.
Campinas: UNICAMP, 2001.170 p.
CONTI, J.B.. A desertificação como forma de degradação ambiental no Brasil.
In: RIBEIRO, W.C. (org.). Patrimônio Ambiental Brasileiro. São Paulo: EDUSP,
2003.
FERNANDES, L. R.; ALMEIDA, A.M.; DUARTE, C. R. Evolução da “cobertura
vegetal”no município de Carnaúba dos Dantas – região do Seridó/RN. In:
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, XIV, 2009, Natal, 25-30 de
abril, p.2721-2728.
FRANCO, E.S.; LIRA, V. M.; FARIAS, M. S.S.; PORDEUS, R.V.; LIMA, V.L.A.
Uso de imagens TM/Landsat – 5 na identificação da degradação ambiental na
microbacia hidrográfica em Boqueirão – PB. In: Campo-território: revista de
geografia agrária, vol. 2, nº 3, p. 79-88, fev., 2007.
FREITAS, M.W.D.de. Estudo integrado da paisagem no sertão pernambucano
(NE-Brasil) com o uso de sistemas de informação geográfica e sensoriamento
remoto. 2007. Dissertação (Mestrado em sensoriamento remoto) - INPE, São
José dos Campos, 2007.
LEMOS, J. R. Fitofisionomia de um hectare de caatinga no Parque Nacional
Serra da Capivara, Estado do Piauí, Brasil. In: Brasil Florestal, Brasília, nº 75,
2003.
LIMA, M.G., ALENCAR, P.A.M., e COELHO,H. Normais de temperaturas
máxima, mínima e média estimadas em função de latitude, longitude e altitude
para o estado do Piauí. Ensaios – Boletim de Pesquisa, 1(1): 1-40, 1982.
LOPES, H.;CANDEIAS, A.L.B.; ACCIOLY, L.J.O.; SOBRAL, M. do C.M. &
PACHECO, A.P. Parâmetros biofísicos na detecção de mudanças na cobertura
e uso do solo e,m bacias hidrográficas. In: Revista Brasileira de Engenharia
Agrícola e Ambiental, v.14, n.11, p.1210–1219, 2010a.
MMA. Programa de ação Nacional de Combate à desertificação. Disponível
em: <http://desertificacao.cnrh-srh.gov.br/>. Acesso em 12 de novembro de
2008.
MELO, E. T.; SALES, M.C.L.; OLIVEIRA, J.G.B. Aplicação do Índice de
Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para análise da degradação
ambiental da microbacia hidrográfica do Riacho dos Cavalos, Crateús-CE.In:
RA’EGA, Curitiba, vol.23, p. 520-533, 2011.
OLIVEIRA, T. H.; SILVA, J.S.; SILVA, C.A.V.; SANTIAGO, M.M.; MENEZES,
J.B.;SILVA, H.A. & PIMENTEL, R. M. M. Avaliação da Cobertura Vegetal e do
Albedo da Bacia Hidrográfica do Rio Moxotó com Imagens do Satélite Landsat
5. In: Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil,
25-30 abril 2009.
277
RA´E GA 25 (2012), p. 252-278
Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR
www.geografia.ufpr.br/raega/
ISSN: 2177-2738
RHODES, J. G. Repensando a desertificação: o que sabemos e o que temos
aprendido?. Fortaleza: ICID, 1992.
ROXO,M.J. & J.M.MOURÃO. Um passo contra o deserto: a percepção do
fenômeno. Revista Florestal, Lisboa, XI(1):30+34, 1998.
ROSEMBACK, R.; FERREIRA, N.J.; SHIMABUKURO, Y.E.; CONFORTE, J.C.
Análise da dinâmica da cobertura vegetal na região sul do Brasil a partir de
dados MODIS/TERRA. In: Revista Brasileira de Cartografia, nº 62, Edição
Especial 2, p.401-416, 2010.
SÁ, I. I. S.; GALVÍNCIO, J. D.; MOURA, M.S.B.; & SÁ, I.B. Cobertura vegetal e
uso da terra na região Araripe pernambucana. Mercator, Fortaleza, v.9, nº 19,
mai./ago., 2010.
SANTOS, P.; NEGRI, A. J. A comparasion of the normalized difference
vegetation index and rainfall for the Amazon and northeastern Brazil. Journal of
applied meteorology, Washington, v. 36, n 7, p. 958-965, 1997.
SILVA, V.C.L. & SILVA R. M. Análise da cobertura vegetal em Lucena entre
1970/2005 usando ecologia da paisagem, Sig e sensoriamento remoto.
Caminhos de Geografia, Uberlândia, Vº 12, nº 37, p 8-20, 2011.
SOUSA, R. F.; BARBOSA, M. P.; SOUSA JÚNIOR, S.P.; NERY, A.P ; LIMA,
A.N. Estudo da evolução espaço-temporal da cobertura vegetal do município
de Boa Vista – PB, utilizando geoprocessamento. In: Caatinga, Mossoró, vol.
21, nº 3, p.22-30. Jun/agos. 2008.
SUDENE. Dados Pluviométricos Mensais do Nordeste: Estado do Piauí. Recife,
1990.
THORNTHWAITE, C.W & J.R. MATHER. The Water Balance - Publications in
Climatology. N. Jersey: Centerton, v. VIII, nº 1, 1955.
UNEP. Status of desertification and implementation of the United Nations Plan
of Action to Combat Desertification. Nairóbi, 1991.
VASCONCELOS SOBRINHO, J. Metodologia para Identificação de Processos
de Desertificação: Manual de Indicadores. Recife: SUDENE, 1978.
VIEIRA, N.M. Estudo geomorfológico das voçorocas de Franca - SP. 1978. 225
f. Tese (Doutorado em História) - Instituto de História e Serviço Social,
Universidade Estadual Paulista, Franca, 1978.
Recebido em 27/12/2011.
Aceito em 06/06/2012.
278