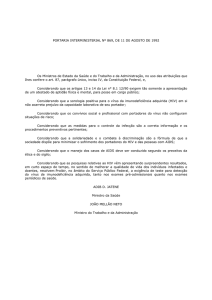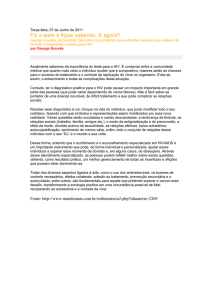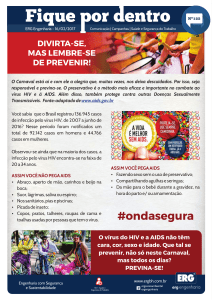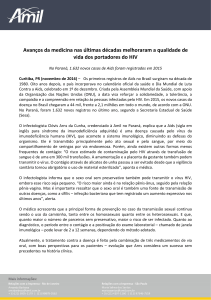UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FACS
CURSO DE ENFERMAGEM
Ana Luisa Cardoso e Silva
Manuela Vieira Mansur
Marcelo Cristiano de Almeida Soares
Renata Ribeiro de Melo
Rosiane Gonçalves Santos
O IMPACTO PROVOCADO EM GESTANTES/PUÉRPERAS HIV POSITIVO DIANTE
DA (IM) POSSIBILIDADE DE AMAMENTAR: uma revisão bibliográfica
Governador Valadares
2008
ANA LUISA CARDOSO E SILVA
MANUELA VIEIRA MANSUR
MARCELO CRISTIANO DE ALMEIDA SOARES
RENATA RIBEIRO DE MELO
ROSIANE GONÇALVES SANTOS
O IMPACTO PROVOCADO EM GESTANTES/PUÉRPERAS HIV POSITIVO DIANTE
DA (IM) POSSIBILIDADE DE AMAMENTAR: uma revisão bibliográfica
Trabalho de conclusão de curso (TCC) para
obtenção do título de bacharel em
Enfermagem, apresentada à Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade Vale do
Rio Doce.
Orientadora: Prof.ª Ms. Ana Carolina de
Oliveira Martins Moura
Co-orientador: Prof.º Ms. Walter Willian
Barreto
Governador Valadares
2008
ANA LUISA CARDOSO E SILVA
MANUELA VIEIRA MANSUR
MARCELO CRISTIANO DE ALMEIDA SOARES
RENATA RIBEIRO DE MELO
ROSIANE GONÇALVES SANTOS
O IMPACTO PROVOCADO EM GESTANTES/PUÉRPERAS HIV POSITIVO DIANTE DA
(IM) POSSIBILIDADE DE AMAMENTAR: uma revisão bibliográfica
Trabalho de conclusão de curso (TCC) para
obtenção
do
título
de
bacharel
em
Enfermagem, apresentada à Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade Vale do
Rio Doce.
Governador Valadares, _______ de ______________________ de _________.
Banca Examinadora:
Prof.ª Ms. Ana Carolina de Oliveira Martins Moura – Orientadora
Universidade Vale do Rio Doce
Prof.ª Patrícia Malta Pinto
Universidade Vale do Rio Doce
Prof.ª Ana Maria Germano de Rezende
Universidade Vale do Rio Doce
AGRADECIMENTOS
Agradecemos primeiramente a Deus que esteve sempre ao nosso lado durante essa longa
jornada, nos iluminando, dando-nos coragem e força para vencer e superar os obstáculos que
muitas vezes achamos que não fossemos conseguir, nunca nos deixando desistir e nem nos
abandonando nos momentos mais difíceis de que tanto precisamos.
Agradecemos aos nossos familiares e amigos que compartilharam conosco nossas alegrias e
tristezas, nos incentivando a seguir em frente, contribuindo para o nosso desenvolvimento pessoal
e profissional, por todo o incentivo e carinho que nos deram. Sem a confiança de vocês,
dificilmente este trabalho teria se concretizado. Amamos muito vocês!
Agradecemos aos professores por compartilharem conosco suas experiências e sabedorias
aprimorando nossos conhecimentos, em especial à nossa orientadora Prof.ª Ms. Ana Carolina de
Oliveira Martins Moura e nosso co-orientador Prof.º Ms. Walter Willian Barreto pela dedicação e
paciência.
A todos que direta ou indiretamente tornaram este sonho realidade. Apresentamos nossos
sinceros agradecimentos, reconhecendo que o papel exercido por cada um foi indispensável para
a realização deste trabalho.
Muito obrigado (a)!
“[...] o desejado para este momento, neste contexto concreto, é que:
• antes de pronunciar a palavra, haja escuta;
• antes de repreender as reclamações e exigências, haja a acolhida
em silêncio;
• antes de rejeitar tecendo julgamentos, haja aproximação e
carinho.
• Inaugurem-se: Tempos de desejo e desejo de tempos para aprender
com a outra pessoa, para sonhar novos sentidos para a existência,
para afirmar a vida!”.
Prof.ª Tânia Mara Vieira Sampaio
Faculdade de Ciências de Religião – UNIMEP (2001)
RESUMO
O crescimento da epidemia da Aids entre as mulheres em idade reprodutiva vem atualizando
questões referentes à sexualidade e à reprodução, sendo considerado um grave problema de saúde
pública. Com isso, levou-se, consequentemente, ao aumento do número de crianças infectadas
pelo HIV/Aids, sendo a maioria devida à transmissão vertical, na qual o vírus pode ser
transmitido durante a gestação, parto e amamentação. Os estudos revisados indicam que a
infecção pelo HIV/Aids pode alterar de muitas formas a experiência da gestação e da
maternidade, gerando uma sobrecarga psicológica relacionada ao estigma social e ao risco de
transmissão para a criança. Este estudo tem como enfoque a relação entre o HIV/Aids e o
Aleitamento materno e suas implicações, tendo como Objetivo: compreender os sentimentos
vivenciados por gestantes/puérperas soropositivas ao HIV diante da impossibilidade de
amamentar, no intuito de contribuir com conhecimentos para decisões a serem tomadas pelo
profissional de saúde. Metodologia: Para tal, optou-se pela revisão sistemática de literatura
científica, na modalidade denominada revisão integrativa, sendo realizada uma coleta de dados
com consultas nas seguintes bases e bancos de dados: PSYCHÊ, SCIELO, LILACS, BIREME,
revistas eletrônicas, além de referências específicas. Síntese dos dados: Através do estudo podese evidenciar que nutrizes com sorologia positiva para HIV podem transmitir o vírus pelo leite
materno para a criança, embora o aleitamento materno, pelas inúmeras vantagens que traz tanto
para a mãe como para o recém-nascido, é reconhecido como a melhor forma de alimentação da
criança. Porém, essa prática tão incentivada pelos profissionais da área da saúde, é uma ameaça
aos filhos de mulheres portadoras do HIV/Aids, e por isso a amamentação é contra-indicada.
Através de entrevistas realizadas por alguns estudos com gestantes/puérperas HIV positivo
relatou-se a existência de sentimentos como: negação, inveja, tristeza, inutilidade, medo,
impotência e aceitação. Através da análise destes sentimentos, observou-se que a mulher HIV
positiva, impossibilitada de amamentar, vivencia uma realidade muito dolorosa que influencia
seu modo de viver, sua saúde e de seu filho. Conclusão: Portanto, a Enfermagem precisa
compreender e incorporar em seu cuidado, além dos aspectos biológicos, os emocionais, sociais e
culturais que circundam a mulher, para lhe prestar uma assistência mais qualificada e
humanizada.
Palavras-chave: HIV/Aids. Amamentação. Saúde da Mulher.
ABSTRACT
The growth of the epidemic of Aids among women of reproductive age is upgrading issues
relating to sexuality and reproduction, and is considered a serious public health problem. With
this, to be led, consequently, increasing the number of children infected by HIV / Aids, most of
them due to vertical transmission, in which the virus can be transmitted during pregnancy,
childbirth and breastfeeding. The studies indicate that HIV / Aids can change in many ways the
experience of pregnancy and motherhood, creating a psychological burden related to social
stigma and the risk of transmission to the child. This study is to focus the relationship between
HIV / Aids and Breast-feeding and its implications, with the Objective: To understand the
feelings experienced by pregnant women / mothers to HIV seropositive before the inability to
breastfeed in order to contribute to knowledge for decisions to be taken by health care
professional. Methodology: To this end, it was decided to systematic review of scientific
literature, the method called integrative review, and held a consultation with collecting data on
the following bases and databases: Psyche, SCIELO, LILACS, BIREME, electronic journals, and
specific references. Synthesis of data: Through the study may become clear that mothers were
seropositive for HIV can transmit the virus by breast milk for the children, although breastfeeding, the many advantages it brings to both the mother and for the newborn, is recognized as
the best way to feed the child. However, this practice so encouraged by health professionals, is a
threat to the children of women with HIV / Aids, and therefore breastfeeding is contra-indicated.
Through interviews conducted by some studies in pregnant women / mothers are HIV-positive
reported the existence of feelings as: denial, jealousy, sadness, futility, fear, helplessness and
acceptance. Through analysis of these feelings, it was observed that the HIV positive woman,
unable to breastfeed, experience a very painful reality that affects their mode of living, your
health and your child. Conclusion: Therefore, the nursing needs to understand and incorporate
into their care, in addition to the biological aspects, the emotional, social and cultural surrounding
the woman, to provide a more qualified assistance and humanized.
Key-words: HIV / Aids. Breastfeeding. Women's Health.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 9
2 OBJETIVOS .................................................................................................................... 12
2.1 OBJETIVO GERAL....................................................................................................... 12
2.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS ......................................................................................... 12
3 METODOLOGIA............................................................................................................ 13
3.1 TIPO DE ESTUDO ........................................................................................................ 14
4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ....................................................................................... 15
4.1 HIV X MULHER ........................................................................................................... 15
4.1.1 Histórico da epidemia da Aids.................................................................................. 17
4.1.2 Feminilização da Aids ............................................................................................... 19
4.1.3 A Gestante/Puérpera e o HIV – Transmissão Vertical .......................................... 21
4.2 FEMINILIDADE X AMAMENTAÇÃO....................................................................... 28
4.2.1. O que é uma mulher? - O enigma do universo feminino ...................................... 28
4.2.2 Sexualidade Feminina ............................................................................................... 29
4.2.3 Maternidade ............................................................................................................... 30
4.2.4 Tornar-se Mulher e Mãe........................................................................................... 31
4.2.5 O significado do seio para a mulher ........................................................................ 33
4.2.6 Aleitamento Materno ................................................................................................ 35
4.2.6.1 Leite materno: Veículo de Agentes infecciosos ....................................................... 38
4.3 IMPOSSIBILIDADE DE AMAMENTAR X SENTIMENTOS ................................... 41
4.3.1 A descoberta da soropositividade............................................................................. 41
4.3.2 Não amamentar: Sonho ou Realidade? ................................................................... 42
4.3.3 Sentimentos evidenciados.......................................................................................... 44
4.3.3.1 Negação .................................................................................................................... 44
4.3.3.2 Inveja ........................................................................................................................ 45
4.3.3.3 Tristeza e inutilidade ................................................................................................ 46
4.3.3.4 Medo......................................................................................................................... 48
8
4.3.3.5 Impotência e aceitação.............................................................................................. 49
5 A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM ............................................................................. 51
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................... 58
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 63
9
1 INTRODUÇÃO
Considerado a pandemia da atualidade, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(Aids) é uma doença infecciosa causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV),
que gera uma perda progressiva da imunidade resultando em infecções graves
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004c), tendo se configurado como um dos mais sérios
problemas de saúde pública, com grande tendência de crescimento e propagação.
Neste contexto, a Organização Mundial de Saúde (OMS), afirma que o Brasil está
entre os países com epidemia concentrada de Aids onde seu quadro epidemiológico, a
forma de transmissão e o perfil dos infectados vem sofrendo mudanças nos últimos anos.
Dentre elas, podemos verificar a alteração na proporção entre homens e mulheres atingidos
pelo vírus. A maioria dos casos notificados continua sendo de homens, entretanto, os
valores se aproximam nos últimos anos. A razão homem/mulher que era 15,1 em 1986
atinge 1,5 em 2005, ou seja, é inferior a dois casos masculinos para cada caso feminino
(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST/AIDS, 2007).
Em reflexo, o estudo proposto foi selecionado devido ao contato dos componentes do
grupo no decorrer das observações do campo de estágio e durante a prática, onde se notou a
ocorrência de altos índices de gestantes/puérperas portadoras do vírus HIV.
É necessário ressaltar que a maioria dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca
de 65%) acontece durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito, e os 35%
restantes ocorrem intra-útero, e nas últimas semanas de gestação. O aleitamento materno
representa risco adicional de transmissão de 7% a 22% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
Dito isso, a singularidade da proposta se deve ao fato de que o tema é relevante e que, até o
momento, foram realizados poucos estudos específicos que abordassem os aspectos
emocionais vivenciados por gestantes/puérperas HIV positivo, em especial a respeito do
impacto da profilaxia para prevenção da transmissão vertical sobre a experiência da
gestação e maternidade.
Segundo o Ministério da Saúde (2000a), é possível reduzir aproximadamente 70% no
risco da transmissão vertical através da administração de anti-retrovirais (AZT) na
10
gestação, trabalho de parto e parto, e na substituição do leite materno por fórmula infantil.
Realizadas estas recomendações, a chance de uma mulher transmitir o HIV para o seu filho
cai para algo em torno de 2% (NUÑEZ, J.H.; MARTIN-PINTADO, L.; GÓMEZ, H.N.,
2003).
Segundo Tunala e Paiva (2000), além de profissionais capacitados para o
acompanhamento da mãe e da criança, é necessário que haja a participação efetiva das
mães em realizar todas as intervenções recomendadas, para ocorrer e manter a diminuição
do risco de infecção. Entretanto, esta só irá aderir ao tratamento preventivo se estiver
sensibilizada com a idéia de que seu filho poderá ser infectado e que, para evitar essa
infecção, é necessário seguir todas as recomendações, pois a adesão da mãe ao tratamento é
fundamental para diminuir o risco de infecção na criança.
A adesão ao tratamento é uma técnica na qual se aprende a lidar com as dificuldades
econômicas, sociais e individuais, uma vez que, atualmente, a população mais acometida
pela infecção tem sido proveniente de classes sociais menos favorecidas, com baixo nível
de escolaridade, afirmando a tendência de pauperização da epidemia (TUNALA, L.;
PAIVA, V., 2000). Segundo Neves e Gir (2006), a complexidade que envolve a infecção
pelo HIV, não abrange somente o lado cognitivo do conhecimento e da informação, mas
também as mudanças de comportamento.
A imagem da amamentação, de alguma maneira, tem povoado o mundo das mulheres,
enquanto símbolo representativo da maternidade, construído social e culturalmente ao
longo dos tempos, e sendo considerado como determinação biológica da espécie (SILVA,
I.A., 2000). A amamentação não envolve apenas os fatores biológicos, mas abrange
dimensões construídas culturalmente, socialmente e historicamente (NAKANO, A.M.S.,
2003).
De acordo com a Academia Americana de Pediatria - AAP (1998), o aleitamento
natural proporciona benefícios tanto para a mãe como para o recém-nascido, sendo
reconhecido como a melhor forma de alimentação da criança. Porém, essa prática tão
incentivada pelos profissionais da área da saúde, é uma ameaça aos filhos de mulheres
portadoras do HIV/Aids. Um dos meios de transmissão vertical do vírus da Aids é pela
11
amamentação, sendo maior o risco durante os primeiros meses de vida. A falta de
experiência da mãe com relação à amamentação pode aumentar o risco da transmissão.
Vinhas et al. (2004), afirma que amamentar o filho parece uma tarefa comum para a
maioria das lactentes, entretanto, para o grupo de mães soropositivos, representa a falta de
oportunidade de exercer a maternidade em sua integralidade. Com isso, é melhor que a mãe
ofereça o leite artificial, dando ao filho atenção e carinho. Todavia, deve-se tornar esse
momento, que é singular, em uma interação maternal, cultivando uma relação de intimidade
entre ambos, enquanto oferece a mamadeira.
Assim, para garantir seu status social, as mulheres HIV positivo precisam enfrentar a
condenação social gerada por uma gestação, as pressões sociais em favor da amamentação
e a recomendação médica de não amamentar (KNAUTH, D.R., 1999).
Moreno (2004) refere-se à ausência de conhecimento dos profissionais de saúde
acerca dessa questão, bem como às dificuldades em aceitar o diagnóstico de HIV e a nãoamamentação. Para Santos (2004), os depoimentos de gestantes/puérperas HIV positivo
vieram acompanhados de sentimentos como tristeza, culpa, inveja, impotência, dúvida,
medo do preconceito e um intenso desejo das mulheres de não terem suas mamas
enfaixadas no período pós-parto.
De acordo com Padoin e Souza (2007), tal situação, gera grandes obstáculos para as
diversas áreas do conhecimento: lidar com uma mulher que até então poderia e deveria
amamentar e agora não deve, embora possa. Entende-se que pode amamentar porque tem
possibilidades biológicas de nutrir seu filho com vantagens já comprovadas
cientificamente, e relacionadas ao contexto socioeconômico e ao vínculo afetivo. Mas não
deve, porque amamentar, para a mulher HIV positivo, é um ato que pode possibilitar a
transmissão do vírus para a criança, o que implica em um problema de saúde e social.
Com o crescente número de mulheres em idade reprodutiva infectadas, as gestantes
HIV positivo formam um grupo especial para a assistência dos profissionais da área da
saúde, tanto em relação ao desenvolvimento da gestação e do feto, quanto em relação aos
aspectos psicológicos, sociais e familiares.
Observa-se, uma lógica voltada à criança, porque os programas políticos de combate à
Aids possuem como parte dos objetivos a diminuição do risco de transmissão vertical. Mas,
12
e essa mulher, diante de uma sociedade que a prepara e a incentiva para atender às
necessidades de seu filho, dentre as quais a alimentação, através do leite de seu seio, mas
que, em virtude das circunstâncias dessa infecção, não “pode” amamentar seu bebê? Em
um contexto hospitalar no qual muitas vezes é “ordenada”: “não ofereça seu seio!”, é
“vigiada”, tem suas mamas enfaixadas, recebe medicação que impede sua lactação, não é
bem orientada ou escutada, enfim, lhe é tirado o direito decisório.
Dentro dessa lógica, surge o questionamento que norteou esse estudo: O que sentem
as gestantes/puérperas HIV positivo diante da sua soropositividade e da conseqüente
impossibilidade de amamentar, no contexto social em que vivem?
Traçou-se como objeto deste estudo o impacto provocado nas gestantes/puérperas
HIV positivo diante da impossibilidade de amamentar, sendo abordadas as informações
mais recentes sobre a transmissão do HIV através do aleitamento materno, o reflexo desta
interação entre o sentimento da mãe e a não amamentação e a interação entre o enfermeiro
e a gestante/puérpera HIV positivo.
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Compreender o impacto provocado em gestantes/puérperas HIV positivo diante da
(im) possibilidade de amamentar.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS
Identificar as principais preocupações e sentimentos das gestantes/puérperas
HIV positivo quanto ao impedimento da amamentação natural;
13
Analisar a gestação e maternidade no contexto da epidemia de HIV/Aids,
contribuindo na assistência a saúde das gestantes/puérperas HIV positivo;
Compreender o significado emocional da experiência da não-amamentação;
Estudar a interação entre o enfermeiro e a gestante/puérpera HIV positivo,
com o intuito de avaliar a assistência que deve ser prestada pelos profissionais
de saúde a essas mulheres, a fim de minimizar o impacto e sofrimento das
mesmas.
3 METODOLOGIA
O estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, considerando a
relevância do tema, buscando conhecer sob o olhar de alguns autores, o impacto provocado
em gestantes/puérperas HIV positivo diante da impossibilidade de amamentar,
identificando intervenções educativas e o papel do profissional enfermeiro nesse contexto,
e, assim, atender aos objetivos propostos.
Para o desenvolvimento da pesquisa e melhor compreensão do tema, este Trabalho de
Conclusão de Curso foi elaborado a partir dos registros, análise e organização dos dados
bibliográficos, instrumento que permite uma maior compreensão e interpretação crítica das
fontes obtidas.
A elaboração da pesquisa teve como ferramenta norteadora, material já publicado
sobre o tema; livros, artigos científicos, publicações periódicas e materiais na Internet
disponíveis nos seguintes bancos de dados: PSYCHÊ, SCIELO, LILACS, BIREME.
Para a organização do material, foram realizadas as etapas e procedimentos do
Trabalho de Conclusão de Curso, onde se busca a identificação preliminar bibliográfica,
fichamento de resumo, análise e interpretação do material, bibliografia, revisão e relatório
final.
14
3.1 TIPO DE ESTUDO
Trata-se de um estudo de revisão sistemática de literatura científica, na modalidade
denominada revisão integrativa. Segundo Cooper (1989), esse tipo de revisão é
“caracterizado como um método que agrega os resultados obtidos de pesquisas primárias
sobre o mesmo assunto, com o objetivo de sintetizar e analisar esses dados para
desenvolver uma explicação mais abrangente de um fenômeno específico”. Ainda segundo
o autor, a revisão integrativa é a mais ampla modalidade de pesquisa de revisão, devido à
inclusão simultânea de estudos experimentais e não-experimentais, questões teóricas ou
empíricas. Diante disso, permite maior entendimento acerca de um fenômeno ou problema
de saúde.
Justifica-se a revisão sistemática através de sua definição como sendo uma aplicação
de estratégias científicas que limitam o viés da seleção de artigos, onde se avalia com
espírito crítico os artigos e se sintetizam todos os estudos relevantes em um tópico
específico (PER ISSÉ, A.R.S.; GOMES, M.; NOGUE IRA, A.S., 2001).
Em relação à sua importância, estudiosos afirmam que esse recurso pode criar uma
forte base de conhecimentos, capaz de guiar a prática profissional e identificar a
necessidade de novas pesquisas (GALVÃO, C.M.; SAWADA, N.O.; TREVIZAN,
M.A., 2004; SAMPAIO, R.F.; MANCINI, M.C., 2007) e, segundo Hek (2000),
“constitui-se em um método moderno para a avaliação simultânea de um conjunto de
dados”.
15
4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 HIV X MULHER
A síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) é uma manifestação clínica
avançada da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Geralmente, a
infecção pelo vírus HIV leva a uma imunossupressão progressiva, especialmente da
imunidade celular, e a uma desregulação imunitária. Tais desregulações e supressões
imunitárias resultam em infecções oportunistas, neoplasias e/ou manifestações (demência,
caquexia, trombicitopenia, etc.) que são condições definidoras da Aids, quando em
presença da infecção pelo HIV (CASTRO, K.G. et al., 1993).
A infecção pelo HIV é, atualmente, um grave problema no contexto da Saúde Pública,
de caráter pandêmico, com evolução letal e que, ainda, não existe tratamento curativo ou
vacina. Além disso, é uma doença cercada de mitos e preconceitos morais e sociais, que
podem afetar o aspecto psicológico, as relações familiares, afetivas, sociais e profissionais
do portador (VAZ, M.J.R.; BARROS, S.M.O., 2000).
Vários estudos epidemiológicos têm evidenciado que a via sexual é a forma de
transmissão predominante do vírus HIV, através da exposição a secreções contagiosas que
contenham o vírus e/ou células infectadas. Outra forma significativa de transmissão ocorre
através da exposição parenteral a sangue, hemoderivados ou tecidos infectados pelo HIV,
assim como também, através da transmissão perinatal (VERONESE, R.; FOCACCIA, R.,
2002).
Seguindo a tendência mundial, foram identificados, de 1980 até 2007, 314.294 casos
de Aids no sexo masculino e 159.793 no sexo feminino. Nota-se que a razão de sexo (H:M)
no Brasil vem diminuindo ao longo da série histórica, passando de 15 homens para cada
mulher em 1986 para 15 homens para cada 10 mulheres (1,5:1) em 2005. Ainda é possível
observar que, segundo a faixa etária, do total de casos identificados em mulheres, 71%
estão na faixa etária de 25 a 49 anos (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST/AIDS, 2007b).
16
Segundo o Ministério da Saúde (2004a), o crescimento da epidemia da Aids entre as
mulheres levou, conseqüentemente, ao aumento do número de casos em crianças, o que é
denominado infantilização do agravo. O vírus HIV pode ser transmitido da mãe para o filho
durante a gestação, durante o parto e no puerpério através do leite materno, sendo que este
representa risco adicional de 7 a 22% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). Essa forma de
contágio é conhecida como transmissão vertical (TV), sendo considerada a principal via de
infecção.
O momento exato em que a infecção pelo HIV ocorre no feto ainda não é conhecido,
porém, a transmissão perinatal intra-útero foi comprovada através da detecção do HIV no
líquido amniótico, tecidos fetais e placenta (SPRECHER, S. et al., 1986; MUNDY, D.C. et
al., 1987). Segundo Ehrnst et al. (1991) “o risco de transmissão é maior no final da gestação
e no período intraparto”. Os mecanismos da transmissão intraparto são desconhecidos, mas,
provavelmente, pode ocorrer pela exposição mucocutânea da criança ao sangue ou pela
secreção cérvicovaginal materna (DUARTE, G., 1997; LUZURIAGA, K.; SULLIVAN,
J.L., 1997).
Estudos mostram que os retrovírus na mãe infectada podem ser encontrados livres
ou nos monócitos do leite; as portas de entrada do vírus são as mucosas nasofaríngea e
gastrointestinal do recém-nascido (RN), que ficam mais comprometidas com o uso de
aleitamento misto, pois o leite artificial pode provocar lesões nessas mucosas
(LAMOUNIER, J.A.; MOULIN, Z.S.; XAVIER, C.C., 2004). Atualmente, a grande
maioria dos casos de crianças com Aids é devida à transmissão vertical (TV): em 1997, a
transmissão vertical foi responsável por 92% dos casos em crianças menores de 13 anos, e
em 2004, por 83,6% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004c).
Diante disso, essa situação se tornou um grave problema de saúde pública e
impulsionou o Ministério da Saúde (MS) a criar políticas públicas com o objetivo de
diminuir esses índices. Essas políticas se concretizam em programas que recomendam as
mães soropositivas para o HIV o uso de anti-retrovirais (AZT) e contra-indicam a prática
do aleitamento materno. Sendo assim, é utilizado o protocolo 076 para evitar a transmissão
vertical, sendo comprovado que o uso da zidovudina (AZT) diminui em 67,5% esse risco
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001b). Desta maneira, tendo o recém-nascido boa vitalidade,
17
mãe e filho são encaminhados para o alojamento conjunto, sistema em que ambos
permanecem juntos durante as vinte e quatro horas do dia.
Apesar dos resultados favoráveis no controle da doença, com a administração das
terapias medicamentosas, anti-retrovirais e inibidores de protease, a cura da Aids continua
sendo um desafio para os cientistas no mundo inteiro. Muitas conquistas foram alcançadas
desde o reconhecimento da doença, as novas opções de medicamentos têm prolongado e
melhorado a qualidade de vida dos portadores, mas medicamentos curativos ainda não
foram desenvolvidos (VAZ, M.J.R.; BARROS, S.M.O., 2000).
4.1.1 Histórico da epidemia da Aids
A pandemia da Aids se tornou um ícone de grandes questões que afligem o planeta
nos dias de hoje, como direitos humanos, qualidade de vida, políticas de medicamentos e
propriedade industrial (PARKER, R.; CAMARGO-JR., K.R., 2000). De acordo com Pinto
et al. (2007), “a síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) foi reconhecida nos EUA, a
partir da identificação de um número elevado de jovens do sexo masculino, homossexuais e
moradores de San Francisco, que apresentaram “sarcoma de Kaposi”, pneumonia por
Pneumocystis carinii e comprometimento do sistema imune, os quais, sabemos, são
características típicas da Aids.
De acordo com Brito, Castilho e Szwarcw (2000), a identificação, em 1981, da
síndrome da imunodeficiência adquirida, habitualmente conhecida como Aids, tornou-se
um marco na história da humanidade. A epidemia da infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV) e da Aids representa um fenômeno global, dinâmico e
instável, cuja forma de ocorrência nas diferentes regiões do mundo depende, entre outros
determinantes, do comportamento humano individual e coletivo. A Aids se destaca como
sendo a enfermidade infecciosa mais emergente, devido a grande magnitude e extensão dos
danos causados, e com isso, suas características e repercussões têm sido exaustivamente
discutidas pela comunidade científica e pela sociedade em geral.
18
Segundo Marin, Paiva e Barros (1991), desde o reconhecimento da Aids, ocorreram
várias mudanças conceituais. Inicialmente, a classificação dos homossexuais masculinos
como grupo de risco — em que é maior a incidência da doença — era quase exclusivo.
Posteriormente, constatou-se a ocorrência da doença em usuários de drogas injetáveis e
hemofílicos. Aumentaram, então, os grupos de risco, como os parceiros heterossexuais de
portadores do HIV e receptores de sangue ou seus derivados, mas a doença continuou
sendo entendida como exclusiva desses grupos (NASCIMENTO, D.R., 1997). Ainda
segundo Nascimento (1997), “observações clínicas e epidemiológicas indicavam que a
doença era transmitida por via sexual e sangüínea, e que um vírus era o provável agente
etiológico”. Desde o início, acreditou-se nessa hipótese, que foi demonstrada em 1983, na
França e nos Estados Unidos, por Luc Montagnier, do Instituto Pasteur, de Paris, que isolou
o vírus e o denominou LAV, e Robert Gallo, do National Cancer Institute, que o
denominou de HTLV-III. A questão da primazia da descoberta e a associação do vírus ao
grupo HTLV despertaram grande controvérsia. Em maio de 1986, uma Comissão
Internacional de Nomenclatura de Virologia decidiu unificar e universalizar o nome do
vírus, que passou a se chamar HIV, que significa Vírus da Imunodeficiência Humana.
O Prêmio Nobel de Medicina, em 2008, contemplou dois cientistas europeus, sendo
dois franceses, Françoise Barre-Sinoussi e Luc Montagnier, pela descoberta do vírus
causador da Aids, o HIV. A escolha dos vencedores parece ter finalizado uma das maiores
polêmicas da ciência atual: o questionamento sobre quem foi o primeiro a identificar o
HIV. O francês Luc Montagnier e o americano Robert Gallo disputaram a liderança durante
muitos anos e até recentemente eram considerados co-autores da descoberta. Depois de
uma longa investigação, o comitê que elege os premiados concluiu: o causador da doença
foi revelado por Montagnier e Françoise Barré-Sinoussi, atribuindo assim o mérito a França
(Agência AIDS, 2008).
No Brasil, os primeiros casos de Aids confirmados foram em 1982, no estado de São
Paulo, e, desde o início da década de 1980 até hoje, foram notificados 474.273 casos de
Aids. Do total de casos de Aids a maioria concentra-se nas regiões Sul e Sudeste
(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST/AIDS, 2007b).
19
Segundo parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil situa-se entre
os países com epidemia concentrada de Aids – quando o número de casos, novos ou
antigos, em qualquer população de risco é maior que 5%, mas menor que 5% nas
populações que não apresentam conduta de risco (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO
DST/AIDS, 2007b).
De acordo com pesquisas realizadas na última década por Parker e Camargo (2000),
foram agrupados os fatores estruturais facilitadores da disseminação do HIV/Aids em 03
categorias distintas, mas interconectadas: (1) Sub-desenvolvimento econômico e pobreza;
(2) Mobilidade (incluindo migração e trabalho sazonal); (3) Desigualdade de gênero. Sendo
que neste contexto o Brasil pode ser considerado como uma complexa síntese onde estão
presentes todos estes fatores: movimentos migratórios, o encolhimento do mercado formal
de trabalho, a desintegração social produzida pelo crime organizado e o tráfico de drogas e
a falta de poder das mulheres.
4.1.2 Feminilização da Aids
No início desta pandemia, a atenção à saúde se voltava para os chamados grupos de
risco: homossexuais, usuários de drogas injetáveis, hemofílicos e prostitutas. Sendo assim,
aqueles que não pertenciam a esses grupos não eram enfocados quanto aos cuidados
necessários para evitar a contaminação do HIV, dentre os quais, a mulher com parceiro
fixo. Criou-se, ainda, no imaginário social, o ideário de que a mulher sem “comportamento
promíscuo” não poderia ser atingida por este vírus, o que a distanciou das medidas
preventivas contra a Aids. Existem, inclusive, as questões de gênero, que determinam
culturalmente a “superioridade” do homem em relação à mulher, a qual enfrenta muitas
dificuldades para utilizar a camisinha com seu parceiro durante o sexo. A articulação desses
aspectos tornou a mulher bastante vulnerável a essa doença sexualmente transmissível
(SCHAURICH, D.; PADOIN, S.M.M., 2004).
20
Isto se justifica porque estas são vulneráveis a contrair o vírus da imunodeficiência
humana (HIV) nas suas relações sexuais sem proteção. A vulnerabilidade pode ser
entendida como sendo o conjunto de aspectos biológicos, individuais, programáticos,
sociais e culturais, interdependentes e mutuamente influenciáveis, assumindo pesos e
significados diversos que variam no decorrer do tempo e determinam o grau de
susceptibilidade e condições de respostas de indivíduos e comunidades em relação ao
HIV/Aids (MATOS, G.D., 2005).
Concomitantemente cresce de forma vertiginosa, no Brasil, principalmente na década
de 1990, o número de mulheres casadas e com parceiros fixos com a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (Aids), o que chamamos de feminilização da Aids
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000b).
Em relação à infecção do HIV em mulheres, ressaltam-se, ainda, alguns fatores
socioculturais que têm contribuído para a maior vulnerabilidade feminina à infecção.
Muitas mulheres se tornam submissas em seus relacionamentos amorosos, delegando aos
homens a responsabilidade pela prática do sexo seguro e acreditando-se protegidas pelo
fato de manterem relações estáveis e heterossexuais (PRAÇA, N.S.; GUALDA, D.M.R.,
2003). Várias pesquisas demonstram que a confiança no marido e a dificuldade de negociar
práticas mais seguras levam a comportamentos sexuais de risco entre mulheres
empobrecidas, denotando a necessidade de aconselhamento e apoio para que elas possam
discutir e decidir sobre os aspectos de sua sexualidade e planejamento familiar (GIR, E. et
al., 2004; MURPHY, D.A. et al., 1998; PAIVA, M.S., 2000; PRAÇA, N.S.; GUALDA,
D.M.R., 2003; SANTOS, N.J.S. et. al., 2002; VERMELHO, L.L.; BARBOSA, R.H.S.;
NOGUEIRA, S.A., 1999). Mesmo após ter descoberto a infecção, a contaminação em
relações heterossexuais estáveis pode ser vista pelas mulheres como uma espécie de
conseqüência do cumprimento do papel de esposa, sendo que a "culpa" do marido seria
minimizada pela idéia de que os comportamentos que o levaram a sua infecção fazem parte
da natureza masculina (KNAUTH, D.R., 1997b).
Além desses aspectos, deve-se considerar o forte estigma social relacionado à
epidemia do HIV/Aids, que a associou a comportamentos considerados desviantes pela
sociedade, como promiscuidade, uso de drogas ilícitas e homossexualidade, assim como a
21
uma sentença de morte eminente, à degradação física e à perda dos direitos civis
(MORANDO, L., 1998; SEFFNER, F., 2001). Desse modo, o imaginário social relacionado
à infecção pelo vírus HIV, ainda está impregnado pela noção ultrapassada de grupos de
risco e por entendimentos errados sobre as formas de contaminação. O estigma dificulta a
adesão a comportamentos de prevenção e penaliza ainda mais os portadores do vírus,
aumentando o preconceito (MORANDO, L., 1998).
4.1.3 A Gestante/Puérpera e o HIV – Transmissão Vertical
A epidemia de HIV/Aids tem atingido cada vez mais mulheres em idade reprodutiva,
sendo que muitas já são mães ou se tornam mães quando descobrem a infecção. Os estudos
revisados indicam que a infecção pelo HIV/Aids pode alterar de muitas formas a
experiência da gestação e da maternidade, gerando uma sobrecarga psicológica relacionada
ao estigma social e ao risco da transmissão para a criança. Apesar disso, pesquisas sugerem
que muitas mulheres portadoras do HIV/Aids buscam transmitir uma identidade materna
positiva para os filhos e se preocupam intensamente com o futuro deles (GONÇALVES,
T.R.; PICCININI, C.A., 2007).
Com base nos dados estatísticos, acredita-se que a maior parte das mulheres
portadoras do HIV/Aids está em idade reprodutiva, sendo que o conseqüente aumento das
taxas
de transmissão
materno-infantil
do
vírus
desperta
especial
preocupação
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a; SZWARCWALD, C.L.; CASTILHO, E.A., 2000).
Em função disso, os serviços de atenção à saúde têm se esforçado na aplicação do protocolo
de profilaxia da transmissão vertical recomendado pelo Ministério da Saúde (2006a).
Percebe-se que a problemática envolvida na infecção de mulheres pelo HIV/Aids incide
diretamente sobre o importante evento da vida da mulher: a maternidade. Esses achados
demonstram a seriedade da situação e a necessidade de promover a qualidade de vida e a
sobrevivência dessas mães portadoras do HIV/Aids.
22
Quando se fala em mães portadoras do HIV/Aids, compreende-se que diversas
situações podem estar implicadas. Muitas mulheres contraem o HIV/Aids depois de já
terem filhos, e outras descobrem-se infectadas quando engravidam, por ocasião dos exames
pré-natais. Há ainda aquelas mulheres que, já conhecendo seu estado sorológico positivo,
decidem ter filhos. Nesse sentido, diversas pesquisas introduziram a polêmica questão dos
direitos reprodutivos em pessoas vivendo com a infecção pelo HIV/Aids, alegando que o
desejo de ter filhos em homens e mulheres portadores permanece inalterado apesar da
doença (INGRAM, D.; HUTCHINSON, S.A., 2000; PAIVA,V. et al., 2002; SANTOS,
N.J.S. et al., 2002; SHERR, L.; BARRY, N., 2004; SIEGEL, K.; SCHRIMSHAW, E.W.,
2001; WESLEY, Y. et al., 2000).
Como discutido acima, a situação de infecção pelo HIV/Aids em mulheres é
intensificada por questões sociais relacionadas ao gênero e às restrições impostas aos
aspectos reprodutivos, acarretando uma sobrecarga psicológica particular (NELMS, T.P.,
2005). Enquanto a maternidade é, para mulheres não-portadoras do vírus, socialmente
desejada e estimulada, nega-se às mulheres portadoras do HIV/Aids o direito ao desejo de
ter filhos, sendo que estas quando ficam grávidas são consideradas inconseqüentes e cruéis
por expor a criança ao risco de infectar-se (INGRAM, D.; HUTCHINSON, S.A., 1999a,
2000).
No Brasil, um dos exames exigidos durante o acompanhamento pré-natal é o teste
anti-HIV. No Centro-Sul do país, estima-se que mais de 75% das gestantes realizam e
recebem o resultado de exames anti-HIV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). A partir do
ano 2000, tornou-se compulsória a notificação de gestantes HIV positivo e, conforme as
últimas estatísticas, das 12.644 gestantes portadoras estimadas, 52% foram notificadas
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Segundo os autores Serruya, Cecatti, e Lago (2004), há
ainda muitas carências no sistema de saúde brasileiro em disponibilizar, de forma universal,
exames para detecção do HIV durante o acompanhamento pré-natal e muitas mães ainda
não fazem esse exame, e nem o pré-natal. A realização do teste rápido anti-HIV em
parturientes no momento da internação também tem auxiliado na detecção de novos casos e
na redução de casos de transmissão vertical. No Brasil, a prevalência do HIV/Aids entre
parturientes é de aproximadamente 0,4%.
23
Um dos mais expressivos avanços visando controlar a disseminação da infecção pelo
vírus da imunodeficiência humana (HIV) ocorreu no contexto da transmissão vertical (TV).
As situações de maior risco para a TV do HIV podem ser agrupadas em fatores maternos,
anexais, obstétricos, fetais, virais e pós-natais. Dos fatores maternos destaca-se a carga
viral, o principal indicador do risco desta forma de transmissão. No entanto, a carga viral
não é a única variável desta equação, devendo ser lembrado o uso de drogas ilícitas,
múltiplos parceiros sexuais com sexo desprotegido, desnutrição, tabagismo, doença
materna avançada e falta de adesão ou de acesso aos anti-retrovirais. Dos fatores anexais
apontam-se a corioamniorrexe prolongada, a perda da integridade placentária e a expressão
dos receptores secundários no tecido placentário. Entre os fatores obstétricos deve ser
lembrado que intervenções invasivas sobre o feto ou câmara amniótica, cardiotocografia
interna, tipo de parto e contato do feto/recém-nascido com sangue materno também são
importantes elementos a serem controlados. Dos fatores fetais são citados a expressão de
receptores secundários para o HIV, a suscetibilidade genética, a função reduzida dos
linfócitos T – citotóxicos e a prematuridade. Sobre os fatores virais considera-se que a
presença de mutações e cepas indutoras de sincício sejam fatores de risco para a TV.
Finalmente, há os fatores pós-natais, representados pela carga viral elevada no leite, baixa
concentração de anti-corpos neste fluido, mastite clínica e lesões mamilares, que podem ser
resumidos no contexto da amamentação natural (DUARTE, G.; QUINTANA, S.M.; EL
BEITUNE, P., 2005).
As recomendações para profilaxia da transmissão vertical (TV) durante a gestação
incluem a realização de acompanhamento pré-natal regular, administração de terapia antiretroviral (ARV’s) ou de monoterapia com AZT (Zidovudina) a partir da 14ª semana de
gestação e exames de contagem de células CD4 e carga viral. Se a carga viral for igual ou
superior a 1.000 cópias/ml, na 34ª semana de gestação, é recomendada a cesariana eletiva;
do contrário, a indicação da via de parto se dá por condições obstétricas. Se for parto
normal, indica-se que a mulher não permaneça mais de quatro horas com a bolsa rompida,
pois, após esse tempo, aumenta progressivamente o risco de transmissão do vírus
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a).
24
Assim, o diagnóstico laboratorial para detecção da presença do vírus HIV em
gestantes, a utilização de anti-retrovirais para a gestante e o recém-nascido, e o não
aleitamento materno são estratégias utilizadas para a redução da transmissão vertical do
HIV, mas devem ser acompanhadas da identificação dos fatores culturais, psicológicos e
sociais que podem interferir na aceitação e aplicação das mesmas (VAZ, M.J.R.; BARROS,
S.M.O., 2000).
As gestantes que estiverem sendo medicadas com AZT precisam ser avaliadas através
de exames laboratoriais periódicos, com o objetivo de detectar possíveis alterações
hepáticas e anemia associada ao regime terapêutico e contagem de CD4 para determinar a
profilaxia das infecções oportunistas (CDC, 1994). Não são indicados procedimentos
invasivos para avaliar maturidade e vitalidade fetal, pois poderiam aumentar o risco de
transmissão perinatal (DUARTE, G., 1997).
Não estão totalmente explicados os efeitos adversos, tanto para a mulher e como para o
feto, do uso de AZT durante a gestação, como o desenvolvimento de cepas resistentes, o
potencial carcinogênico e os efeitos no desenvolvimento neurológico e no sistema
reprodutivo (MINKOFF, H.L.; AUGENBRAUN, M., 1997). Por isso, a gestante deve ser
informada dos benefícios e possíveis riscos do tratamento, aceitando ou não as
recomendações terapêuticas. A recusa ao tratamento não deve modificar a assistência
prestada (CDC, 1994).
Durante o trabalho de parto, é administrado o AZT via intravenosa, sendo
recomendado que a bolsa d'água se mantenha íntegra até o período expulsivo
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). Caso a mulher não tenha realizado o teste anti-HIV
na gestação ou não disponha dessa informação, utiliza-se o teste rápido na admissão na
maternidade e, em caso positivo, os procedimentos profiláticos iniciam-se imediatamente.
O RN (recém-nascido) recebe o AZT na forma de xarope a partir das seis primeiras horas e
durante as primeiras seis semanas de vida. A partir da sexta semana e até a definição do
diagnóstico - o que acontece entre o sexto e o décimo segundo mês -, deve-se administrar
ao bebê um medicamento para a prevenção de pneumonia. A transmissão do vírus através
do leite materno é evitada pelo enfaixamento das mamas por, no mínimo, dez dias e por
supressão farmacológica da lactação, bem como pelo aconselhamento das mães sobre esse
25
risco. É também contra-indicada a pasteurização domiciliar do leite materno, assim como o
aleitamento cruzado (amamentação por outra mulher), tendo em vista o risco de que outra
mulher também seja portadora do HIV/Aids sem o saber e transmita o vírus ao bebê,
havendo o fornecimento de fórmula infantil até os seis meses de idade (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2006a).
Segundo dados do Ministério da Saúde (2006a), o risco de transmissão do HIV/Aids
da mãe para o filho pode ser reduzido em até 67% com o uso de AZT durante a gravidez e
no momento do parto, associado à administração da droga ao bebê. Contudo, a taxa de
transmissão vertical do HIV/Aids, sem qualquer intervenção, situa-se em torno de 25%
(CONNOR, E.M. et al., 1994). Entretanto, conforme a revisão da literatura científica
realizada pelo Ministério da Saúde, há uma redução da transmissão vertical para níveis
entre zero e 2% com o uso de ARV’s associado com a cesariana eletiva e quando a carga
viral é menor do que 1.000 cópias/ml ao final da gestação. Em relação aos países
desenvolvidos, o Brasil ainda apresenta níveis elevados de transmissão vertical, em função
das carências do sistema de saúde em prover diagnóstico da infecção pelo HIV/Aids no prénatal, especialmente nas populações mais pobres. A baixa qualidade dos pré-natais também
ocasiona a sub-administração dos ARV’s, sendo estimado que somente a metade das
mulheres portadoras do HIV/Aids recebe a medicação durante o parto. Apesar desses
problemas, a incidência de casos de Aids em crianças vem diminuindo progressivamente no
país nos últimos anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a).
Como uma das estratégias para qualificar e ampliar o acesso ao diagnóstico do HIV,
particularmente para gestantes no pré-natal e maternidades, o PN-DST/Aids está
fortalecendo a estruturação da rede de atenção às DST/Aids, incluindo a implantação, em
cenários específicos, do teste rápido para o diagnóstico, permitindo que, no momento da
consulta, seja realizado o teste, o aconselhamento e o diagnóstico de HIV em menos de 30
minutos, desde que realizado por profissionais de saúde devidamente capacitados. No caso
da gestante, permite que imediatamente sejam realizadas condutas que previnam a
transmissão vertical de ambas as condições (PROTOCOLO, MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2006b).
26
Embora a Aids seja ainda uma doença incurável, a idéia de ser uma patologia crônica
passível de tratamento é hoje bastante aceita (SIEGEL, K.; SCHRIMSHAW, E.W., 2001).
Em grande parte, essa concepção foi promovida pelos efeitos dos anti-retrovirais (ARV’s),
que melhoraram drasticamente a qualidade de vida dos portadores do HIV/Aids,
diminuindo a mortalidade e a ocorrência de doenças oportunistas. Assim, considerando a
infecção pelo HIV/Aids como uma condição crônica, é possível entender o seu impacto
sobre a família, especialmente, quando esta se encontra em momentos de transição familiar
importante, como o nascimento dos filhos.
Independentemente da doença crônica, a família é a principal fonte de apoio
emocional e financeiro para a pessoa, sendo que as relações familiares precisam se
mobilizar em torno da situação. Para o portador de HIV/Aids, a mesma condição existiria.
A possibilidade de lidar com a doença de forma positiva está associada à percepção de
apoio por parte de familiares e amigos da pessoa portadora do HIV/Aids, fazendo com que
a revelação do diagnóstico seja mais fácil (KALICHMAN, S.C. et al., 2003). O estudo de
Serovich et al. (2001) com 24 norte-americanas HIV positivas que responderam a escalas
de apoio social e saúde mental revelou que, embora o suporte de amigos fosse mais
acessível para elas, somente a percepção de apoio familiar se associou com menores níveis
de depressão e sentimentos de solidão. Desse modo, os achados demonstraram que o apoio
da família à infecção é importante para a saúde mental da pessoa infectada. Ainda, em
outro estudo com 40 mães portadoras do HIV/Aids de grupos populares, Knauth (1997b)
revelou a estreita relação entre os mecanismos de enfrentamento da doença e o sistema de
valores que estrutura o grupo social. Os achados da autora sustentam que o valor atribuído à
família, aparece como elemento-chave para a compreensão da reação dos grupos populares
à Aids. Segundo a autora, apesar das restrições impostas pela infecção à reprodução, a
maternidade permanece um caminho para a concretização e consolidação de alianças, sendo
que a percepção de risco de transmissão vertical é minimizada pelo status fornecido pelo
nascimento de um filho. A família é considerada a principal fonte de apoio das mulheres
para contornar os desafios impostos pela infecção pelo HIV/Aids, sendo que os laços
familiares podem ser estreitados ou reatados em função da criança e da situação de doença
da mãe. Assim, entende-se que a infecção atinge toda a rede familiar, que se sente no dever
27
de tomar posição em face dessa ameaça. A autora ainda destaca, entre seus achados, que a
família da mãe pode acusar o cônjuge pela sua infecção - fato este que, às vezes, faz com
que a mulher prefira não revelar o diagnóstico aos seus familiares. O segredo em torno da
infecção pode impor uma quebra nas relações de intimidade na família, prejudicando a
obtenção de apoio.
Ao mesmo tempo, é importante lembrar que muitas vezes as mães portadoras do
HIV/Aids estão sozinhas em sua tarefa de criar os filhos e planejar o futuro da família. Essa
situação é bastante comum, sendo confirmada pelo grande número de mães solteiras ou
divorciadas nos estudos revisados (MURPHY, D.A. et al., 2002; NELMS, T.P., 2005). Para
as mães que não possuem uma rede familiar próxima, a principal preocupação provém da
vulnerabilidade da criança e da possibilidade de terem de deixá-la aos cuidados de pessoas
estranhas (KNAUTH, D.R., 1997b). Para elas, resistir à doença seria uma forma de garantir
o cuidado do filho até que o mesmo atinja a independência financeira. De fato, o exercício
da maternidade constitui-se numa prática solitária e exclusiva para muitas mulheres
portadoras do HIV/Aids, tendo como pano de fundo o estigma que acompanha a infecção
(INGRAM, D.; HUTCHINSON, S.A., 1999b, 2000; NELMS, T.P., 2005).
Em relação ao aleitamento materno, podemos observar que a sociedade em geral
reconhece que a amamentação natural é fundamental ao desenvolvimento e à saúde do
bebê, promove o vínculo afetivo entre mãe e filho, dentre outras vantagens. Contudo, como
já mencionado, no caso de mulheres HIV positivo o aleitamento materno é contra indicado
e, nesse caso, é melhor que a mãe ofereça o leite artificial dando ao filho atenção e carinho,
tornando esse momento, que é singular, uma interação maternal cultivando uma relação de
intimidade entre ambos, enquanto oferece a mamadeira. Entretanto, em alguns países onde
a mortalidade infantil é alta por desnutrição e falta de saneamento, aconselha-se o leite
materno de mães HIV positivo, pois o risco de morte para a criança é maior quando não
amamentadas. Na África, algumas regiões são bastante precárias, o acesso à água potável e
ao leite artificial é difícil e a amamentação é prática muito realizada nessa população, assim
o aleitamento natural tem sido uma situação rotineira entre essas mães (NEME, B., 2000).
Com isso, de acordo com o que foi visto na assistência à Saúde da Mulher, é
importante saber que as ações de atenção à prevenção do HIV/Aids no pré-natal devem ser
28
implementadas, visando o aconselhamento das mulheres infectadas pelo HIV sobre o risco
de transmissão vertical levando a proibição da lactação e da amamentação cruzada, e da
substituição por outros leites. A amamentação dos recém-nascidos por mães portadoras do
vírus HIV será sempre contra indicada tenham ou não recebido anti-toxinas, pois o
aleitamento materno deixa de ser vantajoso e passa a representar riscos reais para o bebê. É
importante que a puérpera, durante sua permanência na maternidade, receba suporte por
parte da equipe de saúde para não amamentar, sem se sentir discriminada (BRASIL, MS,
2001d).
4.2 FEMINILIDADE X AMAMENTAÇÃO
4.2.1. O que é uma mulher? - O enigma do universo feminino
“A psicologia é incapaz de solucionar o enigma da feminilidade” (FREUD, S., 1933,
p.144). Portanto, a psicanálise não tenta descrever o que seja a mulher, mas se empenha em
questionar como ela se forma e evolui. A feminilidade apresenta-se, pois, como um vir-aser e não como um ser: “A mulher deve ser praticamente fabricada através de um longo
trabalho psíquico” (ANDRÉ, S., 1991, p. 191).
A história do feminino é pautada por mudanças que, ao mesmo tempo em que abre
perspectivas para as mulheres, também impõe restrições. No centro destas motivações está
o aspecto econômico, pois a mudança no modo de produção impulsionou o sistema de
organização patriarcal. Outro aspecto importante é a assimetria das expectativas afetivas.
Enquanto as conquistas masculinas valorizam a quantidade, as mulheres privilegiam o
aspecto romântico, mantendo o casamento como um objetivo primário. O homem
responsabiliza-se pelo sustento econômico da família e a mulher da criação dos filhos e da
organização doméstica. Assim, a linguagem política, o poder e o dinheiro se inscrevem
como naturais do mundo masculino, enquanto que o feminino se identifica com um mundo
29
sentimentalizado, socialmente subalterno, de retaguarda e sem característica produtiva.
Com isso, constrói-se uma forma de subjetividade própria das mulheres, que consiste em
“ser do outro” em detrimento de “ser de si”, o que vai se transformar em ponto de
fragilização e vulnerabilidade (MORAES, O.D.C., 2007).
Recentemente, esta fragilidade da mulher encontra-se menos perceptível, mas nem
por isso tornou-se menos efetiva, embora, seja denunciada e combatida no âmbito público e
privado.
4.2.2 Sexualidade Feminina
A configuração da sexualidade feminina é composta por fatores de ordem social,
econômica, ideológica e política. Esses fatores ocorrem por influências histórico-sexuais da
nossa civilização, pelas questões de gênero, pelos valores e crenças culturais. Isso é devido
às atitudes dos grupos aos quais pertencemos: família, igreja, escola ou pelas características
de personalidade de cada mulher (SEIXAS, A.M.R., 1998).
Segundo Seixas (1998), no contexto histórico da humanidade, a trajetória social da
mulher é bastante complexa, deixando marcas até os dias de hoje. A mulher na antigüidade
era influenciada pelo cristianismo e pela medicina romana sobre seu comportamento
sexual. Na idade média, a moralidade era investida de autoridade religiosa e social, o sexo
só deveria ocorrer no casamento e com o único objetivo da procriação, e a atividade sexual
voltada para o prazer era considerado pecado. Já na idade moderna, o prazer sexual é
admitido, porém somente dentro do casamento. A nudez entra na moda e falar em sexo
torna-se uma forma popular de auto-expressão. A prostituição é, então, tolerada e até
estimulada pelo Estado. Passam a existir vários prostíbulos, as prostitutas ganham as ruas e
quem freqüenta os bordéis não é desonrado e nem coloca em risco a família. As prostitutas
são solidárias, nascidas na própria cidade, possuem um estatuto e são protegidas pela
comunidade. Contudo, na Idade Contemporânea, com a revolução industrial, há um retorno
às normas, à virtude e ao combate à permissividade. A mulher é estimulada a desempenhar
30
atividades domésticas e a cuidar dos filhos; as atividades de lazer são restritas somente às
compras e as obras de caridade. Quanto ao significado do clitóris como zona erógena, no
contexto da sexualidade, alguns médicos o consideravam dispensável e o exame
ginecológico só era realizado em casos extremos. Com a expansão da prostituição neste
período, surgem os bordéis higienizados e o cadastramento das prostitutas torna-se
obrigatório pela polícia. O autor ainda refere-se que a década de 60 foi marcada pela
revolução sexual, produzindo grandes mudanças em relação ao comportamento da mulher.
A partir da comercialização da pílula anticoncepcional, do DIU (dispositivo intra-uterino),
da laqueadura e da legalização do aborto, em alguns países, exacerbou a liberação sexual
feminina que foi possivelmente influenciada pela descoberta da Penicilina como tratamento
da Sífilis e Gonorréia, estimulando a prática sexual. Com isso, a sexualidade é vivida
intensamente na década de 80, e a partir dos 12 anos de idade as meninas passam a
freqüentar as ruas e prioriza-se a satisfação instantânea dos desejos. Nessa época surge a
Aids, provocando uma retração nesse movimento e o comportamento sexual adquire
novamente uma tendência conservadora, por estar diretamente vinculada à sexualidade, em
razão de a principal forma de transmissão do HIV ocorrer por meio do ato sexual.
Esses desencontros e conflitos reforçam a condição de omissão da mulher no
exercício pleno da sua sexualidade e, muitas vezes, induzem-na à passividade da relação,
voltada apenas à realização dos desejos do parceiro. E, nesse contexto, não há condições de
uma prática sexual mais segura e satisfatória também para ela, o que a expõe
freqüentemente ao risco da infecção pelo HIV (MORAES, O.D.C., 2007).
4.2.3 Maternidade
Segundo a definição da Wikipedia a gestação é definida pelas etapas de
desenvolvimento do embrião, desde a concepção até o nascimento. Estar grávida gera um
processo de elaboração e reestruturação enquanto sujeito e, embora seja um fenômeno
natural e normal, a gravidez, mesmo que programada e desejada, gera muita insegurança,
31
medo e ansiedade. A partir do instante em que uma mulher está grávida, além de todas as
mudanças físicas pelas quais ela irá passar, também haverá uma carga muito grande de
alterações psicológicas (ANDRADE, C.E., 2008).
Segundo Andrade (2008), a construção da maternidade é uma situação única em cada
gestação, independente da idade dos pais e das circunstâncias que envolvem o processo de
desenvolvimento pré-natal. No início da gravidez, a mulher pode passar por períodos de
ambivalência entre querer e não querer estar grávida. A gravidez e a maternidade atuam na
vida da mulher, assim como o parto, repercutindo profundamente nos seus planos físico,
emocional, psíquico e social, pois é um período em que acontecem mudanças importantes
na vida de uma mulher, sendo uma delas é que se deixa de ser filha para se tornar mãe, o
que implica reviver a infância, na qual a construção do desejo de ser mãe manifesta-se nas
brincadeiras de bonecas.
4.2.4 Tornar-se Mulher e Mãe
Como resultado de alguns obstáculos apresentados pela teoria freudiana que, ao
buscar um significado do “que é uma mulher”, deparava-se todo o tempo com
características masculinas ativas na vida da mulher adulta normal, Freud responde: ser
mulher é ser mãe (ANDRÉ, S., 1987, p. 179).
Tornar-se mãe é um reencontro com a própria experiência como filha de sua
própria mãe. É tornar o vazio (angustia e desconhecimento) familiar, é
estabelecer um vínculo permanente com o estrangeiro. Este estrangeiro (mesmo
quando desejado), de invasor, passa a ocupar um lugar e um espaço para a
mulher, através de uma série de movimentos, de aproximações; ou seja, o bebê
passa a tomar corpo na barriga e no psiquismo da mãe. (ARAGÃO, O., 2002
apud AMAZONAS, M.C.L.A.; BRAG, M.G.R., 2005, p. 16).
No final do século XVIII, principalmente no século XIX, a mulher aceitou o
papel da boa mãe, apesar de que isso não tenha se dado de uma forma
homogênea. Os novos discursos relativos à maternidade e a família
caracterizaram o perfil dessa mulher, agora mãe dedicada em tempo integral,
32
responsável pelo espaço privado, privilegiadamente representado pela família
(AMAZONAS, 2005, p.12).
Segundo Amazonas e Brag (2005), a partir do século XVIII, a maternidade tem sido
construída como o ideal máximo da mulher, caminho da plenitude e realização máxima da
feminilidade, conjugada a um sentimento de renúncia e sacrifícios prazerosos. O desejo por
um filho e a gestação constitui um estado muito “fértil” para a elaboração do imaginário
feminino.
A partir das afirmações acima, pode-se concluir que desde os primórdios, os sinais de
feminilidade convertem-se na maternidade.
Moraes (2007) afirma que nos dias atuais, a maternidade já não é considerada mais
um destino biológico, como antigamente, e considerá-lo um anseio natural ou instintivo da
mulher é permanecer no remanescente biologicista da sexuação feminina. Por isso, a
relação da mulher com a maternidade se define por fazer suas escolhas para exercer seu
papel e assim se fazer existir.
Mas várias foram as mudanças que transformaram a sociedade nos últimos 50 anos
onde esta mulher foi destinada a ocupar um novo lugar, superior ao lugar de mães, através
de sua entrada no mercado de trabalho e de sua assunção, muitas vezes, do lugar de cabeça
da família. Essa mudança de posto aconteceu devido ao declínio do modelo de sociedade
patriarcal. Esta nova forma de estar no mundo produz na mulher, transformações em sua
subjetividade ao mudar sua relação com o trabalho, com o homem, com o dinheiro, com os
filhos, logo, com o ser mulher/mãe. Com essa nova realidade, a mulher tem a necessidade
de percorrer um caminho para sua afirmação como sujeito. Esta pode escolher diversos
caminhos para a maternidade separada das formas em que se produz a fecundação. Adoção,
fecundação in vitro, com óvulos e espermas do casal, inseminação artificial e doação de
esperma, são as novas possibilidades que afetarão a concepção tanto no seu caráter real
quanto imaginado. Assim sendo, ser mãe passa a ser uma escolha podendo se decidir sobre
o desejo de ter ou não um filho, um desejo inconsciente onde se encontra novos palcos e
cenários. Logo, ser mãe passa a não ser mais um destino inevitável, mas um projeto a ser ou
não realizado (MORAES, O.D.C., 2007).
33
O autor Moraes (2007) ainda refere-se que a gravidez dá visibilidade ao feminino,
fazendo com que certas mulheres invistam falicamente o filho que pretendem ter, na
tentativa de suprir o que lhes falta e procurando, através da maternidade, recuperar o valor
perdido. A mulher que diz desejar um filho constrói uma demanda, elabora um pedido,
mesmo que não seja manifestamente a alguém endereçado. Assim, a maternidade constitui
num elo singular entre mãe e filho, onde a criança é marcada desde a concepção e até
mesmo antes dela, sendo inscrita na cadeia de desejos, expectativas e fantasias daqueles
que a geram.
Com isso, Moraes (2007) conclui que, assim como não se nasce mulher para o
inconsciente porque há um caminho a ser percorrido, não se nasce mãe, mas se desenvolve
a partir de um longo trabalho. Através da maternidade, a mulher poderá alcançar a sua
condição de mãe através das inscrições simbólicas que pode realizar.
4.2.5 O significado do seio para a mulher
Segundo Moraes (2007), nesse processo identificatório entre tantas peculiaridades
ligadas à organização da feminilidade, surge um aspecto característico intimamente
relacionado ao desenvolvimento do feminino e do ser mulher: o seio.
As mamas representam um papel importante no processo de identificação pessoal que
atravessam todas as fases do desenvolvimento feminino, desde a puberdade até a idade
adulta. Em nossa cultura é um símbolo de feminilidade expressado através do erotismo,
sensualidade e sexualidade. O seio, então, surge como um objeto do dom materno e de todo
o corpo da mãe/mulher, estando presente ao longo do processo de identificação da menina
com sua mãe e com sua identidade feminina. Portanto, a menina só terá seu ideal
constituído e determinado através de um longo processo em que esta representação do seio
é uma conquista narcísica fundamental para a menina (ZECCHIN, R.N., 2004, p. 133).
34
O seio surge na obra freudiana ocupando o lugar principal na primitiva experiência de
satisfação do bebê, impelido por suas primeiras necessidades vitais, onde começam a se
formar as relações entre o sujeito psíquico e seus objetos de desejo. Para o bebê, o ato de
sugar o seio materno é o mais importante de sua vida, pois nesse único ato ela satisfaz de
uma só vez duas grandes necessidades vitais – ingestão de alimento e obtenção de prazer.
(MORAES, O.D.C., 2007). Assim, sabe-se que
por meio da psicanálise, quanta importância psíquica conserva esse ato durante
toda a vida. Sugar ao seio materno é o ponto de partida de toda a vida sexual, o
protótipo inigualável de toda satisfação sexual ulterior, ao qual a fantasia retorna
muitíssimas vezes, em épocas de necessidade. Esse sugar importa em fazer o
seio materno o primeiro objeto do instinto sexual (FREUD, S., 1917a, p.319).
Logo, é a partir das primeiras experiências que surgem das necessidades básicas, onde
se organiza as primeiras experiências de prazer. Não obstante, o contato corporal do bebê
com sua mãe, inicialmente, com o seio, ficará ligado de forma irreversível à representação
de satisfação e também de frustração: “O amor e a fome reúnem-se no seio de uma
mulher” (FREUD, S., 1900, p.234).
Como conseqüência, o seio tem a propriedade particular de ser o primeiro a
representar um mundo separado do corpo do bebê, o que torna a relação com a mãe
fundamental na constituição do sujeito, já que, “para a criança, a amamentação no seio
materno torna-se modelar para todos os relacionamentos amorosos. O encontro do objeto
é, na verdade, um reencontro” (FREUD, S., 1905, p.210).
Com isso, o seio é um órgão que agrega subjetividades importantes na sexualidade da
mulher com características singulares, inclusive de intenso investimento erógeno. Em
muitos momentos da vida da mulher, o seio, além de alto valor narcísico e simbólico,
representa experiências importantes, tanto da maternidade quanto dos atributos femininos
(MORAES, O.D.C., 2007).
Portanto, “os seios são instrumentos específicos do exercício do desejo feminino”
(ZECCHIN, R.N., 2004, p.127), simbolizando a feminilidade, da mãe real, do dom
materno, o primeiro objeto de amor e de relação, além de ser fundamental ao sujeito e a sua
relação com o mundo externo e interno. Tomando a relação primeira com a mãe como
matriz relacional, esta se reproduzirá em todas as relações, incluindo a relação com seu
próprio corpo, com sua história e com o outro.
35
Assim, podemos afirmar que a amamentação é um momento importante na relação
afetiva entre mãe e filho para que seja cultivado a intimidade, o carinho e a segurança do
bebê, contudo, a mulher HIV positiva impedida de amamentar deve estimular o carinho e a
atenção do seu filho (VINHAS, D.C.S. et al., 2004).
4.2.6 Aleitamento Materno
Entre as décadas de 1940 e 1970, a indústria alimentícia construiu elementos culturais
por meio de marketing abusivo, valorizando o leite industrializado, introduzindo-o
culturalmente no dia-a-dia do povo brasileiro. Diante das péssimas conseqüências para a
saúde das crianças, demonstrada pelos altos índices de mortalidade infantil, o Ministério da
Saúde (MS), na década de 1980, passou a realizar ações com o intuito de promover o
aleitamento materno, sendo criado em 1981 o Programa Nacional de Incentivo ao
Aleitamento Materno (ESTEVES, T.M.B., 2000). Assim, a amamentação tem se tornado
uma prática aceita e incentivada pela cultura brasileira.
Giugliani (2000) afirma que o leite materno confere inúmeras vantagens para a
criança, a mãe, a família e a sociedade. O aleitamento natural apresenta vários fatores que
protegem as crianças de infecções comuns como a diarréia, otite média e doenças
respiratórias agudas, além de oferecer uma nutrição de alta qualidade, promovendo
crescimento e desenvolvimento diferenciado das crianças alimentadas artificialmente.
Pode-se ressaltar ainda uma melhor digestão, diminuição das alergias nutricionais,
estando o bebê sempre hidratado (sem necessidade de ingestão de água), proporciona um
melhor desenvolvimento psicológico e mental, melhor defesa imunológica que é importante
fator na redução da mortalidade infantil, e por fim, ainda, a supressão das necessidades de
sucção do nutriz, sendo uma fonte de prazer tanto para a mulher quanto para a criança
(ABREU, F.V.G. et al., 1997; ALMEIDA, M.F., 1992).
36
De acordo com Garibaldi (2003), a primeira secreção do seio - chamado colostro apresenta consistência rala e aguada sendo de grande importância por conter grande
quantidade de anticorpos que atuarão na proteção do bebê contra infecções.
Almeida (1992) afirma que o leite materno apresenta no fim da mamada uma
consistência mais densa e cremosa, não necessitando receber água. Também possui a
mesma quantidade de gordura que o leite da vaca, porém rico em gordura insaturada. O
açúcar no leite materno foi encontrado em concentração duas vezes maior do que no leite
de vaca, como também o ferro e um elevado teor de vitaminas.
Além de seus componentes nutritivos o leite humano contém, em sua composição,
uma complexidade de células, membranas e moléculas que atuam na proteção do recémnascido. Na lactente – mulher que amamenta - o sistema denominado enteromamário ou
bronco mamário atua quando os patógenos (bactérias) entram em contato com as mucosas
do intestino ou aparelho respiratório e são fagocitados pelos macrófagos. Com isso,
desencadeia-se uma ação estimulante nos linfócitos T, promovendo diferenciação dos
linfócitos B produtores de imunoglobulinas A (IgA). Os linfócitos migram para a glândula
mamária e, com a mediação de citosinas, tornam-se células plasmáticas que geram uma
glicoproteína que se junta à IGA, transformando-se em imunoglobulina A, secretora de
(IgAs). Esta é uma função importante e específica de proteção do recém-nascido conferida
pelo leite humano (BUTLER, J.E., 1979; GOLDMAN, A.S., 2002).
Com relação à saúde da mulher (mãe) o aleitamento natural confere proteção contra o
câncer de mama e de ovário, amplia o espaçamento entre os partos, ajuda o corpo da
mulher a voltar ao normal num menor espaço de tempo além de fornecer significativa
vantagem econômica (ABREU, F.V.G. et al., 1997; GIUGLIANI, E.R.J., 2000; SERRANEGRA, J.M.C.; PORDEUS, I.A.; ROCHA-JR., J.F., 1997). Outros autores ainda afirmam
que a amamentação pode ter efeitos consideráveis tanto sobre o desenvolvimento do
esqueleto dos lactentes (criança que é amamentada) como sobre a saúde do sistema ósseo
da lactente.
Garibaldi (2003) refere a esta prática como sendo capaz de proporcionar uma maior
relação entre mãe e filho. Como afirmam os autores Abreu et al. (1997), Almeida (1992) e
Garibaldi (2003), no final da gravidez o espaço intra-uterino se torna estreito fazendo com
37
que o feto toque às paredes internas do útero o tempo todo estabelecendo um maior
aconchego, Desta forma, o aleitamento natural busca reproduzir estas sensações de calor
sentidas pelo bebê durante a gestação. Também vem restabelecer esta “conexão” após o
estresse vivido pela mãe e pelo recém nato durante o trabalho de parto e a separação através
do corte do cordão umbilical, de acordo com os mesmos autores. Sem contar que, o simples
fato do recém nato sugar o mamilo proporciona calma, porque na posição de aleitamento
em que se encontra este consegue ouvir novamente os batimentos do coração da mãe.
Porém, dificuldades poderão ocorrer no início do aleitamento, que logo se estabelecerá
tanto fisiológica quanto afetivamente, gerando compensações para ambos, mãe e filho.
Junqueira (1999) relata que ao nascer, o bebê tem o queixo retraído e pequeno, devido
ao fato de que sua cavidade bucal é pequena, levando-se ao posicionamento da língua mais
anterior, apoiando-se sobre a gengiva, podendo ficar entre os lábios. Desta forma, durante a
amamentação, o bebê elevará a língua, gerando uma pressão do mamilo contra o palato,
porém a mandíbula se movimenta para frente e para trás, extraindo assim o leite materno.
Estes movimentos irão gerar um grande esforço dos músculos da face, estimulando o
crescimento da mandíbula e ao mesmo tempo prevenindo os problemas nos dentes e ossos
da face. O padrão respiratório durante o aleitamento natural é apenas nasal, sendo
fundamental o ar filtrado, aquecido e umedecido, funcionando como estímulo no
desenvolvimento das estruturas orais.
O ato de amamentar deve ser encorajado e estimulado, procurando não estabelecer um
horário rígido, mas amamentar por livre demanda do bebê, permanecendo quem o
amamenta a sua disposição. Por isso, se faz necessário que não ocorra precipitação na
introdução do uso de mamadeira só porque a criança chora. Deve-se procurar o pediatra,
que confirmará o choro como sendo cólica ou outra causa que não seja a fome por
hipogalactia (ALMEIDA, M.F., 1992; GARIBALDI, R., 2003).
De acordo com Ministério da Saúde (2001a), no Brasil, verifica-se que mais da
metade das crianças já não se encontra em amamentação exclusiva no primeiro mês de
vida, embora a maioria das mulheres inicie o aleitamento materno (cerca de 90%).
Os autores Goldemberg (1989) e Palmer (1993) reforçam que o desmame precoce
deve ser interpretado como resultado da interação complexa de diversos fatores
38
socioculturais, como o processo de industrialização, que teve início no final do século XIX;
as mudanças estruturais da sociedade que aconteceram em virtude da industrialização; a
inserção da mulher no mercado de trabalho; o surgimento e a propaganda de leites
industrializados; a adoção, nas maternidades, de rotinas pouco facilitadoras do aleitamento
materno e a adesão dos profissionais de saúde à prescrição da alimentação artificial.
O Ministério da Saúde do Brasil recomenda o aleitamento materno exclusivo até os
seis meses de idade, não necessitando de complementos alimentares como sucos ou
papinhas, e nem mesmo de água, pois não existe leite fraco. Depois dos seis meses, sua
manutenção
pode
ser
complementada
até
aproximadamente
os
dois
anos
(SECRETARIADE SAÚDE, 2003). Entretanto, muitas mulheres não cumprem estas
recomendações, pois desconhecem a importância para a saúde da mãe e do filho. Por
estarem, muitas vezes, ligadas às práticas e crenças culturais ou por não terem confiança na
capacidade de amamentar, estas mães realizam a promoção inadequada de substitutos do
leite materno, e ainda usufruem práticas inadequadas de serviços e profissionais de saúde
(GIUGLIANI, E.R.J., 2000; PRENTICE, A.; LASKEY, A.; JARJOU, L.M.A., 1997).
4.2.6.1 Leite materno: Veículo de Agentes infecciosos
Marques (1997) aborda o fato de que o leite materno pode ser uma das vias de
transmissão de doenças, por isso algumas crianças têm que ser privadas do aleitamento
natural. Foi verificado que durante uma infecção aguda materna (viremia ou bacteremia),
torna-se possível a detecção do agente infeccioso no leite materno e ainda a possibilidade
de transmissão aérea de determinados agentes respiratórios, constituindo assim um risco
para a criança. Rego (2001) mostra que, desta forma, este pode ser veículo de agentes
infecciosos de origem bacteriana, fúngica, parasitária e viral. Casos de bebês com fissuras
palatinas e lábio leporino, recém-nascidos de baixo peso e os acometidos por icterícia
precoce e prolongada, abscesso mamário e infecção por HIV são as alterações mais
comuns, que tornam assim necessário o abandono do aleitamento materno.
39
Segundo os autores Carneiro-Proietti et al. (2002) e Coutsoudis et al. (2003), o HIV é
excretado livremente ou no interior de células no leite de mulheres contaminadas, que
podem apresentar ou não sintomas da doença. Cerca de 65% da transmissão vertical do
HIV acontece durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito; os 35% restantes
ocorrem intra-útero, principalmente nas últimas semanas da gestação e por intermédio do
aleitamento materno.
Rosseau et al. (2003) afirma que a carga viral no leite materno é determinante no risco
de transmissão. No recém-nascido, a porta de entrada do vírus são as mucosas nasofaríngea
e gastrintestinal. Durante o aleitamento natural, a transmissão do vírus pode acontecer em
qualquer fase, no entanto parece ser mais freqüente nas primeiras semanas e nos casos de
infecções maternas recentes. A carga viral no colostro ou leite inicial é significativamente
mais elevada que no leite maduro. O aleitamento misto parece ser de maior risco do que a
amamentação exclusiva exclusivo, pelo maior dano à mucosa gastrintestinal oriunda da
alimentação artificial, que favorece a penetração do vírus. O risco adicional de transmissão
do vírus pelo leite humano varia de 5 a 20% (SUCCI, R.C.M.; MARQUES, S.R., 2003).
A contaminação via leite materno em mães que adquiriram a infecção após o período
pós-natal foi evidenciada em 29% (15-53%) dos casos (LAWRENCE, R.M., 1999;
COUTSOUDIS, A. et al., 2003; SUCCI, R.C.M.; MARQUES, S.R., 2003). Rousseau et al.
(2003) refere-se que a “presença de células infectadas pelo HIV no leite materno por um
período superior a 15 dias após o parto é um fator que predispõe para a infecção da
criança”.
Retrovírus podem infectar células do epitélio mamário antes mesmo do parto,
podendo ser encontrados livres ou infectando monócitos do leite, que correspondem a 50%
das células do leite materno. Essas células podem, potencialmente, transportar vírus da
circulação materna ou de tecidos linfóides para o intestino do neonato. Alguns tipos de HIV
utilizam receptores de quimocinas para infectar os macrófagos. No entanto, são necessários
mais estudos para conhecer com precisão o papel das células do leite humano na infecção
pelo HIV (LAWRENCE, R.M.; LAWRENCE, R.A., 2001; RUFF, A.J., 1994).
Ruiz-Extremera et al. (2000) relata que a utilização do tratamento anti-retroviral
durante a gestação e o parto e sua manutenção em recém-nascidos resulta, mesmo se
40
mantido o aleitamento materno, em redução da transmissão vertical do HIV por até 6 meses
após o parto. No entanto, a infecção pelo HIV é uma das poucas situações onde há
consenso de que o aleitamento materno deve ser suspenso. No Brasil, o Ministério da Saúde
(MANDELBROT, L. et al., 1998) recomenda que as mães portadoras do vírus HIV não
amamentem. Porém, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) recomendam que, em países pobres, onde doenças como
diarréia, pneumonia e desnutrição contribuem substancialmente para elevadas taxas de
morbimortalidade infantil, o benefício do aleitamento materno deve ser considerado em
relação ao risco da transmissão do vírus HIV. Nesses casos, e na impossibilidade de oferta
de uma alimentação artificial adequada, é preferível manter a amamentação, haja vista seus
benefícios para o lactente vivendo sob condições precárias (ROLLINS, N. et al., 2004;
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a; KUHN, L.; STEIN, Z.; SUSSER, M., 2004).
Segundo Ruiz-Extremera et al. (2000), mulheres que recebem terapia anti-retroviral
combinada apresentam taxas muito baixas de transmissão viral. Informações preliminares
de um estudo realizado na África do Sul consideram a possibilidade de reduzir ou prevenir
o risco de transmissão pós-natal do HIV se a criança recebe o leite humano por curto tempo
(CARNEIRO-PROIETTI, A.B. et al., 2002). A estratégia seria manter o aleitamento por
um período de 4 a 6 meses.
Entretanto, a eficácia e a segurança dessa prática ainda não foram evidenciadas, e
estudos ainda estão em andamento. Outra possibilidade seria reduzir ou eliminar o HIV do
leite humano. Células infectadas pelo vírus podem ser removidas do leite, mas partículas
virais são difíceis de eliminar. A inativação do vírus HIV do leite materno pelo processo de
pasteurização (62,5 ºC por 30 minutos, seguido de resfriamento rápido) permite que a
criança continue a receber o leite materno sem aumentar o risco pós-natal do vírus
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004b).
41
4.3 IMPOSSIBILIDADE DE AMAMENTAR X SENTIMENTOS
4.3.1 A descoberta da soropositividade
Considerando-se todo esse complexo cenário, é importante lembrar que, para muitas
mulheres, o momento da descoberta da gravidez coincide com a descoberta da infecção ao
realizarem os exames de pré-natal, fatores estes que podem tornar a situação ainda mais
dramática. Embora o estudo de Ingram e Hutchinson (2000) não tenha enfocado a gestação,
mas sim o período pós-natal, os autores relataram que as mães que tinham descoberto a
infecção durante a gravidez lembravam esse fato como algo especialmente difícil. Sobre
esse assunto, Kwalombota (2002) encontrou que mulheres diagnosticadas como portadoras
do HIV/Aids durante uma gestação apresentaram sinais de depressão maior e desordens
somáticas, à diferença de gestantes que tinham conhecimento prévio da infecção, as quais
reportaram maior ansiedade quanto à possibilidade de infectar o bebê. Dessa forma, o
período da gestação, envolto em complexas tarefas psicológicas e de readaptação na rotina
e nos papéis dentro da família, torna-se muitas vezes o momento em que algumas mulheres
se descobrem portadoras do HIV/Aids, ou em que se deparam com a necessidade de
enfrentar a doença.
Para Andries (2000), no momento da descoberta do diagnóstico surgem emoções
contraditórias que se chocam de forma tão violenta, que a gestante/puérpera pensa que não
vai suportar. No entanto, depois da fase inicial, ela percebe que a vida que pulsa em seu
ventre ou em seus braços é muito mais forte do que seu próprio medo e preconceito.
O diagnóstico de infecção do vírus HIV é um processo que ocasiona importante
impacto na vida das pessoas. É uma experiência de considerável intensidade emocional
(SECRETARIA DA SAÚDE, 2004).
O momento do diagnóstico foi vivenciado pelas participantes de um estudo realizado
por Moreno, Rea e Filipe (2006) como um momento de desespero, apresentando até um
sentimento de morte iminente. Quando receberam a informação de serem HIV positivo,
42
diversos sentimentos afloraram e tornaram-se conflituosos, principalmente quando o
resultado foi indeterminado. Aparentemente, o encontro com outras mulheres HIV positivo
pareceu amenizar a situação do diagnóstico e facilitou a aceitação e compreensão do
processo do HIV, isto aliado à atenção acolhedora do profissional de saúde, como se
evidencia em algumas falas:
“Quando eu soube foi no posto, pensei que ia morrer [...] só fiquei mais calma quando
conheci outras mulheres na mesma situação e com as consultas com a ginecologista do
ambulatório”. (Marcelina)
4.3.2 Não amamentar: Sonho ou Realidade?
Quanto ao conhecimento da transmissão do vírus HIV pelo leite materno e a contraindicação da amamentação às gestantes que participaram de uma entrevista realizada por
Vinhas et al. (2004), em um ambulatório de pré-natal de alto risco de um hospital público
de Goiânia, responderam:
“Ah! É como se estivesse tirando um pedaço de mim, sei lá, ter o leite e não poder dar o
leitinho para meu nenê sabendo que tem leite e não pode dá”.(autora desconhecida)
Embora, a maioria das gestantes tenha preferido a informação sobre a impossibilidade
do aleitamento materno, os depoimentos revelam o sofrimento e a grande tristeza de muitas
mães em ter de deixar de dar o seio ao seu filho, pois amamentar o filho é uma tarefa
corriqueira para a maioria das mulheres.
De acordo com algumas falas, extraídas de entrevistas realizadas por Batista e Silva
(2007) com puérperas de um alojamento conjunto de dois hospitais no período de janeiro a
maio de 2006, entendeu-se que a puérpera HIV positiva, por não "poder" amamentar, perde
43
a oportunidade de exercer a maternidade em sua integralidade, pois entende que a
amamentação é uma prática essencial no ser mãe:
“Isso daí (amamentar) eu acho que é o sonho de toda mulher (...) fiquei meio perturbada”.
(B6, 26 anos)
O estudo de Esteves (2000) deixa claro que a cultura favorável ao aleitamento
materno o considera como um dos atributos que caracterizam a maternidade (...) entendido
como parte do sacerdócio, definidor da maternidade. Na sociedade contemporânea, a
gravidez e a maternidade surgem quase como a realização social do papel de mãe; como se
a mulher fosse apenas reconhecida quando é mãe, quando traz frutos à sociedade onde está
inserida (CARNEIRO, A.; CABRITA, A.; MENAIA, M., 2003).
No estudo de Moreno, Rea e Filipe (2006), para as participantes a experiência da
impossibilidade de amamentar foi penosa e emocionalmente desgastante.
“Quando eu soube que não poderia dar o peito foi um choque, chorei bastante, foi difícil
pra mim, me senti triste, arrasada. Mas o ideal seria o leite de peito. Como não posso
amamentar vai deste jeito mesmo [...] Quando cheguei em casa com o João sofri muita
pressão. Muita gente veio conhecer ele e perguntavam porque eu não tava dando o peito,
eu repeti a história várias vezes, que tive uma infecção de urina e estava com medicação
forte e só podia amamentar depois de um mês. Agora digo pra todo mundo que o leite
secou”. (Marcelina)
A identidade da mulher se abala sob a vivência de ser portadora do HIV/Aids e não
amamentar se torna um dos fatos concretos de estar doente. Além disso, os procedimentos
para inibição da lactação, tão penosos, enfatizam para as puérperas o dilema da nãoamamentação (SILVA, I.A., 1997). A inibição da lactação com o enfaixamento das mamas
traz para a mulher a confirmação de que não pode amamentar, como se fosse uma camisa
de força para contê-la em seu meio biológico, cultural e humano. A motivação para
continuar o tratamento e para não amamentar dependerá da avaliação dos riscos e
benefícios para a própria mulher em relação a seu bebê e a si mesma.
44
A partir da impossibilidade de amamentar, a mulher sente que perde o papel de mãe, e
conseqüentemente, o de mulher, o que faz com que desencadeei muitos sentimentos.
Desta maneira, através da leitura de diversos autores, destacou-se o estudo feito por KüblerRoss (1985) sobre a reação humana diante da perda através do processo de luto, dando
origem a cinco categorias para os sentimentos que foram evidenciados neste contexto,
fazendo um paralelo com algumas das falas das puérperas proveniente das entrevistas
realizadas, já mencionadas anteriormente, que se encaixam dentro destas subdivisões, que
se seguem:
4.3.3 Sentimentos evidenciados
4.3.3.1 Negação
Um sentimento evidenciado no estudo das entrevistas realizadas por Batista e Silva
(2007) foi o de incredulidade diante da impossibilidade de amamentar, a negação foi tão
forte para algumas, que as instigaram a amamentar:
“Eu amamentei a outra (...) porque eu não acreditava, o médico falou pra mim, mas eu não
acreditei que ia passar pelo leite”. (B5, 34 anos)
Independente de terem sido orientadas e das intervenções realizadas para interrupção
da lactação, essas mulheres decidiram sobre si, negaram os fatos e amamentaram seus
bebês. Considerando que não poder amamentar confere à mulher a perda de um papel
social, a negação pode ser entendida como uma reação humana conseqüente desta perda
(BATISTA, C.B.; SILVA, L.R., 2007). Kübler-Ross (1985) declara que a negação, parcial
ou total, é o primeiro estágio do luto, observado em quase todos os pacientes diante de uma
situação desconfortável e indesejável. Nesse momento, a pessoa, em choque, não reconhece
o evento da perda, se protege da dor da realidade, fugindo da mesma. A negação é um dos
45
principais mecanismos da defesa psicológica. Ou seja, negar a verdade pode ser a primeira
reação a uma situação de agravo, pois o indivíduo cria uma situação irreal, que na verdade é
o que ele realmente desejaria (HEBLING, E.M., 2005).
Knauth (1999) observou que as mulheres HIV positivo por ele entrevistadas
reconheciam os riscos da infecção pelo HIV em seus bebês pela amamentação, mas não
estavam totalmente convencidas de que outro tipo de leite poderia garantir, tanto quanto o
leite materno, a saúde dos filhos; as mães se questionavam sobre ter seguido a orientação
médica de não amamentar. Para esse autor, é preciso considerar o significado da
impossibilidade de amamentar para mulheres HIV positivo, visto que, devido às inúmeras
campanhas de incentivo ao aleitamento materno, as mulheres acreditam ser esse o melhor
alimento, especialmente para uma criança que nasce em meio ao contexto do HIV/Aids.
O "instinto materno" foi mais forte do que a crença da possível prevenção da
transmissão vertical, sendo que as decisões e ações da mulher quanto à amamentação
dependem de como ela interpreta os dados e se os considera concretos. Simplesmente
impor à mulher o que ou não fazer, mesmo com justificação científica, não garante que o
comportamento da mesma seja o esperado pelo profissional, porque, na verdade, quem
decide o que fazer ou não com seu corpo e filho é a mãe. Desta maneira, nota-se a
importância do acolhimento desta mulher, pois nessa situação específica, sua decisão pode
interferir diretamente na saúde de seu filho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004a).
4.3.3.2 Inveja
De acordo com entrevista realizada, referida anteriormente, quando perguntado as
puérperas sobre o que sentiam quando observavam outras mães amamentando, algumas
entrevistadas demonstravam o desejo de vivenciar aquele momento.
“Me dava vontade de amamentar o meu, eu ficava com vontade, ficava achando que podia
(pausa) aí só ficava olhando elas amamentarem, ficava só na inveja, né? A gente tem
inveja realmente”. (A2, 41 anos)
46
A inveja é uma força situada no interior do homem, a partir da convivência de pelo
menos dois indivíduos em condições de estabelecer uma comparação (TOMEI, P.A., 1994),
sendo esta com outras pessoas que possuem características diferenciadas e desejáveis; é um
sentimento geralmente escondido e reprimido.
O alojamento conjunto é a princípio um local incentivador do aleitamento materno,
então a puérpera HIV positivo vivencia sua impossibilidade de amamentar observando esta
prática nas outras mulheres próximas, o que muitas vezes se constitui uma situação
dolorosa, como respondido por algumas depoentes:
“Ai! O que eu sinto? A vontade de amamentar minha filha, com certeza!”. (B7, 24 anos)
Nessas falas, evidencia-se o desejo de querer fazer o mesmo que as outras mães e,
inclusive, surgem determinados questionamentos, como este:
“Ela não tem problema nenhum e eu tenho, por que eu? Por que comigo?”. (A5, 27 anos)
Estes depoimentos evidenciam que o ambiente onde se encontra a puérpera com HIV
e as pessoas que a cercam interferem nos seus sentimentos e os intensificam. Kübler-Ross
(1985) lembra que no segundo estágio do luto, as pessoas podem desenvolver sentimentos
de inveja e questionar os motivos de estarem vivenciando aquilo, a partir de uma
comparação.
4.3.3.3 Tristeza e inutilidade
Um dos principais sentimentos descritos pelas depoentes entrevistadas quando
questionadas sobre o que sentiam diante da impossibilidade de amamentar foi a tristeza,
conforme pode-se ler nos depoimentos abaixo:
47
“Tristeza porque você gostaria muito de poder estar passando aquela proteção (leite
materno), aquele carinho (amamentação), porque o carinho maternal é a coisa maior, a
maior benção de Deus, né?”. (A3, 22 anos)
A tristeza se constitui como uma resposta humana universal às situações de perda,
derrota, desapontamento e outras adversidades (MOREIRA, R.O. et al., 2003). Desta
maneira, diante da impossibilidade de amamentar, a mulher reage sentindo-se mal,
desconfortável, triste e chorosa, onde a tristeza é uma reação normal ao infortúnio. A
maioria dos episódios de tristeza são provocados pela perda, ou previsão de perda, seja de
uma pessoa amada, de lugares, familiares e queridos, ou de papéis sociais (BOWLY, J.,
1985).
Como confirmado pelas declarações das puérperas, entende-se que as orientações
passadas às mulheres, em relação ao aleitamento materno, interferem em seu modo de
sentir e pensar:
“Eu acho que a amamentação é importante pra tudo, porque o teu corpo volta para o
lugar, o teu útero contrai logo, está entendendo?(....) a amamentação é tudo, mas (pausa)
já que eu não posso amamentar é deprimente (....) eu me senti inútil, está entendendo?
Porque é deprimente uma pessoa ter que carregar um filho na barriga, o teu corpo vai
logicamente se desenvolvendo, suas mamas vão encher e aquilo te deprime porque você vê
a mãe do lado fazendo uma coisa que você poderia estar fazendo, uma coisa para o bem do
teu filho e você tem que sacrificar ele com um copinho de leite. Você se sente realmente
uma inútil”. (B5, 34 anos)
A partir da perda, observam-se sentimentos de tristeza, vergonha, desespero,
ansiedade e inutilidade (KÜBLER-ROSS, E., 1985). Através da declaração da depoente B5,
percebe-se isso, uma vez que a tristeza, representada por ela como depressão, está
intimamente ligada ao sentimento de inutilidade, pois se ela não pode dar seu leite ao filho,
decorrente de uma preparação do próprio corpo, não se sente útil, não se sente mãe por
completo.
48
Sabe-se que quando sentimentos como a tristeza e inutilidade não são bem
trabalhados e enfrentados pelo indivíduo podem ocasionar um quadro clínico depressivo,
sendo primordial o acompanhamento da evolução desses, para detecção precoce de maiores
problemas psicológicos (BATISTA, C.B.; SILVA, L.R., 2007).
4.3.3.4 Medo
Batista e Silva (2007), identificaram nas falas das depoentes em suas entrevistas, o
medo de que outras pessoas descobrissem a sua infecção pelo HIV por causa da
impossibilidade de amamentar. Isso porque todas relataram que não costumam contar para
as pessoas o real motivo de não amamentarem e inventam diversas desculpas, como
podemos ver a seguir:
“O que mais me perturba é quando uma passa (outra puérpera) e eu estou dando (leite
artificial), me pergunta e eu não sei o que falar. E aí? Porque eu não vou ficar espalhando
para o hospital todo. Se uma médica chegar em mim e falar na sala de três, quatro mães
que eu tenho HIV, aí vai ficar chato porque eu tô ali com elas, né? Aí elas perguntam: -Pô,
não tem leite? Eu: -Não, empedrou! Ué! Eu tenho que falar isso, eu tenho que falar! (...) E
o medo de a qualquer momento uma enfermeira, sei lá, soltar do nada: -Ô sua AZT, sua
soropositiva! Horrível, porque se acontecer isso, eu vou me sentir mal!”. (B3, 33 anos)
Além do estigma e sofrimento individual enfrentado pela mulher HIV positiva, há o
medo da rejeição e abandono dos outros: sociedade, família, companheiro e amigos
(CARNEIRO, A.; CABRITA, A.; MENAIA, M., 2003). O medo é o sentimento humano
que precisa de maior cuidado e atenção porque pode afetar profundamente o enfrentamento
das diversas situações da vida (ESTEVES, T.M.B., 2000).
O medo da descoberta alheia provoca, na puérpera HIV positivo, a reação de mentir,
onde a inverdade se torna funcional, servindo para dissimular a real condição (PASINI,
49
W.A., 1995). Sendo assim, é dita com o intuito de evitar que outros tenham conhecimento
da sua realidade.
Essa necessidade de negar aos outros a realidade vivida, de acordo com as falas,
ocorre por sentirem-se pressionadas pelas pessoas a praticarem o aleitamento materno,
como observado nesse depoimento:
“E muita gente onde eu moro fica perguntando: -Ah! A B6 não amamenta?! Pergunta, fica
muito em cima”. (B6, 26 anos)
Segundo Esteves (2000), o paradigma vigente sobre a amamentação natural, que
preconiza que toda a mulher, ao dar luz, deve amamentar, interfere fortemente sobre as
mulheres soropositivas. Desta maneira, esta mulher se sente constrangida por não
amamentar, principalmente no alojamento conjunto, onde essa prática é incentivada à
maioria das puérperas.
As entrevistadas relataram que inventam desculpas por não amamentarem devido ao
fato de que poderiam sofrer preconceito e discriminação dos outros por serem portadoras
do HIV.
O preconceito ao redor do "fenômeno" HIV/Aids se deve a vários fatores, dentre eles,
a sua história, na qual a doença esteve associada a grupos de pessoas marginalizadas pela
sociedade (FERACIN, J.C.F., 2002). Uma doença considerada um “desastre coletivo” só
poderia desencadear o medo, o horror, a rejeição do outro, a exclusão social e o
preconceito, levando a discriminação e a culpabilização de portadores e doentes (MATOS,
G.D., 2005). Ou seja, fatores culturais enraizados no imaginário das pessoas, decorrentes da
história do HIV/Aids, promovem atitudes preconceituosas que se perpetuam até hoje no
meio social, onde os portadores do vírus estão inseridos.
4.3.3.5 Impotência e aceitação
50
Diante da impossibilidade de amamentar, quando as puérperas percebem a sua
realidade, costumam sentirem-se impotentes, pois percebem que não há o que ser feito,
como explicitado. Desta forma, o sentimento de impotência leva à aceitação da situação,
como demonstrado:
“Se eu não posso, é melhor eu não poder, do que eu poder dar e depois prejudicar ele,
né?” (A1, 18 anos)
Nota-se que, apesar da tristeza, mesmo sentindo-se mal, o bem-estar do filho é mais
importante para a mulher que, diante da perda da maternidade tão sonhada, se conforma
com a situação. Quando se vivencia uma perda muito difícil de suportar, que não pode ser
substituída, o que pode ser feito, apenas, é aceitá-la (VISCOTT, D.S., 1982).
De acordo com Kübler-Ross (1985), a aceitação define-se como o último estágio do
processo do luto; nesse momento ocorrem à adaptação à nova realidade, aceitação e
resignação à perda, porque é necessário, não há outra solução. Isto pode indicar que o
indivíduo superou, ou pelo menos se adaptou à situação, e para isso é importante que a
mulher, resolva bem todos os sentimentos anteriores e permita-se conviver com a realidade
da melhor maneira possível.
Batista e Silva (2007) perceberam através dos relatos das entrevistadas que a
conformidade é decorrente de uma compensação, porque vale a pena sacrificar-se pelo
filho, para não sentir-se culpada depois:
“Porque eu seria muito irresponsável se eu desse de amamentar pra ele, aí seria o
contrário, ao invés de ser proteção, seria uma grande tristeza, né?”. (A3, 22anos)
Nesta última fala, observa-se que a mãe se sente responsável, quando evita oferecer o
leite do próprio seio ao recém-nascido; é como se pudesse, nesse momento, "redimir-se" de
um erro anterior.
A não-amamentação envolve riscos e benefícios, (SILVA, I.A., 1997) e para essas
mulheres foi de certa forma um atestado de perdão, uma possibilidade de dar seguimento as
suas vidas, uma forma de se sentirem parte do processo ou totalmente afastadas do processo
de decisão sobre a alimentação de seu filho.
51
Para as mulheres soropositivas não amamentarem, neste momento, significa manter o
fluxo da vida, a possibilidade de não contaminar o seu filho, possibilitando a esperança de
um futuro "saudável", trazendo-lhes alegria em contribuir para isso (ESTEVES, T.M.B.,
2000). Sem dúvida, a esperança de um futuro melhor e de novas possibilidades mantêm o
ser humano, trazendo-lhe forças para seguir em frente, apesar das dificuldades (KÜBLERROSS, E., 1985).
Silva (1997) observou que as ações maternas em relação ao RN, incluindo a
amamentação, são determinadas por uma visão pessoal da experiência de não-amamentar e
que os profissionais de saúde deveriam levar em conta a avaliação e a compreensão das
condições contextuais da nutriz quanto aos aspectos sociais, culturais e familiares, os quais
a influenciam quanto à percepção e atribuição de significado do ato de amamentar.
5 A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM
Com o constatado aumento das taxas de infecção pelo HIV na população feminina em
idade fértil podemos observar um aumento correspondente de infecções congênitas. Com
isso, as gestantes portadoras do HIV formam uma situação especial para a assistência prénatal, tanto quanto em relação aos aspectos psicológicos, sociais e familiares, quanto em
relação ao desenvolvimento da gestação e do feto. Portanto, a enfermagem deve estar
atualizada e capacitada para a participação e desenvolvimento de programas de assistência
pré-natal às gestantes portadoras do HIV.
Os autores Vaz e Barros (2000) afirmam que a redução da transmissão vertical do
vírus da Aids é um dos grandes desafios para a assistência de enfermagem no próximo
milênio.
A disponibilidade mútua em trocar conhecimentos e sentimentos ajuda em muito a
superar as ansiedades e as situações de conflitos. Assim, o pré-natal é um momento
privilegiado para se discutir e esclarecer questões que são únicas para cada mulher e seu
52
parceiro e apropriado para preparação ao parto, maternidade e possíveis intercorrências da
gestação (BRASIL, MS, 2000d).
A freqüência das consultas pré-natais da gestante portadora do HIV tem as mesmas
recomendações dos outros grupos de gestantes, mensais até a 32ª semana de gestação,
quinzenais até a 36ª e semanais até o parto, com exceção diante de necessidades individuais
e intercorrências, obstétricas ou clínicas (BRASIL, 1995). Destacamos ainda, a importância
do atendimento realizado por equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, assistente
social e psicóloga, dando assistência integral à gestante HIV positiva.
Vinhas et al. (2004) refere que na maioria dos casos, a gravidez surge da falta de
informação e precauções por parte do casal, fazendo com que muitas mulheres abandonem
o uso de métodos contraceptivos por não estarem com parceiros e ocasionalmente, mantêm
atividade sexual sem proteção.
Diante disso, compete aos enfermeiros identificar o momento apropriado para
conversar com a cliente acerca do exercício da sua sexualidade, o aconselhamento na
escolha dos métodos anticoncepcionais, as implicações para o feto de uma relação sem
preservativos e a responsabilidade principalmente, se o parceiro for soropositivo para HIV,
aumentando a sobrecarga viral da mulher. Sobretudo, deve-se estimular a importância do
relacionamento sexual e afetivo contribuindo para sua auto-estima e qualidade de vida.
Na assistência a mulher HIV positiva as orientações sobre o seu futuro reprodutivo
deve atentar aos métodos contraceptivos, uma vez que a gravidez indesejada acarreta
maiores problemas sociais e emocionais. O uso do preservativo feminino ou masculino,
além de servir como método contraceptivo, previne a reinfestação do vírus HIV e as DST’s.
Minkoff et al. (1988) afirma que a sorologia para detecção da infecção pelo vírus HIV
tem sido recomendada como exame de rotina nos serviços pré-natais. Porém, deve ser
voluntária e após informação sobre os benefícios do diagnóstico precoce para instituição de
medidas de redução das taxas de transmissão perinatal (CDC, 1995). Segundo o Ministério
da Saúde (1998), no Brasil a Coordenação Nacional de DST/Aids recomenda que seja
oferecido o teste anti-HIV para todas as gestantes, mediante o seu consentimento, com
aconselhamento pré e pós-teste, realizado por um profissional na área de saúde competente,
independente de apresentar situação de risco para a infecção pelo HIV.
53
Contudo, para garantir a melhoria da qualidade da atenção à gestante portadora de
HIV/Aids, o acesso ao diagnóstico somente não é suficiente. Indissociável a testagem é a
existência e funcionalidade de uma rede organizada a partir da definição de atribuições
entre os níveis de atenção à saúde no âmbito do SUS às gestantes, parturientes e recémnascidos que garanta o acesso às mais recentes tecnologias de diagnóstico, controle e
manejo da infecção pelo HIV.
Em relação à descoberta do diagnóstico, inicialmente, algumas pessoas reagem
negativamente ao tomarem conhecimento da infecção ou da doença, talvez seja uma forma
construtiva de enfrentar o choque do diagnóstico. Essa não aceitação do diagnóstico é um
dos aspectos mais importantes na adesão ao tratamento anti-retroviral (TARV). A pessoa
infectada pode ficar deprimida pela ausência de cura e pela sensação de impotência
resultante da perda de controle provocada pela necessidade de exames médicos mais
freqüentes e diante da consciência de que o vírus tomou conta de seu corpo, são fatores
importantes que devem ser considerados pela equipe de saúde (BRASIL, MS, 1999). Em
todas as fases do acompanhamento, o profissional deve estar atento às possíveis variações
de humor, às reações depressivas e ao medo de enfrentar o diagnóstico e de revelá-lo para a
família ou para o (a) parceiro (a).
O Ministério da Saúde (2000c) afirma que quando as pessoas vivenciam situações de
ameaça a sua integridade física e emocional podem ficar fragilizadas e às vezes, não se
sentem capazes de resolver sozinhos os seus conflitos. Com isso, os enfermeiros
conseguem identificar o momento em que a cliente vive uma situação conflitante,
estabelecendo assim, prioridades em sua assistência.
Durante pré-natal assistido, é importante orientar a gestante HIV positivo quanto aos
cuidados necessários para a redução da transmissão vertical, através da utilização correta
dos cuidados durante o trabalho de parto, via de parto, dos medicamentos anti-retrovirais,
uso de inibidores de lactação, enfaixamento das mamas impedindo a amamentação.
O Ministério da Saúde (BRASIL, MS, 2001d) refere-se que a amamentação dos
recém-nascidos por mães portadoras do vírus HIV será sempre contra indicada tenham ou
não recebido a TARV (Terapia Anti-Retroviral). O aleitamento materno deixa de ser
vantajoso e passa a representar riscos reais para o bebê. Por isso, as mães devem ser
54
aconselhadas à supressão da lactação e substituí-la por outros leites. É importante que a
puérpera durante sua permanência na maternidade receba suporte por parte da equipe de
saúde para não amamentar sem se sentir discriminada.
A gestante, mesmo sem apresentar a doença, pode ter dúvidas quanto à utilização de
medicamentos para a prevenção da transmissão vertical durante a gravidez, sendo
necessário apoio e monitoramento constantes por parte do profissional enfermeiro.
O convívio no dia-a-dia com discriminação e preconceitos gera grande ansiedade e
pode contribuir para a baixa adesão da gestante ao tratamento, devido a efeitos adversos do
tratamento e com outras situações que podem chamar a atenção das pessoas com quem
convive na família ou no trabalho para sua condição,
Os autores Vaz e Barros (2000) afirmam que são vários os desafios encontrados, o
assunto evolui rapidamente, sendo necessária à atualização constante da assistência de
enfermagem, através da aplicação de ações e de informações científicas com o objetivo da
prevenção e do tratamento, em equipe multidisciplinar de assistência, num processo que
envolve o aprendizado individual e coletivo, motivador da compreensão e da consciência
para o estabelecimento de estratégias fundamentadas no conhecimento.
Portanto, os serviços de saúde precisam estar organizados para esse atendimento e a
enfermagem deve buscar soluções para as transformações que a infecção pelo HIV traz
para a assistência à saúde da gestante/puérpera, do feto e da família.
A equipe multiprofissional (enfermeiro, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista
e psicólogos) pode realizar ações educativas com grupos de mulheres enquanto aguardam a
consulta pré-natal. Nas reuniões, questões pertinentes à importância do pré-natal devem ser
abordadas, tais como os cuidados higiênico-dietéticos da gestante, livre demanda,
alojamento conjunto, cuidados com recém-nascido, incentivo ao aleitamento materno,
dentre outros.
As ações educativas no pré-natal, a princípio devem ser realizadas com todas as
gestantes. Contudo, a experiência tem mostrado a necessidade da formação de um grupo
que aborde temas específicos de modo sistemático e discuta os riscos de transmissão do
HIV, orientação quanto ao uso de medicamentos e impedimento à amamentação exclusiva,
enfatizar a importância da participação da família, abrindo espaço para discussões onde as
55
gestantes possam expressar seus sentimentos e dúvidas acerca dessa problemática, para
com isso, evitar o constrangimento das gestantes e oferecer um suporte emocional,
orientando quanto a perspectiva da qualidade de vida e saúde da mãe e do bebê.
Segundo Serafin e Filgueiras (1999), para os coordenadores do Programa DST/Aids,
o aconselhamento coletivo oferece objetivamente aos usuários a oportunidade de
redimensionar as dificuldades e compartilhar suas dúvidas, sentimentos e conhecimentos. A
dinâmica grupal favorece ao indivíduo perceber sua própria demanda, reconhecer o que já
conhece e sentir-se estimulado a participar dos atendimentos individuais subseqüentes.
Entretanto, também é fundamental reservar momentos individuais com as gestantes, para
estabelecer estratégias adequadas de interação cliente e profissional para conquistar sua
confiança, levando em conta suas particularidades, angústias, conflitos, medos e dúvidas
que provocam grande ansiedade nas grávidas ao conhecerem o risco de contaminação do
filho, e isso significa não submetê-las às nossas necessidades, conceitos e valores, mas
também resulta em compreender que a mulher se encontra inserida em um contexto de
natureza pessoal, social e cultural próprio, do qual os profissionais de saúde devem ter
clareza ao assistir a clientela (VINHAS, D.C.S. et al., 2004).
Segundo o Ministério da Saúde (1999) a história que cada gestante/puérpera traz deve
ser acolhida integralmente, pois os seus relatos e de seus acompanhantes são parte dos
fatos, emoções ou sentimentos por elas apresentados, que podem ser claramente percebidos
pelos membros da equipe.
Vinhas et al. (2004) também afirma que os profissionais de enfermagem desfrutam de
uma posição privilegiada, dentre outros profissionais, para educar as pessoas sobre as
formas de reduzir o risco de transmissão do HIV. Os enfermeiros são considerados fontes
confiáveis de informação sobre saúde e comumente as pessoas se sentem bastante à
vontade com eles para discutir questões íntimas de sua pessoa.
Na prevenção não basta somente a informação, o profissional deve atuar em um
trabalho de valorização da vida, ser agente transformador. Para tanto, deve-se utilizar uma
abordagem que seja compatível com as reais condições da cliente, sendo pautado na ética
profissional, na seriedade e no respeito, evitando situações de desconforto ou mesmo
56
culpabilizá-la pela doença, saber ouvi-la talvez seja uma postura prudente em alguns
momentos (VINHAS, D.C.S. et al., 2004).
O ser humano possui uma visão de mundo baseada em sua cultura, que inclui fatores
religiosos, familiares, políticos, educacionais, econômicos e tecnológicos, que influenciam
no seu modo de vida (LEININGER, M.M.; MCFARLAND, M.R., 2006). Ou seja, se o
homem vivencia o processo saúde e doença de acordo com sua cultura, esta se torna
essencial para nortear o cuidado de enfermagem, eixo central desta profissão. George
(1993) diz que este cuidado pode ser definido como o conjunto de ações que prestam
auxílio, apoio ou capacitação, para um indivíduo com necessidades evidentes de melhorar
ou aperfeiçoar uma condição ou vida humana.
Desta maneira, percebe-se a importância destes fatores na saúde do ser humano e no
cuidado da Enfermagem, pois interferem na mente e no corpo das pessoas, provocando
reações, decisões e ações no modo de vida individual e social.
A Enfermagem é a profissão que se dedica ao cuidado integral do ser humano, a fim
de atender as necessidades humanas básicas. No puerpério, o enfermeiro assiste a mulher
HIV positiva quando ela está impossibilitada amamentar, no cenário de um alojamento
conjunto, vivenciando um momento único e difícil.
Nesse momento, essas mulheres têm necessidade de serem ouvidas, compreendidas e
apoiadas, e precisam de um apoio emocional, mas têem dificuldade em buscá-lo em outras
pessoas, pelo medo de sofrerem discriminação, podendo fazê-lo com um profissional de
saúde que permanece mais tempo com elas.
Escutar o que esta mulher tem a dizer é a maior estratégia que o enfermeiro pode
utilizar para ajudá-la a enfrentar essa situação. Permitir que a mesma desabafe, coloque pra
fora seus sentimentos mais profundos pode contribuir para que se sinta valorizada, aliviada
e, ainda, possibilita que o enfermeiro esclareça dúvidas, perceba possíveis riscos para a
saúde da mulher e seu filho e crie estratégias, em conjunto com esta, para ajudá-la a ter uma
vivência saudável desta realidade tão incômoda (BATISTA, C.B.; SILVA, L.R, 2007).
Segundo Batista e Silva (2007), outra estratégia que permite à mulher conversar com
outras pessoas e trocar experiências é o grupo específico de mulheres HIV positivas, onde
todas possuem essa característica em comum e, por isso, podem sentir-se mais à vontade.
57
Este grupo é realizado em muitas instituições, podendo ser conduzido por uma equipe
multiprofissional composta por enfermeiros, psicólogos, médicos, assistentes sociais,
dentre outros.
Percebe-se, portanto, que entender um pouco o universo vivenciado por esta mulher,
em uma situação tão particular, pressionada pelos valores sócio-culturais, é de fundamental
importância para o cuidado em enfermagem. Sabe-se que as muitas responsabilidades que
pertencem ao enfermeiro dificultam que esta sensibilidade seja exercitada; contudo, o
esforço de entender o contexto social, cultural e psicológico no qual se encontra a mulher
HIV positiva e mover-se para ajudá-la deve fazer parte das suas prioridades, pois compõem
uma assistência de qualidade, que, certamente, faz a diferença na vida de nossos clientes,
que, aliás, possuem o direito de tal cuidado. É necessário, desta maneira, incorporar na
prática assistencial, os princípios e diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde (SUS), tais
como integralidade e participação social. Assim, entenderemos que a mulher portadora do
vírus da Aids possui o direito ao acesso à saúde de qualidade, de conhecer a si, sua
sociedade e as circunstâncias de seu agravo, para poder, então, tomar decisões que
contribuam para sua saúde e de sua família.
Assim, durante nossa trajetória como acadêmicos de enfermagem, pudemos observar
que a mulher soropositiva enfrenta uma série de desafios, como a possibilidade de seu filho
nascer contaminado. Também, há cobranças de outras mulheres internadas, amigos e
familiares em relação à não amamentação do seu filho — “você não vai amamentar o seu
bebê? Ele está chorando de fome”, dentre outras perguntas. Diante disso, surge a dúvida:
suportar as pressões sociais ou revelar o verdadeiro motivo que impede de amamentar o seu
filho? Os enfermeiros ao prestarem assistência preventiva às gestantes/puérperas HIV
positivo devem atentar à necessidade de saúde de cada uma em aspectos relativos ao apoio
emocional e psicológico que envolve a mulher no seu convívio social e familiar.
Portanto,
tendo
em
vista
os
diversos
sentimentos
vivenciados
pelas
gestantes/puérperas HIV positivo diante da impossibilidade de amamentar, influenciada por
elementos sociais e culturais, percebe-se o forte impacto que esta realidade gera em suas
vidas e, conseqüentemente, em sua saúde. Para que essa situação seja enfrentada,
juntamente com os sentimentos provocados, é importante que a mulher sinta-se segura,
58
encontrando apoio em sua família, amigos e profissionais de saúde. Estes, em especial,
precisam compreender o universo emocional e cultural desta mulher, para assim
aproximarem-se da sua realidade, adequando suas orientações e cuidados durante o prénatal, parto e puerpério, com a finalidade de serem mais efetivos.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento bibliográfico realizado neste trabalho, trouxe informações relevantes
relacionadas ao HIV/Aids e as implicações desta doença na vida de gestantes/puérperas
diante da impossibilidade de amamentar. Conhecer mais sobre uma doença grave e que se
torna cada dia mais comum e crescente entre as mulheres, faz com que os pacientes e os
profissionais da área de saúde lidem de maneira mais eficaz com essa situação tão difícil.
Diante da ausência de muitos estudos que abordassem os aspectos psicológicos
gerados nessas mães frente a essa situação e os aspectos subjetivos dessas mulheres
relacionados à não amamentação, decidimos realizar primeiro uma pesquisa bibliográfica
que desse uma introdução nesse assunto, para que as pessoas entendam a dimensão dessa
situação, e que futuramente surjam novos trabalhos referentes a esse contexto.
A profilaxia para a prevenção da transmissão vertical do vírus HIV impõe uma série
de procedimentos que podem influenciar intensamente a experiência materna dessas mães
e, conseqüentemente, a relação com o filho. Assim, o impacto do diagnóstico e, em
particular, das recomendações da profilaxia sobre a vivência subjetiva da gravidez e do
parto - bem como os aspectos subjetivos relacionados ao não-aleitamento no seio e à
relação com o filho, são pontos pouco visados pela maioria dos profissionais de saúde.
Entende-se que ser mãe se constitui num processo bastante complexo para qualquer
mulher e envolve diversos aspectos psicológicos. Para as mães portadoras do HIV/Aids,
essa complexidade aumenta devido aos desafios impostos pela infecção, trazendo
sobrecargas particulares para as suas relações familiares e sociais, associadas à revelação
59
ou não do diagnóstico e ao estigma social associado à epidemia. Esta doença compromete
não só a integridade física, mas também a relação que a paciente estabelece com o seu
corpo e mente. Pode-se dizer então, que normalmente, o diagnóstico de HIV/Aids e as
conseqüentes recomendações de profilaxia, como a não-amamentação, vêm acompanhados
do surgimento de alguns sentimentos como: estresse, negação, ansiedade, depressão,
sofrimento, tristeza, inutilidade, inveja e medo da morte, que foram evidenciados nas
pesquisas relatadas nesse trabalho. Nesse sentido, acredita-se que estar grávida na presença
da infecção pelo HIV/Aids exige um duplo trabalho de redefinição subjetiva, onde a mulher
precisa se reconhecer como mãe e como portadora do HIV/Aids com todas as
conseqüências que essa condição implica. Assim, torna-se necessária a formação de grupos
específicos que permitam maior liberdade para discussão e troca de experiências, ajudando
as gestantes/puérperas a reagirem melhor em relação às conseqüências nefastas do vírus
HIV. Observamos a importância do acompanhamento precoce através do pré–natal, pois a
maioria das mulheres só toma conhecimento do seu diagnóstico após exames para HIV
recomendado como rotina de pré-natal.
A sobrecarga psicológica das mães HIV positivo, evidenciada pelos estudos aqui
revisados, retrata uma vivência de maternidade com dificuldades emocionais, somando-se à
intensidade do estigma social e aos inúmeros fatores familiares, sociais e econômicos
implicados nessa situação. Em conjunto, esses aspectos demonstram a vulnerabilidade
social dessas mulheres no contexto da infecção pelo HIV/Aids. Percebe-se que a presença
da infecção pode alterar de formas negativas a experiência da maternidade, embora, por
vezes, possa até redimensionar positivamente a vida da mulher. A discriminação e o
preconceito associados à escassez de recursos socioeconômicos e ao acesso precário a
serviços de saúde adequados tornam o quadro ainda mais preocupante, tanto em relação à
prevenção de novas infecções e re-infecções quanto à assistência das pessoas já infectadas.
Acredita-se que o acesso universal aos ARV’s (anti-retrovirais) em conjunto com uma
assistência emocional adequada às mães portadoras do HIV/Aids possibilitariam uma maior
qualidade de vida a elas, com conseqüências positivas para o desenvolvimento de seus
filhos.
60
Apesar dos desafios impostos pela doença, pelo estigma e pela incerteza quanto ao
futuro, fica evidenciado, através dos estudos revisados, a busca pela manutenção de uma
identidade materna positiva para que os filhos guardem das mães uma lembrança boa, além
da intensa preocupação e responsabilidade que essas mulheres experimentam como mães.
Pesquisas devem ser realizadas para dar voz a essas mães que, por vezes, se encontram
socialmente marginalizada em diversos âmbitos sociais. Percebemos que conhecer e
compreender a experiência da gestação e da maternidade em gestantes/puérperas, em
situação de infecção pelo HIV/Aids, o que elas vivenciam e sentem, nos ajuda a nos colocar
no lugar do outro, nos auxiliando no entendimento de como condições crônicas incidem
sobre a vivência da maternidade e da gestação e a refletir quanto à elaboração de
intervenções que visem o bem-estar do paciente e de seus familiares, a fim de amenizar
sofrimento por elas vivido, lhes garantindo uma vida mais feliz e com maior qualidade de
vida para elas e seus filhos. Ademais, entende-se que a gestação e a maternidade são
eventos muito marcantes para a vida de qualquer mulher e para a relação que ela vai
estabelecer com a criança.
Consideramos que o profissional enfermeiro está apto a desempenhar com êxito a
assistência ao pré–natal, realizando orientações individuais e/ou grupais. O apoio da equipe
multidisciplinar propicia às pacientes um atendimento mais compatível e merecido com
maior segurança e tranqüilidade. O enfermeiro deve ter clareza e firmeza para desenvolver
atividades e estratégias que ao serem adotadas sejam capazes de dar respostas aos desafios
evidenciados, levando a mulher soropositiva à reflexão do seu mundo interior, visando
outras perspectivas além de sua saúde, mas assegurar seus direitos na sociedade como
cidadã brasileira.
A educação em saúde é um espaço importante que retrata a sensibilidade e os
impactos vividos por cada mulher, transmite informações quanto ao uso dos anti-retrovirais
na prevenção da transmissão vertical, realiza medidas profiláticas como o uso de
preservativos em todas as relações sexuais, evitando assim a reinfestação do vírus HIV, ou
outros causadores de DST’s, e também a gravidez indesejada, buscando assim, alternativas
que visem à promoção da saúde e a mudança de hábitos, para que haja uma melhor
qualidade de vida de nossos clientes.
61
Conclui-se assim, que a prevenção é o único meio de controle da propagação da
infecção pelo HIV e os programas de saúde atuam para diminuir as taxas de incidência.
Apesar disso, a infecção continua atingindo toda a população, de maneira indiscriminada.
Predominam, entre os novos casos, os meios de transmissão em que o comportamento
pessoal foi responsável pela infecção, como os usuários de drogas endovenosas e as
relações sexuais sem proteção.
A enfermagem constitui-se numa prática particular que estabelece uma relação interhumana intencionalmente voltada para o cuidado com o bem-estar ou o estar melhor de
uma pessoa, com necessidades perceptíveis. Essas necessidades são supridas através do
diálogo entre enfermeiro e cliente, onde as experiências são partilhadas, de forma que,
juntos, encontrem as melhores estratégias para as situações que se apresentam no processo
de saúde e doença.
Por fim, ressaltamos que a assistência às gestantes/puérperas HIV positivo, deve
atender a um padrão de qualidade elevado com a realização do teste anti-HIV no pré-natal,
com aconselhamento pré e pós-teste, inclusão do aconselhamento em DST/Aids e estímulo
ao exercício da sexualidade às mulheres como fator relevante da saúde física e mental,
orientações quanto ao planejamento familiar e as formas de contracepção, a importância do
acompanhamento pré-natal e os cuidados durante a gravidez e pós-parto, cuidados com o
recém-nascido, principalmente, as recomendações de profilaxia da transmissão vertical,
contudo, nunca se esquecendo de pensar não só na criança, mas também na mãe, que tem
que passar por essa difícil experiência.
A atenção não pode se voltar apenas para a doença e suas implicações físicas. Como
já citado neste estudo, a mama é um símbolo do corpo da mulher, sinônimo de
feminilidade, beleza, sexualidade e maternidade. Com isso, o atendimento prestado as
gestantes/puérperas HIV positivo, deve considerar tais mulheres em sua totalidade dando
especial atenção a algo que lhes é fundamental: o sentimento de feminilidade e tudo o que
se associa a este sentimento. Entretanto, nessa situação, é comum que as atenções de saúde
se concentrem, essencialmente, na prevenção da transmissão vertical, sem oferecer a devida
atenção à mãe, que pode estar experimentando fortes sentimentos de culpa e medo
relacionados à possibilidade de infectar o filho. É nesse contexto que a mãe portadora do
62
HIV/Aids vive a sua gravidez e o encontro com o bebê após o nascimento. Ela passa a
freqüentar os serviços de saúde em função da gestação e das recomendações para evitar a
transmissão vertical e, após o nascimento do bebê, para o acompanhamento do filho.
Realizando todos os procedimentos, sabe-se que a chance de que o bebê não seja infectado
é grande. Mesmo se a criança for infectada, pouco se sabe sobre as vivências e
necessidades dessas mães. Suas dificuldades em continuar o próprio tratamento após o
nascimento do filho e em aderir a práticas sexuais seguras, demonstram, pelo menos em
parte, a falta de atenção específica a essas mães, revelando um quadro em que o foco das
políticas de saúde permanece, sobretudo, na criança.
Dessa forma, acreditamos que a concretização desse estudo possa contribuir para o
crescimento científico dos profissionais da área de saúde, no sentido de promover a
humanização e a qualificação da assistência de enfermagem as gestantes/puérperas HIV
positiva, e, como também refletir acerca das reuniões de pré-natal realizadas por equipe
multidisciplinar de modo sistemático de forma coerente com as necessidades e expectativas
da clientela.
63
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AAP. Breastfeeding and the use of human milk. American Academy of Pediatrics. Work
Group on Breastfeeding. Breastfeed Rev. 1998;6:31-6.
ABREU, F.V.G.; SOVIERO, V.M.; BASTOS, E.P.S. et al. Amamentação e
desenvolvimento: função e oclusão. J Bras Odontoped Odonto Bebê, Curitiba, v. 2, n.11,
p. 17-20, set. /out. 1997.
AGÊNCIA AIDS. Disponível em:
http://www.agenciaAids.com.br/site/noticia.asp?id=10758 17 out. 2008 15:35:41 GMT.
ALMEIDA, M.F. Nutrição e cuidados com o recém-nascido. Pediatria Moderna, São
Paulo, v. 28, n. 1, p. 5-7, fev. 1992.
AMAZONAS, M.C.L.A.; BRAG, M.G.R. Família: Maternidade e procriação assistida.
Psicologia em Estudo, Maringá. v.10, n.1, p.11-18, jan./abr.2005.Disponível
em:http://www.scielo.br/pdf/pe/v10n1/v10n1a02.pdf. Acessado em 15/09/08.
ANDRADE, C.E. A Construção Da Maternidade: O Lúdico Infantil e Sua Relação no
Imaginário Materno. Curso de Psicologia. Governador Valadares: Univale, 2008.
ANDRÉ, S. O que quer uma mulher? Trad. Dulce Duque Estrada. Rio de Janeiro, Jorge
Zahar, 1987. Tradução de: Que veut unne femme.
ANDRÉ, S. O que quer uma mulher? 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1991,
295 p.
ANDRIES, S. Gravidez e Aids. Rio de Janeiro: Rev. Saber Viver. Ano 1, n.5,
jun./jul.2000, 1-11p.
ARAGÃO, O. De mães e de filhos. Estados Gerais de Psicanálise. 2002. Disponível em:
http://www.estadosgerais.org. Acesso em: 12/09/2008.
BATISTA, C.B.; SILVA, L.R. Sentimentos de mulheres soropositivas para HIV diante
da impossibilidade de amamentar. Esc. Anna Nery, jun. 2007, vol. 11, n.2, p.268-275.
BOWLY, J. Apego e perda. 1.ed. Tradução de Valtensir Dutra. São Paulo (SP): Martins
Fontes, 1985.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de
Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids. Considerações gerais do binômio: HIV/Aids
e gravidez. Brasília: Programa nacional de DST/Aids, 1995,48p.
64
BRASIL. Ministério da Saúde. Recomendações Técnicas para Funcionamento de Banco
de Leite Humano, 3.ed. Brasília: Ministério da Saúde; 1998.
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e Aids. GONÇALVES.
Aprendendo sobre Aids e Doenças Sexualmente Transmissíveis: livro da família.Brasília:
Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e Aids, 1999, p.84.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Políticas de Saúde. Área técnica da Saúde da
mulher. Manual técnico: gestação de alto risco. Brasília (DF): MS; 2000a.
BRASIL. Ministério da Saúde. Semana Epidemiológica nº 48/99 a nº 22/00 de dez/1999 a
jun/2000.Bol. Epidemiol. Aids, 2000b; 13:1.
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e Aids. Aconselhamento em
DST, HIV e Aids: diretrizes e procedimentos básicos. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde.
Coordenação Nacional de DST e Aids. 2000c, 25p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Área Técnica da Saúde da Mulher.Gestação de Alto
Risco.Manual Técnico. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde.Secretaria de Políticas de
Saúde. Área Técnica da Mulher, 2000d, 164p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Prevalência de aleitamento materno nas capitais
brasileiras e no Distrito Federal. Brasília, 2001a.
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de tratamento: recomendações para a profilaxia da
transmissão vertical do HIV e terapia anti-retroviral em gestantes. Brasília(DF), 2001b.
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e Aids. Novo consenso
sobre terapia anti-retroviral para adultos e adolescentes infectados pelo HIV. Brasília:
Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST/Aids. 2001c.
BRASIL. Ministério da Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Parto, Aborto e
Puerpério: assistência humanizada a mulher. Brasília: Ministério da Saúde, Secretarias de
Políticas de Saúde. Área Técnica da Mulher.2001d, 199 p.:il.
BRASIL. Ministério da Saúde.Assistência à parturientes, puérperas portadoras do HIV
e/ou co sífilis, e seus bebês, nas maternidades. Brasil:Ministério da Saúde (2002).
BRASIL. Ministério da Saúde. Projeto nascer. Brasília (DF), 2003.
65
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância e Saúde. Programa Nacional de
DST/Aids. Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia
anti retroviral em gestantes. Brasília (DF); 2004a.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de
DST/Aids. Guia de tratamento clínico da infecção pelo HIV em crianças. Brasília, DF.
2004b. Série Manuais Nº 18.
BRASIL. Ministério da Saúde. 1ª a 26ª semanas epidemiológicas: jan/jun 2004. Bol.
Epidemiol. Aids, 2004c; 17: 1.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional
de DST e Aids. (2005). 1ª. a 24ª. Semanas epidemiológicas, jan./jun. Boletim
Epidemiológico Aids, 18(1).
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional
de DST e Aids. (2006a). 1ª. a 26ª. Semanas epidemiológicas, jan./jun. Boletim
Epidemiológico Aids, 3(1).
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST
e Aids. Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis / Ministério
da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. –
Brasília: Ministério da Saúde, 2006b.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde – Programa Nacional
de DST e Aids. Brasília, DF: dezembro 2007a.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Saúde. Programa Estadual de DST/Aids de
Minas Gerais. Boletim Epidemiológico DST/Aids.Minas Gerais;2007b.
BRITO, A.M.; CASTILHO, E.A.; SZWARCW, C.L. Aids e infecção pelo HIV no Brasil:
uma epidemia multifacetada. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 34(2):
207-217, mar-abr, 2000.
BUTLER, J.E. Immunnologic aspects of breastfeeding, antiinfectious activity of breast
milk. Semin Perinatol. 1979; 3:255-70.
CARNEIRO, A.; CABRITA, A.; MENAIA, M. A experiência psicológica da gravidez na
mulher seropositiva para o HIV. Lisboa. [online], 2003 set; [citado 11 jun 2006]; 4º
Congresso: [aprox 12 telas]. Disponível em: http://www.Aidscongress.net/pdf.177.pdf .
CARNEIRO-PROIETTI, A.B.; RIBAS, J.G.; CATALAN-SOARES, B.C.; MARTINS,
M.L.; BRITO-MELO, G.E.; MARTINS-FILHO, A.O. et al. Infection and disease caused
by the human T cell lymphotropic viruses type I and II in Brazil. Rev Soc Bras Med
Trop. 2002; 35:499-508.
66
CASTRO, K.G.; WARD, J.W.; SLUTEKER, L. et al. 1993. Revised classification system
for HIV infection and expanded sur veillance case definition for Aids among
adolescent and adults. Morbid Mortal Weekly Rep 41:1-19, 1992.
CDC. Recommendations of US Public Health Service Task Force on the use of
Zidovudine to Reduce Perinatal Transmission of Human Immunodeficiency Virus.
MMWR, v.43,n.RR11,p.1-20, 1994.
CDC. Recommendations for human immunodeficiency virus counseling and voluntary
testing for pregnatwoman. MMWR, v.44,n.RR7,p.1-15, 1995
CONNOR, E.M. et al. Reduction of maternal-infant transmission of human
immunodeficiency
virus
type-1
with
zidovudine
treatment.
N.Engl.J.Med.,v.331,n.18,p.1173-1180, 1994.
COOPER, H.M. Integrating Research: a guide for literature reviews. London SAGE
publication,2ed.,v.2.155p,1989.
COUTSOUDIS, A.; PILLAY, K.; SPOONER, E.; COOVADIA, H.M.; PEMBREY, L.;
NEWELL, M.L. Morbidity in children born to women infected with human
immunodeficiency virus in South Africa: does mode of feeding matter? Acta Paediatr.
2003; 92:890-5.
DUARTE, G. Síndrome da imunodeficiência adquirida: aspectos obstétricos. In:
MONTELEONE , P.P.R.; VALENTE, C.A. Infectologia e ginecologia e obstetrícia. São
Paulo: Atheneu, 1997.p.198-218.
DUARTE, G.; QUINTANA, S.M.; El BEITUNE, P. Fatores que influenciam a
transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana tipo 1.2005.705f.
DUNN, D.T. et al. Risk of human immunodeficiency virus type l transmission through
breast feeding. Lancet, v.340,n.8819,p.585-588, 1992.
EHRNST, A. et al. HIV in pregnant woman and their offspring: evidence for late
transmission. Lancet, v.338, n.8760, p.203-207, 1991.
ESTEVES, T.M.B. Olhando o passado e repensando o futuro: a desconstrução do
paradigma da amamentação, em relação ao vírus da imunodeficiência humana na
transmissão vertical [dissertação de mestrado]. Rio de Janeiro (RJ): Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto/UNIRIO, 2000.
67
FERACIN, J.C.F. Atitudes e sentimentos das mulheres que vivenciaram a gravidez e
soropositividade ao vírus HIV. [dissertação de mestrado]. Campinas (SP):Universidade
Estadual de Campinas, 2002.
FONSECA, E. M. A. M. Manejo e promoção do aleitamento materno. Goiânia: 1998, 18
p.
FREUD, S. O material infantil dos sonhos (1900). In: _____. Edição Standard das Obras
Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, vol. 4, p.219-248, 1976.
FREUD, S. As transformações da puberdade (1905). In: _____. Edição Standard das
Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, vol.7, p.196-217, 1976.
FREUD, S. A vida sexual dos seres humanos (1917a). In: ____. Edição Standard das
Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, vol.26, p.309-324, 1976.
FREUD, S. Feminilidade (1933). In: _____. Edição Standard das Obras Completas de
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, vol.22, p.139-165, 1976.
GALVÃO, C.M.; SAWADA, N.O.; TREVIZAN, M.A. Revisão sistemática:recurso que
proporciona a incorporação das evidências na prática da enfermagem.Rev.LatinoAmericana de Enfermagem, v.12,n.3,p.549-56, 2004.
GARIBALDI, R. Como funciona um bebê? Rio de Janeiro: Rubio, 2003. 87p.
GEORGE, J.B. Teorias de enfermagem. Porto Alegre (RS): Artes Médicas, 1993.
GIR, E.; CANINI, S.; PRADO, M.A.; CARVALHO, M.J.; DUARTE, G.; REIS, R.K. A
feminização da Aids: conhecimentos de mulheres soropositivas sobre a transmissão e
prevenção do HIV-1. Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 2004.
16(3), 73-76.
GIUGLIANI, E.R.J. Aleitamento materno na prática clínica. Jornal de Pediatria, São
Paulo, v.76, supl.3, p.238-252, dez. 2000.
GOLDEMBERG, P. Repensando a desnutrição como questão social. 2ª ed. Campinas:
Ed Unicamp; 1989.
GOLDMAN, A.S. Evolution of the mammary gland defense system and the ontogeny
of the immunesystem. J Mammary Gland Biol Neoplasia. 2002; 7:277-89.
GONÇALVES, T.R.; PICCININI, C.A. Aspectos psicológicos da gestação e da
maternidade no contexto na infecção pelo HIV/Aids . Psicol.USP, SET.2007, vol 18, no.
3, p. 113-142. ISSN 1678-5177.
68
HEBLING, E.M. Mulheres soropositivas para HIV: sentimentos associados à
maternidade e à orfandade [tese de doutorado]. Campinas (SP): Faculdade de Ciências
Médicas/UNICAMP, 2005.
HEK,
G.
Systematically
researcher.v.7,n.3,p.40-57, 2000.
searching
on
reviewing
literature.
Nurse
INGRAM, D.; HUTCHINSON, S.A. (1999a). Defensive mothering in HIV-positive
mothers. Qualitative Health Research, 9(2), 243-258.
INGRAM, D.; HUTCHINSON, S.A. (1999b). HIV-positive mothers and stigma. Health
Care for Women International, 20, 93-103.
INGRAM, D.; HUTCHINSON, S.A. (2000). Double binds and the reproductive and
mothering experiences of HIV-positive women. Qualitative Health Research, 10(1), 117132.
JUNQUEIRA, P. Amamentação, hábitos orais e mastigação. Orientações, cuidados e
dicas. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. 26p.
KALICHMAN, S.C.; DIMARCO, M.; AUSTIN, J.; LUKE, W.; DIFONZO, K. Stress,
Social support, and HIV-status disclosure to family and friends among HIV-positive
men and women. Journal of Behavioral Medicine, 2003, 26(4), 315-332.
KNAUTH, D.R. O vírus procurado e o vírus adquirido: a construção da identidade entre
mulheres infectadas com o vírus da Aids. Estudos Feministas, 1997a.5(2), 291-301.
KNAUTH, D.R. (1997b). Maternidade sob o signo da Aids: um estudo sobre mulheres
infectadas. In A. O. Costa (Org.), Direitos tardios: saúde, sexualidade e reprodução na
América Latina (pp. 39-64). São Paulo: Editora 34.
KNAUTH, D.R. Subjetividade feminina e soropositividade. In: Barbosa RM, Parker R,
editores. Sexualidades pelo avesso: direitos, identidades e poder. São Paulo: IMS/UERJ;
1999. p.132
KÜBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. 2.ed. Tradução de Paulo Menezes. São
Paulo(SP): Martins Fontes, 1985
KUHN, L.; STEIN, Z.; SUSSER, M. Preventing mother-to-child HIV transmission in
the new millennium: the challenge of breast feeding. Paediatr Perinat Epidemiol. 2004;
18:10-6.
KWALOMBOTA, M. (2002). The enffect of pregnancy in HIV- infected women. Aids
Care, 14 (3), 431-433.
69
LAMOUNIER, J.A.; MOULIN, Z.S.; XAVIER, C.C. Recomendações quanto à
amamentação na vigência de infecção materna. J Pediatr [on line], 2004 nov; [citado 29
nov 2005]; 80(5): [aprox 14 telas]. Disponível em http://www.scielo.br/.
LAWRENCE, R.M. Transmission of infectious diseases through breast milk and
breastfeeding. In: Lawrence RA, Lawrence RM, editors. Breastfeeding: a guide for the
medical profession. 5th ed. St. Louis, MO: Mosby; 1999. p. 563-616.
LAWRENCE, R.M.; LAWRENCE, R.A. Given the benefits of breastfeeding, what
contraindications exist?. Pediatr Clin North Am. 2001; 48:235-51.
LEININGER, M.M.; MCFARLAND, M.R. Culture care diversity and university: a
worldwide nursing theory. 2.ed. Jones and Bartlett Plubishers, 2006.
LUZURIAGA , K.; SULLIVAN, J.L. Transmission of the human imunodeficiency virus
from mother to the fetus and infant. In: DeVITA Jr.,V.T.; HELLMAN, S.;
ROSENBERG,
S.A.
Aids:biology,diagnosis,
treatment
and
prevention.
Massachusetts:Lippincott, 1997. p.167-173.
MANDELBROT, L.; LE CHENADEC, J.; BERREBI, A.; BONGAIN, A.; BENIFLA, J.L.;
DELFRAISSY, J.F. et al. Interaction between zidovudine prophylaxis and mode of
delivery in the French perinatal cohort. JAMA. 1998; 280:55-60.
MARIN, H.F.; PAIVA, M.S.; BARROS, S.M.O. Aids e enfermagem obstétrica. São
Paulo: EPU, 1991.p.1-33.
MARQUES, S.R. Infecções maternas e aleitamento natural. Rev. Paul Pediatria, São
Paulo, v.15, n.3, p.17-18, set.1997.
MATOS, G.D. Escravas do risco: bioética, mulheres e Aids. Brasília (DF): Ed
Universidade de Brasília/Finatec, 2005.
MINKOFF, H.L. et al. Routinely offered prenatal HIV testing. N.Engl.J.Med.,
v.319,n.15,p.1018, 1988.
MINKOFF, H.L.; AUGENBRAUN, M. Antiretroviral therapy for pregnant women.
Am.J.Obstet.Gynecol., v.176,n.2,p.478-489, 1997
MORAES, O.D.C. Os significados inconscientes da perda do Seio em mulheres com
câncer de mama. Curso de Psicologia.Governador Valadares: Univale, 2007.
70
MORANDO, L. Ética e Aids. In MORANDO, L.; GUIMARÃES, R. (Orgs.), Aids:
olhares plurais ensaios esparsos sobre a epidemia de HIV/Aids (pp.11-29). Belo
Horizonte: Coordenadoria estadual de DST/Aids de Minas Gerais, 1998.
MOREIRA, R.O.; PAPELBAUM, M.; APPOLINARIO, J.C. et al. Diabetes mellitus e
depressão: uma revisão sistemática. Arq Bras Endocrinol Metab. [online], 2003 fev;
[citado 08 jun 2006]; 47(1): [aprox. 18 telas]. Disponível em: http://www.scielo.br/.
MORENO, C.C.G.S. Mães HIV positivo: o dilema da não amamentação em uma
perspectiva fenomenológica social. [dissertação de mestrado]. São Paulo: Coordenação dos
Institutos de Pesquisa da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo; 2004.
MORENO, C.C.G.S.; REA, M.F.; FILIPE, E.V. Mães HIV positivo e a nãoamamentação. Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, 6 (2): 199-208, abr. / jun., 2006
MUNDY, D.C. et al. Human immunodeficiency virus isolated from amniotic fluid.
Lancet, v.2,n.8556, p.459-460, 1987.
MURPHY, D.A.; MANN, T.; O’KEEFE, Z.; ROTHERAM-BORUS, M.J. Number of
pregnancies, outcome expectancies, and social norms among HIV-infected young
women. Health Psychology, 1998. 17(5), 470-475.
MURPHY, D.A.; MARELICH, W.D.; DELLO STRITTO, M.E.; SWENDEMAN, D.;
WITKIN, A. (2002). Mothers living with HIV/Aids: Mental, physical, and family
functioning. Aids Care, 14(5), 633-644.
NAKANO, A.M.S. As vivências da amamentação para um grupo de mulheres: nos
limites de ser “o corpo para o filho” e ser “o corpo para si”. Cad Saúde Pública. 2003; 19
[Supl 21]: S355-S63.
NASCIMENTO, D.R. A face visível da Aids. História, Ciências, Saúde Vol IV (1): 169184, março-junho, 1997.
NELMS, T.P. (2005). Burden: The phenomenon of the mothering with HIV. Journal of
the Association of Nurses in Aids Care, 16(4), 3-13.
NEME, B. Obstetrícia Básica. 2.ed.São Paulo: Savier.2000,1362p.
NEVES, L.A.S.; GIR, E. Crenças das mães soropositivas ao HIV acerca da transmissão
vertical da doença.2006. trabalho extraído da dissertação(mestrado) Escola da
enfermagem de Ribeirão Preto/ Universidade de São Paulo,Ribeirão Preto , SP, 2006
NOVAK, F.R. Dê ao bebê o melhor alimento.Revista Crescer-guia especial. São
Paulo:Globo, 2000, 23 p.
71
NUÑEZ, J.H.; MARTIN-PINTADO, L.; GÓMEZ, H.N. Reproducción in parejas
sorodiscordantes para el VIH: aproximación a la situación actual. MEDIFAM 2003
Fev; 13 (2): 68-74.
PADOIN, S.M.M.; SOUZA, I.E.L. A ocupação da mulher com HIV/Aids: o cotidiano
diante da (im) possibilidade de amamentar. Santa Maria 241-246. mar. 2007
PAIVA, M.S. Vivenciando a gravidez e experienciando a soropositividade. Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
PAIVA, V.; LIMA, T.N.; SANTOS, N.; VENTURA-FILIPE, E.; SEGURADO, A. Sem
direito de amar? A vontade de ter filhos entre homens e mulheres vivendo com HIV.
Psicologia USP, 2002, 13(2), 105-133.
PALMER, G. The politics of breastfeeding. 4.ed. London: Pandor Press; 1993.
PARKER R.; CAMARGO-JR., K.R. Pobreza e HIV/Aids: aspectos antropológicos e
sociológicos. Cad de Saúde Pública 2000; 16: 89-102.
PASINI, W.A. Qualidade dos sentimentos. Rio de Janeiro(RJ): Rocco, 1995.
PERISSÉ, A.R.S.;GOMES, M.;NOGUEIRA, A.S. Revisões sistemáticas (inclusive
metanálise) e diretrizes clínicas. In:Gomes M,(Org),Medicina baseada em
evidências:princípios e práticas.Rio de Janeiro:Reichmann & Affonso;2001.p.131-48.
PINTO, A.C.S.; PINHEIRO, P.N.C.; VIEIRA, N.F.C.; ALVES, M.D.S. Compreensão da
pandemia da Aids nos últimos 25 anos. DST – J bras Doenças Sex Transm 2007; 19(1):
45-50.
PRAÇA, N.S.; GUALDA, D.M.R. Risco de infecção pelo HIV: como mulheres
moradoras em uma favela se percebem na cadeia de transmissão do vírus. Revista
latino-Americana de Enfermagem, 2003.11(1), 14-20.
PRENTICE, A.; LASKEY, A.; JARJOU, L.M.A. Lactação e desenvolvimento ósseo:
repercussões sobre os requisitos de cálcio de lactentes e das mães que amamentam. Resumo
do 41º Seminário de Nestlé Nutrition, p. 14-16, Vevey, Suíça, 1997.
REGO, J.D. Aleitamento materno. São Paulo: Atheneu, 2001. 518p. Cap. 12: Doenças
maternas e aleitamento natural.
ROLLINS, N.; MEDA, N.; BECQUET, R.; COUTSOUDIS, A.; HUMPHREY, J.;
JEFFREY, B. et al. Preventing postnatal transmission of HIV-1 through breastfeeding: modifying infant feeding practices. J Acquir Immune Defic Syndr. 2004; 35:18895.
72
ROUSSEAU, C.M.; NDUATI, R.W.; RICHARDSON, B.A.; STEELE, M.S.; JOHNSTEWART, G.C.; MBORI-NGACHA, D.A. et al. Longitudinal analysis of human
immunodeficiency virus type 1 RNA in breast milk and of its relationship to infant
infection and maternal disease. J Inf Dis. 2003; 187:741-7.
RUFF, A.J. Breastmilk, breastfeeding and transmission of viruses to the neonate.
Semin Perinatol. 1994; 18:510-6.
RUIZ-EXTREMERA, A.; SALMERON, J.; TORRES, C.; DE RUEDA, P.M.; GIMENEZ,
F.; ROBLES, C. et al. Follow-up of transmission of hepatitis C to babies of human
immunodeficiency virus-negative women: the role of breast-feeding in transmission.
Pediatr Infect Dis J. 2000; 19:511-6.
SAMPAIO, R.F.; MANCINI, M.C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese
criteriosa da evidência científica. Revista Brasileira de Fisioterapia, v.11,n.1,p.83-89, 2007.
SANTOS, E.K.A. A expressividade corporal o ser-mulher/mãe HIV positiva frente à
privação do ato de amamentar: a compreensão do significado pela enfermeira à luz da
teoria da expressão de Merleau-Ponty. [tese de doutorado]. Florianópolis: Programa de pósgraduação em Enfermagem. Universidade Federal de Santa Catarina; 2004.
SANTOS, N.J.S.; BUCHALLA, C.M.; FILLIPE, E.V.;BUGAMELLI, L.; GARCIA, S.;
PAIVA, V. Mulheres HIV positivas, sexualidade e reprodução. Revista de Saúde
Pública, 2002. 36(4), 12-23.
SECRETARIA DE SAUDE. Aleitamento materno. Secretaria Municipal de saúde, RJ.
2003. 16p.
SECRETARIA DE SAÚDE. Coordenação Estadual de DST/Aids. Programa Estadual de
DST/Aids.A gestação e o resultado indeterminado na pesquisa de anticorpos AntiHIV. São Paulo; 2004.
SCHAURICH, D.; PADOIN, S.M.M. Do cuidado da mulher: questões de gênero e sua
incorporação no contexto HIV/Aids. Esc Anna Nery Rev Enferm, 2004 abr; 8(1):101-8.
SEFFNER, F. Aids, estigma e corpo. In LEAL, O.F. Corpo e significado: ensaios de
antropologia social (pp.385-408). Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2001.
SEIXAS, A.M.R. Sexualidade feminina. História, Cultura, Família, Personalidade &
Psicodrama. São Paulo. SENAC. 1998.
SERAFIN, D.; FILGUEIRAS, S.L. Aconselhamento: um desafio para prática integral em
saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 1999, 69p.
73
SEROVICH, J.L.; KIMBERLY, J.A.; MOSACK, K.E.; LEWIS, T.L. The role of family
and friend social support in reducing emotional distress among HIV-positive women.
Aids Care, 2001, 13(3), 335-341.
SERRA-NEGRA, J.M.C.; PORDEUS, I.A.; ROCHA JR, J.F. Estudo da associação entre
aleitamento, hábitos bucais e maloclusões. Rev Odontol Univ São Paulo, São Paulo, v.
11, n. 2, p.79-86, abr./jun. 1997.
SERRUYA, S.J.; CECATTI, J.G.; LAGO, T.G. (2004). O programa de humanização no
pré-natal e nascimento do Ministério da Saúde no Brasil: resultados iniciais. Cadernos
de Saúde Pública, 20(5), 1281-1289.
SHERR, L.; BARRY, N. Fatherhood and HIV-positive heterosexual men. HIV
Medicine, 2004, 5, 258263.
SIEGEL, K.; SCHRIMSHAW, E.W. Reasons and justifications for considering
pregnancy among women living with HIV/Aids. Psychology of Women Quartely, 2001,
25, 112-123.
SILVA, I.A. Amamentar: uma questão de assumir riscos e benefícios. São Paulo: Robe;
1997.
SILVA, I.A. Psicologia, estresse e amamentação. In: SANTOS, Jr. L.A., editor. A mama
no clico gravídico-puerperal.São Paulo:Atheneu;2000.p.67.
SPRECHER, S. et al.Vertical transmission of HIV in 15 week fetus. Lancet, v.2,n.8501,
p.288,1986.
SUCCI, R.C.M.; MARQUES, SR. Aleitamento materno e transmissão de doenças
infecciosas. PRONAP Programa Nacional de Educação Continuada em Pediatria.
Sociedade Brasileira de Pediatria, Rio de Janeiro, 2002/2003, Ciclo VI no. 4. p. 9-25.
SZWARCWALD, C.L.; CASTILHO, E.A. Estimativa do número de pessoas de 15 a 49
anos infectadas pelo HIV, Brasil, 1998. Cadernos de Saúde Pública, 2000,16(Supl.1),
135-141.
TOMEI, P.A. Inveja nas organizações. São Paulo(SP): Makron Books, 1994.
TUNALA, L.; PAIVA, V. Fatores psico-sociais que dificultam a adesão de mulheres
portadoras do HIV aos cuidados de saúde. In: Teixeira PR organizador. Tá difícil de
engolir? Experiências de adesão ao tratamento anti-retroviral em São Paulo. São Paulo
(SP): NepAids; 2000.
74
VAZ, M.J.R.;BARROS, S.M.O. Redução da transmissão vertical do HIV:desafio para a
assistência de enfermagem.Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v.8,n.2,p.4146,abril 2000.
VERMELHO, L.L.; BARBOSA, R.H.S.; NOGUEIRA, S.A. Mulheres com Aids:
desvendando histórias de risco. Cadernos de Saúde Pública, 1999. 15(2), 369-379.
VERONESE, R.; FOCACCIA, R. Tratado de Infectologia. São Paulo: Editora Atheneu,
2002.
VINHAS, D.C.S.; REZENDE, L.P.R.; MARTINS, C.A.; OLIVEIRA, J.P.; HUBNERCAMPOS, R.F. - Amamentação: impacto provocado nas gestantes HIV positivas. Revista
Eletrônica de Enfermagem, v. 06, n. 01, p.16-24, 2004. Disponível em www.fen.ufg.br
VISCOTT, D.S. A linguagem dos sentimentos. São Paulo (SP): Summus, 1982.
ZECCHIN, R.N. A perda do seio: Um trabalho psicanalítico institucional com mulheres
com câncer de mama. São Paulo: EDUC, 2004.179p.
WESLEY, Y.; SMELTZER, S.C.; REDEKER, N.S.; WALKER, S.; PALUMBRO, P.;
WHIPPLE, B. Reproductive decision making in mothers with HIV-1. Health Care for
Women Internacional, 2000, 21, 291-304.