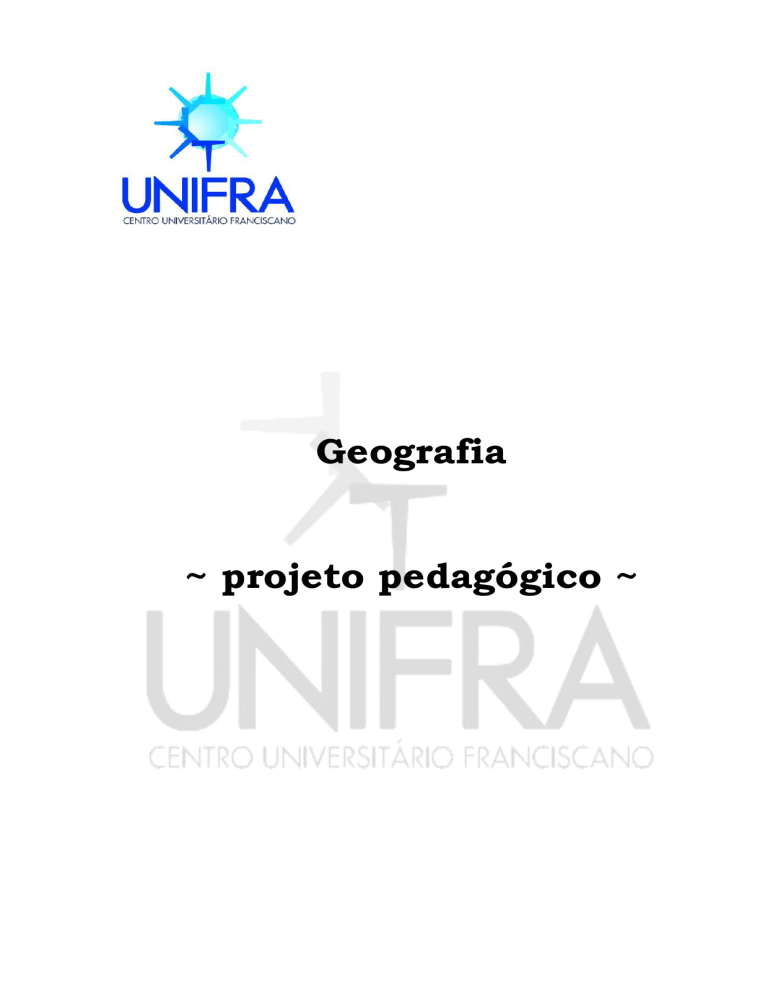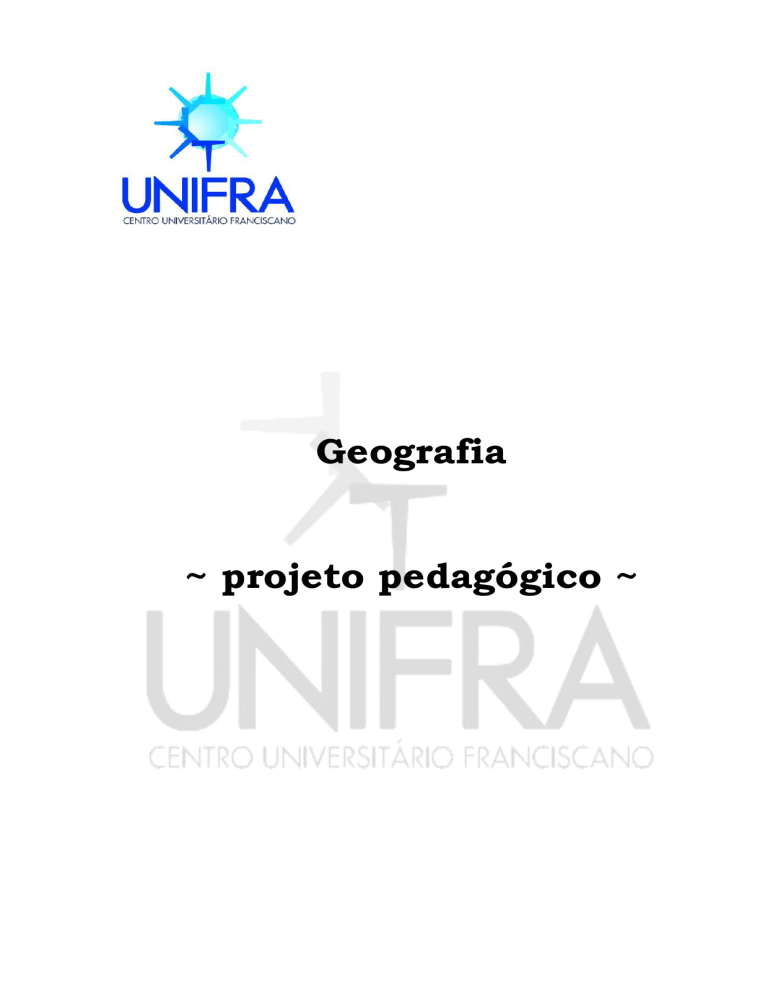
Geografia
~ projeto pedagógico ~
Projeto pedagógico do
curso de Geografia
~ 2010 ~
2
Sumário
1) Dados gerais ....................................................................
4
2) Histórico ............................................................................
4
3) Organização institucional ................................................
6
4) Concepção do curso ........................................................
8
5) Justificativa ......................................................................
9
6) Objetivo geral .................................................................. 10
7) Objetivos específicos ....................................................... 10
8) Competências e habilidades ............................................ 11
9) Perfil do egresso............................................................... 12
10) Áreas de atuação .......................................................... 12
11) Dinâmica curricular ......................................................... 13
12) Esclarecimentos acerca da dinâmica curricular ............ 15
13) Metodologias de ensino.................................................. 20
14) Critérios de avaliação .................................................... 21
15) Gestão acadêmico-administrativa .................................. 22
16) Processo de autoavaliação ........................................... 23
17) Responsabilidade social ............................................... 24
18) Programas de atenção aos estudantes ......................... 25
19) Anexos ........................................................................... 28
Anexo 1 - Ementas e bibliografias .................................
Anexo 2 - Infraestrutura .................................................
Anexo 3 - Normas que disciplinam o trabalho
final de graduação ........................................
Anexo 4 - Normas que disciplinam o
funcionamento dos estágios .........................
Anexo 5 - Normas que disciplinam o registro de
atividades curriculares
complementares ...........................................
Anexo 6 - Regulamento do Colegiado do Curso ...........
Anexo 7 - Normas para realização de viagens
de estudo e trabalho de campo ....................
Anexo 8 - Regimento do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) ........................................
Anexo 9 - Projeto de autoavaliação ..............................
28
62
64
68
71
72
74
77
79
3
1) Dados gerais
Denominação
Nível
Habilitação
Modalidade
Titulação conferida
Área de conhecimento
Duração
Carga horária
Regime escolar
Formas de ingresso
Número de vagas anuais
Turno de funcionamento
Situação legal
Início do funcionamento
Geografia
Graduação
Licenciatura
Licenciatura
Licenciado em geografia
Ciências Humanas
8 semestres
3.366h
Créditos - semestral
Vestibular, transferência, reabertura de matrícula
e reopção de curso
40
Noite
Reconhecido pela portaria 258/06-MEC
1º de abril de 1957
2) Histórico do curso
O curso de Geografia foi autorizado em 28 de agosto de 1956, cuja
oficialização ocoreu em 27 de março de 1957 pelo decreto n. 41.211. O
reconhecimento foi outorgado pelo decreto n. 47.437, de 16 de dezembro de 1959.
Nesse perído, a organização do curso era influenciada pela história
A primeira turma do curso de Geografia foi composta por cinco estudantes. A
duração era de três anos e a organização didática se constituía por séries, com as
seguintes disciplinas:
- primeira série: Geografia Física, Geografia Humana, Antropologia, História da
Antiguidade e da Idade Média, Introdução à Teologia;
- segunda série: Geografia Física, Geografia Humana, História Moderna,
História do Brasil, Etnografia Geral, Teologia Dogmática;
- terceira série: Geografia do Brasil, História Contemporânea, História do Brasil,
História da América, Etnografia do Brasil, Teologia Moral;
O
ensino
da
geografia,
nos
cursos
primário
e
ginasial,
significava
primordialmente nominar rios, serras, Estados e suas capitais; memorizar limites de
estados e países, números populacionais e extensão geográfica.
Após dois anos, houve a primeira alteração curricular. Foi introduzida, na
primeira série, a disciplina de Noções de Geologia e Mineralogia, em substituição à
História da Antiguidade e da Idade Média, e acrescida, também, a disciplina de
Introdução à Filosofia. Na segunda série, foram suprimidas as disciplinas História
4
Moderna e História do Brasil e introduzidas Geografia do Brasil e Noções de
Cosmologia e Cartografia.
O currículo, no ano de 1963, passou por novas alterações, com a inclusão de
Matemática, Estatística e Psicologia da Educação, além da substituição de Teologia
Moral por Cultura Religiosa.
A criação do curso de Estudos Sociais, que permitia a formação de professores
em período de curta duração, abriu ampla área de atuação para os egressos do
curso de Geografia, pois, habilitava-os para o ensino de história, geografia e
organização política e social do brasil. Perante essa realidade, ocorreu a suspensão
da oferta do curso de Geografia entre os anos de 1969 e 1978. No entanto, a partir
da constatação, escuta e análise da situação dos professores de primeiro e segundo
graus, o curso de Geografia voltou a ser ofertado no ano de 1979. Na reabertura, o
curso contou com a presença de trinta estudantes.
Em 1979, o currículo do curso passou por uma modificação substancial em sua
estrutura. Foi organizado por ciclos, com o total de 2.535 horas. O primeiro ciclo, de
um semestre, era composto pelas disciplinas de Comunicação em Língua
Portuguesa, Introdução à Filosofia, Sociologia Geral, Introdução ao Estudo da
Geografia, Geografia Física I, Estudos de Problemas Brasileiros e Educação Física.
O ciclo profissional, com a duração de seis semestres, era constituído por: Geografia
Física II e III, Geografia Humana I, II e III, Geografia Regional, Geografia do Brasil I,
II, III e IV, Geografia dos Continentes, Geografia Econômica Geral e do Brasil,
Geografia do Rio Grande do Sul, Geografia Agrária, Geografia Urbana, Cartografia I
e II, Fundamentos de Petrografia, Hidrologia, Climatologia, Metodologia do Ensino,
Sociologia de Educação, Estrutura e Funcionamento do Ensino de Primeiro e de
Segundo Graus, Biogeografia, Didática Geral e Especial, Mineralogia, Geologia
Geral e Histórica, Geomorfologia, Psicologia da Educação, Estatística, Cultura
Religiosa e Estágio Supervisionado.
Tratava-se de uma proposta que mudou essencialmente o significado do
ensino da geografia. Passou-se à abordagem da realidade mundial, nacional,
regional e à articulação entre realidade urbana e rural. Essa integralização de
conteúdos
ocorreu
com
as
disciplinas
pedagógicas
e
com
os
estágios
supervisionados.
Ao longo desses anos, o corpo docente tem mantido o projeto do curso em
permanente dinâmica de atualização, conforme o pensamento geográfico. A
5
atualização está presente na concepção de ensino, no aprimoramento da visão
educativa e das metodologias de ensino-aprendizagem.
O corpo docente do curso de Geografia se mantém atento às discussões
teóricas do pensamento geográfico, aos temas específicos relacionados ao estudo e
ensino da geografia e às teorias educativas. Além da capacitação em cursos de pósgraduação, os professores participam de eventos em âmbito regional e nacional.
No aspecto metodológico houve a implementação, desde o ano de 1993, do
trabalho de conclusão de curso em forma de monografia e, a partir de 1999, a
iniciação científica desenvolve-se de forma organizada. Os estudantes são
estimulados a integrarem grupos de estudo e atividades de iniciação científica, cujas
pesquisas são desenvolvidas por eles juntamente com os professores, o que
favorece a qualificação do curso. Além disso, há o desenvolvimento de estudos
integrados com outros cursos de graduação da Unifra, o que contribui para a
geografia atuar como ciência contextualizada e, consequentemente, propicia a
solução de questões geopolíticas, ambientais e humanísticas.
3) Organização institucional
O Centro Universitário Franciscano é mantido pela Sociedade Caritativa e
Literária São Francisco de Assis, Zona Norte - Scalifra-ZN - entidade de direito
privado; sem fins lucrativos; beneficente; de caráter educacional, cultural e científico;
reconhecida pelo decreto federal n. 64.893, de 25 de julho de 1969, com certificado
de entidade de fins filantrópicos. Localiza-se à Rua dos Andradas, 1614, na cidade
de Santa Maria, RS. Iniciou suas atividades, como instituição de educação superior,
aos 27 de abril de 1955, denominada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Imaculada Conceição, com cursos de licenciatura. Data também de maio de 1955, a
criação da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira, pertencente à
mesma mantenedora que desenvolveu os cursos superior, técnico e auxiliar de
Enfermagem. Posteriormente, com a unificação das duas instituições, formaram-se
as Faculdades Franciscanas – Fafra e essas deram origem ao atual Centro
Universitário.
O credenciamento para Centro Universitário ocorreu em outubro de 1998 e
significou uma nova fase institucional. Nesse período, a instituição realizou
significativo avanço na proposta institucional. O aumento do número de cursos de
graduação, de pós-graduação e de extensão foi acompanhado da decisão pela
6
qualidade, que perpassa o fazer institucional da gestão e de todas as atividades
acadêmicas.
De acordo com o estatuto, a organização e a estrutura institucional
fundamentam-se nos princípios de autonomia administrativa, didático-científica,
patrimonial, econômico-financeira e de gestão de recursos humanos; na integração
das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão; na capacitação e
qualificação dos quadros de pessoal docente e técnico-administrativo.
Nesse sentido, a organização e a administração do Centro Universitário
Franciscano abrangem:
a) Administração superior, constituída pelo Conselho Universitário e gabinete
do reitor;
b) Administração geral, formada por: Pró-reitoria de Administração, Pró-reitoria
de Graduação e Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão;
c) Coordenações de curso: os cursos inserem-se nas unidades de ensino,
pesquisa e extensão, de acordo com as áreas de atuação, quais sejam: Área de
Ciências da Saúde, Área de Ciências Humanas, Área de Ciências Sociais e Área de
Ciências Tecnológicas. Os cursos estão organizados a partir de projetos
pedagógicos que se baseiam no projeto pedagógico institucional - PPI, no plano de
desenvolvimento institucional - PDI, no estatuto, no projeto de autoavaliação da
instituição e na legislação federal.
As políticas para o ensino de graduação, constantes no PPI e no PDI, se
refletem nos projetos dos cursos mediante os seguintes princípios curriculares:
a) formação de qualidade técnico-científica e social: o curso é o lugar
institucional para assimilação, socialização e produção do conhecimento humano e
técnico-científico. Nesse sentido, os conteúdos devem refletir a realidade
sociocultural nacional, perpassada pela realidade internacional, com vistas a uma
formação profissional de qualidade e consistente consoante com o mundo
contemporâneo;
b) flexibilidade curricular: a materialização da flexibilização curricular é
observada pela inclusão de disciplinas optativas ou eletivas, que têm por finalidade
oferecer ao estudante diferentes alternativas para sua formação. Isso é percebido
por
meio
da
flexibilização
dos
pré-requisitos;
nas
atividades
curriculares
complementares; nas diferentes práticas e programas institucionalizados que levam
em consideração os espaços escolares e não escolares; na articulação das
diferentes áreas que compõem o currículo do curso;
7
c) interdisciplinaridade: é entendida como um princípio que integra e dá
unidade ao conhecimento e que permite o rompimento da fragmentação das
disciplinas que compõem o currículo;
d) relação teoria-prática como eixo articulador do currículo: é estabelecida nas
diferentes práticas de ensino e de laboratório que permeiam as disciplinas de cada
curso, desde o seu início. É concretizada, também, nos estágios curriculares,
entendidos como atividades teórico-práticas e desenvolvidos por meio de projetos de
estágios integrados, com a finalidade de promover a aproximação concreta com o
campo de trabalho;
e) integração entre ensino, pesquisa e extensão: a integração é refletida em
diferentes disciplinas que compõem os currículos e na dinâmica da sala de aula,
mediada por meio de aprendizagens de pesquisa e extensão desenvolvidas durante
o curso. Além disso, é parte integrante do projeto pedagógico a definição das linhas
de pesquisa e dos programas de extensão de cada curso, que orientam o
desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão apoiados pela instituição ou
por fontes financiadoras externas;
f) pesquisa como princípio educativo e de produção do conhecimento: os
projetos pedagógicos incluem, em sua dinâmica curricular, metodologias formativas
pelas quais busca-se desenvolver a cultura investigativa, proporcionar condições de
apropriação crítica do conhecimento e o desenvolvimento de competências e
habilidades científicas;
g) gestão colegiada: envolve representantes de professores e de estudantes.
4) Concepção do curso
Tendo em vista a apropriação, a reelaboração e a produção do saber no meio
acadêmico, busca-se formar profissionais comprometidos com a realidade social, a
partir da reflexão e do senso crítico-criativo. O profissional formado sob essas
condições deve estar consciente de suas limitações e buscar superá-las. Para isso,
a atualização se faz condição necessária, a fim de que o profissional possa assimilar
as novas técnicas educacionais.
Nesse sentido, o projeto pedagógico do curso valoriza mecanismos capazes de
desenvolverem no estudante a cultura investigativa, metodológica e a postura
proativa diante do conhecimento. Dentre tais mecanismos, explicita-se a integração
do ensino com a pesquisa e a extensão, os programas de iniciação científica, os
8
programas de prática profissional e os programas específicos de aprimoramento
discente.
O curso propõe na formação do estudante o desenvolvimento de competências
e habilidades para que seja capaz de, não apenas transmitir informações na sua
atuação profissional, mas também desenvolver o senso crítico, a cidadania e
compreender as alterações sociais.
A excelência do ensino, finalidade institucional, é entendida como o ensejo de
um ensino que compreenda os conhecimentos básicos e complementares de
geografia, para a atividade no ensino fundamental e médio. Implica também em um
processo de formação profissional e científica que articula as dimensões do ensino,
da pesquisa e extensão de forma reflexiva e criativa.
Para atingir suas finalidades e objetivos, o curso de licenciatura em Geografia
apresenta dois eixos obrigatórios e articulados: um de conhecimentos específicos e
outro didático-pedagógico. Assim, além dos conhecimentos específicos, espera-se
que o licenciado tenha uma formação apurada nas questões relativas ao ensino e à
produção de recursos didáticos.
5) Justificativa
Os espaços locais, regionais, nacionais e internacionais apresentam-se com
inúmeros problemas seja em razão das transformações que ocorrem na natureza,
seja em decorrência dessa transformação, como os ambientais, sociais, culturais e
econômicos.
A ciência geográfica, diante dessa realidade, proporciona mecanismos
capazes de desenvolver no cidadão a cultura investigativa, a análise metodológica e
proativa para agir nesses contextos, visto que promove uma formação ampla do ser
humano, possibilitando uma leitura do espaço nas relações entre homem/homem e
homem/natureza. Além disso, incorpora a dimensão do tempo na investigação do
espaço geográfico e, assim, possibilita o estabelecimento de relações significativas
entre o lugar, a região, a nação e o mundo. Incorpora, também, em sua análise
espacial, o conceito de rede e do espaço contemporâneo em rede.
Dessa forma, a geografia, cujo objeto de análise é o espaço geográfico, forma
profissionais sintonizados com seu tempo, atentos às necessidades da sociedade e
preocupados em empreender uma ação crítica, criativa, humanista e ética diante da
realidade em que vivem. O profissional de geografia também deve ser capaz de
9
identificar, analisar e propor soluções às questões da comunidade local e da
complexa sociedade global, conforme os aspectos políticos, econômicos, sociais
ambientais e culturais.
O espaço geográfico é produto das formas de reprodução econômica das
sociedades, da política e da cultura, portanto, é uma dimensão objetiva da realidade.
Dessa forma, a geografia possibilita educar o raciocínio e formar uma atitude
científica e crítica diante da realidade, ou seja, a geografia investiga as paisagens
naturais e as estruturas espaciais que as sociedades produzem, procurando decifrar
suas origens e transformações, configurando-se numa descoberta do mundo e não
numa lista de acidentes geográficos.
O curso superior em geografia propicia, ainda, suprir as necessidades de
compor um elemento de currículo escolar da Educação Básica, além de se
configurar num espaço de formação de profissional de qualidade. Enquanto ciência
social, tem enorme responsabilidade no ensino e se configura como elemento
eminentemente ético por meio do qual se buscam produzir condutas, no sentido de
que as pessoas sintam-se comprometidas com o desenvolvimento equitativo e
sustentável do país.
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Imaculada Conceição”, marco
inicial do Centro Universitário Franciscano, teve sua origem com cursos de
Licenciatura, dentre eles, o curso de Geografia, criado em 1957.
A partir do exposto acima, se justifica a existência do curso de Geografia do
Centro Universitário Franciscano.
6) Objetivo geral
Formar profissionais em geografia capacitados para atuar nos diferentes níveis
do ensino e da pesquisa; sintonizados com seu tempo, atentos às necessidades da
sociedade e preocupados em empreender uma ação crítica, criativa, humanista e
ética no mundo em que vivem.
7) Objetivos específicos
- formar profissionais com visão global, crítica e humanística na atuação
profissional;
aptos
a
tomarem
decisões
em
um
mundo
diversificado
e
10
interdependente, bem como profissionais participantes do desenvolvimento da
sociedade brasileira;
- incentivar a pesquisa e a investigação científica, para desenvolvimento da
ciência e da tecnologia, bem como para a difusão da cultura;
- estimular o conhecimento dos problemas da atualidade, em particular, os
regionais; prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com essa
uma relação de reciprocidade;
- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e cultural;
- possibilitar a identificação das diversas teorias e metodologias que norteiam o
processo ensino-aprendizagem em geografia, de modo a comparar, criticamente, os
modelos existentes;
- estimular o desenvolvimento de atividades integradoras que envolvem o
ensino e a pesquisa em geografia e áreas correlatas;
- incentivar a utilização de recursos de novas tecnologias na aplicação dos
conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação acadêmica;
- incentivar a produção acadêmica na área do ensino de geografia, como
princípio de reconstrução permanente da prática pedagógica.
8) Competências e habilidades
As habilidades que contribuem para a formação do perfil do profissional
desejado envolvem as capacidades de:
- seleção de atividades e programas, a partir do domínio das diferentes
concepções teóricas e metodológicas;
- raciocínio lógico de observação, de interpretação e análise crítica de dados e
informações;
- aplicação dos conhecimentos essenciais à profissão, para a identificação e
solução de problemas sociais;
- compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento;
- identificação e compreensão da dimensão geográfica presente nas diversas
manifestações do conhecimento;
- reconhecimento das diferentes escalas de ocorrência e manifestação dos
fatos, fenômenos e eventos geográficos;
- planejamento e realização de atividades de campo referentes à investigação
geográfica;
11
- domínio de técnicas laboratoriais referentes à produção e aplicação do
conhecimento geográfico;
- proposição, elaboração e execução de projetos de pesquisa no âmbito da
geografia;
- identificação, descrição, compreensão, análise e explicação das diferentes
práticas e concepções referentes ao processo de produção do espaço;
- seleção da linguagem científica adequada para tratar a informação
geográfica;
- compreensão de representações gráficas e matemático-estatísticas;
- elaboração de mapas temáticos e outras representações gráficas;
- domínio dos conteúdos básicos que são objeto de aprendizagem nos níveis
fundamental e médio;
- aquisição e utilização de novas tecnologias da informação;
- habilidade de gerenciamento da própria formação continuada.
9) Perfil esperado do egresso
Espera-se um perfil de profissional crítico e reflexivo, com domínio dos
fundamentos epistemológicos, metodológicos e pedagógicos da ciência geográfica;
capaz de identificar e analisar questões da comunidade local e da complexa
sociedade global, conforme os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais; que esteja preparado para utilizar as novas tecnologias, com visão ética e
humanista, no sentido de auxiliar a sociedade; que esteja habilitado para atuar no
ensino fundamental e médio; capaz de trabalhar em equipe; que compartilhe
conhecimentos; crie procedimentos alternativos aos desafios impostos no mundo do
trabalho e capaz de construir seu autodesenvolvimento.
10) Áreas de atuação
O licenciado em geografia poderá exercer o magistério no ensino fundamental,
médio e superior, bem como realizar assessoria a órgãos ou instituições de pesquisa
e ensino tanto públicas, como privadas.
12
11) Dinâmica curricular
O currículo do curso está organizado em núcleos temáticos, que estão
articulados entre si: núcleo de conteúdos básicos e complementares, núcleo
específico e núcleo de atividades livres.
Pelo núcleo de conhecimentos básicos e complementares busca-se a interação
do conhecimento específico da geografia com outras áreas de conhecimento.
O núcleo específico contempla os conhecimentos referentes ao saber
geográfico por meio das diversas disciplinas integrantes do currículo.
Essa organização curricular em núcleos temáticos busca promover o exercício
profissional e a produção do conhecimento, de forma a fortalecer a articulação da
teoria com a prática e estimula estudos complementares.
A articulação entre os núcleos ocorre por meio de mecanismos integradores.
Dentre esses, destaca-se o ensino, a pesquisa e a extensão; o envolvimento em
programas institucionais e projetos de investigação científica, atividades de prática
de ensino, estágios curriculares supervisionados e estudos independentes.
O curso está vinculado a um grupo de pesquisa intitulado Geografia, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Rural e Urbano, cujos projetos contemplam o ensino, a
pesquisa e a extensão e tem a participação de estudantes voluntários. Os projetos
de pesquisa têm uma função social e atendem às necessidades dos municípios
próximos a Santa Maria.
Por meio de disciplinas optativas e de atividades curriculares complementares
procura-se propor alguma flexibilidade ao currículo, de forma a permitir ao estudante
desenvolver
e
trabalhar
suas
habilidades
e
competências,
interesses
e
potencialidades, nos mais variados níveis e ambientes de aprendizagem.
Este currículo foi construído em consonância com as diretrizes curriculares
nacionais e institucionais, para atender aos interesses profissionais da educação e
sua inserção na complexa sociedade global.
Distribuição das disciplinas por semestre e carga horária
Semestre
Código
1°
GRF267
GRF268
GRF269
GRF270
PME291
EDU311
Disciplina
História do Pensamento Geográfico
Cartografia Geral
Geografia Física
Geografia Humana
Psicologia da Educação
Metodologia Científica
Carga horária
Teórica
Prática
Total
68
0
68
51
17
68
17
17
34
51
17
68
51
17
68
17
17
34
13
2°
3º
4º
5º
6°
7°
8°
GRF271 Cartografia Temática
EDU318 Fundamentos Históricos e
Filosóficos da Educação
GRF272 Geografia do Brasil I
EDU215 Educação Digital
MTM338 Estatística I
FIL310
Antropologia e Cosmovisão
Franciscana
GRF274 Metodologia da Pesquisa em
Geografia
EDU313 Políticas Educacionais e Gestão
Escolar
GRF275 Climatologia Geral
GRF276 Geologia Geral
GRF277 Geografia do Brasil II
EDU317 Introdução à Educação Especial
FIL311
Ética e Cidadania
GRF279 Redação Acadêmica
GRF280 Hidrologia
EDU328 Língua Brasileira de Sinais
GRF281 Climatologia Dinâmica
GRF282 Geomorfologia Geral
GRF283 Geografia Ambiental
EDU316 Didática
GRO
Optativa I
GRF301 Estágio Curricular Supervisionado I
GRF285 Organização do Espaço Mundial I
GRF286 Geomorfologia Estrutural e Climática
GRF287 Projeto Coletivo de Pesquisa e
Extensão I
GRF288 Geografia Regional
GRO
Optativa II
GRF289 Projeto Coletivo de Pesquisa e
Extensão II
GRF302 Estágio Curricular Supervisionado II
GRF291 Produção Didática em Geografia
GRF292 Biogeografia
GRF293 Organização do Espaço Mundial II
GRO
Optativa III
GRF303 Estágio Curricular Supervisionado III
GRF295 Geografia Urbana
GRF296 Geografia Agrária
GRF297 Geografia Política
EDU323 Trabalho Final de Graduação I
GRF298 Geografia Econômica
GRF304 Estágio Curricular Supervisionado IV
GRF300 Geografia do Rio Grande do Sul
EDU324 Trabalho Final de Graduação II
GRO
Optativa IV
Atividades Curriculares
Complementares
51
51
17
0
68
51
51
51
34
34
17
0
0
0
68
51
34
34
34
0
34
34
17
51
51
51
68
34
34
34
34
34
51
51
34
34
34
102
51
51
34
17
17
0
17
0
0
0
0
17
17
17
17
0
0
17
17
17
68
68
68
51
34
34
34
34
68
68
51
51
34
102
68
68
51
51
34
51
17
0
17
68
34
68
119
17
51
34
34
136
51
51
51
68
51
136
51
68
34
391
0
51
17
17
0
0
17
17
17
0
17
0
17
0
0
0
119
68
68
51
34
136
68
68
68
68
68
136
68
68
34
391
14
Resumo da distribuição da carga horária
Carga horária teórica
Carga horária prática
Estágios
Optativas
Atividades curriculares complementares
Carga horária total
Número de créditos
1.853h
493h
493h
136h
391h
3.366h
198
12) Esclarecimentos acerca da dinâmica curricular
a) Atividades curriculares complementares
As atividades curriculares complementares são componentes curriculares
obrigatórios. O estudante deverá cumprir um total de 391 horas ao longo do
desenvolvimento do curso. As possibilidades de composição envolvem a
participação em congressos, seminários, simpósios, encontros, jornadas e outros;
participação em monitorias ou estágios relativos à área profissional; participação em
cursos realizados na área educacional ou áreas afins; participação em programas de
iniciação científica; participação em projetos de pesquisa, extensão e estágios nãoobrigatórios.
Para as atividades desenvolvidas, os estudantes podem registrar as seguintes
cargas horárias:
Estágios na área de conhecimento do curso
Projetos de extensão universitária
Monitoria na área de conhecimento do curso
Cursos realizados em áreas afins
Eventos acadêmicos na área de conhecimento do curso
Programas de iniciação científica
Publicações
Viagens de estudo
até 90 horas
até 90 horas
até 60 horas
até 120 horas
até 45 horas
até 90 horas
até 90 horas
até 150 horas
b) Disciplinas optativas
O currículo prevê a oferta de quatro disciplinas optativas, num total de 136
horas. Assim como as atividades curriculares complementares, por meio das
disciplinas optativas, busca-se garantir algum grau de flexibilidade ao currículo.
O elenco das disciplinas optativas que podem ser ofertas pelo curso é o
seguinte.
Nome da disciplina
Análise de Livros Didáticos
Educação Ambiental
Carga horária
34h
34h
15
Ensino da Geografia e Novas Tecnologias
Formação Territorial do Brasil
Geografia da Saúde
Geografia das Redes e dos Territórios
Geografia do Município
Geografia e Recursos Didáticos
Geografia e Turismo
Geografia Social e Cultural
Inclusão na Sociedade Contemporânea
Lúdico e Geografia
Metodologia no Ensino de Geografia
Mineralogia
Organização e Gestão Territorial
Pedologia
Planejamento Regional e Gestão Territorial
Seminários Temáticos em Geografia
Sensoriamento Remoto
Solos e Ambiente
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
34h
c) Trabalho final de graduação
O trabalho de conclusão de curso, denominado trabalho final de graduação, é
componente curricular obrigatório, com horário previamente estabelecido na
estrutura do curso e compõe-se de:
- Trabalho Final de Graduação I: oferecido no sétimo semestre letivo, trata dos
passos para a elaboração de um projeto de pesquisa, sob a orientação do professor.
- Trabalho de Final de Graduação II: oferecido no oitavo semestre, contempla
o desenvolvimento do projeto de pesquisa aprovado na disciplina TFG I. O trabalho
é submetido a uma banca examinadora, que emitirá um parecer avaliativo após a
apresentação oral do estudante. Essa apresentação segue um cronograma
organizado pela coordenação e pelo colegiado do curso.
Em anexo, estão as normas que disciplinam o trabalho final de graduação.
d) Estágio curricular supervisionado
O estágio curricular supervisionado se destina à iniciação profissional do
estudante, sob a orientação de um professor.
A disciplina Estágio Curricular Supervisionado I compreende 102 horas de
trabalho teórico-prático e envolve o conhecimento da realidade no ensino
fundamental,
observação
de
situações
pedagógicas,
planejamento
e
desenvolvimento da atividade docente.
No estágio, são desenvolvidas as seguintes atividades:
16
1o) observação da realidade escolar para o conhecimento global do campo de
estágio. É o momento que tem por objetivo oferecer ao estagiário a oportunidade de
conhecer as instalações da instituição escolar, bem como o funcionamento de
diferentes setores;
2º) aplicação de instrumentos de pesquisa para conhecimento de aspectos
relacionados ao ensino de geografia a: estudantes, professores e coordenação
pedagógica;
3º) observação de situações pedagógicas: planejamento e regência de aulas
em escolas de ensino fundamental, com caráter experimental e sob orientação
docente. Esta atividade tem como objetivo preparar o futuro professor para a
regência em sala de aula, por meio de situações reais, nas quais ele executa o
planejamento e as atividades teórico-práticas relativas ao ensino da geografia. A
avaliação da atividade será realizada por meio da observação e análise do
planejamento e das aulas ministradas, com base em roteiro construído pelos
professores responsáveis pela disciplina.
O Estágio Curricular Supervisionado II compreende 119 horas de trabalho
teórico-prático e envolve três momentos:
1o) observação da realidade escolar com o conhecimento global do campo de
estágio na modalidade de ensino médio. O objetivo é oferecer ao estagiário a
oportunidade de conhecer as instalações de instituição escolar, bem como o
funcionamento de diferentes setores;
2º) aplicação de instrumentos de pesquisa a estudantes, professores e
coordenação pedagógica, para conhecimento de aspectos relacionados ao ensino
de geografia;
3º) observação de situações pedagógicas: planejamento e regência de aulas
em escolas do ensino médio, com orientação docente e com caráter experimental.
Essa atividade tem como objetivo preparar o futuro professor para a regência em
sala de aula, por meio de situações reais, nas quais ele executa o planejamento e as
atividades teórico-práticas relativas ao ensino da geografia. A avaliação da atividade
será realizada por meio da observação e análise do planejamento e das aulas
ministradas, com base em roteiro construído pelos professores responsáveis pela
disciplina.
O Estágio Curricular Supervisionado III compreende o momento de exercitar a
prática docente sob a orientação de um professor supervisor, em unidades escolares
de ensino fundamental, nas quais o estagiário assume, efetivamente, o papel de
17
professor. Compreende 136 horas de trabalho teórico-prático e envolve as seguintes
atividades: elaboração de planos de estudos coerentes com o projeto político
pedagógico; reuniões de orientação; sessões de estudos em sala de aula;
seminários de avaliação; reuniões de orientação; reuniões de autoavaliação de
desempenho das situações de estágio; regência de aulas; sessões programadas
para orientação do relatório de estágio; elaboração de relatório de estágio e
apresentação em seminário do relatório de estágio.
O Estágio Curricular Supervisionado IV compreende o momento de exercitar a
prática, sob a orientação de um professor supervisor, em unidades escolares de
ensino médio, nas quais o estagiário assume, efetivamente, o papel de professor.
Compreende 136 horas de trabalho teórico-prático e envolve as seguintes
atividades: elaboração de planos de estudos coerentes com o projeto político
pedagógico; reuniões de orientação; sessões de estudos; seminários de avaliação;
reuniões de orientação; reuniões de autoavaliação de desempenho das várias
situações de estágio; regência de aulas; sessões programadas para orientação do
relatório de estágio; elaboração de relatório de estágio e apresentação em seminário
do relatório de estágio.
e) Estágio não obrigatório
Faculta-se aos estudantes, na forma da lei federal, a participação em estágios
não-obrigatórios. Esses estágios são entendidos como atividade opcional,
desenvolvida sob supervisão, com vistas à inserção no mundo trabalho.
f) Trabalhos de campo e viagens de estudo
Os trabalhos de campo, desenvolvidos nas viagens de estudo, têm por objetivo
complementar as aulas teóricas com ensinamentos práticos sobre o espaço
geográfico.
Durante as viagens de estudos, os questionamentos induzem os estudantes ao
raciocínio lógico sobre os fatos e à associação do conteúdo com a prática. Nessa
atividade, a abordagem interdisciplinar constitui ponto fundamental, uma vez que
ocorre uma análise articulada dos elementos da paisagem estudada.
Por meio de trabalhos de campo, novos conteúdos decorrentes da observação
investigativa podem surgir. Busca-se possibilitar também a formulação de conceitos,
além de contemplar a ação construtiva da aprendizagem.
18
O objeto de estudo da geografia configura fragmentos de uma realidade
espaço-temporal, constituída por aspectos naturais e sociais em interação dinâmica,
que devem ser estudados a partir da articulação de múltiplos aspectos geológicogeomorfológicos,
climatobotânicos,
hidrológicos,
ambientais,
bem
como
de
organização espacial e de realidades e perspectivas econômicas.
A preocupação com uma visão mais integrada e articulada de diversas formas
de apreensão da realidade conduz à tentativa de construção de procedimentos
pedagógicos que busquem a superação da fragmentação do ensino e da própria
produção científica. Isso ocorre porque a concepção fragmentadora tem promovido,
sob o campo pedagógico, um entendimento descontextualizado da realidade e do
próprio processo de construção do conhecimento. Desse modo, a geografia impõe a
compreensão de seu objeto de estudo sob dimensão de totalidade, uma vez que a
realidade
representa
produto
de
inter-relações
dos
aspectos
naturais,
socioeconômicos e culturais.
Em anexo, estão as normas que disciplinam os trabalhos de campo e viagens
de estudo.
g) Prática de ensino
Esse componente curricular tem uma carga horária de 493 horas de atividades,
em atendimento à resolução CNE/CP n. 2, de 19 de fevereiro de 2002. Desenvolvese por meio de conteúdos das disciplinas que propiciam as bases da formação
docente do licenciado em geografia.
As atividades de prática de ensino são desenvolvidas da seguinte forma: cada
disciplina reserva uma carga horária prática de atividades para a mediação
conteúdo-expressão escolar. A mediação conteúdo-expressão escolar é planejada,
em conjunto, pelos docentes responsáveis pelo desenvolvimento das disciplinas do
semestre letivo correspondente sob a coordenação da Comissão de Prática de
Ensino e de Estágio Supervisionado do curso.
A prática de ensino é desenvolvida ao longo do curso. Objetiva sistematizar a
relação teoria-prática com vistas à atividade profissional do futuro professor.
Caracteriza-se, de modo geral, como meio e suporte para o conjunto de
competências e habilidades profissionais para atuação na educação básica.
Essas atividades formativas, que contribuem para a construção epistemológica
da prática docente, dão sentido unitário ao processo ensino-aprendizagem e são
planejadas, coletivamente, a cada semestre letivo. O planejamento e o
19
desenvolvimento desse componente curricular ocorrem a partir do exame das
especificidades e possibilidades concretas de mediação conteúdo-expressão escolar
das disciplinas. A apropriação teórico-prática das atividades de ensino traz
implicações diretas para o desenvolvimento dos estágios supervisionados iniciados
a partir do quinto semestre letivo do curso.
Pretende-se que a partir dessas atividades formativas, intrinsicamente
conectadas à práxis pedagógica, o desenvolvimento das seguintes ações:
a) análise da estrutura e funcionamento de escolas ou agências de apoio
educativo e suas decorrências para o processo de ensino-aprendizagem;
b) análise de currículos e programas executados em escolas de educação
básica;
c) análise da dinâmica da prática docente desenvolvida em escolas da
comunidade;
d) elaboração de propostas didáticas;
e) elaboração de estratégias pedagógicas interdisciplinares de intervenção
docente em situações concretas de ensino-aprendizagem;
f) análise de experiências pedagógicas bem sucedidas;
g) elaboração conjunta de um esboço de projeto pedagógico para uma escola
da comunidade.
h) análise de conteúdos presentes em bibliografias de Geografia da Educação
Básica.
13) Metodologias de ensino
O aspecto metodológico do curso retrata o trabalho dos professores para
garantir o processo de assimilação, apropriação e construção do conhecimento, que
legitimam o processo de ensino e de aprendizagem.
A proposta metodológica visa a um aprendizado que parte dos problemas
concretos da realidade por meio de trabalhos configurados por situações
problematizadoras, projetos, debates, seminários, dramatizações, aula expositivodialogada, trabalhos em grupos e individuais, painéis e outros.
É fundamental ressaltar que os procedimentos e estratégias metodológicas,
somente possuem significados, quando possibilitam a mobilização, elaboração e
aplicação dos diferentes conhecimentos. A reflexão passa a ser, então, o eixo
norteador do trabalho metodológico do professor.
20
Por meio dos procedimentos metodológicos, mediatizados pelos aspectos
teóricos e práticos, visa-se à autonomia de todos. Isso exige do professor
cooperação e trabalho dialógico com seus colegas, sem desconsiderar as estruturas
curriculares e as realidades social, cultural, econômica e ambiental. Os estudantes,
por sua vez, podem vir a desenvolver as competências, habilidades e atitudes que
os capacitem para o exercício de sua profissão, bem como atitudes humanizadoras,
pautadas pela ética, responsabilidade e competência.
O trabalho metodológico desenvolvido investe, então, na construção do
conhecimento, nas possíveis correlações com a realidade e na implementação de
ações criativas, científicas e críticas.
14) Critérios de avaliação
A dinâmica curricular do curso requer um processo avaliativo que prime pela
real qualificação do futuro profissional; pela formação que contemple, por um lado,
os aportes metodológicos inovadores, pautados por um viés interdisciplinar e, por
outro, a interconexão do ensino, a pesquisa e a extensão.
A avaliação não só está enraizada no processo de aquisição de
conhecimentos, habilidades, competências e atitudes, mas também no envolvimento
de estudantes e professores, a fim de superarem as dificuldades encontradas no
processo de aquisição, problematização, elaboração e recriação do saber. Assim, a
avaliação da aprendizagem caracteriza-se como um processo correlacional entre os
que
ensinam
e
os
que
aprendem.
Traz
implicações
positivas
para
o
redimensionamento crítico dos papéis do educador e do educando, no processo
formativo, preocupa-se não apenas com a apropriação dos saberes, mas também
com as suas formas de apreensão e de produção. Com isso, quer se superar a
concepção de avaliação como uma variável que tem um fim em si mesma.
No processo avaliativo, são utilizados diferentes instrumentos que contemplam
tanto os aspectos formativos, como somativos, a fim de promover a aprendizagem
do estudante nas várias situações do cotidiano acadêmico e social.
Os critérios de avaliação estão oficializados no Regimento Geral. De acordo
com esse regimento, a avaliação dos estudantes compõe-se de duas avaliações
parciais e uma final, no período letivo, cumpridos os prazos estabelecidos no
calendário acadêmico.
21
Cada avaliação parcial é realizada, de acordo com os critérios estabelecidos
pelo professor responsável pela disciplina e leva em consideração as peculiaridades
inerentes a cada atividade.
É considerado aprovado: a) o estudante que, independentemente do exame
final, obtiver média igual ou superior a sete no semestre letivo; b) o estudante que,
submetido a exame final, obtiver nota igual ou superior a cinco, correspondente à
média entre a nota de aproveitamento do semestre letivo e a nota do exame final.
É considerado reprovado: a) o estudante que não obtiver frequência mínima de
setenta e cinco por cento das aulas e atividades didático-pedagógicas programadas;
b) o estudante que, após o exame final, obtiver nota inferior a cinco, resultante da
média entre a nota de aproveitamento do semestre letivo e a nota do exame final.
Cabe destacar ainda que o processo de avaliação no curso abrange o conjunto
de conhecimentos tratados no semestre e é contínuo, ou seja, ocorre no transcorrer
do semestre com o envolvimento permanente de estudantes e professores. Esta
avaliação como processo contínuo deve ser diagnóstica, formativa e somativa e,
deve estar de acordo com as diretrizes curriculares do curso.
15) Gestão acadêmico-administrativa
O curso é administrado por uma coordenação, escolhida pela Reitora. O
coordenador do curso tem, segundo o artigo 42 do Estatuto, as seguintes
atribuições:
a) gestão administrativa e pedagógica;
b) planejamento, organização e funcionamento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, bem como dos demais processos e atividades;
d) acompanhamento da vida acadêmica dos estudantes;
e) articulação do curso com os demais órgãos e comunidade externa;
f) avaliação sistemática do curso.
A concepção de gestão acadêmico-administrativa adotada pelo curso é de
gestão compartilhada entre o coordenador, o Colegiado do Curso e o Núcleo
Docente Estruturante (NDE).
O Colegiado do Curso tem o coordenador por seu presidente e conta com a
participação de representantes do corpo docente e representante do corpo discente,
eleitos por seus pares. As atribuições no seu âmbito são de cunho deliberativo e
consultivo. O Núcleo Docente Estruturante é composto pelo coordenador, também
22
como presidente, mais representantes docentes, sendo suas atribuições de cunho
pedagógico. Participam, ainda, da gestão do curso o a coordenação de estágios e a
coordenação de pesquisa e extensão.
A coordenação promove a gestão do curso, especialmente, nas seguintes
atividades:
a) elaboração conjunta, no período que antecede o início do ano letivo, do
planejamento anual do projeto de gestão acadêmico-administrativa com ênfase na
organização das atividades de apoio técnico-administrativo e na organização do
trabalho pedagógico-científico previstos no planejamento do curso;
b) reuniões coletivas em que predominam o diálogo e o consenso, com vistas
à racionalização do trabalho de gestão;
c) elaboração e desenvolvimento de planos de trabalho diretamente ligados à
gestão acadêmico-administrativa do curso;
d) reuniões de trabalho para análise e busca de soluções de dificuldades
detectadas pela Comissão Própria de Avaliação e pelo processo de autoavaliação
do curso a ser implementado.
16) Processo de autoavaliação
A autoavaliação é parte integrante do projeto pedagógico do curso e
caracteriza-se como um processo permanente, formativo e educativo. Pauta-se pelo
disposto do projeto institucional de autoavaliação e está voltado para o estudo de um
conjunto de ações processuais pelas quais objetiva-se sistematizar e trabalhar os
dados obtidos, no intuito de melhorar os aspectos negativos e aperfeiçoar ou manter
os que já estão bem estruturados.
As ações previstas estão centradas nos seguintes aspectos:
a) estrutura organizacional e gestão administrativa;
b) relações entre estudantes, professores e equipe técnico-administrativa;
d) currículo e suas relações com as exigências sociais e profissionais, bem
como o desenvolvimento real de seus componentes (conteúdos programáticos, perfil
esperado do futuro profissional, competências e habilidades, métodos de ensino e
de avaliação da aprendizagem, atividades de pesquisa e extensão, atividades
profissionais, atividades culturais, estágio curricular supervisionado e trabalho final
de graduação;
23
e) envolvimento da comunidade acadêmica na elaboração e execução de
planos de ação e de trabalho;
f) avaliação das diferentes dimensões do próprio processo de autoavaliação
empregado.
Entre os instrumentos de avaliação mais comuns utilizados pelo curso em seu
processo
de
autoavaliação
podem
ser
citados:
questionários,
entrevistas,
depoimentos e discussões com professores, estudantes e equipe técnicoadministrativa.
O projeto de autoavaliação do curso encontra-se em anexo.
17) Responsabilidade social
Entende-se que a educação se constitui num processo complexo e relacional
de formação e de desenvolvimento pessoal que se inscreve, por um lado, no campo
das habilidades profissionais e, por outro, no campo dos valores éticos. Constitui-se,
ainda, num bem social de caráter coletivo, que envolve as instâncias institucional,
familiar e individual.
A responsabilidade social no ensino se configura como um elemento
eminentemente ético, por meio do qual se busca produzir condutas no sentido de
que as pessoas sintam-se comprometidas com o desenvolvimento equitativo e
sustentável do país; que pautem suas ações por referências éticas e que sejam
criativas na articulação entre a sua profissão e a promoção do desenvolvimento
coletivo. A responsabilidade social no ensino se expressa, então, na intenção de
assegurar uma formação que promova o êxito profissional, mas que se fundamente
em princípios éticos, humanísticos e de sensibilidade social.
Nesse sentido, no Centro Universitário Franciscano, o processo de ensinoaprendizagem empenha-se para o desenvolvimento e incorporação de uma série de
princípios, expressos no projeto pedagógico institucional:
a) educar para a cidadania ao oferecer um lugar permanente para o
aprendizado, pelo exercício da ética e do rigor acadêmico;
b) promover a formação de cidadãos capacitados ao exercício de sua profissão
e que possam contribuir para o desenvolvimento humano e para a construção da
paz;
c) desenvolver uma educação de qualidade, para a formação de profissionais
críticos;
24
d) produzir e divulgar o conhecimento em suas diferentes formas e aplicações,
pela preservação da vida;
e) desempenhar a função prospectiva de percepção e de análise das
tendências da sociedade, com vistas a desempenhar um papel preventivo de
colaboração e de proximidade entre o que a instituição realiza e o que a sociedade
dela espera.
A responsabilidade social no ensino se expressa nos projetos pedagógicos dos
cursos e ganha visibilidade por meio de uma série de ações, que são relacionadas a
seguir:
a) o currículo do curso de Geografia é permeado por uma formação
humanística e integral, comprometida com a cidadania e a ética;
b) o curso de Geografia faz parte do Programa Integrado de Formação Inicial e
Continuada de Professores para Educação Básica, o qual promove ações
pedagógicas compartilhadas entre os sistemas de ensino, estudantes e docentes da
instituição;
c) o espaço institucional é disponibilizado para a promoção de eventos
acadêmicos acerca de amplos temas educacionais relacionados à Geografia;
d) docentes do curso disponibilizam material didático e produções acadêmicas
para professores e escolas da rede local, regional e para a comunidade científica;
e) projetos de pesquisa e de extensão coletivos desenvolvidos pelo curso, bem
como os trabalhos finais de graduação que trabalham as temáticas da realidade
social, econômica e ambiental em diferentes recortes espaciais, contribuem para
diagnósticos e prognósticos e são disponibilizados aos órgãos interessados;
f) participação de estudantes e professores de forma voluntária em diferentes
projetos, eventos sociais e atividades escolares.
A responsabilidade social reside em oportunizar espaços de formação
profissional de qualidade, com perspectiva futura de reduzir as diferenças sociais e
carências educacionais. A instituição oferece condições estruturais e pedagógicas
capazes de atender a demanda regional.
18) Programas de atenção aos estudantes
Os estudantes têm acesso a programas de atenção que se destinam a
contribuir para a formação pessoal e pedagógico-científica. Esses programas são os
seguintes:
25
a) Programa de Bolsa de Monitoria: possibilita ao estudante de graduação
auxiliar os docentes nas atividades de caráter técnico-didática, no âmbito de
determinadas disciplinas, basicamente, nas aulas práticas, a partir de vagas e
critérios determinados pela Pró-reitoria de Graduação;
b) Programa de Tutoria: objetiva oferecer aos discentes, com necessidades de
melhoria de rendimento escolar, a oportunidade de realizar, em pequenos grupos,
estudos complementares, com o auxílio de um estudante-tutor e sob a supervisão de
um professor;
c) Programa de Bolsa de Iniciação Científica: é um instrumento de integração
das atividades de graduação e pós-graduação que objetiva iniciar o estudante na
produção do conhecimento e permitir sua convivência com o procedimento
acadêmico em suas técnicas, organizações e métodos;
d) Programa de Bolsa de Extensão: tem como objetivo estimular a participação
dos estudantes nos programas de extensão da instituição e desenvolver a sua
sensibilidade para os problemas sociais e para diversas formas de manifestações
culturais da população. As bolsas são concedidas mediante plano de trabalho
vinculado a um projeto de extensão.
e) Programa de Assistência Financeira: é voltado para o estudante carente e
oferece bolsas institucionais e financiamentos externos: Programa Universidade
para Todos - Prouni, auxílios da Associação dos Profissionais Liberais Universitários
do Brasil - Fundaplub e auxílios parciais e integrais.
f) A Coordenadoria de Atenção ao Estudante - Cores - presta assistência aos
estudantes com vistas a sua integração acadêmica, científica e social. Isso se
efetiva por meio de ações de acolhimento, apoio psicopedagógico na organização,
na gestão das aprendizagens, nos métodos de estudo e na promoção da adaptação
e do sucesso estudante.
A Coordenadoria de Atenção ao Estudante é constituída por duas divisões: a
primeira, Divisão de Assistência Financeira orienta os estudantes sobre os
programas relacionados à assistência financeira. A segunda, Divisão de Assistência
Educativa é responsável por atendimento psicológico, quanto às questões que
interferem no desempenho do estudante, orientação profissional; acompanhamento
de egressos e estágios, recepciona os calouros, possibilita orientação jurídica e
assessora formaturas.
g) Meios de divulgação de trabalhos e produções: o Centro Universitário
Franciscano mantém duas revistas próprias para a divulgação de trabalhos
26
acadêmicos: a revista Vidya e a Disciplinarum Scientia. A revista Disciplinarum
Scientia é destinada à publicação dos trabalhos dos estudantes, enquanto a revista
Vidya publica trabalhos de professores e pesquisadores.
Além dessas revistas, o Centro Universitário realiza, a cada ano, o Simpósio de
Ensino, Pesquisa e Extensão - Sepe - evento em que os trabalhos de ensino,
pesquisa e extensão são apresentados e publicados em anais.
h) Pastoral Universitária: oportuniza aos estudantes espaços para convivência
em grupos, com vistas ao crescimento pessoal e ao compromisso evangelizador.
Pois tem como base a formação humana cristã. A Pastoral promove encontros para
a prática de reflexão sobre compromisso solidário, bem como estimula a convivência
amigável no âmbito educacional e na sociedade em geral.
27
19) Anexos
Anexo 1 - Ementas e bibliografia
1° semestre
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRF267
História do Pensamento Geográfico
Evolução do pensamento geográfico. Escolas geográficas. Tendências
atuais em geografia. Análise de obras e suas tendências.
BECKER, E. L. S. História do pensamento geográfico. Santa Maria:
Pallotti, 2006.
MORAES. A. C. R. Pequena história crítica. São Paulo: Hucitec, 1984.
____; COSTA, W. M. Geografia crítica: a valorização do espaço. São
Paulo: Hucitec, 1999.
MOREIRA, R. Para onde vai o pensamento geográfico? São Paulo:
Contexto, 2006.
ANDRADE, M. C. Uma geografia para o século 21. Campinas: Papirus,
1994.
CASTRO, J. E; GOMES, P. C. C; CORREA, R. L (org.). Geografia:
conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.
KROPOTKIN, P. O Estado e seu papel histórico. São Paulo: Imaginário,
2000.
MORAES, A C. R. A gênese da geografia moderna. São Paulo: Hucitec,
2002.
MOREIRA, R. O que é geografia. São Paulo: Brasiliense, 1994.
RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.
RIBEIRO JÚNIOR, J. O que é positivismo. São Paulo: Brasiliense, 1986.
GRF268
Cartografia Geral
Introdução ao estudo da cartografia. Evolução dos mapas-visões do
mundo. Cartografia no Brasil. Rede geográfica. Elementos cartográficos.
Cartografia escolar.
CASTROGIOVANNI, A. C; COSTELLA, R. Z. Brincar e cartografar com
os diferentes mundos geográficos: a alfabetização espacial. Porto
Alegre: Edipucrs, 2006.
DUARTE, Paulo Araújo. Fundamentos de cartografia. Florianópolis: Ufsc,
1994.
OLIVEIRA, Cêurio de. Curso de cartografia moderno. Rio de Janeiro:
IBGE, 1988.
RAISZ, Erwin. Cartografia geral. Rio de Janeiro: Científica, 1969.
SCHÄFFER, Neiva Otero et al. Um globo em suas mãos: práticas para a
sala de aula. Porto Alegre: Ufrgs, 2003.
ALMEIDA, R; PASSINI, E. Y. O espaço geográfico: ensino e
representação. São Paulo: Contexto, 1992.
CONCEIÇÃO, C. L; SOUZA, J. L. S. Noções básicas de coordenadas
geográficas e cartografia. Porto Alegre: Metrópole Indústria Gráfica,
2000.
DUARTE, P. A. Escala: fundamentos. Florianópolis: Ufsc, 1989.
FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. Canoas: Centro Universitário La
Salle, 2005.
JOLY, Fernand. A cartografia. São Paulo: Papirus, 1990.
OLIVEIRA, C. Dicionário cartográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1987.
SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2002.
28
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRF269
Geografia Física
Introdução à geografia física. Noções gerais sobre o universo. Terra no
espaço.
CANIATO, R. O que é astronomia. São Paulo: Brasiliensis, 1981.
FARIA, R. P. Fundamentos de astronomia. Campinas: Papirus, 1987.
MARTINS, R. A. O universo: teoria sobre sua origem e evolução. São
Paulo: Moderna, 1994.
MENDONÇA, F. Geografia física: ciência humana? São Paulo: Contexto,
2001.
ANDRADE, M. C. Caminhos e descaminhos da geografia. Campinas:
Papirus, 1993.
BRETONES, P. S. Os segredos do sistema solar. São Paulo: Atual,
1993.
CARLOS, A. F A (org.). Novos caminhos da geografia. São Paulo:
Contexto, 2001.
CONTI, J. B. A geografia física e as relações sociedade: natureza no
mundo tropical. São Paulo: Humanitas, 2002.
COSTA, N. C. Geografia física. Porto Alegre: Pucrs, 1978.
COURDEC, P. O universo. São Paulo: Difel, 1959.
EVANS, I. O. O planeta terra. São Paulo: Melhoramentos, 1970.
GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B (org.). Geomorfologia: uma atualização
de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand, 1998.
____. Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1996.
GREGORY, K. J. A natureza da geografia física. Rio de Janeiro:
Bertrand, 1992.
MARCONDES, C. Astronomia prática: atlas do céu. Rio de Janeiro: Rio
Gráfica, 1985.
MELLO, R. M. R. B. Elementos de astronomia. Santa Maria: Imprensa
Universitária.
MOURÃO, R. R. F. Da terra às galáxias: uma introdução à astrofísica.
São Paulo: Vozes, 1984.
ROSS, J. L. S (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1995.
SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia física e geomorfologia: uma
(re)leitura. Ijuí: Unijuí, 2002.
VITTE, A. C; GUERRA, A. J. T (org.). Reflexões sobre a geografia física
no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand, 2004.
GRF270
Geografia Humana
Fundamentação da geografia humana. Geografia da população.
População mundial. Dinâmica demográfica mundial. Políticas de
população. Estrutura da população mundial. População, meio ambiente e
desenvolvimento econômico.
ANDRADE, M. C. Geografia econômica. São Paulo: Atlas, 1998.
BEAUJEU-GARNIER, J. Geografia de população. São Paulo: Nacional,
1980.
JACQUARD, A. A explosão demográfica. São Paulo: Ática, 1998.
MARTINI, G. População, meio ambiente e desenvolvimento: verdades e
contradições. Campinas: Unicamp, 1996.
www.prb.org (Population Reference Bureau)
www.abep.org.br (Associação Brasileira de Estudos de População)
BRETON, R. J. L. Geografia das civilizações. São Paulo: Ática, 1990.
DAMIANI, A. População e geografia. São Paulo: Contexto, 1998.
29
LAGO, B. M. Dinâmica social: como as sociedades se transformam.
Petrópolis: Vozes, 1995.
OLIVEN, Ruben George. A antropologia de grupos urbanos. Petrópolis:
Vozes, 2002.
Revista brasileira de estudos de população. São Paulo: Abep, {19--]
SOUZA, M. A et al. O novo mapa do mundo: natureza e sociedade de
hoje: uma leitura geográfica. São Paulo: Hucitec, 1994.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
PME291
Psicologia da Educação
Introdução à psicologia. Aprendizagem e construção do conhecimento.
Variáveis que interferem no processo de aprendizagem.
COLL, C. Psicologia da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
PIAGET, J. Para onde vai a educação. Rio de Janeiro: José Olímpio,
1974.
____. Seis estudos de psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
VIGOTSKY, L. S et al. Formação social da mente. São Paulo: Martins
Fontes, 1998.
BECKER, F. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre:
Artmed, 2001.
BRAGHIROLLI, E. M et al. Psicologia geral. Porto Alegre: Vozes, 1998.
BOCK, A. M et al. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia.
São Paulo: Saraiva, 1999.
BOCK, A. M; MARCHINA, M; FURTADO, A. Psicologia sócio-histórica:
uma perspectiva crítica em psicologia. São Paulo: Cortez, 2001.
CARVALHO, A; SALLES, F; GUIMARÃES; M. Desenvolvimento e
aprendizagem. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
COUTINHO, M. M; CUNHA, M. T. Psicologia da educação: um estudo
dos processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem
humanos, voltados para a educação: ênfase nas abordagens
interacionistas do psiquismo humano. Belo Horizonte: Lê, 2001.
DALL’AGNOL, R. S. Psicologia: estudos e reflexões. Novo Hamburgo:
Feevale, 2002.
DAVIS, C; OLIVEIRA, Z. Psicologia na educação. São Paulo: Cortez,
1993.
FADIMANN, J; FRAGER, R. Teorias da personalidade. São Paulo:
Harbra, 1996.
FERREIRA, B. W; RIES, B. E (org.). Psicologia e educação:
desenvolvimento humano-infância. Porto Alegre: Edipucrs, 2001.
KUPFER, M. C. Freud e a educação: o mestre do impossível. São Paulo:
Ática, 1990.
MILHOLLAN, F; FORISHA, B. Skinner x Rogers. São Paulo: Summus,
1990.
MOREIRA, M. A. Ensino e aprendizagem: enfoques teóricos. São Paulo:
Moraes, 1983.
OLIVEIRA, M. K. Vigotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo
sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1999.
ROSA, M. Introdução à psicologia. Petrópolis: Vozes, 1995.
EDU311
Metodologia Científica
Ciência e conhecimento. Método científico. Trabalhos acadêmicos.
Exercício de elaboração de diferentes trabalhos acadêmicos.
ALVES-MAZZOTTI, Alda J; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método
das ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São
Paulo: Pioneira Learning Thomson, 2002.
ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho
30
Bibliografia
complementar
2° semestre
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
científico: elaboração de trabalhos de graduação. São Paulo: Atlas,
2003.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo:
Atlas, 2002.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1991.
LIMA, Manolita C. Monografia: a engenharia da produção acadêmica.
São Paulo: Saraiva, 2004.
OLIVEIRA, Jorge Leite de. Texto acadêmico: técnicas de redação e de
pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 2005.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São
Paulo: Cortez, 2002.
ABNT. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração.
Rio de Janeiro: Abnt, 2002.
____. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos:
apresentação. Rio de Janeiro: Abnt, 2005.
____. NBR 10520: informação e documentação. Citações em
documentos. Apresentação. Rio de Janeiro: Abnt, 2005.
BASTOS, Cleverson. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia
científica. Petrópolis: Vozes, 2002.
CERVO, Amado L; BERVIAN, Pedro A. Metodologia científica: para uso
dos estudantes universitários. São Paulo: MacGraw Hill, 1996.
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas,
1987.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo:
Atlas, 1996.
ISKANDAR, Jamil I. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos
científicos. Curitiba: Juruá, 2007.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método
e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994.
GRF271
Cartografia Temática
Cartas e mapas. Elementos de representação. Noções de
fotointerpretação e sensoriamento remoto.
FITZ, P. R. Cartografia básica. Canoas: Centro Universitário La Salle,
2005.
LOCH, C; LAPOLLI, E. M. Elementos básicos da fotogrametria e sua
utilização prática. Florianópolis: Ufsc, 1998.
MARTINELLI, M. Curso de cartografia temática. São Paulo: Contexto,
1991.
NOVO, E. M. L. M. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. São
Paulo: Edgard Blücher, 1992.
RAISZ, E. Cartografia geral. Rio de Janeiro: Científica, 1969.
CONCEIÇÃO, C. L; SOUZA, J. L. S. Noções básicas de coordenadas
geográficas e cartografia. Porto Alegre: Metrópole Indústria Gráfica,
2000.
DUARTE, P. A. Cartografia temática. Florianópolis: Ufsc, 1991.
FLORENZANO, T. G. Imagens de satélite para estudos ambientais. São
Paulo: Oficina de textos, 2002.
LACOSTE, Y. Cartografia temática. São Paulo: AGB, 1988.
LOCH, C. Noções básicas para interpretação de imagens aéreas, bem
como algumas aplicações nos campos profissionais. Florianópolis: Ufsc,
2001.
MOREIRA, M. A. Fundamentos do sensoriamento remoto e
metodologias de aplicação. Viçosa: UFV, 2003.
31
OLIVEIRA, C. Curso de cartografia moderno. Rio de Janeiro: Ibge, 1988.
____. Dicionário cartográfico. Rio de Janeiro: Ibge, 1987.
SILVA, J. X. Geoprocessamento para análise ambiental. Rio Janeiro: O
autor, 2001.
SIMIELLI, M. E. R. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2002.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
EDU318
Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação
Introdução aos fundamentos histórico-filosóficos da educação.
Conhecimento histórico-filosófico da educação. Reflexões sobre o
contexto educacional brasileiro.
ARANHA, M. L. A. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, FREIRE,
P. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.
LUCKESI, C. C. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1992.
SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São
Paulo: Cortez, 1986.
ARANHA, M. L. A. História da educação. São Paulo: Moderna, 1989.
BRANDÃO, C. R. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1981.
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1996.
FREIRE, P. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros
escritos. São Paulo: UNESP, 2000.
____. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
GADOTTI, M. Pensamento pedagógico brasileiro. São Paulo: Ática,
1988.
GIROUX, H. Pedagogia radical: subsídios. São Paulo: Cortez, 1983.
KONDER, L. O que é dialética. São Paulo: Abril cultural,1985.
LIPMAN, M; OSCANYAN, F; SHARP, A. M. A filosofia na sala de aula.
São Paulo: Nova Alexandria, 2001.
NUNES, B. A filosofia contemporânea: trajetos iniciais. São Paulo: Ática,
1991.
SANTOS, C. R. Educação escolar brasileira: estrutura, administração e
legislação. São Paulo: Pioneira, 1999.
SUCHODOLSKI, B. A pedagogia e as grandes correntes filosóficas:
pedagogia da essência e pedagogia da existência. Lisboa: Livros
Horizonte, 1984.
ZILLES, U. Grandes tendências na filosofia do século 20 e suas
Influências no Brasil. Caxias do Sul: Educs, 1987.
GRF272
Geografia do Brasil I
Localização e caracterização do território brasileiro. Domínios
morfoclimáticos. População brasileira.
AB’SÁBER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades
paisagísticas. São Paulo: Ateliê, 2003.
HERVÉT, T; MELLO, M. A. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do
território. São Paulo: USP, 2005.
NEIMAN, Z. Era verde: ecossistemas ameaçados. São Paulo: Atual,
1989.
ROSS, J. L. S (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998.
SANTOS, M; SILVEIRA, M. L. Brasil: território e sociedade no início do
século 21. Rio de Janeiro: Record, 2001.
FAISSOL, S. O espaço, território, sociedade e desenvolvimento
brasileiro. Rio de Janeiro: Ibge, 1994
GUERRA, A. T. Novo dicionário geológico-geomorfológico. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
SINGER, P. Globalização e desemprego: diagnósticos e alternativas.
32
São Paulo: Contexto, 1999.
SOUSA, I. Migrações internas no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1980.
SOUZA, M. J. L. Urbanização e desenvolvimento no Brasil atual. São
Paulo: Ática, 1996.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
EDU215
Educação Digital
Informática na educação. Educação e o virtual. Utilização de softwares e
ambientes de aprendizagem.
CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os
negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
____. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: 34, 1999.
MORAN, José. Mudanças na comunicação pessoal. São Paulo:
Paulinas, 2000.
RAMAL, Andréa. Educação na cibercultura. Porto Alegre: Artmed, 2002.
BORBA, M. C; PENTEADO, M. G. Informática e educação matemática.
Belo Horizonte: Autentica, 2003.
CAMPOS, Fernanda C. A. Cooperação e aprendizagem on-line. Rio de
Janeiro: DP&A, 2003.
CANO, Cristina Alonso. Os recursos da informática e os contextos de
ensino e aprendizagem. In: SANCHO, Juana M (org.). Para uma
tecnologia educacional. Porto Alegre: Artmed, 1998.
HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA. A organização do currículo por
projetos de trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1998.
____. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na
era da informática. Rio de Janeiro: 34, 1993.
MORAN, José. A educação que desejamos: novos desafios e como
chegar lá. São Paulo: Papirus, 2007.
PAPERT, S. A máquina das crianças: repensando a escola na era da
informática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
MTM338
Estatística I
Noções básicas de estatística. Distribuição de frequência. Medidas
descritivas. Amostragem. Estimação.
FONSECA, J. S; MARTINS, G. A. Curso de estatística. São Paulo: Atlas,
1996.
OLIVEIRA, Therezinha de F. R. Estatística na escola. Rio de Janeiro: Ao
Livro Técnico, 1974.
TOLEDO, Geraldo L; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. São Paulo:
Atlas, 1995.
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva, 1997.
LEVINE, M. D; BERENSON, M. L; STEPHAN, D. Estatística: teoria e
aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica. São Paulo: Makron
Books, 1978.
NETO, P. Costa. Estatística. São Paulo: Edgard Blucher, 1977.
SILVA, N. N. Amostragem probabilística. São Paulo: USP, 1998.
TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
33
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
3° semestre
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
FIL310
Antropologia e Cosmovisão Franciscana
Antropologia filosófica e seu objeto de estudo. Pessoa humana.
Alteridade:
reverência
e
cuidado.
Cosmovisão
franciscana:
transcendência e humanização.
BOFF, L. Saber cuidar. Petrópolis: Vozes, 1999.
BUZZI, A. Introdução ao pensar. Petrópolis: Vozes, 1999.
____. Filosofia da vida: visão franciscana. Braga: Franciscana, 2000.
ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1997.
BOFF, L. Despertar da águia. Petrópolis: Vozes, 1999.
____. A águia e galinha. Petrópolis: Vozes, 2000.
CAYOTA, M. Semeando entre brumas: utopia franciscana e humanismo
renascentista: uma alternativa para a conquista. Petrópolis: Cepepal,
1992.
MERINO, J. A. FRESNEDA, F. M. Manual de filosofia franciscana.
Petrópolis: Vozes, 2006.
MERINO, J. A. Humanismo franciscano: franciscanismo e mundo atual.
Petrópolis: FFB, 1999.
VAZ, H. C. L. Antropologia filosófica I. São Paulo: Loyola, 1991.
GRF274
Metodologia da Pesquisa em Geografia
Projeto de pesquisa. Produção de texto científico. Metodologia da
pesquisa em geografia. Tópicos sobre a pesquisa acadêmica.
AZEVEDO, Israel Belode. O prazer da produção científica: diretrizes
para a elaboração de trabalhos acadêmicos. São Paulo: Unimep, 2000.
BARROS, A. J. S; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia
científica: um guia para iniciação científica. São Paulo: Makron Books,
2000.
GIL, A. C. Método e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1995.
____. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1995.
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia
científica. São Paulo: Atlas, 1991.
ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos
de pós-graduação: noções práticas. São Paulo: Atlas, 2002.
CERVO, Amado L; BERVIAN, Pedro A. Metodologia científica. São
Paulo: Prentice Hall, 2002.
DEMO, Pedro. Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2000.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica.
Petrópolis: Vozes, 1980.
EDU313
Políticas Educacionais e Gestão Escolar
Políticas e organização da educação básica brasileira. Legislação da
educação básica brasileira. Organização escolar e gestão da educação
básica.
BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional: lei 9394,
20.12.1996 (Lei Darci Ribeiro). Plano nacional de educação: lei n.10.172,
de 10 de janeiro de 2001, legislação correlata e complementar. Bauru:
Edipro, 2006.
GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2000.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática.
34
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Goiânia: Alternativa, 2001.
LÜCK, Heloísa. Gestão educacional: uma questão paradigmática.
Petrópolis: Vozes, 2006.
MELLO, Guiomar Namo de. Educação escolar brasileira: o que
trouxemos do século 20? Porto Alegre: Artmed, 2004.
FERREIRA, Naura S. Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da S (orgs.).
Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. São
Paulo: Cortez, 2001.
FORTUNATI, José. Gestão da educação pública: caminhos e desafios.
Porto Alegre: Artmed, 2006.
RIO GRANDE DO SUL. Constituição do Rio Grande do Sul/98. Porto
Alegre: Corag, 1989.
____. Lei orgânica do município de Santa Maria/90. Santa Maria: Palloti,
1997.
SEVERINO, Antonio Joaquim; FAZENDA, Ivani Catarina Arantes.
Políticas educacionais: o ensino nacional em questão. Campinas:
Papirus, 2003.
VIEIRA, Sofia Lerche. Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de
Janeiro: DP&A, 2002.
GRF275
Climatologia Geral
Relações astronômicas entre o Sol e a Terra. Atmosfera terrestre.
Radiação solar e terrestre. Temperatura do solo e do ar. Umidade do ar.
Pressão atmosférica e vento. Condensação na atmosfera. Evaporação e
evapotranspiração. Observações visuais.
AYOADE, J. Introdução à climatologia para os trópicos. São Paulo: Difel,
1986.
OMETTO, J. C. Bioclimatologia vegetal. São Paulo: Ceres, 1993.
TUBELIS, A; NASCIMENTO, F. J. L. Meteorologia descritiva:
fundamentos e aplicações brasileiras. São Paulo: Nobel, 1987.
VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e climatologia. Brasília: MA/Inmet,
2000.
VIANELLO, R. L; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicações.
Viçosa: Universidade de Viçosa, 1991.
CASTILLO, F. E; SENTIS, F. C. Agrometeorología. Madrid: MundiPrensa, 1996.
PEREIRA, A. R; ANGELOCCI, L. R; SENTELHAS, P. C.
Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas. Guaíba:
Agropecuária, 2001.
GRF276
Geologia Geral
Terra. Geodinâmica interna. Geodinâmica externa. Princípios de
estratigrafia e geologia histórica. Técnicas de análises cartas geológicas.
Geologia do Brasil. Geologia do Rio Grande do Sul.
HOLZ, Michael. Do mar ao deserto: a evolução do Rio Grande do Sul no
tempo geológico. Porto Alegre: Ufrgs, 2003.
LEINZ, V; AMARAL, S. E. Geologia geral. São Paulo: Nacional, 1980.
POPP, J. H. Geologia geral. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
TEIXEIRA, W; TOLEDO, M. C. M; FAIRCHILD, T. R et al (orgs.).
Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
BRANCO, S. M. E; BRANCO, F. C. A deriva dos continentes. São Paulo:
Moderna, 1994.
BRINKMANN, R. Geologia geral. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1974.
BRITO, I. M. Bacias sedimentares e formações pós-paleozóicas do
35
Brasil. Rio de Janeiro: Interciência, 1979.
MENDES, J. C. Elementos de estratigrafia. São Paulo: Edusp, 1984.
MONTGOMERY, C. W. Fundamentals of geology. Dubuque: Wn. C.
Brown Publishers, 1997.
____. Environmental geology. Fifth Edition. Boston: WCR/Mac Graw-Hill,
1997.
MURCK, B. W; SKINNER, B. J; PORTER, S. C. Environmental geology.
New York: John Wiley & Sons, 1996.
____. Geology today: understanding our planet. New York: John Wiley &
Sons, 1999.
PETRI, S; FÚLFARO, V. J. Geologia do Brasil. São Paulo: T. A.
Queiroz/USP, 1983.
SALGADO-LABOURIAU, M. L. História ecológica da terra. São Paulo:
Edgard Blücher, 1998.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRF277
Geografia do Brasil II
Agricultura brasileira. Organização socioeconômica do Brasil. Brasil no
contexto internacional.
ANDRADE, C. M. A federação brasileira: uma análise geopolítica e geo
social. São Paulo: Contexto, 1999.
BRUM, A. O desenvolvimento econômico brasileiro.. Rio de Janeiro:
Vozes, 1999.
ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2001.
SANTOS, M; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do
século XXI. São Paulo: Record, 2001.
SPOSITO, M. E. B; WHITACKER, A. M (org.). Cidade e campo: relações
e contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão Popular,
2006.
TRÉRY, H; MELLO, N. A. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmica do
território. São Paulo: Edusp, 2005.
ANDRADE, C. M. Geografia econômica. São Paulo: Atlas, 1998.
PRADO JR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense,
1998.
MAGNOLI, D. O corpo da pátria. São Paulo: Moderna, 1997.
OLIVA, Jaime; GIANSANTI, Roberto. Espaço e modernidade: temas da
geografia do Brasil. São Paulo: Atual, 1999.
SANTOS, M. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993.
SOUZA, Marcelo José Lopes de. Urbanização e desenvolvimento no
Brasil atual. São Paulo: Ática, 1996.
EDU317
Introdução à Educação Especial
Educação especial: histórico e terminologias. Inclusão e recursos
educativos.
BRASIL. Educação especial, tendências atuais. Brasília: MEC/SEE,
1999.
COOL, Cezar; PALACIOS, Jesus; MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento
psicológico e educação: necessidades educativas especiais e
aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
PALHARES, Maria Silveira; MARTINS, Simone Cristina. Escola
inclusiva. São Carlos: Edufscar, 2002.
RIBEIRO, M. L. S; BAUMEL, Roseli Cecília Rocha de Carvalho.
Educação especial: do querer ao fazer. São Paulo: Avercamp, 2003.
LEVITT, Sophie. Habilidades básicas: uma abordagem global – guia
para o desenvolvimento e crianças com deficiência. São Paulo: Papirus,
1997.
36
MANTOAN, Maria Tereza Egler. Caminhos pedagógicos da inclusão:
como estamos implementando a educação (de qualidade) para todos
nas escolas brasileiras. São Paulo: Memnen, 2001.
MAZZOTA, Marcos J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas
públicas. São Paulo: Cortez, 1995.
MILLER, Nancy B. Ninguém é perfeito: vivendo e crescendo com
crianças que têm necessidades especiais. Campinas: Papirus, 1998.
PUESCHEL, Siegfried M. Síndrome de Down: guia para pais e
educadores. Campinas: Papirus, 1993.
RAMOS, Rossana. Passos para a inclusão. São Paulo: Cortez, 2005.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
4° semestre
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
FIL311
Ética e Cidadania
Ética, cidadania e historicidade. Indivíduo, sociedade e Estado.
Construção da cidadania. Valor ético do trabalho e da profissão.
CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional.
Petrópolis: Vozes, 2001.
PIRES, Cecília Maria Pinto. Ética e cidadania. Porto Alegre:
Dacasa/Palmarinca, 1999.
VÁZQUEZ, A. S. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Brasília: Universidade de Brasília,
1999.
BOBBIO, Norbeto. A era dos direitos. São Paulo: Campus, 1992.
BOFF, Leonardo. Ética da vida. Brasília: Letraviva, 2000.
DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e
os direitos humanos no Brasil. São Paulo: Ática, 1994.
HERKENHOFF, João Baptista. Ética, educação e cidadania. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
JUNGES, José Roque. Bioética. São Leopoldo: Unisinos, 1999.
MARQUES, Mário Osório. Botar a boca no mundo. Ijuí: Unijuí, 1999.
MANZINI-COVRE, Maria de Lourdes. O que é cidadania. São Paulo:
Brasiliense, 1995.
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2001.
VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 1986.
GRF279
Redação Acadêmica
Construção do texto. Redação acadêmica. Pontos gramaticais.
MEURER, José Luiz; MOTTA-ROTH, Désirée (orgs.). Parâmetros de
textualização. Santa Maria: Ufsm, 1997.
MOTTA-ROTH, Désirée. Redação acadêmica: princípios básicos. Santa
Maria: Ufsm, 2002.
MACHADO, Anna Rachel et al. Planejar gêneros acadêmicos. São
Paulo: Parábola, 2005.
____. Trabalhos de pesquisa: diários de leitura para revisão bibliográfica.
São Paulo: Parábola, 2007.
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática,
1993.
KOCH, Ingedore. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 1978.
____; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São
Paulo: Contexto, 2006.
MACHADO, Anna Rachel et al. Resenha. São Paulo: Parábola, 2004.
____. Resumo. São Paulo: Parábola, 2004.
37
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
GRF280
Hidrologia
Ciclo hidrológico. Água subterrânea. Água continental. Água oceânica.
LEINZ, V; AMARAL, S. E. Geologia geral. São Paulo: Nacional, 1980.
POPP, J. H. Geologia geral. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
TEIXEIRA, W; TOLEDO, M. C. M; FAIRCHILD, T. R et al (orgs.).
Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. São Paulo: Edusp,
1993.
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia fluvial. São Paulo: Edgard
Blücher, 1981.
GUERRA, Antônio Teixeira; GUERRA, Antônio José Teixeira. Novo
dicionário geológico-geomorfológico. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil,
1997.
MARRERO, Levi. La Tierra y sus recursos. Caracas: Cultural
Venezolana, 1977.
PINTO, N. L. de Sousa. Hidrologia básica. São Paulo: Edgard Blücher,
1976.
VILLELA, S; MATTOS, A. Hidrologia aplicada. São Paulo: Cosmos,
1975.
EDU328
Língua Brasileira de Sinais
Introdução à língua de sinais. Alfabeto manual. Diálogos com estruturas
afirmativas, negativas e interrogativas. Expressões de quantificação e
intensidade. Descrição: narrativa básica.
CAPOVILLA, F. Dicionário trilíngue de libras. São Paulo: USP, 2001.
KARNOPP, Lodenir Becker; QUADROS, Ronice Muller. Língua de sinais
brasileira: estudos linguísticos. Porto alegre: Artimed, 2004.
SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. São Paulo:
Mediação, 2008.
LOPES. M. C. Redações de poderes no espaço multicultural da escola
para surdos. In.
QUADROS, Ronice Muller. Educação de surdos: a aquisição da
linguagem. Porto Alegre: Artimed, 1997.
OLIVEIRA, Luiza de Fátima Medeiros de. Formação docente na escola
inclusiva: diálogo como fio tecedor. Porto Alegre: Mediação, 2009.
SKLIAR, Carlos. Pedagogia (improvável) da diferença. E se o outro não
estivesse aí? Rio de Janeiro: Dp&A, 2003.
SKLIAR, C (org.). Educação e exclusão: abordagens sócioantropológicas em educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1998.
THOMA, Adriana da Silva; KLEIN, Madalena (org.). Currículo e
avaliação: a diferença surda na escola. Santa Cruz do Sul: Edunisc,
2009.
GRF281
Climatologia Dinâmica
Relações entre temperatura, pressão e vento. Circulação geral da
atmosfera. Massas de ar. Frentes. Diagnóstico e prognóstico do tempo.
El Niño e La Nina. Climatologia. Poluição atmosférica. Relações entre
ações humanas e clima.
AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os tópicos. São Paulo:
Difel, 1986.
NIMER, E. Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1979.
TUBELIS, Antonio; NASCIMENTO, Fernando José Lins do. Meteorologia
38
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
descritiva: fundamentos e aplicações brasileiras. São Paulo: Nobel,
1987.
VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e climatologia. Brasília: Instituto
Nacional de Meteorologia, 2000.
VIANELLO, A. L; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicação. Viçosa:
Universidade Federal de Viçosa, 1991.
CASTILHO, F. E; SENTIS, F. C. Agrometeorologia. Madrid: Ediciones
Mundi Prensa, 1996.
MORENO, J. A. Clima do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Secretaria da
Agricultura, 1961.
ROTH, B. W. Tópicos em educação ambiental. Santa Maria: Pallotti,
1996.
VERNIER, J. O meio ambiente. Campinas: Papirus, 1992.
GRF282
Geomorfologia Geral
Introdução à geomorfologia. Vertentes. Geomorfologia fluvial.
Geomorfologia litorânea. Geomorfologia do Brasil.
CASSETI, V. Elementos de geomorfologia. Goiânia: UFG, 1994.
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia fluvial. São Paulo: Edgard
Blücher, 1981.
CUNHA, S. B; GUERRA, A. J. T (orgs.). Geomorfologia do Brasil. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
MÜLLER FILHO, I. L. Notas para o estudo da geomorfologia do Rio
Grande do Sul. Santa Maria: Ufsm, 1970.
CARVALHO, M. S (org.). Geografia, meio-ambiente e desenvolvimento.
Londrina: A autora, 2003.
CASSETI, V. Ambiente e apropriação do relevo. São Paulo: Contexto,
1991.
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blücher,
1980.
COOKE, R. U; DOORNKAMP, J. C. Geomorphology in environmental
management. Oxford: Clarendon Press, 1990.
CUNHA, S. B; GUERRA, A. J. T (orgs.). Geomorfologia: exercícios,
técnicas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
CUNHA, M. A (coord.). Manual de ocupação de encostas. São Paulo:
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1991.
GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B (orgs.). Geomorfologia e meio ambiente.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
____. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de
Janeiro: Bertrand, 1998.
GUERRA, A. T; GUERRA, A. J. T. Novo dicionário geológicogeomorfológico. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1997.
JATOBÁ, L; LINS, R. C. Introdução à geomorfologia. Recife: Bagaço,
1998.
MAIO, C. R. Geomorfologia do Brasil: fotos e comentários. Rio de
Janeiro: Ibge, 1980.
MENEGAT, R (org.). Atlas ambiental de Porto Alegre. Porto Alegre:
Ufrgs, 1998.
NUNES, B. A (coord.). Manual técnico de geomorfologia. Rio de Janeiro:
Ibge, 1995.
PENTEADO, M. M. Fundamentos de geomorfologia. Rio de Janeiro:
IBGE, 1974.
RAMBO, B. A fisionomia do Rio Grande do Sul. São Leopoldo: Unisinos,
1994.
ROSSATO, M. S; SUERTEGARAY, D. M. A (org.). Terra feições
ilustradas. Porto Alegre: Ufrgs, 2003.
39
ROSS, J. L. S (org.). Geomorfologia: ambiente e planejamento. São
Paulo: Contexto, 1991.
____. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2001.
SUERTEGARAY, D. M. A. Deserto grande do sul: controvérsia. Porto
Alegre: Ufrgs, 1998.
____. Geografia física e geomorfologia: uma releitura. Ijuí: Unijuí, 2002.
STRAHLER, Arthur N; STRAHLER, Alan H. Geografia física. Barcelona:
Omega, 1997.
TEIXEIRA, W; TOLEDO, M. C. M; FAIRCHILD, T. R et al (orgs.).
Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
THORNBURY, W. D. Princípios de geomorfologia. Buenos Aires:
Kapelusz, 1960.
VERDUM, R; BASSO, L. A; SUERTEGARAY, D. M. A. Rio Grande do
Sul: paisagens e territórios em transformação. Porto Alegre: Ufrgs, 2004.
VIERS, G. Geomorfologia. Barcelona: Oikos Tau, 1973.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRF283
Geografia Ambiental
Relações sociedade e meio ambiente. Geografia e meio ambiente. Lugar
e a temática ambiental. Poluição ambiental. EIA e Rima.
CUNHA, Baptista da (org.). Impactos ambientais urbanos no Brasil. Rio
de Janeiro: Bertrand, 2001.
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des)caminhos do meio
ambiente. São Paulo: Contexto, 1990.
MEIO AMBIENTE EM DEBATE. Instituto brasileiro do meio ambiente e
dos recursos naturais. Brasília: Ibama, 1996.
MOLINA, Sérgio. Turismo e ecologia. Bauru: Edusc, 2001.
CHRISTOFOLETTI, Antonio (org.). Geografia e meio ambiente no Brasil.
São Paulo: Hucitec, 2002.
PONTUSCHKA, Nídia (org.). Geografia em perspectiva. São Paulo:
Contexto, 2002.
Revista Ciência & Ambiente nº 17 de julho/dezembro. Direito ambiental.
Santa Maria: Ufsm, 1998.
EDU316
Didática
Ciências da educação e prática pedagógica. Planejamento do processo
ensino-aprendizagem. Gestão da sala de aula. Avaliação do processo
ensino-aprendizagem
CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. Campinas: Papirus, 1990.
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1991.
LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez,
1995.
MASETTO, M. T. Didática: a aula como centro. São Paulo: FTD, 1997.
MORAES, M. C. O paradigma educacional emergente. Campinas:
Papirus, 2002.
VEIGA, I. P. A. A prática pedagógica do professor de didática.
Campinas: Papirus, 1989.
CONTRERAS, J. A autonomia dos professores. São Paulo: Cortez,
2002.
LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e pedagogos para quê? São Paulo: Cortez,
2000.
MANSUR, O. C; MORETTO, R. Aprendendo a ensinar. São Paulo:
Elevação, 2000.
PIMENTA, S. G; GHEDIN, E (org.). Professor reflexivo no Brasil. São
Paulo: Cortez, 2002.
VEIGA, I. P. A (org.). Didática: o ensino e suas relações. Campinas:
40
Papirus, 2007.
____. Lições de didática. Campinas: Papirus, 2006.
____. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível.
Campinas: Papirus, 2004.
5° semestre
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRF301
Estágio Curricular Supervisionado I
Fundamentação teórico-metodológica do ensino da geografia.
Planejamento, operacionalização e avaliação de propostas pedagógicas.
Produção de recursos didáticos e novas tecnologias.
CARLOS, A. F. A (org.). Novos caminhos da geografia. São Paulo:
Contexto, 1999.
CASTROGIOVANNI, A. C et al. Geografia em sala de aula: práticas e
reflexões. Porto Alegre: Ufrgs, 1999.
SCHAFFER, N. O (org.). Ensinar e aprender geografia. Porto Alegre:
Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1998.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: História e Geografia.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
____. Parâmetros Curriculares Nacionais: temas transversais. Brasília:
MEC/SEF, 1998.
KAERCHER, N. A. Desafios e utopias no ensino de geografia. Santa
Cruz do Sul: Unisc, 1998.
VEIGA, I. P. A (org.). Didática: o ensino e suas relações. São Paulo:
Papirus, 1997.
____. Repensando a Didática. São Paulo: Papirus, 1991.
VESENTINI, J. W. Para uma geografia crítica na escola. São Paulo:
Ática, 1992.
GRF285
Organização do Espaço Mundial I
Nova ordem mundial. Europa desenvolvida. Ásia desenvolvida. Austrália
e Nova Zelândia. América anglo-saxônica.
FIORI, J. L (org.). O poder americano. Petrópolis: Vozes, 2004.
HAESBAERT, R (org.). Globalização e fragmentação no mundo
contemporâneo. Rio de Janeiro: Eduff, 2001.
MAGNOLI, D. União européia: história e geopolítica. São Paulo:
Moderna, 1994.
STRAZZACAPPA, C; MONTANARI, V. Globalização: o que é isso,
afinal? São Paulo: Moderna, 1998.
ANDRADE, Manuel Correia de. Imperialismo e fragmentação do espaço.
São Paulo: Contexto, 1991.
ARBEX JUNIOR, J. Guerra fria: terror de estado, política e cultura. São
Paulo, 1997.
BECKER, D. F (org.). Competitividade: o (des)caminho da globalização.
Lajeado: Fates, 1998.
DOWBOR, L; IANNI, O; RICARDO M. A (org.). Estados Unidos: a
supremacia contestada. São Paulo: Cortez, 2003.
FEATHERSTONE, Mike (org.). Cultura global: nacionalismo,
globalização e modernidade. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.
FERREIRA, L. C; VIOLA, E (org.). Incertezas de sustentabilidade na
globalização. Campinas: Puccamp, 1996.
HAESBAERT, R (org.). Blocos internacionais de poder. São Paulo:
Contexto, 1989.
LEIS, H. R. O labirinto: ensaios sobre ambientalismo e globalização.
Blumenau: Furb, 1996.
MAGNOLI, D; BRENER, J; ARBEX JR; OLIC, N. B. Visões do mundo 1.
41
São Paulo: Moderna, 1998.
____. Visões do mundo 2. São Paulo: Moderna, 1999.
MAGNOLI, D. O mundo contemporâneo: relações internacionais. São
Paulo: Moderna, 1996.
____. Globalização: estado nacional e espaço mundial. São Paulo:
Moderna, 2002.
MORAES, M. A; FRANCO, P. S. S. Geopolítica: apocalipse do século
20. São Paulo: Átomo, 2000.
OLIC, N. B., Conflitos do mundo: questões e visões geopolíticas. São
Paulo: Moderna, 2003.
RIVERO, O. O mito do desenvolvimento: os países inviáveis no século
21. Petrópolis: Vozes, 2002.
SCARLATO, F. C (org.). O novo mapa do mundo: globalização e espaço
latino-americano. São Paulo: Hucitec, 2002.
SANTOS, Milton. O novo mapa do mundo: fim de século e globalização.
São Paulo: Hucitec, 2002.
____. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência
global. Rio de Janeiro: Record, 2000.
SCALZARETTO, R; MAGNOLI, D. Atlas de geopolítica. São Paulo:
Scipione, 1996.
SOBRAL, A. U. Um só mundo: a ética da globalização. São Paulo:
Martins Fontes, 2004.
VESENTINI, José W. Imperialismo e geopolítica global (espaço e
dominação na escola planetária). Campinas: Papirus, 1990.
____. Nova ordem, imperialismo e geopolítica global. São Paulo:
Papirus, 2003.
____. Nova ordem mundial. São Paulo: Ática, 2003.
____. Novas geopolíticas: as representações do século 21. São Paulo:
Contexto, 2005.
VIZENTINI, P. G (org.). A grande crise: a nova (des)ordem internacional
dos anos 90. Rio de Janeiro: Vozes, 1992.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRF286
Geomorfologia Estrutural e Climática
Formas estruturais e relevo. Unidades morfoestruturais. Relações do
relevo com o clima. Domínios morfoclimáticos. Paleoclimas e evolução
do relevo nos períodos terciário e quaternário. Condicionantes antrópicos
do relevo.
CASSETI, Valter. Elementos de geomorfologia. Goiânia: UFG, 1994.
CUNHA, Sandra Baptista; GUERRA, Antônio José Teixeira (orgs.).
Geomorfologia: exercícios, técnicas e aplicações. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1996.
GUERRA, Antônio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista (orgs.).
Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1998.
____. Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1996.
JATOBÁ, Lucivânio; LINS, Rachel Caldas. Introdução à geomorfologia.
Recife: Bagaço, 1998.
CASSETI, Valter. Ambiente e apropriação do relevo. São Paulo:
Contexto, 1991.
CUNHA, Sandra Baptista; GUERRA, Antônio José Teixeira (orgs.).
Geomorfologia do Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
GUERRA, Antônio Teixeira; GUERRA, Antônio José Teixeira. Novo
dicionário geológico-geomorfológico. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil,
1997.
PENTEADO, Margarida Maria. Fundamentos de geomorfologia. Rio de
42
Janeiro: Ibge, 1978.
ROSS, Jurandir L. S. Geomorfologia: ambiente e planejamento. São
Paulo: Contexto, 1991.
STRAHLER, Arthur N; STRAHLER, Alan H. Geografia física. Barcelona:
Omega, 1997.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRF287
Projeto Coletivo de Pesquisa e Extensão I
Conhecimento, educação e sociedade. Extensão universitária. Projeto
coletivo de extensão.
SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político
na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1997.
SANTOS, Renato Quintino dos. Educação e extensão: domesticar ou
libertar? Petrópolis: Vozes, 1986.
THIOLLENT, Michel. Metodologias e experiências em projetos de
extensão. Niterói: Eduff, 2000.
BELINAZZO, Terezinha Maria (org.). Explorando o meio: alternativas
metodológicas para a iniciação do ensino da geografia e da história nas
séries iniciais do 1º grau. Santa Maria: Ufsm, 1989.
BOFF, Leonardo. A águia e a galinha: uma metáfora da condição
humana. São Paulo: Vozes, 2004.
CAMARGO, Luis Henrique de. A ruptura do meio ambiente. São Paulo:
Bertrand Brasil, 2006.
MORIN, Edgar. Os sete saberes da educação do futuro. São Paulo:
Cortez, 2003.
____. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 2000.
____. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget,
2003.
NOAL, Fernando Oliveira (org.). Educação ambiental e cidadania.
Cenários brasileiros. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2003.
REGO, Nelson (org.). Geografia e educação. Geração de ambiências.
Porto Alegre: Ufrgs, 2000.
GRF288
Geografia Regional
Regionalização. Organização regional do espaço brasileiro. Regiões
geoeconômicas do Brasil.
AFFONSO, Rui de Brito Álvares; SILVA, Pedro Luiz Barros.
Desigualdades regionais e desenvolvimento. São Paulo: Fundap, 1995.
ANDRADE, Manuel Correia de. O Nordeste e a questão regional. São
Paulo: Ática, 1988.
BECKER, K. Bertha. Amazônia. São Paulo: Ática, 1991.
CASTRO, Iná E. V; GOMES, Paulo. C. Costa; CORREIA, Roberto L.
(orgs.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1995.
____. Brasil: questões atuais da reorganização do território. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
LAVINAS, Lena; CARLEIAL, Liana M. da Frota; NABUCO, M. R. (orgs.).
Reestruturação do espaço urbano e regional no Brasil. São Paulo:
Hucitec, 1993.
ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia: região e desenvolvimento.
São Paulo: Brasiliense, 1971.
ANDRADE, Manuel Correia; ANDRADE, Sandra Maria Correia de. A
federação brasileira: uma análise geopolítica e geo-social. São Paulo:
Contexto, 1999.
BECKER, Denizar Firminiano. Redenep: a pesquisa, o planejamento e a
43
gestão em rede do desenvolvimento local-regional. Lajeado: Univates,
2000.
BRITO, Luiz Navarro de. Política e espaço regional. São Paulo: Nobel,
1986.
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.). Novos caminhos da geografia. São
Paulo: Contexto, 2001.
CORREA, Roberto L. Região e organização espacial. São Paulo: Ática,
1987.
LENCIONI, Sandra. Região e geografia. São Paulo: Edusp, 1999.
ROSS, Jurandyr L. S (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp,
2001.
SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo: Nobel, 1985.
____; SILVEIRA, M. L. Brasil, território e sociedade no início do século
21. Rio de Janeiro: Record, 2004.
6° semestre
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
GRF289
Projeto Coletivo de Pesquisa e Extensão II
Projeto de extensão universitária.
RUIZ, Nádia Dumara. Universidade: a intenção da extensão. São Paulo:
Loyola, 1987.
SANTOS, de Souza. Boaventura. Pela mão de Alice, o social e o político
na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1997.
SANTOS, Renato Quintino dos. Educação e extensão: domesticar ou
libertar? Petrópolis: Vozes, 1986.
THIOLLENT, Michel. Metodologias e experiências em projetos de
extensão. Niterói: Eduff, 2000.
BELINAZZO, Terezinha Maria (org.). Explorando o meio: alternativas
metodológicas para a iniciação do ensino da geografia e da história nas
séries iniciais do 1º grau. Santa Maria: Ufsm, 1989.
BOFF, Leonardo. A águia e a galinha. Uma metáfora da condição
humana. São Paulo: Vozes, 2004.
CAMARGO, Luis Henrique de. A ruptura do meio ambiente. São Paulo:
Bertrand, 2006.
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas,
1985
____. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez,
1990.
____. Pesquisa e construção de conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo
brasileiro, 1996.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo:
Atlas, 1991.
MORIN, Edgar. Os sete saberes da educação do futuro. São Paulo:
Cortez, 2003.
____. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 2000.
____. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget,
2003.
NOAL, Fernando Oliveira (org.). Educação ambiental e cidadania.
Cenários brasileiros. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2003.
REGO, Nelson (org.). Geografia e educação. Geração de ambiências.
Porto Alegre: Ufrgs, 2000.
GRF302
Estágio Curricular Supervisionado II
Inserção na realidade escolar. Análise da realidade escolar.
ANTUNES, C. Avaliação da aprendizagem escolar. Rio de Janeiro:
Vozes, 2002.
44
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
CASTROGIOVANNI, A. C (org.). Geografia em sala de aula: práticas e
reflexões. Porto Alegre: Ufrgs, 2001.
_____. Ensino de geografia. Porto Alegre: Mediação, 2002.
PONTUSCHKA, N. N; OLIVEIRA, A. U. Geografia em perspectiva. São
Paulo: Contexto, 2002.
ANTUNES, C. Trabalhando habilidades: construindo idéias. Rio de
Janeiro: Vozes, 2004.
____. Um método para o ensino fundamental: o projeto. Rio de Janeiro:
Vozes, 2001.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais - História e Geografia.
Brasília: MEC/SEF, 1997.
VASCONCELLOS, C. S. Construção do conhecimento em sala de aula.
São Paulo: Libertand, 1997.
____. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo.
São Paulo: Libertand, 1995.
RAIYS, O. A. Trabalho pedagógico: hipóteses de ação didática. Porto
Alegre: Sulina, 2000.
GRF291
Produção Didática em Geografia
Elaboração de material didático. Professor de geografia: desafios da
prática docente. Procedimentos para construção de material didático.
Dinamização de conteúdos escolares. Contato com a realidade escolar.
Exposição do material produzido.
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: história e geografia.
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. 2001.
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.). Novos caminhos da geografia. São
Paulo: Contexto, 1999.
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos et al. Geografia em sala de aula:
práticas e reflexões. Porto Alegre: Ufrgs, 1999.
SCHAFFER, Neiva Otero (org.). Ensinar e aprender geografia. Porto
Alegre: Associação dos Geógrafos Brasileiros. Seção Porto Alegre,
1998.
ANTUNES, Celso. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências.
Rio de Janeiro: Petrópolis, 1998.
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: temas transversais. Brasília:
MEC/SEF, 1998.
RUA, João et al. Para ensinar geografia. Rio de Janeiro: Access, 1993.
GRF292
Biogeografia
Introdução à biogeografia. Distribuição geográfica dos seres vivos. As
regiões biogeográficas. O estudo das comunidades. Educação ambiental
e desenvolvimento autosustentável.
ANDRADE, Manuel Correia de. O desafio ecológico: utopia e realidade.
São Paulo: Hucitec, 1994.
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des)caminhos do meio
ambiente. São Paulo: Contexto, 1990.
MARTINS, Celso. Biogeografia e ecologia. São Paulo: Nobel, 1985.
ODUM, Eugene P. Ecologia. São Paulo: Pioneira, 1975.
TROPPMAIER, Helmut. Biogeografia e o meio ambiente. Rio Claro:
Graffet/SET, 1989.
VESENTINI, José William. Geografia, natureza e sociedade. São Paulo:
Contexto, 1989.
45
Bibliografia
complementar
LACOSTE, Alain; SALANON, Robert. Biogeografia. Barcelona: Oikostau,
1978.
SARIEGO, José Carlos. Educação ambiental: as ameaças do planeta
azul. São Paulo: Scipione, 1994.
SOUZA, Maria Adélia de et al (orgs.). O novo mapa do mundo: natureza
e sociedade de hoje: uma leitura geográfica. São Paulo: Hucitec, 1994.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
GRF293
Organização do Espaço Mundial II
Origem do subdesenvolvimento. América Latina. África. Ásia.
CASTRO, T. África geo-história, geopolítica e relações internacionais.
Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1981.
GONZÁLEZ, H. O que é subdesenvolvimento. São Paulo: Brasiliense,
1980.
HAESBAERT, R. Globalização e fragmentação do mundo
contemporâneo. Rio de Janeiro: Eduff, 2001.
OLIC, N. B. Geopolítica da América Latina. São Paulo: Moderna, 1992.
ANDRADE, M. C. O Brasil e a África. São Paulo: Contexto, 1996.
BRENER, J. Ferida aberta: o Oriente Médio e a nova ordem mundial.
São Paulo: Atual, 1993.
CANÊDO, L. B. A descolonização da Ásia e da África. São Paulo: Atual,
1994.
GOMES, E. B. A globalização econômica e a integração no continente
americano: desafios para o estado brasileiro. Ijuí: Unijuí, 2004.
GUAZZELLI, C. B. História contemporânea da América Latina: 19601990. Porto Alegre: Ufrgs, 1993.
LACOSTE, Y. Geografia do subdesenvolvimento. São Paulo: Difel, 1982.
MAGNOLI, D. África do Sul: capitalismo e apartheid. São Paulo:
Contexto, 1992.
MAGNOLI, D; ARAÚJO, R. Para entender o Mercosul. São Paulo:
Moderna, 1998.
____. Visões do mundo 1. São Paulo: Moderna, 1998.
MAGNOLI, D. M. Globalização: estado nacional e espaço mundial. São
Paulo: Moderna, 1997.
____. O novo mapa do mundo. São Paulo: Moderna, 1997.
____. Visões do mundo 2. São Paulo: Moderna, 1999.
MASSOULIÉ, F. Os conflitos do Oriente Médio. São Paulo: Ática, 1997.
MOISÉS, J. A. O futuro do Brasil: a América Latina e o fim da Guerra
Fria. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
NICOLAU, A. África do Sul: pressões econômicas. In: Cadernos do
terceiro mundo. Rio de Janeiro: Terceiro Mundo, 1982.
RIBEIRO, D. América Latina: a pátria grande. Rio de Janeiro:
Guanabara, 1986.
SCALZARETTO, R; MAGNOLI, D. Atlas geopolítica. São Paulo:
Scipione, 1996.
SOARES, J. Oriente médio de Maomé à Guerra do Golfo. Porto Alegre:
Ufrgs, 1991.
VESENTINI, J. W. Nnova ordem mundial. São Paulo: Ática, 2003.
Bibliografia
complementar
7° semestre
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
GRF303
Estágio Curricular Supervisionado III
Estrutura e organização do estágio supervisionado. Regência de classe
no ensino fundamental. Análise e discussão da ação docente.
ALVES, N (org.). Formação de professores: pensar e fazer. São Paulo:
Cortez, 1999.
FAZENDA, I. C. A; PICONEZ, S. B; RIBEIRO, M. S et al. A prática de
46
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
ensino e o estágio supervisionado. São Paulo: Papirus, 1994.
SANT’ANNA, I. M; MENEGOLA, M. Por que planejar? Como planejar?
Rio de Janeiro: Vozes, 2001.
CARVALHO, A. M. P. Prática de ensino: os estágios na formação do
professor. São Paulo: Pioneira, 1987.
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisas. São Paulo:
Atlas, 1999.
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1992.
GRF295
Geografia Urbana
Introdução à geografia urbana. Cidades e as condições naturais.
Processo de urbanização mundial. Espaço interno das cidades.
Expansão urbana. Urbano local.
CARLOS, Ana Fani Alessandri. A cidade. São Paulo: Contexto, 1994.
GEORGE, Pierre. Geografia urbana. São Paulo: Difel, 1983.
SANTOS, Milton. Manual de geografia urbana. São Paulo: Hucitec, 1980.
SPOSITO, Maria Encarnação B. Capitalismo e urbanização. São Paulo:
Contexto, 2000.
CLARK, David. Introdução à geografia urbana. São Paulo: Difel, 1982.
CORRÊA, Roberto Lobato. A rede urbana. São Paulo: Ática, 1989.
GARNIER, Jaqueline Beaujeu. Tratado de geografia urbana. Barcelona:
Vivens, 1975.
LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001.
RODRIGUES, Arlete. Moradia nas cidades brasileiras. São Paulo:
Contexto, 1994.
GRF296
Geografia Agrária
Fundamentos da geografia agrária. Organização do espaço agrário.
Agricultura e o desenvolvimento socioeconômico. Estudo do espaço
agrário no contexto latino-americano e brasileiro.
DINIZ, José A. F. Geografia da agricultura. São Paulo: Difel, 1984.
LACOSTE, Yves. Geografia do subdesenvolvimento. Rio de Janeiro:
Bertrand, 1982.
OLIVEIRA, Ariovaldo U. A agricultura camponesa no Brasil. São Paulo:
Contexto, 1991.
TAMBARA, Elomar. RS: modernização e crise na agricultura. Porto
Alegre: Mercado Aberto, 1988.
BRUM, Argemiro Jacob. Modernização da agricultura: trigo e soja.
Petrópolis: Vozes, 1988.
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.). Novos caminhos da geografia. São
Paulo: Contexto, 1999.
COSTA, Rogério Haesbaert da. Latifúndio e identidade regional. Porto
Alegre: Mercado Aberto, 1988.
GRAZIANO NETO, Francisco. Questão agrária e ecologia: crítica da
agricultura moderna. São Paulo: Brasiliense, 1982.
MOREIRA, Ruy. Formação do espaço agrário brasileiro. São Paulo:
Brasiliense, 1990.
SILVA, José Graziano da. A nova dinâmica da agricultura brasileira.
Campinas: Unicamp, 1996.
VALENTE, Valdemar. A agricultura e organização do espaço: o caso do
Chapadão, no município de Jaguari, RS, nos últimos 40 anos.
Dissertação de Mestrado. Unesp-Rio Claro, São Paulo, 2001.
VALVERDE, Orlando. Estudos de geografia agrária brasileira. Petrópolis:
Vozes, 1985.
47
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRF297
Geografia Política
Introdução ao estudo da geografia política. Estado e o território.
Transformações geopolíticas mundiais. Conflitos mundiais.
COSTA, W. M. Geografia política e geopolítica: discursos sobre o
território e o poder. São Paulo: Hucitec/Edsup, 1992.
HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização: do “fim do território” à
multiterritorialidade. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
MELLO, L. I. A. Quem tem medo da geopolítica? São Paulo: Hucitec,
1999.
ANDRADE, M. C. de. Imperialismo e fragmentação do espaço. São
Paulo: Contexto, 1991.
____. Geopolítica do Brasil. São Paulo: Ática, 1989.
GALEANO, E. As veias abertas da América Latina. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.
KROPOTKIN, P. O estado e seu papel histórico. São Paulo: Imaginário,
2000.
LACOSTE, I. A geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a
guerra. São Paulo: Papirus, 1988.
MAGNOLI, D. O mundo contemporâneo. São Paulo: Atual, 2004.
____. O que é geopolítica? São Paulo: Brasiliense, 1991.
____; BARBOSA, E. S. Formação do estado nacional: as capitais e os
símbolos do poder político. São Paulo: Scipione, 2001.
MORAES, A. C. R. Ratzel: geografia. São Paulo: Moderna, 1998.
RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.
TOSTA, C. O. Teorias geopolíticas. Rio de Janeiro: Biblioteca do
Exército, 1984.
EDU323
Trabalho Final de Graduação I
Diretrizes para elaboração do trabalho de conclusão do curso.
Planejamento da pesquisa.
AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes
para a elaboração de trabalhos acadêmicos. São Paulo: Unimep, 2000.
BARROS, A. J. S; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia
científica: um guia para a iniciação científica. São Paulo: Makron Books,
1986.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas,
1995.
____. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1995.
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia
científica. São Paulo: Atlas, 1991.
ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos
de pós-graduação: noções práticas. São Paulo: Atlas, 1999.
CERVO, Amado L. BERVIAN, Pedro A. Metodologia científica. São
Paulo: Prentice Hall, 2002.
DEMO, Pedro. Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2000.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica.
Petrópolis: Vozes, 1980.
48
8° semestre
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
GRF298
Geografia Econômica
Geografia econômica. Espaço da produção. Redes geográficas. Estado
e a organização do espaço. Desenvolvimento desigual.
ANDRADE, Manuel Correia de. Imperialismo e fragmentação do espaço.
São Paulo: Contexto, 1991.
____. Geografia econômica. São Paulo: Atlas, 1998.
BENKO, Georges. Economia, espaço e globalização na aurora do século
21. São Paulo: Hucitec, 1999.
BRUM, A. O desenvolvimento econômico brasileiro. Rio de Janeiro:
Vozes, 1999.
HAESBAERT, Rogério. Globalização e fragmentação no mundo
contemporâneo. Rio de Janeiro: Eduff, 1990.
HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Zahar,
1984.
SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual: natureza, capital e a produção
do espaço. Rio de Janeiro: Bertrand, 1988.
GOMES, Horieste. A produção do espaço geográfico no capitalismo.
São Paulo: Contexto,1991.
IANNI, Octavio, RESENDE, Paulo-Edgar A; LADISLAU, Dowbor (orgs.).
Desafios da globalização. Petrópolis: Vozes, 1998.
MAGNOLI, Demétrio M. Globalização: estado nacional e espaço
mundial. São Paulo: Moderna, 1997.
____. O novo mapa do mundo. São Paulo: Moderna, 1997.
SANTOS, Milton et al (orgs.). Território, globalização e fragmentação.
São Paulo: Hucitec, 1996.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à
consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000.
____. O novo mapa do mundo: fim de século e globalização. São Paulo:
Hucitec, 2002.
SINGER, P. Aprender economia. São Paulo: Brasiliense: Vozes, 1999.
VESENTINI, José W. A nova ordem mundial. São Paulo: Ática, 2003.
GRF304
Estágio Curricular Supervisionado IV
Regência de classe no ensino médio. Análise e discussão da ação
docente.
ALVES, N (org.). Formação de professores: pensar e fazer. São Paulo:
Cortez, 1999.
FAZENDA, I. C. A; PICONEZ, S. B; RIBEIRO, M. S. et al. A prática de
ensino e o estágio supervisionado. São Paulo: Papirus, 1994.
SANT’ANNA, I. M; MENEGOLA, M. Por que planejar? Como planejar?
Rio de Janeiro: Vozes, 2001.
CARVALHO, A. M. P. Prática de ensino: os estágios na formação do
professor. São Paulo: Pioneira, 1987.
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisas. São Paulo:
Atlas, 1999.
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1992.
GRF300
Geografia do Rio Grande do Sul
Caracterização do espaço do Rio Grande do Sul. Localização e
implicações geopolíticas. Espaço físico e recursos naturais. Homem e
ocupação do espaço. Organização do processo produtivo.
49
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
MAGNOLI, Demétrio. Cenário gaúcho: representações históricas e
geográficas. São Paulo: Moderna, 2001.
MOREIRA, Igor; COSTA, Rogério. Espaço e sociedade no Rio Grande
do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto,1982.
RAMBO, Balduíno. Fisionomia do Rio Grande do Sul. São Leopoldo:
Unisinos, 1980.
VIEIRA,
Eurípedes
Falcão.
Geografia
econômica:
espacialidade/temporalidade na organização econômica do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre: Sagra, 1993.
LAZZAROTTO, Danilo. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre:
Sulina, 1982.
MAGNOLI, Demétrio. Para entender o Mercosul. São Paulo: Moderna,
1995.
PESAVENTO, Sandra J. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 1980.
VIEIRA, Eurípedes Falcão. Rio Grande do Sul: geografia física e
vegetação. Porto Alegre: Sagra, 1984.
____. Rio Grande do Sul: geografia da população. Porto Alegre: Sagra,
1985.
Código
Disciplina
Ementa
EDU324
Trabalho Final de Graduação II
Desenvolvimento, redação e apresentação do trabalho de conclusão do
curso.
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Bibliografia indicada pelo professor de acordo com a temática em
desenvolvimento.
Optativas
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia indicada pelo professor de acordo com a temática em
desenvolvimento.
GRO
Análise de Livros Didáticos
Critérios de avaliação e seleção de livros didáticos propostos pelo MEC.
Elementos para análise e avaliação de livros didáticos em geografia.
Recursos que podem complementar uso do livro didático de geografia.
CASTROGIOVANI, A. C. Geografia em sala de aula: práticas e
reflexões. Porto Alegre: Ufrgs, 1999.
SCAFEER, N. O et al. Ensinar e aprender geografia. Porto Alegre: AGB,
1998.
SPOSITO, M. E. B (org.). Livros didáticos de história e geografia. São
Paulo: Cultura, 2006.
CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção de conhecimentos.
Campinas: Papiros, 2001.
FREITAG, B et al. O livro didático em questão. São Paulo: Cortes, 1989.
RUA, J et al. Para ensinar geografia. Rio de Janeiro: Access, 1993.
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC, 1997.
GRO
Educação Ambiental
Meio ambiente e educação. Contextualização histórica da educação
ambiental. Principais políticas públicas para educação ambiental
brasileira.
CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental: a formação do sujeito
ecológico. São Paulo: Cortez, 2004.
DIAS, G. F. Educação ambiental. São Paulo: Gaia, 1992. In:
Fundamentos de educação ambiental. Brasília: UnB, 1997.
50
Bibliografia
complementar
AGUIAR, R. Direito do meio ambiente e participação popular. Brasília:
Ibama, 1994
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos:
temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.
GRÜM, M. Ética e educação ambiental. Campinas: Papirus, 1996.
GUIMARÃES, M. A dimensão ambiental na educação. Campinas:
Papirus, 1995.
ISAIA, E. M. I (coord.). Reflexões e práticas para desenvolver educação
ambiental na escola. Santa Maria: Ibama/Unifra, 2001.
REIGOTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense,
1994.
____. Meio ambiente e representação social. São Paulo: Cortez, 1995.
SATO, M; CARVALHO, I. C. M (orgs.). Educação ambiental: pesquisa e
desafios. Porto alegre: Artmed, 2005.
UNESCO. Educação ambiental: as grandes orientações da conferência
de Tbilisi. Brasília: Ibama, 1997.
Código
Disciplina
Ementa
GRO
Ensino da Geografia e Novas Tecnologias
Novas tecnologias e educação. Aplicações de multimídia e ensino da
geografia. Ensino da geografia e produção de imagens. Aplicabilidade da
tecnologia na educação básica.
LÉVY, P. O que é o virtual? São Paulo: 34, 1998.
____. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da
informática. Rio de Janeiro: 34, 1993.
MORAN, J. M; MASETTO, M. T; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e
mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2003.
NOVO, E. M. M. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. São
Paulo: Edgard Blücher, 1992.
SILVA, J. X; ZAIDAN, R. T (orgs.). Geoprocessamento e análise
ambiental: aplicações. Rio de Janeiro: O auto, 2001.
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRO
Formação Territorial do Brasil
Território, colonização e expansão na América portuguesa. Território e
construção do estado no Brasil. Território e sociedade brasileira o século
20.
LINHARES, M. Y (org.). História geral do Brasil. Rio de Janeiro: Campus,
1994.
MAGNOLI, D. O corpo da pátria: imaginação geográfica e política
externa no Brasil. São Paulo: Moderna, 1997.
PESAVENTO, S. J. O Brasil contemporâneo. Porto Alegre: Ufrgs, 1991.
CARONE, E. A república velha. São Paulo: Difel, 1978.
CARVALHO, J. M. A formação das almas. São Paulo: Cia. das Letras,
1987.
____. Os bestializados. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.
CERVO, A. L; BUENO, C. A política externa brasileira. São Paulo: Ática,
1986.
____ (org.). O desafio internacional: a política externa do Brasil de 1930
à nossos dias. Brasília: UNB, 1994.
CUNHA, M. C (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Cia das
Letras, 1998.
DORATIOTO, F. A guerra do Paraguai. São Paulo: Brasiliense, 1991.
DE DECCA, M. A. G. Indústria, trabalho e cotidiano. São Paulo: Atual,
1999.
FRAGOSO, J; BICALHO, M. F. B; GOUVÊA, M. F. S (orgs.). O antigo
regime nos trópicos, a dinâmica imperial portuguesa. Rio de Janeiro:
51
Civilização Brasileira, 2001.
LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Omega, 1986.
MANTEGA, G. A economia política brasileira. Rio de Janeiro: Vozes,
1987.
MENDONÇA, S. Sociedade e política: construção e crise do populismo
no Brasil. In: LINHARES, M.Y (org.). História geral do Brasil. Rio de
Janeiro: Campus, 1994.
PRADO JÚNIOR, C. História econômica do Brasil. São Paulo:
Brasiliense, 1998.
WEFFORT, F. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1980.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRO
Geografia da Saúde
Processo saúde-doença. Doenças tropicais e infecto-contagiosas.
Aquecimento global e saúde.
GUIMARÃES, R. B. Saúde urbana: velho tema, novas questões. In:
Terra livre. São Paulo: AGB, 2001.
FERREIRA, M. E. M. C. Doenças tropicais: o clima e a saúde coletiva.
In: Terra livre. São Paulo: AGB, 2003.
MENDONÇA, F. Aquecimento global e saúde: uma perspectiva
geográfica. In: Terra livre. São Paulo: AGB, 2003.
COHN, A. A saúde como direito e como serviço. São Paulo: Cortez,
1991.
HALL, P. Cidades do amanhã. São Paulo: Perspectiva, 1995.
GRO
Geografia das Redes e dos Territórios
Dinâmica do território em rede. Territórios, redes e mobilidade. Redes e
dinâmica espacial.
CORRÊA, R. L. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2001.
DIAS, L. C; SILVEIRA, L. L. Redes, sociedades e territórios. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
HAESBAERT, R. Territórios alternativos. São Paulo: Contexto, 2002.
____. O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.
HAESBAERT, R. Globalização e fragmentação no mundo
contemporâneo. Niterói: UFF, 2001.
MESQUITA, Z; BRANDÃO, C. R. Territórios do cotidiano: uma
introdução a novos olhares e experiências. Porto Alegre: Ufrgs, 1995.
VERDUN, R; BASSO, L. A; SUERTEGARAY, D. M. A. Rio Grande do
Sul: paisagens e territórios em transformação. Porto Alegre: Ufrgs, 2004.
GRO
Geografia do Município
Localização e caracterização do município de Santa Maria.
Desigualdades sócio-espaciais.
COPETTI, H. C. O estudo do município e o ensino de história e
geografia. Ijuí: Unijuí, 1988.
FIGUEIREDO, V. D. M. População e qualidade de vida urbana em Santa
Maria, RS. Rio Claro: Unesp, 2001.
BELEM, J. História do município de Santa Maria: 1797-1933. Porto
Alegre: Selbach, 1993.
BELTRÃO, R. Cronologia histórica de Santa Maria e do extinto município
de São Martinho. Santa Maria: Pallotti, 1958.
52
BERNARDES, S. A. C. Santa Maria da Boca do Montes. In: Revista do
centro de ciências sociais e humanas da Ufsm. Santa Maria: Ufsm, 1985.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRO
Geografia e Recursos Didáticos
Ensino de geografia. Escola e ensino de geografia. Geografia e recursos
de ensino. Tecnologia e ambiente escolar.
CALLAI, H (org.). O ensino dos estudos sociais. Ijuí: Unijuí, 2002.
CARLOS, A. F. A (org.). Novos caminhos da geografia. São Paulo:
Contexto, 1999.
CAVALCANTI, L. S. Geografia e práticas de ensino. Goiânia: Alternativa,
2002.
____. Geografia, escola e construção de conhecimentos. São Paulo:
Papirus, 1998.
VESENTINI, J. W. Para uma geografia crítica na escola. São Paulo:
Ática, 1992.
ANDRADE, M. C. Geografia, ciência da sociedade: uma introdução à
análise do pensamento geográfico. São Paulo: Atlas, 1987.
CALLAI, H. A formação do profissional da geografia. Ijuí: Unijuí, 1999.
CARVALHO, M. I. S. S. Fim de século: a escola e a geografia. Ijuí:
Unijuí, 1998.
ROSA, S. S. Brincar, conhecer, ensinar. São Paulo: Cortez, 2002.
STRAFORINI, R. Ensinar geografia: o desafio da totalidade-mundo nas
séries iniciais. São Paulo: Annablume, 2004.
VEIGA, I. P. A (org.).Técnicas de ensino: por que não? Campinas:
Papirus, 1991.
GRO
Geografia e Turismo
Geografia e turismo. Tipologias do turismo. Pontencialidades turísticas
no Brasil. Análise de livros didáticos.
BARRETO, M. Manual de iniciação ao estudo do turismo. São Paulo:
Papirus, 1997.
FLORES, H. A. H (org.). Turismo no Rio Grande do Sul: cinqüenta anos
de pioneireismo no Brasil. Porto Alegre: Pucrs, 1993.
KRIPEENDORF, J. Sociologia do turismo. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira. 1989.
BARRETO, M. Turismo e legado cultural. São Paulo: Papirus, 2000.
BENI, M. C. Análise estrutural do turismo. São Paulo: Senac, 2001.
BRUHNS, H. T. Viagens à natureza. São Paulo: Papirus, 1997.
CASTROGIOVANNI, A. C. Turismo urbano. São Paulo: Contexto, 2001.
CLAVAL, P. A geografia cultural. Florianópolis: Ufsc, 1999.
CORRÊA, R. L (org.). Geografia cultural: um século. Rio de Janeiro:
Uerj, 2002.
____; ROSENTDHAL, Z. Matrizes da geografia cultural. Rio de Janeiro:
Uerj, 2001.
MAGALHÃES, C. F. Diretrizes para o turismo sustentável em municípios.
São Paulo: Roca, 2002.
RODRIGUES, A. Turismo e geografia. São Paulo: Hucitec, 1999
____. Turismo e espaço: rumo ao conhecimento transdisciplinar. São
Paulo: Hucitec, 2002.
RUSHCHMANN, D. Turismo e planejamento sustentável. São Paulo:
Papirus, 1997.
YÁZIGI, E at al. Turismo, espaço, paisagem e cultura. São Paulo:
Hucitec, 2000.
53
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
GRO
Geografia Social e Cultural
Geografia social e cultural. Organização do espaço social e cultural.
Desafios sociais e culturais no mundo atual.
CLAVAL, P. A geografia cultural. Floirianópolis: Ufsc, 1995.
CORRÊA, R. L. A dimensão cultural do espaço. In: ____. Trajetórias
geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
____; ROSENDAHL, Z (orgs.). Paisagem, tempo e cultura. Rio de
Janeiro: Ufrj, 1998.
SOJA, E. W. Geografias pós-modernas. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.
GOMES, P. C. C. Geografia e modernidade. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1996.
GEERTZ, C. O saber local. Petrópolis: Vozes, 1998.
HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1982.
SILVA, A. C. De quem é o pedaço? espaço e cultura. São Paulo:
Hucitec, 1980.
TUAN, H. F. Espaço e lugar. São Paulo: Difel, 1983.
GRO
Inclusão na Sociedade Contemporânea
Formação de professores voltada para inclusão na sociedade
contemporânea. Educação e práticas educativas frente à inclusão.
BEYER, H. O. Da integração escolar à educação inclusiva: implicações
pedagógicas. In: BAPTISTA, C. R; BEYER, H. O et al. Inclusão e
escolarização: múltiplas perspectivas. Porto Alegre: Mediação, 2006.
CARVALHO, R. E. Temas em educação especial. Rio de Janeiro: WVA,
1998.
____. Removendo barreiras para aprendizagem: educação inclusiva.
Porto Alegre: Mediação, 2002.
RIBEIRO, M. L. S; BAUMEL, R. C. R. C. Educação especial: do querer
ao fazer. São Paulo: Avercamp, 2003.
BRASIL. Salto para o futuro: educação especial, tendências atuais.
Brasília: MEC/SEE, 1999.
LIMA, P. A. Educação inclusiva e igualdade social. São Paulo:
Avercamp, 2006.
PALHARES, M. S; MARTINS, S. C. Escola inclusiva. São Carlos: Ufscar,
2002.
MARTINS, A. R et al. Inclusão: compartilhando saberes. Petrópolis:
Vozes, 2006.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de
Janeiro: WVA, 1997.
SKLIAR, C. Pedagogia (improvável) da diferença: e se o outro não
estivesse aí? Rio de Janeiro: DPA, 2003.
STAINBACK, S; STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores.
São Paulo: Artmed, 1999.
WERNECK. C. Ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade inclusiva.
Rio de Janeiro: WVA, 2000.
GRO
Lúdico e Geografia
Educação lúdica. Geografia e ludicidade. Construção de material lúdico.
ALMEIDA, P. N. Educação lúdica: técnicas e jogos pedagógicos. São
Paulo: Loyola, 1994.
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: história e geografia. Brasília:
MEC/SEF, 1998.
54
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
CASTROGIOVANNI, A. C et al. Geografia em sala de aula: práticas e
reflexões. Porto Alegre: Ufrgs, 1999.
CALLAI, H (org.). O ensino dos estudos sociais. Ijuí: Unijuí, 1986.
CARVALHO, M. I. S. S. Fim de século: a escola e a geografia. Ijuí:
Unijuí, 1998.
CASTROGIOVANNI, A. C; COSTELLA, R. Z. Brincar e cartografar com
os diferentes mundos geográficos: a alfabetização espacial. Porto
Alegre: Pucrs, 2006.
PENTEADO, H. D. Metodologia no ensino de história e geografia. São
Paulo: Cortez, 1991.
SCHAFFER, N. O (org.). Ensinar e aprender geografia. Porto Alegre:
Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1998.
GRO
Metodologia no Ensino de Geografia
Fundamentação teórico-metodológica do ensino de geografia.
Planejamento de propostas pedagógicas para educação básica.
Propostas pedagógicas.
CASTROGIOVANNI, A. C (org.). Geografia em sala de aula: práticas e
reflexões. Porto Alegre: Ufrgs, 2000.
____. Práticas e textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação,
1999.
PONTUSCHKA, N. N; OLIVEIRA, A. U. Geografia em perspectiva. São
Paulo: Contexto, 2002.
PONTUSCHKA, N. N; PAGANELLI, T. I; CACETE, N. H. Para ensinar e
aprender geografia. São Paulo: Cortez, 2007.
REGO, N (org.). Geografia: práticas pedagógicas para o ensino médio.
Porto Alegre: Artmed, 2007.
PASSINI, E. Y (org.). Práticas de ensino de geografia e estágio
supervisionado. São Paulo: Contexto, 2007.
GRO
Mineralogia
Minerais. Rochas ígneas. Rochas sedimentares. Rochas metamórficas.
Distribuição das rochas no Rio Grande do Sul.
BLATT, H; TRACY, R. J. Petrology: igneous, sedimentary, and
metamorphic. New York: W. H. Freeman and Company, 1996.
DANA, J. Manual de mineralogia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, 1978.
SARTORI, P. L. P; FUCHS, R. H. Mineralogia: classificação
macroscópica dos minerais formadores de rochas. Santa Maria: Fafra,
1997.
TEIXEIRA, W; TOLEDO, M. C. M; FAIRCHILD, T. R; TAIOLI, F.
Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
ABREU, S. F. Recursos minerais do Brasil. São Paulo: Edgard Blücher,
1973.
COSTA, J. B. Estudo e classificação das rochas por exame
macroscópico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969.
ERNST, W. G. Minerais e rochas. São Paulo: Edgard Blücher, 1971.
FRY, N. The field description of metamorphic rocks. Chichester: John
Wiley & Sons, 1999.
LEINZ, V; SOUZA CAMPOS, J. E. Guia para determinação de minerais.
São Paulo: Nacional, 1971.
SUGUIO, K. Rochas sedimentares. São Paulo: Edgard Blücher, 1980.
POPP, J. H. Geologia geral. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, 1998.
SCHUMANN, W. Gemas do mundo. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1983.
55
THORPE, R; BROWN, G. The field description of igneous rocks.
Chichester: John Wiley & Sons, 1999.
TUCKER, M. Sedimentary rocks in the field. Chichester: John Wiley &
Sons, 1995.
WILLIAMS, H; TURNER, F; GILBERT, C. Petrografia. São Paulo:
Polígono, 1970.
WINKLER, H. Petrogênese das rochas metamórficas. São Paulo: Edgard
Blücher, 1977.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRO
Organização e Gestão Territorial
Organização do espaço e territorialidades. Políticas públicas e
desenvolvimento regional. Desenvolvimento rural e urbano.
ACIOLY, J. C; FORBES, D. Densidade urbana: um instrumento de
planejamento e gestão urbana. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.
BURSZTYN, M. A. A. Gestão ambiental: instrumentos e práticas.
Brasília: Ibama, 1999.
FAISSOL, S. O espaço, território, sociedade e desenvolvimento
brasileiro. Rio de Janeiro: Ibge, 1994.
VEIGA, J. E. A face rural do desenvolvimento: natureza, território e
agricultura. Porto Alegre: Ufrgs, 2000.
ALMEIDA, J; NAVARRO, Z (orgs.). Reconstruindo a agricultura: ideias e
ideais na perspectiva de um desenvolvimento rural sustentável. Porto
Alegre: Ufrgs, 1998.
PAIVA, C. Á. Como identificar e mobilizar o potencial de
desenvolvimento endógeno de uma região? Porto Alegre: FEE, 2004.
SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo:
Oficina de Textos, 2004.
VEIGA, J. E. A insustentável utopia do desenvolvimento. In: LAVINAS, L
et al. Reestruturação do espaço urbano e regional no Brasil. São Paulo:
Hucitec, 1993.
GRO
Pedologia
Ciência do solo. Composição do solo, descrição morfológica,
diferenciação de horizontes e suas características morfológicas: cor,
textura e estrutura. Horizontes e atributos diagnóstico. Classificação
taxonômica e interpretativa de solos. Paisagem e sua relação com
classes de solo: solo como reservatório de água, nutrientes e como
descarte de resíduos e efluentes.
OLIVEIRA, J. B. Pedologia aplicada. Jaboticabal: Funep, 2001.
RESENDE, M, C. N; RESENDE, S. B; CORRÊA, G. F. Pedologia: base
para distinção de ambientes. Viçosa: Neput, 1995.
EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro:
Embrapa, 1999.
LEPSCH, I (coord.). Manual para levantamento utilitário do meio físico e
classificação de terras no sistema de capacidade de uso. Campinas:
Sbcs, 1991.
____. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de Textos,
2002.
LEMOS, R. C; SANTOS, R. D. Manual de descrição e coleta no campo.
Campinas: Sbcs, 1996.
56
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRO
Planejamento Regional e Gestão Territorial
Planejamento regional. Planejamento regional no Brasil. Propostas para
formulação de planos e gestão territorial.
LAVINAS, L et al. Reestruturação do espaço urbano e regional do Brasil.
São Paulo: Hucitec, 1993.
SANTOS, M; SILVEIRA, M. L O Brasil: território e sociedade no início do
século 21. Rio de Janeiro: Record, 2004.
ANDRADE, M. C. O planejamento regional e o problema agrário no
Brasil. São Paulo: Hucitec, 1976.
BENKO, G. Economia, espaço e globalização na aurora do século 21.
São Paulo: Hucitec, 1996.
CASTRO, I. E et al. Brasil: questões atuais da reorganização do
território. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
MENDES, A. G. A experiência de planejamento econômico no Brasil. In:
CINTRA, A. O; MONTIBELER FILHO, G. Apropriações diferenciadas do
conceito de desenvolvimento sustentável. In: Geosul. Florianópolis: Ufsc,
2000.
PORTUGUEZ, A. P. Agroturismo e desenvolvimento regional. São
Paulo: Hucitec, 2002.
SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo:
Oficina de Textos, 2004.
SOUZA, M. A. Planejamento da organização do espaço. In: SOUZA, M.
A. Governo urbano. São Paulo: Nobel, 1988.
GRO
Seminários Temáticos em Geografia
Conteúdo programático dessa disciplina será definido cada vez que for
ofertada, a partir de temas escolhidos pelos estudantes.
Será selecionada de acordo com o conteúdo a ser trabalhado no
semestre.
Será selecionada de acordo com o conteúdo a ser trabalhado no
semestre.
GRO
Sensoriamento Remoto
Sensoriamento remoto. Sistemas e sensores remotos. Interpretação de
imagens orbitais. Comportamento espectral dos alvos.
ANDERSON, J. R. Sistema de classificação do uso da terra e do
revestimento do solo para utilização dos dados de sensores remotos. Rio
de Janeiro: Supren, 1979.
ANDRADE, J. B. Fotogrametria. Curitiba: Sbee, 1998.
BLASCHKE, T; KUX, H (org.). Sensoriamento remoto e sig avançados:
novos sistemas sensores métodos inovadores. São Paulo: Oficina de
Textos, 2005.
LOCH, C; LAPOLLI, É. M. Elementos básicos da fotogrametria e sua
utilização prática. Florianópolis: Ufsc, 1998.
MOREIRA, M. A. Fundamentos do sensoriamento remoto e
metodologias de aplicação. Viçosa: UFV, 2003.
DISPERATI, A. A. Obtenção e uso de fotografias aéreas de pequeno
formato. Paraná: Ufpr, 1991.
____. Fotografias aéreas inclinadas. Curitiba: UFPR, 1995.
FLORENZANO, T. G. Imagens de satélite para estudos ambientais. São
Paulo: Oficina de Textos, 2002.
LAMPARELLI, R. A. C; ROCHA, J. V; BORGHI, E. Geoprocessamento e
57
agricultura de precisão: fundamentos e aplicações. Guaíba:
Agropecuária, 2001.
MARCHETTI, D. A. B. Princípios de fotogrametria e fotointerpretação.
São Paulo: Nobel, 1978.
MENDES, C. A. B; CIRILO, J. A. Geoprocessamento em recursos
hídricos princípios, integração e aplicação. Porto Alegre: Abrh, 2001.
NOVO, E. M. M. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. São
Paulo: Edgard Blücher, 1992.
SILVA, J. X. Geoprocessamento para análise ambiental. Rio Janeiro: O
autor, 2001.
SILVA, A. B. Sistemas de informações geo-referenciadas: conceitos e
fundamentos. Campinas: Unicamp, 2003.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
GRO
Solos e Ambiente
Ciência do solo. Classes de solos do Brasil. Solos e ambiente. Solos do
Rio Grande do Sul. Educação geográfica e estudo do solo.
OLIVEIRA, J. B. Pedologia aplicada. Jaboticabal: Funep, 2001.
RESENDE, M, C. N; RESENDE, S. B; CORRÊA, G. F. Pedologia: base
para distinção de ambientes. Viçosa: Neput, 1995.
EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro:
Embrapa, 1999.
KLAMT, E. D. R. S. D et al. Proposta de normas e critérios para
execução de levantamentos semi-detalhados de solos e para avaliação
da aptidão agrícola das terras. Pelotas: NRS, 2000.
LEPSCH, I (coord.). Manual para levantamento utilitário do meio físico e
classificação de terras no sistema de capacidade de uso. Campinas:
Sbcs, 1991.
____. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de Textos,
2002.
LEMOS, R. C; SANTOS, R. D. Manual de descrição e coleta no campo.
Campinas: Sbcs, 1996.
Atividades curriculares complementares
Código
ACC404
Disciplina
Observação da Paisagem Indígena: Uma Análise Espacial Integrada
Ementa
Estudo analítico de diferentes aspectos do espaço geográfico da região
do planalto rio-grandense.
Bibliografia
PESAVENTO, S. J. História do Rio grande do Sul. Porto Alegre:
básica
Mercado Aberto, 1980.
VIEIRA, E. F; RANGEL, S. R. S. Rio Grande do Sul: geografia física e
vegetação. Porto Alegre: Sagra, 1984.
Bibliografia
VIEIRA, E. F; RANGEL, S. R. S. Geografia econômica do Rio Grande do
complementar
Sul: espacialidade/temporalidade na organização econômica riograndense. Porto Alegre: Sagra, 1993.
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
ACC405
Serra do Rio do Rastro: Uma Análise Espacial Integrada
Estudo analítico de diferentes aspectos do espaço geográfico da região
da Serra do Rio do Rastro/SC.
MENEGAT, R (coord.) Atlas ambiental de Porto Alegre. Porto Alegre:
Ufrgs, 1998.
MORENO, J. A. Clima Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Secretaria da
Agricultura, 1961.
VIEIRA, E. F; RANGEL, S. R. S. Geografia econômica do Rio Grande do
58
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Sul: espacialidade, temporalidade na organização econômica do Rio
Grandense. Porto Alegre: Sagra, 1993.
REIS, B. G. Aspectos gerais do clima do estado. Porto Alegre: Incra,
1969.
ACC406
Percepção do Oeste Catarinense
Estudo analítico de diferentes aspectos do espaço geográfico da região
do oeste catarinense.
FERREIRA, M. G. L; MARTINELLI, M. Atlas geográfico: espaço mundial.
São Paulo: Moderna, 2002.
GUERRA, A. T. Dicionário geológico-geomorfológico. Rio de Janeiro:
IBGE, 1978.
MAGNOLI, D et al. Conhecendo o Brasil: região sul. São Paulo:
Moderna, 1996.
OLIVEIRA, C. Dicionário cartográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1983.
SANTOS, M. O espaço interdisciplinar. São Paulo: Nobel, 1986.
AYOADE, J. Introdução à climatologia para os trópicos. São Paulo: Difel,
1986.
BRINKMANN, R. Geologia geral. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbeenkian, 1974.
CHISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blücher, 1974.
MARTINS, C. Biogeografia e ecologia. São Paulo: Nobel, 1985.
PETRI, S; FÚLFARO, V. J. Geologia do Brasil. São Paulo: T. A. Queiroz,
1983.
PINTO, N. S. Hidrologia Básica. São Paulo: Edgard Blücher, 1979.
ACC407
Paisagem Litorânea: Observação e Análise dos Aspectos Geográficos
Estudo analítico de diferentes aspectos do espaço geográfico do litoral
do Rio Grande do Sul.
PESAVENTO, S. J. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 1980.
SANTOS, M. O espaço interdisciplinar. São Paulo: Nobel, 1986.
VIEIRA, E. F; RANGEL, S. R. S. Rio Grande do Sul: Geografia física e
vegetação. Porto Alegre: Sagra, 1984.
____.
Geografia
econômica
do
Rio
Grande
do
Sul:
espacialidade/temporalidade na organização econômica rio-grandense.
Porto Alegre: Sagra, 1993.
COSTA, R. H. Espaço e sociedade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 1985.
MAGNOLI, D. Cenário gaúcho: representações históricas e geográficas.
São Paulo: Moderna, 2001.
ACC408
Missões: Uma Análise Espacial Integrada
Estudo analítico de diferentes aspectos do espaço geográfico das
Missões/RS.
AYOADE, J. Introdução à climatologia para os trópicos. São Paulo: Difel,
1986.
BRINKMANN, R. Geologia geral. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbeenkian, 1974.
CHISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blücher, 1974.
COSTA, R. H. Espaço e sociedade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 1995.
59
Bibliografia
complementar
MAGNOLI, D. Cenário gaúcho: representações históricas e geográficas.
São Paulo: Moderna, 2001.
MARTINS, C. Biogeografia e ecologia. São Paulo: Nobel, 1985.
PETRI, S; FÚLFARO, V. J. Geologia do Brasil. São Paulo: T. A. Queiroz,
1983.
PINTO, N. S. Hidrologia Básica. São Paulo: Edgard Blücher, 1979.
Código
Disciplina
Ementa
ACC409
Aparados da Serra: Uma Análise Espacial Integrada
Estudo analítico de diferentes aspectos do espaço geográfico (dos) DOS
Aparados da Serra.
AYOADE, J. Introdução à climatologia para os trópicos. São Paulo: Difel,
1986.
BRINKMANN, R. Geologia geral. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbeernkian, 1974.
CHISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blücher, 1974.
COSTA, R. H. Espaço e sociedade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 1995.
MAGNOLI, D. Cenário gaúcho: representações históricas e geográficas.
São Paulo: Moderna, 2001.
MARTINS, C. Biogeografia e ecologia. São Paulo: Nobel, 1985.
PETRI, S; FÚLFARO, V. J. Geologia do Brasil. São Paulo: T. A. Queiroz,
1983.
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
Bibliografia
complementar
Código
Disciplina
Ementa
Bibliografia
básica
ACC410
Vale do Itajaí: Análise Espacial
Estudo analítico de diferentes aspectos do espaço geográfico da região do
Vale do Itajaí.
AYOADE, J. Introdução à climatologia para os trópicos. São Paulo: Difel,
1986.
BRINKMANN, R. Geologia geral. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbeernkian, 1974.
MAGNOLI, Demétrio (org.). Conhecendo o Brasil: região sul. São Paulo:
Moderna, 1996.
SANTOS, Milton. O espaço interdisciplinar. São Paulo: Nobel, 1986.
CHISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blücher, 1974.
FERREIRA, Maria Graça Lemos; MARTINELLI, Marcelo. Atlas geográfico:
espaço mundial. São Paulo: Moderna, 2002.
GUERRA, Antonio Teixeira. Dicionário geológico-geomorfológico. Rio de
Janeiro: Ibge, 1978.
MARTINS, Celso. Biogeografia e ecologia. São Paulo: Nobel, 1985.
OLIVEIRA, C. Dicionário cartográfico. Rio de Janeiro: Ibge, 1983.
PETRI, S; FÚLFARO, V. J. Geologia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1983.
ACC411
Colônia de Sacramento: uma análise espacial integrada
Estudo analítico de diferentes aspectos do espaço geográfico da região da
Colônia do Sacramento.
FERREIRA, Maria Graça Lemos; MARTINELLI, Marcelo. Atlas geográfico:
espaço mundial. São Paulo: Moderna, 2002.
GUERRA, Antonio Teixeira. Dicionário geológico-geomorfológico. Rio de
Janeiro: IBGE, 1986.
PESAVENTO, Sandra J. História do Rio grande do Sul. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 1980.
VIEIRA, Euripedes Falcão; RANGEL, Susana Regina Salum. Rio Grande
do Sul: geografia física e vegetação. Porto Alegre: Sagra, 1984.
60
Bibliografia
complementar
LAZZAROTTO. Danilo. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre:
Sulina, 1986.
MAGNOLI, Demétrio. Cenário gaúcho: representações históricas e
geográficas. São Paulo: Moderna, 2001.
VIEIRA. E. F. V. Rio Grande do Sul: geografia da população. Porto Alegre:
Sagra, 1985.
____.
Geografia
econômica
do
Rio
Grande
do
Sul:
espacialidade/temporalidade na organização econômica do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre: Sagra, 1993.
VERDUM. Luis Alberto Basso e outros. Rio Grande do Sul: paisagens e
territórios em transformação. Porto Alegre: UFRGS, 2004.
61
Anexo 2 - Infraestrutura
Espaço
Salas de aula
Descrição dos equipamentos
Salas para aulas teóricas, com
mesas para estudantes e professor e
quadro de giz.
Sala para coordenação
- 1 computador,
- 1 armário,
- 1 escrivaninha,
- 3 cadeiras e ar condiciondo.
Salas de reuniões
Mesas para reuniões, cadeiras, ar
condicionado.
Salões
Cadeiras estofadas, sistema de som
Salas de estudo para - 2 computadores,
professores
- 1 mesa para reuniões,
- 1 escrivaninha.
Laboratório de Geografia
- 1 armário,
- 1 mesa para desenho com banco;
- 1 mesa de luz;
- 1 mesa para reuniões;
- 1 mesa individual;
- 11 cadeiras estofadas; 02 balcões;
- 2 microcomputadores;
- 1 impressora
Laboratório
de Relação dos globos:
Cartografia e Mineralogia - 1 globo político da Terra. Escala: 1:
42.000.000.
- 1 globo político da Terra. Escala: 1:
40.000.000.
- 1 globo físico da Terra.
Escala: 1: 40.000.000.
Relação dos materiais:
- 17 balcões de vidro: 1,10 x 1,10 x
45 para amostra dos minerais;
- 1 pia inox; 1 pia mármore; 2
balcões 80 x 1,30 x 40;
- 1 balança de precisão;
- 2 cadeiras estofadas;
- 1 banco estofado;
- 1 mesa digitalizadora 1,10 x 0,90 x
1,20;
- 2 mesas de fórmica 60 x 1,10 x 80;
- 1 mesa para o professor;
- 20 mesas duplas;
- 41 cadeiras estofadas;
- 1 retroprojetor;
- 10 estereoscópios de Bolso;
- 1 estereoscópio de espelho;
- 3 curvímetros;
- 3 pantógrafos de Madeira - 60cm;
- 3 pantógrafos de Madeira - 40cm;
- 1 pantógrafo Profissional;
- 1 computador (Pentium, 133) com
impressora;
- 1 Mapoteca; cinco canos de PVC (1
m x 15 cm) para guardar cartas
Localização
Salas 110, 111, 112 e
113.
Sala 207, prédio 2
Salas 227, 228 e 109,
prédio 2
Salão azul
Sala 311-A, prédio 4.
Sala 311-A, prédio 4
Sala 315, prédio 4
62
topográficas;
- 58 cartas topográficas da Região
Sul;
- 100 cartas topográficas da Região
Centro-Oeste;
- 82 cartas topográficas da Região
Sudeste. uma bússola geológica;
cinco lupas estereoscópias com
aumento de 17x;
- 3 lupas de mão; um martelo de
geólogo;
- 122 exemplares de fósseis
(coleção); uma tabela de minerais;
- 1 quadro de minerais;
- 60 modelos cristalográficos;
- 1 sistema multimídia para descrição
e classificação de minerais.
Relação de painéis:
- 1 painel sobre: levantamento de
reconhecimento dos solos do Estado
do Rio Grande do Sul. Escala: 1:
750.000;
- 1 painel sobre: carta de relevo e
sistema rodoviário do Estado do Rio
Grande do Sul. Escala: 1: 750.000. - 1 painel sobre: mapa geológico do
Estado do Rio Grande do Sul.
Escala: 1: 1.000.000.
- 1 painel sobre: mapa de unidades
de relevo do Brasil. Escala: 1:
5.000.000;
- 1 painel sobre: mapa tectônico do
Brasil. Escala: 1: 5.000.000;
- 1 painel sobre: mapa tectônico da
América
do
Sul. Escala:
1:
5.000.000.
- 1 painel sobre: mapa geológico do
mundo. Escala: 1: 25.000.000;
- 1 painel sobre: mapa tectônicogeológico do Brasil. Escala: 1:
7.000.000;
- 1 painel sobre: mapa de depósitos
minerais selecionados e de garimpos
do Brasil. Escala: 1: 7.000.000;
- 1 painel sobre: mapa geológico da
América
do
Sul. Escala:
1:
5.000.000;
- 1 painel sobre: mapa de solos do
Rio Grande do Sul. Escala: 1:
1.800.000;
- 1 painel sobre: mapa morfológico
do Rio Grande do Sul. Escala: 1:
750.000;
- 1 painel sobre: mapa geológico do
Brasil. Escala: 1: 2.500.000;
63
Anexo 3 - Normas que disciplinam o trabalho final de graduação
Resolução n. 28/2007, de 30 de agosto de 2007, do
Conselho Universitário
Dispõe sobre as normas para elaboração, desenvolvimento
e apresentação do trabalho final de graduação
Art. 1º - A elaboração, desenvolvimento e apresentação de um trabalho final de
graduação constitui exigência para a integralização curricular, a colação de grau e a
obtenção do diploma em todos os cursos de graduação.
Art. 2º - O trabalho final de graduação constituiu-se num trabalho acadêmico, baseado
na análise de um problema específico e elaborado de acordo com as normas do método
científico.
Parágrafo único - O tema do trabalho final de graduação é de livre escolha do
estudante, desde que observada a proximidade temática com as linhas de pesquisa, de
extensão ou com as possibilidades do corpo de orientadores do curso.
Art. 3º - O trabalho final de graduação tem por finalidades estimular o desenvolvimento
da iniciação científica e avaliar os conhecimentos teóricos e técnicos essenciais às
condições de qualificação do estudante, para o seu acesso ao exercício profissional.
Art. 4º - Para a matrícula, na disciplina Trabalho Final de Graduação I e Trabalho Final
de Graduação II, o estudante deverá ter sido aprovado nas disciplinas até o semestre
anterior ao da oferta das referidas disciplinas.
Art. 5º - A orientação das atividades acadêmicas, desenvolvidas no âmbito do trabalho
final de graduação, será realizada por um professor especialmente designado para tal fim.
§ 1º - Pode orientar o desenvolvimento de trabalho final de graduação o professor que
tiver aprovação, concedida pelo Colegiado do curso, para integrar o corpo de orientadores
do respectivo curso.
§ 2º - Compete à coordenação do curso encaminhar ao Colegiado, por meio de
processo formal, a solicitação de definição do corpo de orientadores, com as respectivas
temáticas.
§ 3º - Constituem critérios para a composição do corpo de orientadores a produção
acadêmica, o desempenho de atividade profissional e a ética na produção técnico-científica.
§ 4º - As coordenações dos cursos têm o prazo de sessenta dias, a contar da
publicação dessa resolução para definir, publicar e promover ampla divulgação, junto aos
estudantes, da composição do corpo de orientadores e das respectivas temáticas.
Art. 6º - Cada professor poderá orientar, concomitantemente, até dez estudantes,
contadas as diferentes orientações acadêmicas.
Parágrafo único - Para a orientação das atividades acadêmicas desenvolvidas no
âmbito do trabalho final de graduação, cada professor tem o encargo de uma hora semanal
por orientando.
Art. 7º - A substituição de orientador pode ocorrer, desde que solicitada pelo
estudante, por meio de requerimento fundamentado e se for aprovada pelo Colegiado do
curso.
Art. 8º - Na disciplina de Trabalho Final de Graduação I, a verificação do rendimento
acadêmico realiza-se por meio da avaliação do projeto de estudo correspondente e de
outras atividades previstas no plano de ensino da disciplina.
§ 1º - A avaliação do projeto de estudo fica a cargo do professor responsável pela
disciplina, ou do professor orientador, que poderá observar critérios de avaliação definidos
pelo Colegiado do curso.
64
§ 2º - Devido às características próprias da disciplina Trabalho Final de Graduação I, a
prestação de exame final não faz parte do processo de avaliação.
§ 3º - O estudante cujo desempenho não atingir média sete deverá reelaborar, no
semestre em curso, no prazo a ser definido pelo Colegiado do curso, em parte ou em sua
totalidade, as atividades previstas no plano de ensino da disciplina.
§ 4º - O estudante que não cumprir o prazo concedido para a reelaboração do trabalho
final de graduação ou que, após reelaborar as atividades previstas no plano de ensino da
disciplina, não atingir média final igual ou superior a cinco, será considerado reprovado.
Art. 9º - No início do semestre letivo correspondente à oferta da disciplina Trabalho
Final de Graduação II, a coordenação do curso, ou o órgão por ela designado, deve entregar
a cada professor orientador uma cópia do projeto de estudo dos matriculados na disciplina
sob a sua orientação.
§ 1º - O estudante entregará a primeira versão do trabalho final de graduação ao seu
professor-orientador até cinco semanas antes do prazo fixado no calendário acadêmico para
o término do período de aulas do semestre.
§ 2º - O professor-orientador tem o prazo de uma semana para avaliar a primeira
versão do trabalho final de graduação e fazer observações e sugestões, quando for o caso,
para a melhoria da versão definitiva.
§ 3º - O texto do trabalho final de graduação para a avaliação da banca deve ser
entregue, pelo professor-orientador, à coordenação do curso, ou ao órgão por ela
designado, até uma semana antes do prazo fixado no calendário escolar para o término do
período de aulas do semestre.
§ 4º - O texto final deve ser acompanhado do formulário de solicitação de constituição
de banca examinadora, subscrito pelo professor-orientador.
§ 5º - Após a avaliação e aprovação da banca, a versão final do trabalho final de
graduação, observadas a normas da Abnt, deve ser entregue à coordenação do curso, ou
ao órgão por ela designado, em duas vias: uma impressa, sob a forma de monografia ou de
artigo publicável, e outra em arquivo eletrônico, em formato PDF, gravado em mídia digital.
Art. 10 - A verificação do rendimento acadêmico do estudante matriculado na disciplina
Trabalho Final de Graduação II é realizada por uma banca examinadora constituída pelo
orientador, como seu presidente, e por mais dois professores por ele sugeridos e
designados pela coordenação do curso, ou pelo órgão por ela delegado.
§ 1º - A indicação e a designação dos integrantes das bancas examinadoras levarão
em conta, preferentemente, a vinculação dos examinadores à temática do trabalho final de
graduação a ser avaliado.
§ 2º - É facultada participação de avaliadores de outras instituições, desde que não
implique em encargos financeiros.
Art. 11 - O Colegiado do curso pode optar em definir, como forma de avaliação do
trabalho final de graduação, a sustentação oral do trabalho desenvolvido ou pareceres
individuais, por escrito, da banca examinadora.
§ 1º - Em caso de defesa oral, o tempo de apresentação poderá ser de até trinta
minutos, prorrogáveis, a critério da banca examinadora.
§ 2º - Cada membro da banca examinadora terá o tempo de até trinta minutos para a
arguição do trabalho apresentado.
Art. 12 - O trabalho final de graduação será considerado aprovado se, pela média
aritmética das três notas atribuídas pelos integrantes da banca, o resultado for igual ou
superior a sete, cumpridos ainda os requisitos de frequência mínima à programação feita na
disciplina.
§ 1º - A coordenação do curso, ou o órgão por ela designado, com a aprovação do
respectivo colegiado, pode estabelecer critérios de avaliação a serem observados pela
banca examinadora.
§ 2º - Devido às características próprias da disciplina Trabalho Final de Graduação II,
a prestação de exame final não faz parte do processo de avaliação.
65
§ 3º - Após o parecer da banca, o estudante cujo desempenho não atingir média sete
deverá, no semestre em curso, replanejar e reexecutar, em parte ou em sua totalidade, as
atividades previstas no projeto de trabalho.
§ 4º - Cabe à coordenação do curso, ou ao órgão por ela designado, definir o prazo e
a forma para a reapresentação do trabalho, que será avaliado pelos mesmos integrantes da
banca designada para a primeira avaliação.
§ 5º - O prazo, a ser definido pela coordenação do curso, observará as datas de
encerramento do semestre letivo dispostas no calendário acadêmico.
§ 6º - O estudante que, após replanejar e reexecutar as atividades previstas no projeto
de trabalho, não atingir média final igual ou superior a cinco, será considerado reprovado.
Art. 13 - Em caso de plágio, desde que comprovado, o estudante estará sujeito ao
regime disciplinar previsto no Regimento Geral.
Parágrafo único - Constitui plágio o ato de assinar, reproduzir ou apresentar, como de
autoria própria, partes ou a totalidade de obra intelectual de qualquer natureza (texto,
música, pictórica, fotografia, audiovisual ou outra) de outrem, sem referir os créditos para o
autor.
Art. 14 - O horário da orientação, nas disciplinas de Trabalho Final de Graduação I e
Trabalho Final de Graduação II, não pode coincidir com o horário das demais disciplinas em
que o estudante está matriculado.
§ 1º - Cabe ao orientador e ao estudante, de comum acordo, definirem os horários
destinados para orientação e desenvolvimento das atividades previstas no plano de ensino
da disciplina.
§ 2º - Cabe à coordenação do curso, ou ao órgão por ela designado, estabelecer
critérios e formas de acompanhamento ou registro da frequência e das atividades
desenvolvidas na disciplina.
Art. 15 - Os direitos e deveres dos estudantes matriculados nas disciplinas de
Trabalho Final de Graduação I e Trabalho Final de Graduação II, são os mesmos
estabelecidos para as demais disciplinas, ressalvadas as disposições da presente
normativa.
Art. 16 - Os casos omissos são resolvidos pelo colegiado do curso, com recurso aos
colegiados superiores.
Art. 17 - A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a
resolução 3/01, de 29 de março de 2001, e demais disposições em contrário.
Critérios de avaliação do trabalho final de graduação
O Colegiado do Curso de Geografia estabelece, no uso de suas atribuições, os
critérios de avaliação para o trabalho final de graduação, abaixo elencados:
Atribuição de valores:
- fica estabelecido o valor seis para o trabalho escrito e quatro para a apresentação.
Quanto à execução do trabalho, o estudante deverá:
- seguir, obrigatoriamente, as linhas de pesquisa e extensão do curso;
- seguir o cronograma estabelecido no projeto de pesquisa;
- comparecer às reuniões estabelecidas pelo orientador e assinar a ficha de presença;
- comprometer-se com as atividades de pesquisa propostas pelo orientador;
- apresentar avanços semanais de leitura, de construção do referencial teórico e de
levantamento de dados;
- submeter o trabalho à apreciação final do orientador para encaminhá-lo à banca,
bem como a organização da apresentação oral do trabalho construído;
- fazer a defesa oral da pesquisa realizada.
66
Quanto ao trabalho escrito, o estudante deverá:
- redigir a versão final do trabalho final de graduação de acordo com as normas
técnicas específicas para esse caso, ou seja, seguir as normas recomendadas pela
Instituição e, se necessário, para casos especiais, consultar as normas da ABNT.
- apresentar os eixos temáticos do instrumento de pesquisa no momento da descrição
da metodologia, bem como seguir orientações teórico-práticas construídas na disciplina de
Metodologia Científica e Metodologia da Pesquisa em Geografia;
- discutir os dados levantados pela pesquisa à luz dos referenciais teóricos;
- revelar ética e honestidade intelectual;
- encaminhar o texto final à revisão do português, antes de ser distribuído à banca
para avaliação.
Quanto à apresentação, o estudante deverá:
- ter domínio da estrutura do trabalho acadêmico;
- ter domínio do equipamento a ser usado (recursos didáticos ou audiovisuais);
- ter postura acadêmica diante da banca e do público presente;
- manifestar domínio teórico do trabalho construído.
- respeitar o tempo definido de vinte minutos para a defesa oral e dez minutos para a
manifestação da cada integrante da banca examinadora;
- apresentar a defesa durante o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unifra,
em consonância com o orientador ou em data previamente definida pela coordenação do
curso;
Observações:
- a banca reunir-se-á posteriormente a defesa, para avaliação final;
- não deverá ser incluído o modelo de instrumento de pesquisa no corpo do trabalho;
- o professor orientador deverá estar cadastrado na linha de pesquisa em que for
orientar;
- o estudante poderá solicitar troca de orientador em consonância com as normas da
Unifra;
- o orientador poderá solicitar a troca de orientação em consonância com as normas
da Unifra;
- em casos de produções diferenciadas e que atendam às especificidades da proposta
de pesquisa, em consonância com o orientador, poderão apresentar outra estrutura desde
que prevaleça o rigor acadêmico.
- casos omissos serão avaliados pela banca e pelo coordenador de Curso.
- a manifestação dos integrantes da banca deverá revelar uma análise criteriosa do
trabalho avaliado e conduta ética.
Eixos temáticos:
Os eixos temáticos que podem ser objeto de estudo nos trabalhos de conclusão de
curso são: geografia e meio ambiente, o ensino de geografia, a geografia e turismo, a
paisagem natural, a produção e organização do espaço urbano, a produção e organização
do espaço agrário e população e sua dinâmica.
67
Anexo 4 - Normas que disciplinam o funcionamento dos estágios
Art. 1º - O estágio curricular supervisionado, como parte constituinte dos currículos
dos cursos de formação de professores mantidos pelo Centro Universitário Franciscano de
Santa Maria, caracteriza-se como uma atividade acadêmica de caráter obrigatório e
obedece às normas estabelecidas pela legislação específica, pelo Estatuto, pelo Regimento
Geral e pelos demais atos normativos da instituição.
Parágrafo único: Os cursos de formação de professores mantidos pelo Centro
Universitário Franciscano de Santa Maria são Filosofia, Geografia, História, Letras:
habilitação Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Letras: Línguas
Portuguesa e Inglesa e Respectivas Literaturas, Matemática, Pedagogia e Química.
Art. 2º - O estágio curricular supervisionado é um componente curricular do processo
de formação acadêmica e profissional dos cursos de formação de professores. É
desenvolvido em campos de atuação profissional, com vistas à construção e socialização do
conhecimento e à inserção do estudante no mundo do trabalho.
Art. 3º - O estágio curricular supervisionado é organizado com vistas a assegurar:
I - a formação acadêmico-profissional do estagiário;
II - a inserção do estagiário na vida econômica, política e sociocultural;
III - o desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional;
IV - a integração teórico-prática dos conhecimentos, habilidades e competências
desenvolvidas no decorrer dos cursos de formação de professores, inerentes às áreas de
formação;
V - o desenvolvimento de situações de prática docente em que o estudante possa
interagir com as realidades educacionais.
Art. 4º - A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado nos cursos de
formação de professores é de quatrocentas horas de atividades teórico-práticas.
Parágrafo único: No curso de Pedagogia, a carga horária mínima do estágio
curricular supervisionado é de trezentas horas de atividades teórico-práticas.
Art. 5º - O desenvolvimento do estágio curricular supervisionado dos cursos de
formação de professores tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito pedagógico, é
orientado pela equipe de professores vinculada ao Programa Integrado de Formação Inicial
e Continuada de Professores para Educação Básica, pelos representantes das Comissões
de Prática de Ensino e de Estágio Supervisionado dos respectivos cursos e supervisionado
pela Pró-Reitoria de Graduação.
Art. 6º - A supervisão acadêmica do estágio curricular supervisionado é obrigatória e
de responsabilidade do supervisor de estágio. Deve ser realizada de forma compartilhada
pelos supervisores acadêmicos e pelos supervisores profissionais, vinculados à unidade
concedente de estágio.
Parágrafo único - As atividades vinculadas ao desenvolvimento do estágio curricular
supervisionado devem ser planejadas por meio de projetos de trabalho orientados pelos
supervisores acadêmicos.
Art. 7º - Compete à equipe de professores vinculada ao Programa Integrado de
Formação Inicial e Continuada de Professores para Educação Básica:
I - acompanhar o processo de atualização educacional e a legislação inerente ao
estágio curricular supervisionado;
II - acompanhar e orientar as comissões de prática de ensino e estágio curricular
supervisionado;
III - elaborar instrumentos de coleta de dados relativos ao estágio curricular
supervisionado para análise e redimensionamento das práticas pedagógicas;
IV - avaliar, semestralmente, as atividades desenvolvidas pelas comissões de prática
de ensino e estágio curricular supervisionado;
68
IV - analisar propostas de atividades didático-pedagógicas referentes ao estágio
sugeridas pelas comissões de prática de ensino e estágio curricular supervisionado;
V - manter interelação com as coordenações dos cursos de formação de professores
para uma contínua avaliação do estágio curricular supervisionado.
Art. 8º - Compete à Comissão de Prática de Ensino e Estágio Curricular
Supervisionado de cada curso:
I - elaborar as diretrizes do projeto de estágio curricular supervisionado do respectivo
curso;
II - subsidiar os supervisores do estágio nas atividades didático-pedagógicas e
orientar a elaboração dos projetos de estágio curricular supervisionado;
III - orientar o professor supervisor de estágio nos casos não-previstos nas diretrizes
de estágio curricular supervisionado;
IV - analisar a documentação comprobatória das ações desenvolvidas pelos
professores supervisores;
V - promover encontros com todos os professores do curso para discutir questões
pedagógicas e administrativas inerentes ao trabalho de prática de ensino e estágio curricular
supervisionado;
VI - promover a avaliação semestral das atividades de prática de ensino e estágio
supervisionado desenvolvida no âmbito do respectivo e curso.
Art. 9° - Compete ao professor supervisor de estági o:
I - definir os campos de estágios conforme a disponibilidade institucional;
II - planejar o desenvolvimento e a avaliação das atividades relacionadas com o
projeto de estágio sob sua responsabilidade;
III - orientar o planejamento e a execução das atividades do estagiário;
IV - supervisionar e acompanhar o desempenho do estagiário e o processo
pedagógico por meio de fichas, relatos de experiências, planos de trabalho, roteiros,
observações e outros instrumentos que julgar apropriados;
V - registrar, em instrumentos adequados, as ocorrências e as orientações,
proporcionadas aos estagiários;
VI - promover a avaliação das atividades desenvolvidas no estágio, em cada
semestre letivo, e encaminhar os resultados à Comissão de Prática de Ensino e Estágio
Curricular Supervisionado do curso;
VII - planejar, sempre que necessário, o desenvolvimento de atividades
alternativas, com vistas à melhoria do desempenho do estagiário.
Art. 9º - Compete ao estagiário:
I - integrar-se em atividades propostas pelas instituições;
II - desenvolver, sob orientação do professor supervisor, atividades previstas no
projeto de estágio curricular supervisionado;
III - comparecer às reuniões de orientação e planejamento estabelecidas no
horário da disciplina e pelo professor supervisor de estágio;
IV - evidenciar ética profissional, responsabilidade e interação com o ambiente
profissional;
V - buscar fundamentação teórica que lhe oportunize um trabalho pedagógico
consistente, diversificado e inovador, apoiando-se em referências bibliográficas atualizadas;
VI - comparecer, assídua e pontualmente, ao local do estágio;
VII - comunicar ao supervisor do estágio curricular supervisionado, com
antecedência, qualquer alteração no cronograma de estágio curricular supervisionado;
VIII - entregar ao supervisor documentos comprobatórios do estágio curricular
supervisionado e demais trabalhos solicitados.
Art. 10 - Compete aos representantes das unidades concedentes de estágio:
I - oportunizar espaço para que o estagiário possa desenvolver as atividades
previstas no projeto de estágio;
69
II - permitir ao estudante a oportunidade para apresentar projetos que
acrescentem ideias inovadoras para o desenvolvimento do processo educativo;
III - informar ao supervisor sobre o andamento das ações educativas do estágio
curricular supervisionado;
IV - emitir parecer avaliativo das ações desenvolvidas pelo estagiário.
Art. 11 - Na avaliação do estagiário, além dos conhecimentos e habilidades
evidenciadas e pertinentes à habilitação específica, são consideradas as referentes à ética
profissional e responsabilidade; a qualidade da formação acadêmico-profissional e as
condições do campo para o desenvolvimento de um estágio academicamente mais
qualificado à formação profissional.
§ 1º - A avaliação, periódica e sistemática, deve ser levada a efeito pela análise dos
documentos comprobatórios do desempenho do estagiário nas atividades previstas no
projeto de estágio curricular supervisionado.
§ 2º - Como instrumentos de avaliação podem ser utilizados o relatório do estagiário
e outros julgados pertinentes, bem como os relatórios de acompanhamento do professor
supervisor, do profissional responsável na instituição em que o estudante realiza o estágio.
§ 3º - Dadas às características próprias do estágio curricular supervisionado, a
prestação de exame final não faz parte do processo de avaliação.
§ 4º - Será considerado aprovado, por média, o estagiário que obtiver nota igual ou
superior a sete (7,0).
§ 5º - Após o parecer do supervisor, o estudante, cujo desempenho não atingir média
sete (7,0), por não corresponder às dimensões teórico-práticas na realização das ações
educativas do estágio curricular supervisionado, deverá, no semestre em curso, replanejar e
reexecutar, em parte ou em sua totalidade, as atividades previstas no projeto de trabalho.
§ 6º - O estudante que, após replanejar e reexecutar as atividades previstas no
projeto de trabalho, não atingir média final igual ou superior a cinco (5,0) será considerado
reprovado.
§ 7º - A frequência, nas atividades no campo de estágio, deverá ser de cem por
cento (100%) e, nas orientações de estágio, deverá ser, no mínimo, de setenta e cinco por
cento (75%).
Art. 12 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Pró-Reitoria de
Graduação.
70
Anexo 5 - Normas que disciplinam o registro de atividades curriculares
complementares
Resolução n. 27/2007, de 30 de agosto de 2007, do Conselho
Universitário
Dispõe sobre o registro de atividades curriculares
complementares nos cursos de graduação
Art. 1º - Os currículos plenos dos cursos de graduação são constituídos por disciplinas
obrigatórias e por atividades curriculares complementares.
Art. 2º - As atividades curriculares complementares objetivam oferecer espaço, na
dinâmica curricular, a conteúdos disciplinares; temas do cotidiano; atividades teóricopráticas, ligadas à atualidade e geradas pelo avanço do conhecimento em estudo, que não
tenham sido contempladas no currículo do curso.
Art. 3º - As atividades curriculares complementares são mecanismos que concorrem
para assegurar a atualização permanente e a flexibilidade curricular, preconizadas pelas
diretrizes curriculares para os cursos de graduação.
Art. 4º - A carga horária destinada às atividades curriculares complementares é
definida no projeto pedagógico de cada curso, observado o disposto nas diretrizes
curriculares nacionais.
Parágrafo único - A total integralização da carga horária das atividades curriculares
complementares é requisito para a colação de grau e obtenção do diploma.
Art. 5º - As atividades curriculares complementares abrangem as atividades
correspondentes à participação em cursos, congressos, seminários, palestras, jornadas,
conferências, simpósios, viagens de estudo, encontros, estágios não-obrigatórios, projetos
de pesquisa ou de extensão, atividades científicas, artísticas, culturais, de integração ou
qualificação profissional, monitoria, tutoria, publicação e apresentação de trabalhos
acadêmicos, estágios não-obrigatórios ou outras atividades definidas pelos colegiados dos
cursos.
Parágrafo único - Consideradas as especificidades de cada curso, compete ao
Colegiado definir a carga horária a ser atribuída a cada modalidade de atividade curricular
complementar.
Art. 6º - A atribuição de carga horária, para as atividades referidas no caput do art. 5º
desta resolução, deve ser solicitada pelo estudante por meio eletrônico e mediante o
pagamento de taxa, no prazo estabelecido no calendário acadêmico.
§ 1º - Compete ao Colegiado estabelecer critérios para determinar o número de
créditos a serem atribuídos às atividades curriculares complementares.
§ 2º - Compete à coordenação do curso analisar as atividades requeridas pelo
estudante e, se for o caso, validar o registro.
§ 3º - Poderá ser requerida atribuição de carga horária para atividades realizadas pelo
estudante a partir do semestre de ingresso no respectivo curso no Centro Universitário
Franciscano.
Art. 7º - As atividades curriculares complementares não serão aproveitadas para a
concessão de dispensa de disciplinas obrigatórias do currículo de vinculação do estudante.
Art. 8º - Os casos omissos são resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.
Art. 9º - Esta resolução entra em vigor nesta data, revogada a resolução n. 6/03, de 4
de setembro de 2003 e as demais disposições em contrário.
71
Anexo 6 - Regimento do colegiado do curso
Capítulo I
Da natureza e da constituição do colegiado
Art. 1º - O Colegiado de Curso é o órgão integrador e deliberativo do curso e tem a
seguinte composição:
I - o coordenador do curso, como seu presidente;
II - três docentes do curso, eleitos por seus pares;
III - um representante do corpo discente do curso, designado pelo respectivo diretório
acadêmico.
Parágrafo único - É de dois anos o mandato dos membros a que se refere o inciso II e
de um ano, do representante a que se refere o inciso III.
Capítulo II
Da competência do colegiado
Art. 2º - Compete ao Colegiado de Curso:
I - propor iniciativas vinculadas à inovação do ensino, à atualização do curso/programa
e à integração do mesmo com as demais atividades;
II - apreciar e aprovar o plano de ação do curso para cada período letivo;
III - apreciar e aprovar o projeto pedagógico do curso;
IV - aprovar o regulamento do estágio curricular do curso;
V - apreciar e propor ao Conselho de Área a alteração curricular do curso;
VI - definir critérios para aproveitamento de estudos, adaptações e transferência de
estudantes;
VII - promover a autoavaliação e propor iniciativas de intervenção em vista do
aperfeiçoamento do curso.
Capítulo III
Do presidente
Art. 3º - O Colegiado de Curso será presidido pelo coordenador do curso e, na sua
ausência ou impedimento, pelo docente mais antigo no magistério do Centro Universitário,
com formação ou titulação na área específica.
Art. 4º - Compete ao presidente, além de outras atribuições contidas neste
regulamento:
I - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - presidir os trabalhos do colegiado e organizar a pauta das sessões plenárias e a
respectiva ordem do dia;
III - orientar a distribuição de trabalhos e processos entre os membros do colegiado;
IV - dirigir os trabalhos, conceder a palavra aos membros do colegiado e coordenar os
debates e neles intervir para esclarecimentos;
V - exercer, no colegiado, o direito de voto e, nos casos de empate, o voto de
qualidade;
VI - registrar em ata e comunicar as decisões, quando pertinente, ao colegiado de
cursos da respectiva área ou aos órgãos de apoio à Instituição.
VII - cumprir e fazer cumprir as decisões do colegiado;
VIII - exercer a representação do colegiado.
Capítulo IV
Das sessões
Art. 5º - O Colegiado de Curso reunir-se-à por convocação do presidente, com a
indicação precisa da matéria a tratar.
72
Art. 6º - As sessões do Colegiado de Curso serão instaladas e só funcionarão com a
presença da maioria absoluta dos membros, que é o número legal para deliberação e
votação.
Parágrafo único – Com a presença do número legal dos membros da banca e
declarada aberta a sessão, proceder-se-á a discussão e votação da ata da sessão anterior,
após passar-se-á à expediente ordem do dia e às comunicações.
Art. 7º - A convocação para as sessões será feita com a assinatura do presidente por
circular ou por correio eletrônico, com o recebimento acusado, que contenha a pauta da
sessão e a ata da última sessão, com a antecedência mínima de 48 horas.
Capítulo V
Dos atos do colegiado
Art. 8º - As decisões do Colegiado de Curso tomarão forma de parecer.
Art. 9º - As decisões do colegiado, sob a forma de parecer, serão assinadas pelo
presidente.
Art. 10 - Das decisões do Colegiado de Curso cabe recurso ao Conselho da Área
respectiva, ressalvados os casos de estrita arguição de ilegalidade, que podem ser
encaminhadas ao Conselho Universitário.
Capítulo VI
Das disposições gerais
Art. 11 - Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado sob a forma de parecer
interno.
Art. 12 - o presente regulamento poderá ser reformado, total ou parcialmente, pelo
voto favorável da maioria absoluta dos membros do colegiado.
73
Anexo 7 - Normas para realização de viagens de estudo e trabalho de
campo no curso de Geografia
O Colegiado do Curso
estabelece, no uso de suas
critérios de avaliação e
relativos aos Trabalhos de
Viagens de Estudos:
de Geografia
atribuições, os
procedimentos
Campos e/ou
Justificativa
Uma atividade didático-pedagógica bastante presente no curso de Geografia do
Centro Universitário Franciscano são os Trabalhos de Campo (TC) ou Viagens de Estudos
realizados de forma integrada com disciplinas oferecidas ao longo de cada semestre letivo
ou disciplinas já cursadas pelo acadêmico. Eles são realizados tanto na modalidade de ACC
I como atividades complementares das disciplinas cursadas. Em qualquer uma das
modalidades essas atividades constam de seus roteiros com todas as etapas da atividade a
serem realizadas.
“O Trabalho de Campo como atividade pedagógica representa uma relevante
proposta metodológica para o processo de construção do conhecimento, pois através dele é
possível não só compreender e ler o espaço analisado, como também relacionar teoria com
a prática” (ALVES et al, 2002, p. 305).
Os trabalhos de campo realizados ao longo do Curso têm como objetivo promover
uma associação teoria-prática diante do espaço geográfico, garantindo um exame
contextualizado da diversidade de aspectos físico-naturais e sócio-econômicos
componentes da paisagem.
A produção do conhecimento geográfico ocorre também, em condutas metodológicas
que exercitem a observação investigativa e o olhar crítico-reflexivo através de atividades
como trabalhos de campo, pois a análise do espaço geográfico, numa dimensão integrada,
representa aproximação entre o estudo de recortes espaciais aos fundamentos construídos
ao longo de discussões acadêmicas.
Esta atitude metodológica aponta para um exercício de construção do conhecimento
em abordagem interdisciplinar. O objeto de estudo da Geografia configura, certamente,
fragmentos de uma realidade espaço-temporal, constituída por aspectos naturais e sociais
em interação dinâmica, que devam ser estudados a partir da articulação de múltiplos
aspectos geológico-geomorfológicos, climatobotânicos, hidrológicos, ambientais, bem como
de organização espacial e de realidades e perspectivas econômicas.
Considerando que na saída de campo/viagem de estudos as observações
acontecem in loco e que o participante constrói conhecimento e com isso constrói saberes é
que se justifica o estabelecimento de normas que nortearão esse tipo de atividade
acadêmica.
Atribuições do acadêmico matriculado na atividade de Viagens de Estudos
e/ou Saídas de campo:
- comparecer às reuniões estabelecidas pelo(s) professor(es) responsável(eis);
- seguir o plano de ensino estabelecido pelo(s) professor(es) responsável(eis);
- participar ativamente da viagem de estudo e/ou saída de campo;
- estar comprometido com a proposta do trabalho;
- cumprir com os prazos estabelecidos para a entrega do produto final da viagem;
- elaborar a apresentação da produção final;
- apresentar a produção final da atividade ao(s) professor(es) responsável(eis) para
ser avaliado;
- elaborar a apresentação final em consonância com as normas técnicas específicas
para esse caso, ou seja, seguir as normas recomendadas pela Instituição e, se necessário,
para casos especiais, consultar as normas da ABNT;
- observar a revisão de linguagem e, se necessário, encaminhar a um revisor;
74
- o comparecimento as reuniões de planejamento e orientação condiciona a
participação na viagem, ou seja, não compareceu às reuniões, não viaja.
- o não comparecimento na viagem implica na reprovação da disciplina.
Postura acadêmica durante a atividade de campo:
- o uso do som e imagem deve ser utilizado com moderação e respeitados os
momentos de explanação dos professores e questionamentos relacionados à atividade de
estudo, uma vez que o mesmo inibe a participação e interfere na concentração do aluno;
- a ingestão de bebida alcoólica, ou outra substância durante as etapas da atividade
(do embarque ao desembarque na Instituição) é considerada falta gravíssima sujeito às
penalidades constantes do Regimento do Centro Universitário Franciscano;
- o percurso e o roteiro deve ser seguidos sob a coordenação dos docentes
responsáveis pela atividade de campo;
- estar comprometido com a imagem institucional;
- ter compromisso acadêmico em todas as etapas da viagem;
- manter postura ética individual e coletiva, não perturbando a viagem e/ou hóspedes
em hotéis ou alojamento;
- zelar pela qualidade do trabalho a ser desenvolvido;
- desempenhar a função prospectiva de percepção e análise em todos os ambientes
de aprendizagem;
- observar e estar atento a todas as situações de aprendizagem;
- atender às solicitações emergenciais dos professores;
- manter o ambiente físico (ônibus ou outros) limpo;
- ser pontual nos horários estabelecidos;
- estar ciente e respeitar as normas disciplinares institucionais.
Quanto à apresentação do trabalho, o aluno deverá:
- manifestar domínio da estrutura do trabalho científico;
- manifestar domínio do equipamento a ser usado (recursos didáticos ou
audiovisuais);
- revelar postura acadêmica diante do público presente à apresentação;
- manifestar o domínio dos conteúdos que envolvem a viagem de estudo e/ou saída
de campo na apresentação em forma de seminário;
- revelar domínio das normas na elaboração do produto final;
- respeitar o tempo definido para responder ao questionamento do(s) professor(es)
participantes;
Atribuições ao professor responsável pela atividade de campo:
Como as viagens de estudos são consideradas atividades interdisciplinares, sempre
a proposta terá envolvimento de um ou mais professor responsável, de acordo com a
abordagem ou ênfase da proposta mencionada do projeto de cada viagem. Cabe a este(s)
professor(es):
- organizar o roteiro acadêmico;
- primar pela qualidade da aprendizagem;
- fornecer todas as informações a respeito da viagem de estudos;
- estimular a atenção para todas as oportunidades durante o percurso;
- realizar inserções didático-pedagógicas durante o percurso;
- buscar e decidir novas alternativas para situações inusitadas;
- revelar capacidade decisória em situações não previstas;
- zelar pela conduta acadêmica do grupo;
- estar atento ao comprometimento acadêmico do grupo com a imagem Institucional;
- tomar providências imediatas no sentido de evitar qualquer situação que venha
provocar constrangimento à Instituição;
- acompanhar os casos que por ventura possam surgir durante o percurso realizado.
75
Avaliação:
Todos os projetos de viagens de estudos preveem atividades avaliativas que
deverão estar contempladas no projeto. A metodologia poderá ser variada de dinâmica de
acordo com o objetivo da viagem bem como dos professores e disciplinas que dão
sustentabilidade para a proposta.
Observações:
- para o bom andamento e organização da saída de campo, o aluno deverá respeitar
horários e roteiros definidos;
- qualquer sugestão poderá ser apresentada, por escrito, mediante justificativa,
diretamente ao docente responsável pela atividade;
- o aluno que não entregar o trabalho final ficará impossibilitado de participar em
outra(s) proposta(s) a serem oferecidas pelo curso;
- nenhum participante poderá viajar sem estar munido dos documentos básicos
como carteira de identidade e CPF.
- caso utilize medicação ou necessite de acompanhamento especial, informar, por
escrito, aos responsáveis pela viagem;
- em caso de dúvidas ou esclarecimentos o acadêmico deverá se dirigir aos
responsáveis pela viagem, pois não é permitido ao aluno tomar iniciativas de forma
individualizada que não sejam de conhecimento e interesse do grande grupo;
- o aluno que desrespeitar qualquer item constante deste documento estará sujeito a
penalidades previstas (Capítulo V, do Regimento Geral, do Centro Universitário
Franciscano), assim como será impedido de fazer a matrícula para as próximas viagens;
- os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado de Curso e havendo necessidade
será encaminhado ao setor jurídico da Instituição;
- como se trata de uma atividade interdisciplinar, todo o professor participante,
deverá estar inserido na proposta e colaborar em todas as etapas do roteiro da viagem de
estudo e/ou saída de campo.
76
Anexo 8 - Regimento do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Art. 1º - O Núcleo Docente Estruturante de cada Curso de Graduação é responsável
pela elaboração, implementação, avaliação e desenvolvimento do respectivo Projeto
Pedagógico.
Art. 2º - O Núcleo Docente Estruturante será composto por docentes indicados pelo
Colegiado do Curso, sendo constituído de no mínimo cinco professores pertencentes ao
corpo docente do curso, tendo o Coordenador do Curso como Presidente.
Art. 3º - Os membros do Núcleo Docente Estruturante indicados pelo Colegiado do
Curso serão nomeados por portaria da Reitora para um mandato de 2 (dois) anos, podendo
haver recondução.
Art. 4º - O Núcleo Docente Estruturante deve atender aos seguintes critérios:
I.
possuir experiência docente na Instituição, ter liderança acadêmica
evidenciada pela produção de conhecimento na área, no âmbito do ensino e
atuar no desenvolvimento do curso;
II.
ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de Pós-graduação Stricto Sensu;
III.
ter, pelo menos, 80% do total de membros com o título de doutor para o curso
de Direito e 60% para os demais cursos;
IV.
ter todos os membros em regime de tempo parcial ou integral, sendo, pelo
menos, 20% em tempo integral.
Art. 5º - O Núcleo Docente Estruturante, de caráter consultivo, propositivo e
executivo em matéria acadêmica relacionada ao curso, tem as seguintes atribuições:
I.
assessorar a Coordenação do Curso e o respectivo Colegiado no processo
de concepção, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico;
II.
estabelecer a concepção e o perfil profissional do egresso do curso;
III.
avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso;
IV.
responsabilizar-se pela atualização curricular, submetendo-a à aprovação do
Colegiado de Curso, sempre que necessário;
V.
responsabilizar-se pela avaliação do curso, análise e divulgação dos
resultados em consonância com os critérios definidos pela Comissão Própria
de Avaliação (CPA) e pelo Colegiado do Curso;
VI.
analisar, avaliar e propor a atualização dos programas de ensino das
disciplinas e sua articulação com o Projeto Pedagógico do Curso;
VII.
propor iniciativas para a inovação do ensino;
VIII.
zelar pela integração curricular interdisciplinar das diferentes atividades do
currículo;
IX.
definir e acompanhar a implementação das linhas de pesquisa e de extensão;
X.
acompanhar a adequação e a qualidade dos trabalhos finais de graduação e
do estágio curricular supervisionado;
XI.
zelar pelo cumprimento das diretrizes institucionais para o ensino de
graduação e das diretrizes curriculares nacionais do curso.
Parágrafo único - As proposições do Núcleo Docente Estruturante serão submetidas
à apreciação e deliberação do Colegiado do Curso.
Art. 6º - O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á por convocação de iniciativa de
seu presidente ou pela maioria de seus membros.
Art. 7º - No prazo de 60 dias, a partir da data de aprovação da presente Resolução
pelo Conselho Universitário, o Núcleo Docente Estruturante de todos os Cursos de
Graduação deverá estar implementado.
77
Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela Pró-reitoria de
Graduação e em segunda instância pela Câmara de Ensino de Graduação.
78
Anexo 9 - Projeto de autoavaliação
1) Apresentação
O processo de avaliação institucional implementado nas instituições de ensino superior
promove uma análise reflexiva sobre suas ações administrativas e pedagógicas, na busca
da manutenção e melhoria da qualidade acadêmica e da gestão universitária.
Essa qualidade está atrelada a fatores internos e externos da instituição e perpassa pelo
processo de avaliação institucional, que tem por objetivo investigar, diagnosticar e fornecer
dados para a tomada de decisões em relação aos resultados obtidos sobre o ensino, a
pesquisa, a extensão e a gestão.
Assim, por meio do diagnóstico realizado pelo processo das avaliações institucional e
externa, será possível fazer uma autoavaliação da estrutura acadêmico-administrativa, bem
como analisar os pontos fortes e as dificuldades do curso, a fim de buscar alternativas que
favoreçam a sua revitalização.
Por meio da autoavaliação é possível estabelecer mecanismos capazes de sensibilizar a
comunidade acadêmica do curso, no sentido de construir uma cultura avaliativa, na qual
seja percebida a necessidade de reconhecer nossos limites e consolidar as potencialidades.
Para tanto, requer-se o envolvimento, cada vez maior, da comunidade acadêmica na
construção do conhecimento crítico-reflexivo.
2) Concepção
A autoavaliação é a possibilidade expressa do curso de Geografia de avaliar suas atividades
administrativas e pedagógicas, cujo objetivo é uma autorreflexão, com vistas ao
aperfeiçoamento das condições de aprendizagem.
A autoavaliação proporciona, enquanto processo permanente de autocrítica, formas de
revitalizar e inovação de ações que priorizam a participação democrática pautada no
respeito e na responsabilidade.
O projeto de autoavaliação do curso possibilita a identificação de êxitos e fragilidades, bem
como a redefinição de metas, com vistas à melhoria do ensino, da aprendizagem, da
produção do conhecimento, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica.
A concepção está embasada em conhecer a realidade do curso. Reconhecer seus limites e
comprovar suas potencialidades com o propósito de garantir qualidade e eficiência no
desempenho acadêmico e profissional.
3) Justificativa
O projeto de autoavaliação está voltado para o estudo de um conjunto de ações processuais
que envolvem a especificidade da organização didático-pedagógica. A autoavaliação é parte
integrante do projeto pedagógico do curso, pois materializa as metas estabelecidas pelo
plano de desenvolvimento institucional, bem como no projeto da avaliação institucional.
A autoavaliação se apresenta como um processo que pode possibilitar conhecer as
potencialidades e as fragilidades do curso, com o objetivo de buscar permanentemente a
sua qualidade.
Neste sentido, a estrutura curricular e a organização pedagógica do curso, são
reestruturadas com base nos resultados da avaliação interna e das avaliações externas,
respeitadas as diretrizes curriculares nacionais e a missão da instituição.
Neste contexto, a autoavaliação do curso, apresenta-se com a função de ser um “processo
de qualificação” da organização pedagógica, da estrutura curricular e da gestão acadêmicoadministrativa, porque devem ser avaliadas as diferentes dimensões do projeto pedagógico,
79
para identificar as metas alcançadas e os objetivos estabelecidos em termos de inovação e
transformação. Isso requer o envolvimento e o comprometimento das pessoas que fazem
parte da comunidade acadêmica do curso.
O projeto de autoavaliação caracteriza-se, assim, como um ciclo permanente que toma
corpo e se justifica como um processo conjuntivo-formativo que visa a implementar medidas
concretas para o constante aperfeiçoamento da organização didático-pedagógicaadministrativa do curso.
4) Objetivos
- conhecer a realidade do curso para aperfeiçoar e qualificar a comunidade acadêmica em
suas necessidades;
- consolidar o processo de autoavaliação como prática permanente de leitura, análise e
reflexão sobre as atividades desenvolvidas;
- aprimorar a cultura avaliativa tendo em vista o aperfeiçoamento nas funções de ensino,
pesquisa, extensão e gestão;
- oportunizar um processo de autoavaliação inovador com caráter diagnóstico e formativo
para a construção de novas estratégias;
- refletir sobre os resultados provenientes das atividades de autoavaliação realizadas no
curso;
- subsidiar o curso e a Instituição nas avaliações externas, por meio de diagnósticos e
análises de seus resultados.
5) Metodologia
O processo de autoavaliação vale-se de uma metodologia que envolve o trabalho coletivo
da comunidade acadêmico-administrativa do curso. A análise sobre a realidade do curso
ocorre por meio dos dados diagnosticados e fornecidos pela Comissão Própria de
Avaliação, pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, bem como pelo
diagnóstico realizado pelo próprio curso, e não contemplados pelo processo de avaliação
institucional.
O resultado do diagnóstico, após a sua sistematização, identificará os pontos positivos e os
pontos que merecem atenção especial para a tomada de decisões necessárias, para a
permanente melhoria do curso.
Os instrumentos para a coleta de dados, quando realizado pelo curso, serão por meio de
questionários, entrevistas e outros instrumentos conforme as necessidades e
especificidades do próprio curso.
Procedimentos de coleta de dados para a avaliação do curso:
a) Questionários aplicados à:
- estudantes do curso para avaliação do desempenho dos professores em sala de aula;
- estudantes concluintes de estágios e TFG’s, a fim de avaliar a atuação dos professores
como orientadores;
- estudantes formandos para avaliação geral do curso e da Instituição;
- escolas que recebem estagiários do curso, para avaliação do desempenho do estudante
como estagiário e do curso como gestor dos estágios;
b) Entrevistas não-estruturadas: serão realizadas por meio de diálogos com estudantes,
professores e técnicos administrativos. Sabe-se que o diálogo, embora não se caracterize
como um processo estruturado de entrevistas, é uma fonte importante de informações em
qualquer âmbito gerencial e não pode ser desprezado como instrumento auxiliar, na busca
de subsídios que reforcem o processo de avaliação.
c) Depoimentos de professores em reuniões para a avaliação conjunta de pontos
específicos, que envolvem os três principais segmentos: corpo docente, discente e técnicoadministrativo.
80
d) Reuniões com professores para avaliação do curso: serão reunidos os professores das
disciplinas por semestre, para, em conjunto, avaliarem cada semestre do curso, com o
objetivo de que todos conheçam a visão de cada colega sobre a mesma turma. Nessas
reuniões também são utilizados instrumentos de coleta de dados, elaborados especialmente
para este fim, com vistas a obter informações sobre os seguintes itens: consulta à
bibliografia; realização trabalhos; solução de dúvidas em sala de aula; frequência às aulas;
pontualidade; respeito ao professor e aos colegas; interesse; motivação; relação teoria
versus prática.
e) Reuniões pedagógicas do curso, com todos os professores, com o propósito de realizar o
acompanhamento e monitoramento das atividades desenvolvidas durante o semestre, bem
como propiciar correções que se façam necessárias no decorrer do ano. Nessas reuniões
serão analisados os resultados do Enade e de avaliações externas.
O projeto de autoavaliação do curso caracteriza-se como uma atividade cíclica que se
justifica como uma construção formativa e que visa a programar medidas para o
aperfeiçoamento da organização didático-pedagógica do Curso de Geografia.
81