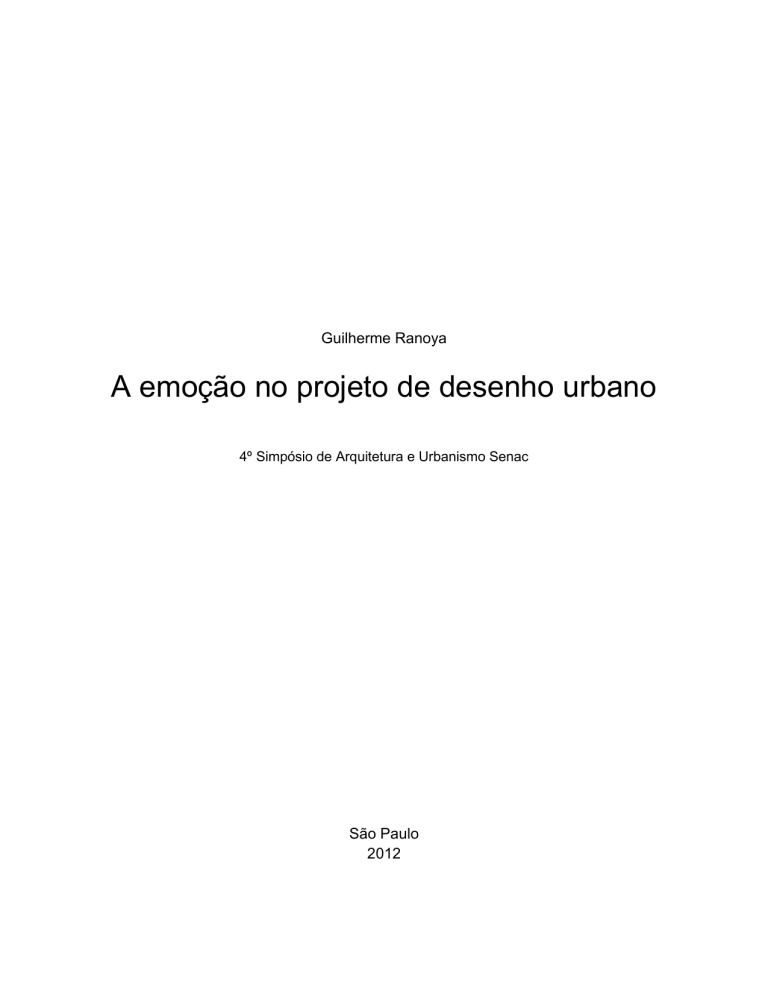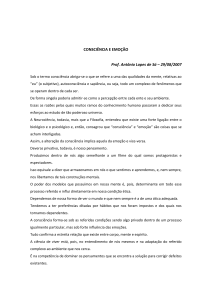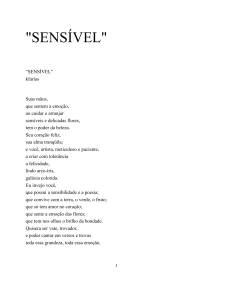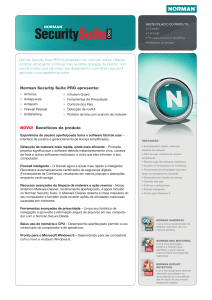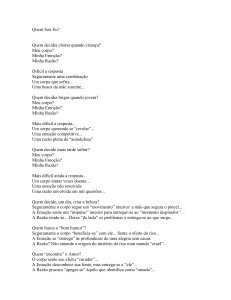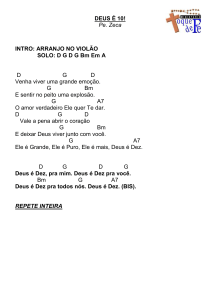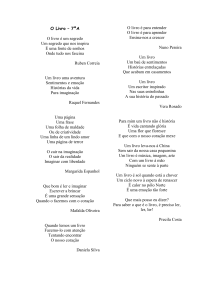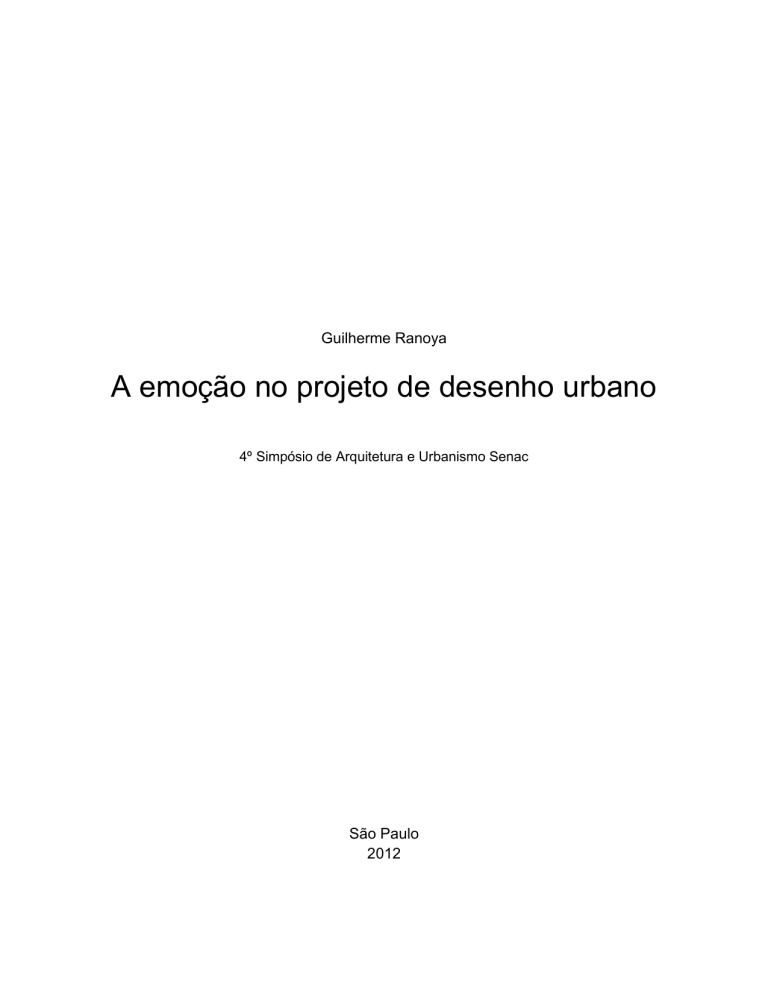
Guilherme Ranoya
A emoção no projeto de desenho urbano
4º Simpósio de Arquitetura e Urbanismo Senac
São Paulo
2012
O projeto iluminista destinava-se a emancipação do homem. Desde o fim da idade média, ou
em muitos casos bem antes disso, a razão foi localizada como a própria definição do que
significa ser humano: cogito ergo sum. Não foi diferente em relação à arquitetura e ao trabalho
de se projetar os espaços urbanos; o pensamento racional e a busca por soluções objetivas
aos problemas e funcionamentos urbanos também garantiram o lugar de destaque da razão
nas práticas e na lógica projetual. Esta é, grosso modo, a matriz histórica do sistema de
pensamento ocidental.
O inicio do século XX foi marcado, fundamentalmente na filosofia, com a crise da razão, posta
então sob suspeita. De um instrumento para emancipar, passou a ser vivida como repressiva.
A crescente migração do campo à cidade, os ambientes fabris insalubres e a exploração do
trabalho com regimes de até dezoito horas de dedicação diária são alguns dos efeitos
colaterais de uma ciência implacável destinada ao domínio da natureza, que incluiu o próprio
homem - como parte inexorável dela - em seu programa. Ainda que o século tenha sido
marcado pelo eclipse da razão, sua hegemonia sob processos, análises e métodos foi
dificilmente contestada. Em termos epistemológicos, manteve-se a premissa de uma assepsia
racional como única forma possível para a produção do conhecimento: o distanciamento que
evitava qualquer contato com aspectos subjetivos, pessoais, erráticos ou contaminados pelos
fluxos incontroláveis da emoção. Evitá-la constituía algo tão crítico, que a própria imagem do
homem equilibrado se apoiava na capacidade de controle emocional ou até da sua total
supressão.
Há poucas décadas, esta condição se pôs em mudança. Resultado dos problemas estudantis
de maio de 68 na França e seus ecos ao longo de todo o mundo, da pressão pelos direitos das
mulheres, homossexuais, negros e do turbilhão sócio-político da época, da contracultura, dos
protestos contra a guerra do Vietnã, e nos diversos exercícios das formas de resistência aos
modelos sociais considerados retrógrados, arcaicos ou ultrapassados, que permaneceram
inaptos em fornecer as devidas melhorias no mundo como preconizados pela razão
instrumental e o projeto iluminista. Sua hegemonia finalmente chegou a termo. Ponto de onde
se estabeleceram iniciativas em todas as direções com o intuito de buscar, fora destes
recalques, soluções para a condição humana.
“Até recentemente, a emoção era uma parte pouco
explorada da psicologia humana. Algumas pessoas
acreditavam que fosse um resíduo de nossas origens
animais. A maioria pensava em emoções como um
problema que devia ser superado pelo pensamento
racional lógico. E a maior parte das pesquisas se
concentravam em emoções negativas como estresse,
medo, ansiedade e raiva. Os estudos mais recentes
reverteram completamente essa visão. A ciência hoje
sabe que os animais mais avançados em termos
evolucionários são mais emotivos que os primitivos,
sendo que os seres humanos são os mais emocionais de
todos.” (NORMAN, 2004:38).
Se a emoção foi considerada um dia, como pontua Don Norman, um impasse ao avanço da
humanidade, hoje é vista como elemento central de nosso devir. Curioso reconhecer que para
as vanguardas do início do século XX a representação plena de nossa humanidade se dava
pelo modelo da máquina e do cérebro, enquanto hoje a temos pela presença da sensibilidade.
Um pensamento antropocêntrico atualmente é, em suma, um pensamento cuja centralidade se
resolve na emoção e na sensibilidade humana.
Não se trata de um elemento a mais para ser considerado em um projeto. Ela está presente em
tudo. O sistema afetivo interfere diretamente em como entendemos o mundo. De forma
bastante resumida, ela existe em nós para prover juízos e valores. Enquanto a cognição cuida
dos significados, o sistema afetivo atribui a estes significados ou experiências um valor: são
bons, ruins, maus, agradáveis, perigosos, seguros, confortáveis, incômodos, etc., e com isso
retroalimenta o próprio sistema cognitivo. Os impulsos emocionais inundam nossa mente com
neurotransmissores que mudam a forma como ela funciona, permitindo que diversas conexões
semânticas ocorram, e consequentemente alterem as relações de significado.
Para que algo nos faça sentido, todo esse conjunto - significados, juízos, subjetividades,
objetividades, percepção - interage. O próprio problema da função é consideravelmente
mudado quando colocado nesta perspectiva. Como afirma Norman,
“objetos atraentes fazem as pessoas se sentirem bem, o que por
sua vez faz com que pensem de maneira mais criativa. Como
isso faz com que alguma coisa se torne mais fácil de usar? A
resposta é simples: ao fazer com que se torne mais fácil para as
pessoas encontrar soluções para os problemas com que se
deparam.” (NORMAN, 2004:39)
Sua tese é de que objetos agradáveis, belos ou que nos estimulem emocionalmente, também
funcionam melhor; e isso não se resume a produtos, mas a todo o universo de coisas
produzidas pelo próprio homem - em nosso caso presente, a própria cidade. Ele conclui que
“precisaríamos de uma teoria mística para ligar a beleza e a função. Bem, foram precisos cem
anos, mas atualmente temos uma teoria, baseada em biologia, neurociência e psicologia, não
em misticismo.” (NORMAN, 2004:40). Até então, o discurso projetual institucionalizado - se é
que mudou - afirmava que a funcionalidade deveria ser prioritária, e a estética algo decorrente
ou complementar, quando não comprometesse o bom funcionamento das coisas: a descoberta
de Norman é justamente que a beleza ou o afeto provocam esse bom funcionamento.
A própria noção de função, haja visto, precisa ser melhor questionada. Sua raiz se encontra em
pensamentos sociológicos, antropológicos e urbanísticos influenciados pelos avanços médicos,
que tratavam a cidade e a sociedade como um órgão ou um corpo biológico. Esta metáfora é
marcante no trabalho de Émile Durkheim, um dos pais da antropologia moderna. O bom
funcionamento, analogamente, fazia referência ao nosso próprio corpo, e a maneira como veias
permitiam às células transitar ao longo dele, de como cada orgão se especializava para manter
o organismo vivo, e como o desempenho exemplar de cada atividade era objetivamente
necessário para a saúde geral. Não apenas a metáfora fisiológica foi predominante para o
conceito de função, como o pensamento marxista com o qual Durkheim e uma infinidade de
outros pensadores do século XX também dialogaram, se apoiava na relação entre as partes e o
todo de uma sociedade, instituindo como função a interação entre infraestrutura e
superestrutura, ou seja, a reprodução nas relações de produção dos valores ideológicos
instituídos.
Seja qual for a origem real do conceito de função aplicado no urbanismo, o sentido atual do
termo, ou do seu uso como norte projetual, é uma prática totalmente esvaziada. Concordamos
com Rafael Cardoso ao criticar seu significado: “funcionalidade - termo equivocado em suas
premissas” (2012:17), perdido entre a noção de função social (aquilo que preenche um hiato
social e atende a demandas públicas), mecanização (aquilo que funciona como um relógio,
como uma máquina), e recursividade (aquilo que possui recursos, que faz algo ser operado)
ainda que sem um propósito objetivo. A critica de Cardoso é ainda mais dura, ao retomar os
escritos de Victor Papanek:
“Em termos semânticos, todas essas afirmações desde Horatio
Greenough [escultor americano do século XIX, que escreveu
textos precursores sobre as relações entre forma e função dos
edifícios] até a Bauhaus alemã são desprovidos de sentido. A
concepção de que aquilo que funciona bem terá necessariamente
uma boa aparência serviu de desculpa débil para todo o
mobiliário e os utensílios estéreis, com cara hospitalar, dos anos
1920 e 1930” (PAPANEK APUD CARDOSO, 2012:18)
Se o propósito de um urbanista é dar vida a cidade, criá-la ou alterá-la para que faça maior
sentido para pessoas, passamos a questionar se os critérios projetuais da modernidade
estariam realmente em sintonia com estas expectativas. A vida está cheia de ambiguidade,
dúvida, ironia ou comédia, de romantismo clichê ou de questões singelas demais ou
insignificantes demais - que é preciso reconhecer, também fazem parte de nosso
relacionamento com o mundo, aceite-se ou não. Também é preciso reconhecer que a estética
“hospitalar” que Papanek tanto criticou, foi capaz de sensibilizar e criar beleza para uma
sociedade que a encontrava no reconhecimento de ordenação, organização, hierarquia e
clareza bem delineadas. Essa estética “hospitalar”, austera, objetiva, reta, representava muito
bem sentimentos, desejos e valores típicos de um momento entre guerras. Contudo parece que
condicioná-la a resultados secundários de uma relação funcional a privaram de assumir sua
própria importância, ou impediram que sua expressão plástica adquirisse dignamente alguma
autonomia. Ela foi acobertada, diminuída, relegada, até o ponto que se tornou ordinária.
A modernidade fixou o olhar do urbanista para horizontes grandiosos. Brasília é o exemplo de
como, por aqui, esta modernidade se traduziu em ineditismo e liberdade formal para uma
escala faraônica, sem antes, claro, fazer sua devida reverência ao planejamento e
racionalização do espaço. Niemeyer afirmava uma arquitetura de invenção, mas Lúcio Costa
construía antes um discurso legível através de eixos, setores, direções e ocupações. Marcado
pelo tom autoral de ambos, o projeto não é apenas a referência, mas a máxima de nosso
raciocínio urbanizador. Com um exemplo dessa magnitude, parece infrutífero advogar a favor
de uma visão preocupada com os pequenos espaços, com as relações entre pessoas,
acontecimentos ou mesmo as trivialidades do cotidiano, que poderiam ser melhor acolhidos
pelo espaço se ele fosse pensado de forma menos gloriosa. Christopher Alexander já instituia
isso na década de 70, reiterando a importância destes elementos: “In order to define this quality
in buildings and in towns, we must begin by understanding that every place is given its
character by certain patterns of events that keep on happening there.” [Para aprimorar prédios e
cidades, deve-se começar pelo entendimento que cada lugar ganha suas características pelos
padrões de eventos que continuam a se repetir nele] (1979:55). O cuidado com essa
identidade, significação e particularização em cada espaço parece perder-se ou se tornar
secundário frente as dimensões almejadas para intervenções urbanísticas, como se nelas,
fossemos apenas eventualidades em seus grandes sistemas. Nossa prática local vai em
direção oposta ao pensamento, já com mais de trinta anos, de Alexander.
Ainda sim, Brasília nos sensibiliza por ser única, e por ter sido projetada para ser assim. A
inventividade adotada nas suas edificações consagradas também é um aspecto emocional
bastante evidente: são feitas para surpreender. Niemeyer sempre contou com esse sentimento
em seus projetos. É bem provável que eles nos arranquem mais sorrisos de admiração do que
o plano piloto, mas isto não deveria ser uma regra. As piazzas no centro Roma, por exemplo,
são convidativas: em contraste às ruas estreitas e irregulares, provém um sentimento de lugar,
de centralidade; sua iluminação e o frescor das fontes durante o verão, ou os canteiros floridos,
criam um espaço para ficar, que atraem pessoas de todas as idades durante longos períodos
no dia. Já os grandes eixos de Haussmann em Paris fizeram dela o centro do mundo no século
XIX, não para que carros pudessem fluir, mas para que a imponência e o orgulho de um
império pudessem insuflar o espírito das pessoas que ali trafegavam. Os parques e jardins de
Palermo em Buenos Aires dão ao bairro uma leveza e uma identidade por seu próprio desenho
urbano. Uma roda gigante provisória no Tâmisa, para entreter pessoas em um evento, acabou
se tornando um elemento permanente e um marco para Londres que rivaliza com outros pontos
de reconhecimento internacional como a Tower Bridge ou o Big Ben. Todos estes exemplos
causam algum tipo de emoção, e retiram do transeunte um sentimento ao mesmo tempo
inesperado e realizado, ou como diz Alexander: “Yet, still there are those special secret
moments in our lives, when we smile unexpectedly – when all our forces are resolved.“ [Não
obstante, permanecem aqueles momentos interiores e especiais em nossas vidas, quando
sorrimos inesperadamente – quando todas as forças em nós estão resolvidas] (1979:52).
Todos estes exemplos foram planejados ou projetados mais para inspirar do que para
responder uma demanda objetiva.
Mas enquanto falamos de instituir sentido às coisas, ao espaço, às edificações e às cidades,
toda a discussão central continua lidando com o problema da forma. Este, como o da função um se apoia noutro -, não está além de uma casca oca que sem significados, valores ou juízos.
No geral neutra ou inerte em relação à nós mesmos, a forma como princípio projetual aceita
qualquer sentido, e se acopla com o que for nela depositado. Esta maneira de se projetar, sem
posicionamento ou sem intenção de trocas e diálogos genuínos entre o espaço e seu usuário,
produz o parnasianismo urbanístico ou arquitetônico que tão bem conhecemos: cidades
neutras, cidades padrões, cidades umas iguais a outras; formas em abundância, mas raras
exceções, sem o estofo que Vilém Flusser cuidadosamente procurava demonstrar como sua
devida substância:
"O mundo material (materielle Welt) é aquilo que guarnece as
formas com estofo, é o recheio (Füllsel) das formas. Essa
imagem é muito mais esclarecedora do que a da madeira
entalhada que gera formas, porque mostra que o mundo 'do
estofo' (stoffiche Welt) só se realiza ao se tornar o preenchimento
de algo." (2007:24)
Enquanto se discute ostensivamente a morfologia urbana, perdemos uma oportunidade
preciosa de discutir sua semântica, seu aspecto humano, e as maneiras de se projetar para
que realmente toquem pessoas.
Bibliografia
ALEXANDER, Christopher. Timeless Way of Building. Oxford: Oxford University Press, 1979.
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo: Cosac-Naify, 2012.
FLUSSER, Vilém. O mundo codificado - por uma filosofia do design e da comunicação. São
Paulo: Cosac & Naify, 2007.
NORMAN, Donald. The psychology of everyday things. New York: Basic Books, 1988.
_______________. Design emocional. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 2004.