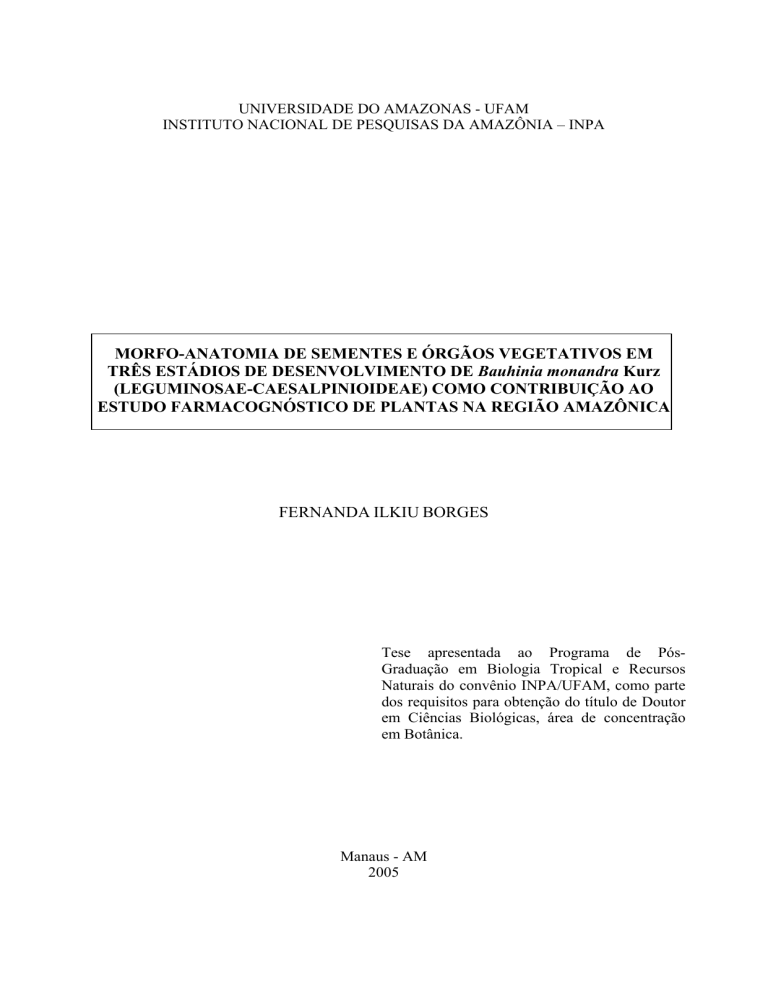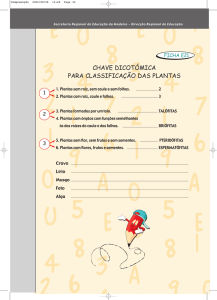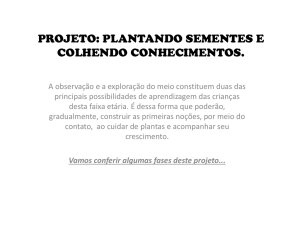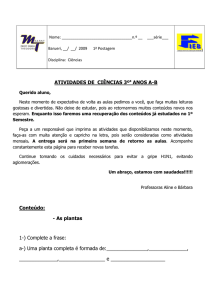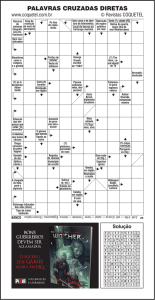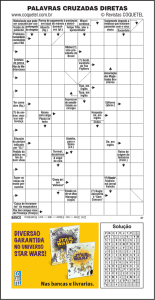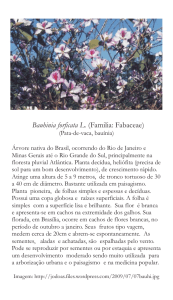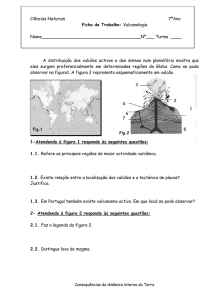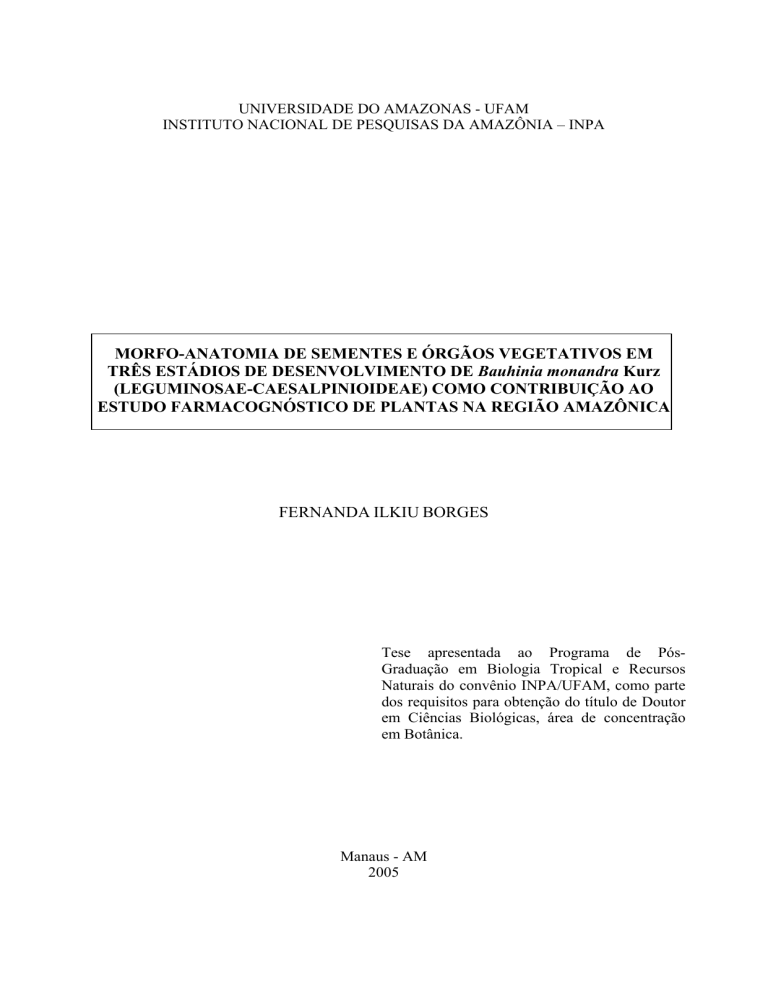
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - UFAM
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA
MORFO-ANATOMIA DE SEMENTES E ÓRGÃOS VEGETATIVOS EM
TRÊS ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO DE Bauhinia monandra Kurz
(LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) COMO CONTRIBUIÇÃO AO
ESTUDO FARMACOGNÓSTICO DE PLANTAS NA REGIÃO AMAZÔNICA
FERNANDA ILKIU BORGES
Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Biologia Tropical e Recursos
Naturais do convênio INPA/UFAM, como parte
dos requisitos para obtenção do título de Doutor
em Ciências Biológicas, área de concentração
em Botânica.
Manaus - AM
2005
iv
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - UA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA
MORFO-ANATOMIA DE SEMENTES E ÓRGÃOS VEGETATIVOS EM
TRÊS ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO DE Bauhinia monandra Kurz
(LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) COMO CONTRIBUIÇÃO AO
ESTUDO FARMACOGNÓSTICO DE PLANTAS NA REGIÃO AMAZÔNICA
FERNANDA ILKIU BORGES
Orientadora: Maria Sílvia de Mendonça
Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Biologia Tropical e Recursos
Naturais do convênio INPA/UFAM, como parte
dos requisitos para obtenção do título de Doutor
em Ciências Biológicas, área de concentração
em Botânica.
Manaus – AM
2005
v
ILKIU-BORGES, Fernanda
Morfo-anatomia de sementes e órgãos vegetativos em três estádios de
desenvolvimento de Bauhinia monandra Kurz (Leguminosae-Caesalpinioideae) como
contribuição ao estudo farmacognóstico de plantas na região amazônica/Fernanda Ilkiu
Borges-Manaus, Amazonas, 2004.
149p.
Tese de Doutorado INPA/UFAM
1. Bauhinia monandra Kurz 2. Leguminosae 3. Caesalpinioideae 4.
Morfologia 5. Anatomia 6. Sementes 7. Órgãos vegetativos 8. Estádios de crescimento
9. Farmacognosia.
Sinopse:
Foram feitas análises morfo-anatômicas de semente, raiz, caule e folha em
estádios de plântula, juvenil e adulto de Bauhinia monandra Kurz, e
quantificação de princípio ativo. Descritas e ilustradas.
Palavras-chaves: Bauhinia monandra,
morfologia, anatomia, farmacognosia.
Leguminosae,
Caesalpinioideae,
Key Words: Bauhinia monandra, Leguminosae, Caesalpinioideae, morphology,
anatomy, pharmacognosy.
vi
Á Deus, meu maior amigo e conselheiro, que nos
momentos mais difíceis tornou esta caminhada
agradável e prazerosa.
Ao meu esposo, amigo e companheiro Cristiano,
que suportou a distância com amor, paciência,
apoio e incentivo.
DEDICO
vii
Ó profundidade da riqueza, tanto da
sabedoria como do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão
inescrutáveis, os seus caminhos!
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi seu conselheiro?
Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe
venha a ser restituído?
Porque Dele, e por meio Dele, e para Ele são
todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém!
(Romanos 11:33-36)
vi
AGRADECIMENTOS
A Deus, pelo amor, conforto, fidelidade e segurança com que tem me conduzido
até aqui.
Ao meu esposo Cristiano, pela confiança e incentivo ao longo destes anos
dedicados a execução deste estudo.
Aos meus amigos e pais Ben-Hur e Marialva, pela orientação, apoio e incentivo
concedido por toda minha vida. Á Priscila, ao Kay e à minha super rimã Anna Lu pelo
exemplo de coragem e otimismo.
Ao programa de Pós-Graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais do
convênio firmado entre o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e a Universidade
Federal do Amazonas (INPA/UFAM), pela realização deste curso de Doutorado.
Ao CNPQ , pelo suporte financeiro que possibilitou a execução deste estudo.
Ao Banco da Amazônia, pelo financiamento da parte referente às plântulas.
Á todos os funcionários e professores ligados ao Curso de Doutorado em Botânica
por todo auxílio, em especial à Dra. Maria Tereza Piedade, coordenadora do curso.
À Dra. Maria Sílvia de Mendonça Queiroz pela amizade, incontestável orientação
e apoio durante a realização deste curso, além de toda paciência e compreensão.
Aos Drs. Antônio Carlos Webber, Maria Rosa Lozano Borras e Milade Cordeiro,
pelas valiosas sugestões e avaliação na Qualificação.
Aos Drs. Hildeberto Caldas (UFOP), Débora Teixeira Ohana (UFAM), Marlene
Freitas da Silva (INPA), Maria Rosa Lozano Borrás (UFAM) e Haroldo Cavalcante de Lima
(JBRJ), responsáveis pela avaliação e aprovação desta tese.
À MSc. Vânia Varela pela amizade e por mais uma vez me receber em sua casa
com todo o conforto, paciência e tolerância no decorrer de todos estes anos.
À MSc. Ely Simone Gurgel e seu esposo Eduardo Ary, pela amizade, não medindo
esforços para concretização desta etapa, com valiosas sugestões e auxílio nos estudos
morfológicos.
À MSc. Maria Gracimar Pacheco de Araújo, por sua amizade, companheirismo,
apoio e valorosas sugestões.
Ao MSc. Francisco Tarcísio Mady, pela amizade e colaboração no que se refere
aos estudos anatômicos do caule, além da confecção das belíssimas ilustrações.
À Dra. Maria Del Pilar, por todo apoio e suporte nos momentos difíceis durante o
período da Qualificação.
vii
À Dra. Nair Otaviano Aguiar, pelo auxílio e disponibilidade de equipamento
utilizado às mensurações dos elementos anatômicos do caule.
À Dra. Elizabete Brocki, pela amizade, força e auxílio em traduções de
textos científicos.
À Dra. Raimunda Vilhena Potiguar e sua equipe do Departamento de Botânica do
Museu Paraense Emílio Goeldi, pela concessão do Laboratório de Anatomia e valiosas
contribuições referentes à técnicas de preparo do material destinados ao MEV.
Ao Sr. Hilton Túlio do Museu Paraense Emílio Goeldi, pelo auxílio na obtenção
das eletrofotos em microscópio eletrônico de varredura.
Ao chefe do Laboratório de Agroindústria – Plantas medicinais, da EMBRAPACPATU, MSc. Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos e em especial ao Dr. Sérgio de Mello
Alves pela colaboração na obtenção dos resultados das análises fitoquímicas. Á técnica do
laboratório Ana Lúcia e ao químico Orivam, por valiosas contribuições.
Ao Dr. Osmar Lameira do Laboratório de Biotecnologia da EMBRAPA-CPATU,
pela concessão da área do Banco de Germoplasma e viveiro, que possibilitou a coleta, plantio
e condução do experimento.
Aos Engº. Florestais Andréia Barroncas e José França, pela amizade, apoio,
incentivo e enormes contribuições, fundamentais para a realização deste estudo.
Ao MSc. Rogério Añez pela amizade e grande apoio literário.
Aos colegas do LABAF, Tereza Cristina, Maria Cristina, Manoel, Lucilene,
Maedy, Luziane, Adriana, Waldete, Chiquinho e Ilde pela agradável convivência, em especial
à Bióloga Bárbara Barcelos pela incansável colaboração na confecção de lâminas
permanentes.
Aos meus sogros João e Ana Cleide, aos meus cunhados Susi e Franz e em
especial à minha sobrinha Sarah, por fazerem parte da minha vida e intercederem por mim
durante a execução deste estudo.
Aos amigos que mesmo distante deram apoio, carinho e incentivo, em especial à
Roberta Malheiros Campos.
Á Surama, minha grande amiga, por todo carinho e dedicação com que tem
cuidado do meu lar, sem os quais eu não poderia me dedicar tão intensamente a este curso.
A todos, que direta e indiretamente colaboraram para a execução deste estudo de
doutorado.
8
SUMÁRIO
DEDICATÓRIA...................................................................................................................... iv
EPÍGRAFE............................................................................................................................. v
AGRADECIMENTO................................................................................................................ vi
LISTA DE FIGURAS............................................................................................................... xii
LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS........................................................................................... xx
RESUMO............................................................................................................................... xxi
ABSTRACT............................................................................................................................ xxii
CAPÍTULO I- Introdução Geral.......................................................................................... 01
CAPÍTULO II- Revisão Bibliográfica.................................................................................. 04
1. Contextualização................................................................................... 05
2. Estudos morfo-anatômicos.................................................................... 07
3. Família Leguminosae (Fabaceae)......................................................... 09
3.1. Importância da família Leguminosae aos estudos
botânicos................................................................................... 09
3.2. Posição taxonômica...................................................................10
3.3. Importância econômica............................................................. 11
3.4. Distribuição geográfica e habitat.............................................. 12
3.5. Hábito........................................................................................ 12
3.6. Morfo-anatomia de órgãos reprodutivos
e vegetativos.............................................................................. 13
4. Bauhinia monandra Kurz...................................................................... 15
4.1. Sinonímias................................................................................. 15
4.2. Nomes vulgares......................................................................... 15
9
4.3. Importância econômica............................................................. 16
4.4. Distribuição geográfica............................................................. 17
4.5. Características botânicas gerais.................................................17
4.6. Princípio ativo........................................................................... 20
CAPÍTULO III- Material e Métodos.................................................................................... 22
Área de coleta........................................................................................... 23
Seleção das matrizes e obtenção de material botânico............................. 23
Coleta e beneficiamento dos frutos e obtenção das sementes.................. 24
Germinação e desenvolvimento............................................................... 24
1. Estudo morfológico.............................................................................. 25
1.1. Morfologia das sementes.......................................................... 25
1.2. Morfologia dos órgãos vegetativos.......................................... 26
1.3. Fotografias e MEV................................................................... 26
2. Estudo anatômico................................................................................. 27
2.1. Diafanização............................................................................. 27
2.2. Dissociação da epiderme foliar................................................ 27
2.3. Contagem de estômatos por mm2............................................ 27
2.4. Cortes histológicos................................................................... 28
2.5. Obtenção dos corpos de prova................................................. 28
2.6. Montagem de lâminas permanentes de macerado
de xilema................................................................................ 28
2.7. Testes histoquímicos................................................................ 29
2.8. Fotomicrografias e MEV.......................................................... 29
3. Estudo fitoquímico............................................................................... 30
10
3.1 Coleta, transporte e beneficiamento das amostras..................... 30
3.2. Condições de análise do teor de princípio ativo....................... 30
CAPÍTULO IV- Morfo-anatomia da semente de Bauhinia monandra
Kurz. (Leguminosae-Caesalpinioideae) como contribuição
aos estudos farmacognósticos de plantas da
região amazônica.................................................................................... 34
1. Introdução.............................................................................................. 35
2. Resultados............................................................................................. 36
3. Discussão e conclusão........................................................................... 44
CAPÍTULO V- Morfo-anatomia dos órgãos vegetativos em três estádios de
desenvolvimento de Bauhinia monandra Kurz. (LeguminosaeCaesalpinioideae) como contribuição aos estudos farmacognósticos
de plantas da região amazônica................................................................48
1. Introdução.............................................................................................. 49
2. Resultados............................................................................................. 51
2.1. Estudos morfo-anatômicos dos órgãos vegetativos de
Bauhinia monandra Kurz em três estádios de
desenvolvimento................................................................................. 51
2.1.1. Morfo-anatomia da PLÂNTULA................................. 51
2.1.2. Morfo-anatomia dos órgãos vegetativos de
B. monandra Kurz. em estádio JUVENIL..............................68
2.1.3. Morfo-anatomia dos órgãos vegetativos de
B. monandra Kurz. em estádio ADULTO............................. 83
2.1.3.1. RAIZ........................................................................... 83
11
2.1.3.1.1. Descrição das características
organolépticas................................................. 83
2.1.3.1.2. Descrição macroscópica................................ 83
2.1.3.1.3. Descrição microscópica................................. 84
2.1.3.2. CAULE........................................................................ 87
2.1.3.2.1. Descrição morfológica...................................87
2.1.3.2.2. Descrição das características
organolépticas................................................. 89
2.1.3.2.3. Descrição macroscópica................................ 89
2.1.3.2.4. Descrição microscópica................................. 90
2.1.3.3. FOLHA........................................................................ 98
2.2. Análise do teor de flavonóides em órgãos vegetativos de Bauhinia
monandra Kurz................................................................................... 107
3. Discussão e conclusões.........................................................................109
GLOSSÁRIO........................................................................................................................... 120
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................ ........... 129
12
LISTA DE FIGURAS
CAPÍTULO III
Figura 01- Banco de Germoplasma (BAG) de Bauhinia, EMBRAPA-CPATU/
Belém-PA....................................................................................................... 23
Figura 02- Condições de análise para obtenção e quantificação de flavonóides.
A) O material seco e moído foi submetido ao Soxhlet em MeOH 70%;
B) Espectrofotômetro UV/visível, leitura a 425nm para a obtenção
da concentração em μm/ml; C) Triplicatas dos órgãos vegetativos
do estágio juvenil............................................................................................ 33
CAPÍTULO IV
Figura 03- Fruto de B. monandra. Valvas lenhosas com sementes alternas...................... 36
Figura 04- Fruto tipo vagem de Bauhinia monandra. A) Frutos maduro (a) e
Imaturo (b); B) Detalhe do ápice; C) Detalhe da base................................... 37
Figura 05- Sementes de Bauhinia monandra..................................................................... 38
Figura 06- Testa da sementes de B. monandra, MEV........................................................38
Figura 07- A) Secção transversal da semente de B. monandra destacando
linha lúcida, em microscópio eletrônico de varredura (MEV);
B) Corte transversal da semente com detalhe para contudo
resinífero......................................................................................................... 39
Figura 08- B. monandra Kurz. A) Secção transversal; B) Secção
longitudinal; C) Secção tangencial................................................................. 40
13
Figura 09- Eixo embrionário de B. monandra Kurz. A) Vista geral
em MEV; B) Secção tangencial destacando plúmula rudimentar.................. 41
Figura 10- Secção transversal da semente de B. monandra (MEV). A) Feixe vascular
rafeal no tegumento; B) Células do meristema fundamental do cotilédone
com conteúdo amiláceo..................................................................................... 41
Figura 11- Hilo em forma de V (V-shaped) das sementes de B. monandra Kurz,
(MEV)................................................................................................................42
Figura 12- Semente de B. monandra. A) Após retirada do fruto; B) Após
alguns minutos em água................................................................................. 42
CAPÍTULO V
Figura 13- Plântula de Bauhinia monandra....................................................................... 52
Figura 14- Raiz de plântula de B. monandra (MEV)......................................................... 53
Figura 15- Raiz de B. monandra Kurz., mostrando formação do cilindro vascular
(MEV). A) Vista geral da raiz em crescimento primário com pólos
procambiais em distribuição tetrarca (1, 2, 3 e 4). B) Detalhes dos estratos
que compõe a raiz em crescimento secundário................................................. 53
Figura 16- Estômatos presentes ao longo do hipocótilo das plântulas de
B.monandra (MEV)........................................................................................ 54
Figura 17- Tricomas presentes no hipocótilo das plântulas de B. monandra
(MEV).............................................................................................................55
Figura 18- Detalhe das células do hipocótilo das plântulas de B. monandra,
destacando a presença de membrana interna (MEV)..................................... 55
14
Figura 19- Hipocótilo da plântula de B. monandra Kurz., mostrando formação do
cilindro vascular (MEV). A) Vista geral dos pólos procambiais em
distribuição tetrarca (1, 2, 3 e 4). B) Detalhes dos estratos
que compõe o hipocótilo................................................................................ 56
Figura 20- Base do paracotilédone foliáceo em plântulas de B. monandra
(MEV). A) Face dorsal; B) Face ventral........................................................ 57
Figura 21- Vista frontal da superfície de paracotilédone foliáceo em plântulas
de B. monandra (MEV). A) Face adaxial; B) Face abaxial........................... 58
Figura 22- Estômato sob camada de cera epicuticular, face abaxial
dos paracotilédones de B. monandra (MEV).................................................58
Figura 23- Corte transversal do paracotilédone em plântulas de B. monandra
(MEV).............................................................................................................59
Figura 24- Epicótilo da plântula de B. monandra, mostrando formação do
cilindro vascular (MEV). A) Vista geral dos pólos procambiais
em distribuição tetrarca (1, 2, 3 e 4). B) Detalhes dos estratos
que compõe o epicótilo................................................................................... 60
Figura 25- Epicótilo da plântula de B. monandra (MEV). A) Característica
do estômato sobre epicótilo; B) Presença e diversidade de tricomas............. 60
Figura 26- Gemas vegetativas em plântula de B. monandra (MEV). A) Base
do epicótilo, região do nó cotiledonar; B) Vista frontal da gema
axilar; C) Detalhe mostrando a presença de estômatos e tricomas................ 61
Figura 27- Vista frontal da superfície foliar da plântula de B. monandra (MEV).
A) Face adaxial; B) Face abaxial....................................................................62
15
Figura 28- Superfície foliar da plântula de B. monandra, com destaque
para a presença de estômatos anomocíticos (MEV). A) Face
adaxial; B) Face abaxial................................................................................. 62
Figura 29- Tricomas sobre nervura e limbo foliar em plântula de B.
monandra (MEV). A) Destaque para variação no tamanho dos
tricomas pluricelulares observados sobre nervuras principais;
B) Tricoma unicelular, recoberto por cera epicuticular................................. 63
Figura 30- Corte transversal da lâmina foliar da plântula de B. monandra
(MEV). A) Secção na região mediana de uma das nervuras
principais, com destaque para a característica dorsiventral do
mesofilo; B) Detalhe para região marginal da lâmina foliar.......................... 64
Figura 31- Corte transversal da lâmina foliar da plântula de B. monandra,
destacando a presença de grãos de amido no interior das
células do mesofilo (MEV)............................................................................ 64
Figura 32- Pimeiro protófilo de plântula de B. monandra submetido a
técnica de diafanização, evidenciando venação principal (MEV)................ 65
Figura 33- Superfície foliar da plântula de B. monandra, com destaque
para as nervuras (MEV). A) Face adaxial; B) Face abaxial........................... 65
Figura 34- Corte transversal do pecíolo de plântula de B. monandra (MEV)................... 67
Figura 35- Plântula de B. monandra (MEV). A) Visão geral da gema axilar; B) Vista
frontal da estípula; C) Detalhe da superfície da epiderme da estípula........... 67
Figura 36- Bauhinia monandra em estádio juvenil............................................................ 69
Figura 37- Corte transversal da raiz principal de B. monandra em
estádio juvenil (MEV).................................................................................... 68
16
Figura 38- Visão geral da raiz em desenvolvimento secundário de B.
monandra em estádio juvenil (MEV)............................................................. 70
Figura 39- Corte transversal da raiz principal com destaque para raiz lateral
endógena, de B. monandra em estádio juvenil (MEV).................................. 71
Figura 40- Células corticais da raiz de B. monandra em estádio juvenil
com destaque para grãos de amido (MEV).................................................... 72
Figura 41- Seção transversal do caule juvenil de B. monandra (MEV)
destacando formação da periderme................................................................ 73
Figura 42- Caule juvenil de B. monandra (MEV). A) Lenticela de
formação circular em desenvolvimento; B) Tricomas
pluricelulares encobertos por cera epicuticular.............................................. 74
Figura 43- Corte transversal do caule de B. monandra em estádio
juvenil (MEV)................................................................................................ 75
Figura 44- Visão geral do caule em desenvolvimento secundário;
estádio juvenil (MEV).................................................................................... 75
Figura 45- Nó cotiledonar de planta jovem de B. monandra (MEV). A)
Vista frontal da gema axilar e cicatriz do paracotilédone;
B) Detalhe da gema axilar mais madura e recoberta por
camada delgada de cera epicuticular.............................................................. 76
Figura 46- Células da medula do caule em estádio juvenil, com destaque
para a abundância de grãos de amido (MEV)................................................ 76
Figura 47- Múcron em metáfilo de B. monandra na terminação de nervura
central (MEV)................................................................................................. 77
17
Figura 48- Estômato anomocítico na face adaxial dos metáfilos de B.
monandra, com destaque para a espessa camada de cera
epicuticular (MEV)......................................................................................... 78
Figura 49- Superfície foliar de B. monandra de indivíduo em estádio juvenil
(MEV). A) Face adaxial; B) Face abaxial...................................................... 79
Figura 50- Corte transversal de uma das nervuras principais da folha de
B. monandra de indivíduo em estádio juvenil (MEV)................................... 80
Figura 51- Corte transversal do pecíolo da folha de B. monandra de
indivíduo em estádio juvenil (MEV).............................................................. 81
Figura 52- Pecíolo de B. monandra de indivíduo em estádio juvenil
(MEV). A) Detalhe da distribuição e abundância de tricomas;
B)Estômato (es).............................................................................................. 82
Figura 53- Vista frontal de seção transversal da raiz adulta com
destaque para periderme (MEV)................................................................... 84
Figura 54- Região xilemática da raiz adulta de B. monandra (MEV)............................... 85
Figura 55- Vista frontal de seção transversal da raiz adulta (MEV).................................. 85
Figura 56- Feixes de fibras de floema primário (setas) em raiz de B.
monandra (MEV).......................................................................................... 86
Figura 57- Cilindro vascular da raiz de B. monandra com detalhe para
distribuição dos vasos de xilema e ausência de medula
central (MEV)................................................................................................. 86
Figura 58- Aspecto geral dos ramos de B. monandra Kurz............................................... 87
Figura 59- Aspecto geral de B. monandra Kurz................................................................ 88
Figura 60- Detalhe do caule de B. monandra..................................................................... 88
18
Figura 61- Plano transversal do caule de B. monandra com detalhe para
distribuição dos vasos de xilema e anéis de crescimento............................... 91
Figura 62- Elementos de vaso do caule de B. monandra. A) Aspecto
geral dos elementos de vaso mostrando prolongamentos
e placa de perfuração simples; B) Detalhe para pontoações.......................... 92
Figura 63- Fibras do caule de B. monandra....................................................................... 92
Figura 64- Parênquima axial do caule de B. monandra com grãos de
amido em abundância, em plano longitudinal radial...................................... 93
Figura 65- Plano longitudinal tangencial do caule de B. monandra.
A) Detalhe das células do raio; B) Aspecto geral...........................................93
Figura 66- Cilindro central do caule em corte transversal, B. monandra.......................... 94
Figura 67- Cristais de oxalato de cálcio presentes no córtex do caule de B. monandra,
em corte longitudinal radial. A) Formato rômbico (cr); B) Em forma de
drusas (cd)...................................................................................................... 95
Figura 68- Plano transversal com destaque para distribuição dos feixes de
fibra (ff) no córtex do caule de B. monandra................................................. 95
Figura 69- Plano longitudinal radial do córtex do caule de B. monandra.
A) Aspecto geral mostrando raios e fibras. B) Periderme (pe)...................... 96
Figura 70- Aspecto geral do córtex em plano longitudinal radial do caule, mostrando
tecidos de dilatação.........................................................................................96
Figura 71- Lenticelas (le) do caule adulto de B. monandra............................................. 97
Figura 72- Folhas de B. monandra em estádio adulto. A) Aspecto geral,
filotaxia; B) Em detalhe..................................................................................98
Figura 73- Múcron das folhas de B. monandra em estádio adulto, na
terminação da nervura central entre lobos foliares, face abaxial....................99
19
Figura 74- Vista frontal da face adaxial com destaque para cera que recobre
células da epiderme, estômatos e tricomas (MEV)........................................ 99
Figura 75- Vista frontal da face adaxial da folha de B. monandra em
estádio adulto (MEV). A) Face adaxial; B) Face abaxial.............................. 100
Figura 76- Margem da folha de B. monandra em estádio adulto, face abaxial................. 100
Figura 77- Corte transversal da folha de B. monandra em estádio adulto......................... 101
Figura 78- Venação primária palmada, secundária campilódroma marginal
e terciária reticulada....................................................................................... 102
Figura 79- Venação palmada da folha de B. monandra. A) Folha
desenvolvida contendo 11 nervuras principais, face superior;
B) Nova geração foliar com nervação bem marcada......................................103
Figura 80- Nervura principal duplamente cristada, face abaxial da
folha de B. monandra..................................................................................... 103
Figura 81- Corte transversal de uma das nervuras principais da folha de
B. monandra de indivíduo em estádio adulto (MEV).................................... 104
Figura 82- Pecíolo de B. monandra.A) Pulvino com pêlos hialinos;
B) Visão geral com destaque para o formato anguloso
biconvexo, canaliculado................................................................................. 105
Figura 83- Gemas axilares na inserção caule/pecíolo de B. monandra
em estádio adulto. A) Região apical do ramo; B) Região basal..................... 106
20
LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS
CAPÍTULO IV
Tabela 01- Biometria das sementes de Bauhinia monandra Kurz..................................... 43
CAPÍTULO V
Tabela 02- Ficha biométrica do caule do indivíduo adulto de
B. monandra Kurz............................................................................................. 97
Capítulo VI
Tabela 03. Teores de flavonóides totais em sementes e três estádios
diferentes de desenvolvimento de Bauhinia monandra Kurz
expressos em %/g de matéria seca.....................................................................107
Gráfico 01- Análise comparativa dos teores de flavonóides nos órgãos vegetativos em
três estádios de desenvolvimento de B. monandra Kurz................................... 108
21
MORFO-ANATOMIA DE SEMENTES E ÓRGÃOS VEGETATIVOS EM TRÊS
ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO DE Bauhinia monandra KURZ COMO
CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO FARMACOGNÓSTICO DE PLANTAS NA REGIÃO
AMAZÔNICA
Por
Fernanda Ilkiu Borges
RESUMO: Bauhinia monandra Kurz, popularmente conhecida por pata-de-vaca, é muito
utilizada na Amazônia como fitoterápico, devido sua ação hipoglicemiante. Foi feita a
descrição morfo-anatômica e quantificação do princípio ativo (flavonóides) da semente e
órgãos vegetativos em três estádios de desenvolvimento, visando a contribuição à taxonomia e
como parte integrante dos estudos farmacognósticos de plantas da região amazônica com
interesse medicinal. O material inicial, utilizado para propagação, foi coletado no Banco de
Germoplasma da EMBRAPA-CPATU. De todo o material foi realizado cortes histológicos
para a confecção de lâminas permanentes e semi-permanentes; testes histoquímicos para
identificação de alcalóides, taninos, oxalato de cálcio, grãos de aleurona e amido; e avaliação
do teor de flavonóides totais, expressos em porcentagem por grama de matéria seca. A
semente é obcampilótropa, estenospérmica, exotestal com dois extratos epidérmicos
diferenciados, albuminosa com endosperma bem desenvolvido. Possui embrião axial,
constituído de dois cotilédones foliáceos e eixo embrionário contendo plúmula rudimentar e
radícula imperceptível. Apresenta hilo em forma de V na região apical. O teor de flavonóides
observado foi 0,35%. As plantas em estádio juvenil diferenciam-se das plântulas pelo
aumento na quantidade de tricomas no caule, pecíolo e limbo foliar, principalmente sobre as
nervuras; forma quase circular do caule, com início de formação de lenticelas; e ramificação
radicular mais complexa. B. monandra é uma arvoreta com sistema radicular pivotante, caule
cilíndrico, e folha bilobada, com base cordata, nervação palmada, anfiestomática. As
características morfo-anatômicas da planta adulta já estão presentes nas plantas jovens. Nas
folhas dos indivíduos jovens há maior concentração de flavonóides totais, 1,44%, e as raízes
dos indivíduos adultos apresentam a menor concentração, 0,05%.
22
MORPH-ANATOMY OF SEEDS AND VEGETATIVE ORGANS IN THREE DIFFERENT
DEVELOPMENT STAGES OF Bauhinia monandra KURZ AS CONTRIBUTION TO THE
PHARMACOGNOSTIC STUDY OF PLANT IN THE AMAZON REGION
By
Fernanda Ilkiu Borges
ABSTRACT: Bauhinia monandra Kurz, is popularly known as "pata-de-vaca", it is very used
in the Amazonian as phitoterapic, due the hypoglycemic action. It was made the morphanatomical description and quantification of the active beginning (phlavonoids) of the seed
and vegetative organs in three developing steps, looking for apprenticeships the contribution
to the taxonomy and as integral part of the studies pharmacognostics of plants of the
Amazonian area with medicinal interest. Initial material used for propagation was collected in
the Germoplasma Bank of EMBRAPA-CPATU. In the whole material, was maked
histological cuts for making permanent and semi-permanent sheets; tests histoquimics for
identification of alkaloids, tannins, calcium oxalate, aleurone grains and starch; and
evaluation of the content of phlavonoids, expressed in percentage by gram of dry matter. The
seed is obcampilotropous, estenospermic, exotestal with two extracts differentiated of the
epidermis, albuminous with endosperm well developed. It has axial embryo constituted by
two cotyledons and embryonic axis containing rudimentary plume and imperceptible radicle.
It presents hilum V-shaped in the apical area. The content phlavonoids was 0,35%. The plants
in juvenile apprenticeship differ of the plantules for the increase in the amount of trichoma in
the stem, peciole and leaf limbo, mainly on the ribs; it almost circular forms of the stem, with
beginning of lenticels formation; and ramification more complex root system. B. monandra is
an small tree with tap-root root system, with cylindrical stem and bilobed leaves, with cordate
base, palmate veining and amphistomatic. The morph-anatomical characteristics of the adult
plant are already present in the young plants. In the young plants leaves show high content of
phlavonoids, 1,44%, and the adult roots show smallest concentration, 0,05%.
23
CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO GERAL
24
A flora amazônica possui grande diversidade de espécies úteis, como as que
apresentam propriedades alimentares, madeireiras, ornamentais, têxteis, oleaginosas, tânicas,
latescentes, medicinais e outras, sendo considerada uma das mais importantes fontes de
princípios ativos (Di Stasi & Hiruma-Lima, 2002).
Produtos medicinais originários de plantas estão ocupando um lugar cada vez
maior na terapêutica, uma vez que os efeitos colaterais são minimizados e estes possuem a
mesma eficácia que drogas sintéticas. No entanto, o uso desenfreado pode levar à graves
conseqüências, pela possível utilização de uma espécie que não possui o princípio ativo
necessário ou que não tenha o valor terapêutico preconizado, mas que possui o mesmo nome
popular, havendo a necessidade de uma identificação segura da planta, feita por um botânico
morfologista, sistemata ou taxonomista (Correa Júnior et al., 1994).
Das famílias botânicas presentes na região amazônica, a Leguminosae, composta
de inúmeras espécies de grande valor econômico, representa um dos maiores e mais
importantes grupos vegetais, destacando-se o gênero Bauhinia L. (LeguminosaeCaesalpinioideae), de incontestável valor medicinal, com espécies que possuem substâncias
chamadas de “insulina vegetal”, empregando-se tanto em banhos como em beberagem,
recorrendo-se, indiferentemente, às folhas, cascas, lenho e raízes (Cruz, 1982; Vieira, 1992;
Martins et al., 1995; Franco, 1996; Panizza, 1997).
Entre estas espécies hipoglicemiantes estão B. monandra Kurz., B. forficata Link.,
B. purpúrea DC ex Walp; B. variegata entre outras, com propriedade de reduzir a excreção
urinária às proporções normais e impedir o aparecimento do açúcar na urina, regularizando,
assim, a glicemia sangüínea. Conseqüentemente, por possuírem ação glico-reguladora, estas
espécies são da mais alta importância medicinal, porque contribuem, ao lado da insulina, para
a sobrevida dos glicosúricos (Cruz, 1982; Albuquerque et al., 2000). Conhecidas
25
popularmente por “pata de vaca”, são utilizadas na região amazônica no tratamento do
diabetes, como diurético e tônico capilar. Devido a beleza de suas flores, são utilizadas
também como plantas ornamentais.
A Organização Nacional de Saúde reconheceu a importância das plantas
medicinais e das preparações galênicas na cura do organismo humano, e recomendou a
difusão mundial dos conhecimentos necessários ao seu uso (Vieira, 1992).
Atualmente, o aumento da procura por plantas de uso medicinal pela população
em geral, está fazendo com que inúmeros estudos científicos sejam desenvolvidos, visando
tornar a utilização mais segura e o conhecimento mais aprofundado das mesmas, seja do
ponto de vista estrutural ou fisiológico.
Segundo Costa (1986), o estudo botânico de plantas medicinais é de grande
importância, pois possibilita a identificação de constituintes químicos responsáveis por
atividades terapêuticas, além de fornecer relevante contribuição à taxonomia vegetal.
A transformação de uma planta em medicamento deve visar à preservação da
integridade química e farmacológica do vegetal, garantindo a constância de sua ação biológica
e a segurança de utilização, além de valorizar o seu potencial terapêutico (Brasil, 2000;
Sonaglio et al., 2003). Segundo Petrovick et al. (1997), para alcançar esses objetivos tornamse necessários estudos prévios dos aspectos botânicos, bem como agronômicos, químicos,
farmacológicos, toxicológicos e de desenvolvimento de metodologias analíticas.
Visando a contribuição à taxonomia, sistemática e como parte integrante dos
estudos farmacognósticos, o presente trabalho vem descrever os aspectos morfológicos e
anatômicos da semente e órgãos vegetativos em três estádios de desenvolvimento de Bauhinia
monandra Kurz., visto se tratar de uma espécie pouco estudada e muito cultivada na região
amazônica, com alto valor medicinal.
26
CAPÍTULO II
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
27
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Desde as épocas paleolíticas o homem já usava plantas para o tratamento de suas
doenças, fato conhecido não somente pelo estudo das tradições dos povos, mas também pela
investigação científica no campo da antropologia, da paleontologia e da arqueologia préhistórica (Castro, 1981).
A utilização das plantas como medicamento talvez seja tão antiga quanto o próprio
homem, tornando-se difícil delimitar com exatidão as numerosas etapas que marcaram a
evolução do uso destas plantas, já que a medicina esteve, por anos, associada às práticas
mágicas, místicas e ritualísticas (Martins et al., 1995).
Os relatos históricos mostram que a avaliação dos sinais e sintomas que apareciam
após o consumo de certas plantas, bem como a observação de sua morfologia externa ou de
características como cor, cheiro, disposição dos órgãos e tecidos, habitat e outras, revelaria a
atividade terapêutica que a planta possuía (Di Stasi, 1996).
A maioria das plantas empregadas em terapêutica, incluindo o uso empírico, teve
aprovação oficial depois do seu estudo, conforme a farmacognosia, farmacodinâmica e pela
clínica (Castro, 1981).
Os
estudos
sobre
produtos
naturais
necessitam
de
uma
aproximação
interdisciplinar entre antropologia, botânica, etnobotânica, fitoquímica, farmacognosia,
farmacologia e medicina, para que ocorra uma união de esforços em benefício da pesquisa
(Shultes, 1968; Bustamante, 1993).
O desenvolvimento da área de pesquisa referente aos estudos de plantas medicinais
deve-se a participação de um número cada vez maior de profissionais nesta área, resultando
em inúmeras e importantes descobertas. A inter-relação entre profissionais e disciplinas que
28
compõe o estudo de plantas de uso medicinal possibilita a interação e o aumento de resultados
promissores, favorecendo conseqüentemente o desenvolvimento de novos medicamentos
(Arruda Camargo, 1985; Bacchi, 1996; Brito, 1996; Guerra & Nodari, 2003).
Historicamente a farmacognosia é a área de estudo das plantas medicinais, cujo
termo foi proposto por Seydler (1815, apud. Di Stasi, 1996), para designar um dos ramos da
farmacologia, que estudaria drogas e bases medicamentosas de origem natural, utilizadas
como matéria-prima para a preparação de medicamentos, ocupando-se do cultivo e das
técnicas de coleta das espécies vegetais, hoje área de atuação dos agrônomos e botânicos.
Uma das sub-divisões da farmacognosia é a farmacobotânica, que inclui a
morfologia, identificação botânica, fisiologia e patologia das espécies de interesse medicinal,
hoje campo de atuação dos botânicos morfologistas, sistematas e fisiologistas (Di Stasi,
1996).
Plantas medicinais são vegetais que elaboram produtos denominados princípios
ativos, definidos como substâncias que exercem uma ação farmacológica, benéfica ou
prejudicial aos organismos vivos; sua utilização primordial, às vezes específica, é servir como
droga ou medicamento, aliviando a enfermidade ou restabelecendo a saúde perdida
(Bustamante, 1993).
As pesquisas agronômicas na área de cultivo de plantas medicinais ainda estão em
estágio inicial, apesar de serem consideradas como uma das etapas que mais pode interferir na
produção de um fitoterápico (Furlan, 1996).
O estudo botânico de espécies medicinais é fundamental, seja no apoio ao
levantamento antropológico em comunidades, seja relacionado aos estudos morfológicos e
ambientais, contribuindo com importantes informações sobre fenologia, tipos de estruturas
secretoras, hábitos, outras características e identificação das espécies, independente do
29
esquema de pesquisa utilizado, como por exemplo, os de Carlini (1983), Elisabetsky (1987) e
Perozin (1989), citados por Ming (1996).
Em um país como o Brasil, com a maior diversidade vegetal do mundo (Plotkin,
1991; Brasil 1998), e biologicamente rico, embora com ecossistemas ameaçados, pesquisas
com plantas medicinais devem ser incentivadas, levando a reorganização das estruturas de uso
dos recursos naturais, podendo até contribuir com a elevação do PIB, pois há uma grande
tendência mundial de aumento na utilização de fitoterápicos (Guarim Neto & Morais, 2003).
A região amazônica possui grande potencial de uso e comercialização de inúmeros
produtos extraídos de plantas, tais como: látex, óleos e gorduras, condimentos, substâncias
tóxicas, inseticidas, alucinógenos, fibras e madeira, além das plantas medicinais, ornamentais,
forrageiras e tintoriais (Guarim Neto, 1994; Ilkiu-Borges, 2000).
2. ESTUDOS MORFO-ANATÔMICOS
O estudo da morfologia das plantas visa ampliar o conhecimento sobre
determinada espécie ou agrupamento sistemático de plantas (Oliveira, 1993).
O conhecimento morfológico de frutos e sementes, principalmente do pericarpo e
testa, é fundamental para solucionar problemas taxonômicos de famílias botânicas, como a
Leguminosae, com número elevado de gêneros e espécies (Torres, 1986).
Estudar a morfologia das sementes, muitas vezes, é suficiente para a identificação
de famílias, gêneros, espécies ou até mesmo a variedade a qual uma planta se subordina,
sendo, portanto, uma característica a mais na cadeia de caracteres que servem para a
identificação de uma planta (Barroso, 1976).
30
O estudo de espécies medicinais, sob o aspecto da germinação, tem merecido
especial atenção da comunidade científica, devido ao incremento das atividades extrativistas
de plantas brasileiras com potencial farmacológico, aliadas à necessidade de se realizar
cultivos racionais, destinados à produção de fármacos (Pereira, 1992).
A impermeabilidade do tegumento das sementes à água é a causa mais comum da
dormência e tem sido constatada nas Leguminosae, das quais as sub-famílias
Caesalpinioideae e Mimosoideae apresentam o maior número de espécies com esta
característica (Varela & Gurgel, 2001).
A natureza da dormência imposta pelo tegumento é variável, e os mecanismos são,
em geral, a restrição à entrada de água e a trocas gasosas, presença de inibidores químicos,
barreiras com saída de inibidores do embrião e restrição mecânica (Bewley & Black, 1982).
O conhecimento da morfologia de plântulas, considerando-as representantes da
combinação de características da semente e de um indivíduo em estádio adulto, favorece a
identificação de inúmeras espécies (Duke & Polhill, 1981; Kuniyoshi, 1983).
O estudo da taxonomia botânica, da anatomia da madeira e da dendrologia, que se
baseia nas características macroscópicas dos órgãos vegetativos, são recursos que devem ser
utilizados para identificação de espécies vegetais, com a finalidade de estudar a estrutura, a
fenologia e o comportamento de uma espécie (Roderjan, 1983; Pinheiro, 1986; Amorim,
1996).
Metcalfe & Chalk (1957), destacam-se por fornecerem maior número de dados
anatômicos referentes ao gênero Bauhinia, o que é de grande relevância, pois a família
Leguminosae engloba diversos hábitos e a estrutura anatômica exibe uma grande variação em
relação a sua diversidade. Segundo estes autores, o referido gênero possui estruturas anômalas
31
particulares e exclusivas, com exceção de algumas espécies de Cassia. Estas particularidades,
como algumas estruturas caulinares, foram descritas por Solereder (1908).
Sistemas de classificação de tricomas foram desenvolvidos com bases nos estudos
microscópicos. Todavia, o modo pelo qual os pesquisadores chegaram às classificações variou
consideravelmente: alguns dividiram os tricomas em simples e compostos, outros enfatizaram
melhor o aspecto fisiológico ou o desenvolvimento (Hummel & Staesche, 1962). A
classificação proposta por Rauter (1872), por exemplo, foi baseada na origem; De Bery
(1877), nos aspectos fisiológicos; e Weiss (1867) baseou-se na forma dos tricomas.
3. FAMÍLIA LEGUMINOSAE (FABACEAE)
3.1. Importância da família Leguminosae
A família Leguminosae é parte fundamental no aspecto florístico e estrutural da
região amazônica, com extensa distribuição de suas espécies, incluindo árvores, arbustos,
lianas e ervas (Ducke & Black, 1954; Silva et al., 1989; Carreira & Gurgel, 1995, Di Stasi &
Hiruma-Lima, 2002).
Várias espécies da família Leguminosae são largamente utilizadas como produtos
de importância comercial, obtidos sejam das sementes, raízes, caules, folhas, flores ou frutos.
Esta família é uma das maiores entre as dicotiledôneas, com mais de 600 gêneros
que reúnem mais de 18.000 espécies distribuídas em todo o mundo, especialmente nas regiões
tropicais e subtropicais (Barroso, 1991; Joly, 1991). Na região amazônica a família é
constituída por cerca de 3.100 taxa específicos e infraespecíficos, distribuídos em 198 gêneros
(Ducke & Black, 1954; Silva et al., 1989).
32
3.2. Posição taxonômica
A família Leguminosae pertencente à subclase Rosidae, ordem Fabales, é a
terceira maior família em número de taxa, dentre as Angiospermas (Marchiori, 1997; Di Stasi
& Hiruma-Lima, 2002).
A classificação desta família tem gerado controvérsias por parte dos taxonomistas
(Marchiori, 1997). De acordo com Gurgel (2000) existem duas tendências principais, uma
conservadora, adotada por Engler (1964), na qual é mantida a família Leguminosae
(Fabaceae), com as subfamílias Mimosoideae, Caesalpinioideae e Faboideae (ou
Papilionoideae); e outra, adotada por Takhtajan (1980) e Cronquist (1981), que eleva as três
subfamílias à famílias propriamente ditas, Caesalpiniaceae, Mimosaceae e Fabaceae.
Para este estudo foi adotado o sistema de Engler (1964), onde a família
Leguminosae está dividida nas subfamílias Mimosoideae, Caesalpinioideae e Papilionoideae.
A sub-família Caesalpinioideae compreende cerca de 150 gêneros e 2.200
espécies, e dentre estes está o gênero Bauhinia, com aproximadamente 250 espécies
(Cronquist, 1981).
As espécies desta subfamília estão distribuídas, segundo Di Stasi & Hiruma-Lima
(2002), em quatro tribos:
-
Caesalpinieae, que inclui o gênero Caesalpinia, no qual estão distribuídas
inúmeras espécies medicinais com uso em diversos países.
-
Cassieae, que inclui os gêneros Cassia, Dialium e Senna, todos contendo várias
espécies de valor medicinal, amplamente usadas e comercializadas como
medicamentos.
33
-
Cercideae, que inclui o gênero Bauhinia, onde se encontra a espécie B. monandra,
objeto deste estudo, e no qual se pode também referir a B. forficata, espécie
vegetal com grande utilização medicinal no Brasil.
-
Detarieae, que inclui o gênero Copaifera, onde se apresenta a popular Copaíba
encontrada nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, de onde se extrai um óleo
medicinal com grande valor comercial.
3.3. Importância econômica
A família Leguminosae é uma das mais importantes famílias botânicas por ser
fonte de produtos alimentares, medicinais, ornamentais, madeireiros, além de outros produtos
de grande valor econômico (Di Stasi & Hiruma-Lima, 2002).
Muitas espécies de Leguminosae são promissoras comercialmente, pois são fontes
de produtos como proteínas, óleos, corantes, resinas utilizadas para produzir vernizes, tintas e
lacas, além de suas flores fornecerem base para um mel de excelente qualidade. Entre os
gêneros mais conhecidos estão: Acacia, Andira, Bauhinia, Caesalpinia, Copaifera,
Dalbergia, Dipteryx, Hymenaea, Inga, Mimosa, Phaseolus, Senna, entre outros. (Lewis &
Owen, 1989; Lorenzi, 1992; Di Stasi & Hiruma-Lima, 2002).
Esta família classifica-se como a segunda mais importante na produção de
sementes alimentícias, ricas em proteínas e carboidratos, essenciais na dieta humana e animal
(Beltrati, 1994).
34
3.4. Distribuição geográfica e habitat
As Leguminosas são abundantes nas regiões tropicais, pantropicais, temperadas,
áridas, montanhosas, nas savanas e nas terras baixas, estando presente em quase todos os
biomas terrestres de todos os continentes (Polhill et al., 1981; Marchiori, 1997).
Vivem nos mais variados ambientes, em diferentes latitudes e altitudes (Joly,
1976).
Nas regiões tropicais a família encontra-se em ampla diversidade, sendo o Brasil
rico em espécies silvestres. Na Amazônia, apresentam padrão de distribuição contínua,
irregular, ou em alguns casos, com gêneros endêmicos de relevante importância econômica
(Silva et al., 1989, Gurgel, 2000).
A subfamília Caesalpinioideae é comum nas regiões tropicais e subtropicais, mas
algumas espécies desenvolvem-se em climas temperados (Cronquist, 1981). De acordo com
Polhill & Raven (1978) esta subfamília ocorre na América do Sul, África e Sudeste da Ásia.
As leguminosas podem ser encontradas em florestas densas, de várzeas e de igapó,
matas de cipó, campinas, campinaranas, restingas e campos de terra firme (Ducke & Black,
1954; Braga, 1979)
3.5. Hábito
As espécies da família Leguminosae são de hábito muito variado; vivem em
diversos ambientes, em diferentes latitudes e altitudes (Joly, 1991).
De um modo geral caracterizam-se como ervas anuais, ou perenes, eretas,
prostradas, difusas ou escandentes, subarbustos, arbustos eretos, sarmentosos ou escandentes,
35
e árvores de pequeno, médio ou grande porte (Barroso, 1991; Gurgel, 2000; Di Stasi &
Hiruma-Lima., 2002).
3.6. Morfo-anatomia de órgãos reprodutivos e vegetativos
O sistema radicular da família Leguminosae, segundo Barroso (1991), é bastante
desenvolvido, com predominância de raiz principal; raízes adventícias e tuberosas ocorrem
com menos freqüência. É freqüente o aparecimento de xilopódios em espécies dos cerrados
As folhas, em geral, são de disposição alterna, compostas, pari ou imparipenadas
com duas estípulas foliáceas, reniformes ou ovaladas, medindo poucos centímetros de
comprimento na base dos pecíolos; as estipelas podem estar ausentes nos folíolos, ou
transformadas em espinhos, podem às vezes apresentarem-se em forma de gavinhas, ou
reduzidas a dois ou a um só folíolo. As folhas podem apresentar espinhos ou acúleos, retos ou
curvos. Folhas e folíolos de todas as ordens, sempre com pulvinos na base, seja do pecíolo,
seja dos peciólulos, que permitem movimentos diuturnos aos folíolos e folhas. Nectários
extraflorais, sob forma de glândulas patiliformes, urceoladas, globosas, claviformes, cônicas
etc., podem ser sésseis ou estipitados (Metcalfe & Chalk, 1957; Joly, 1976; Barroso, 1991).
Indumentos podem estar presentes nas formas de pêlos simples, unisseriados, multisseriados,
ou de tricomas glandulares, nas diversas partes ou órgãos das plantas. As folhas das
leguminosae em geral podem apresentar tricomas, glandulares ou não-glandulares, com
número de células e formas diversas (Metcalfe & Chalk, 1957). O tipo de inflorescência é
racemoso, onde a raqui produz ramos secundários sob a forma de apêndices atrofiados, antes
da formação dos pedicelos. Flores variadas, cíclicas, de simetria radial até fortemente
zigomorfas, diclamídeas com cálice gamossépalo pentâmero ou tetrâmero; corola dialipétala
36
pentâmera ou tetrâmera, na maioria das vezes com pétalas muito desiguais, como nas
Papilionoideae. Androceu formado por quatro ou 10 estames, livres ou soldados entre si,
todos férteis ou alguns transformados em estaminódios, abrindo-se por rimas ou por poros
apicais. Ovário sempre súpero, unicarpelar e unilocular, às vezes dividido por falsos septos,
com muitos óvulos, raramente um só (Metcalfe & Chalk, 1957; Joly, 1976; Barroso, 1991).
Fruto variado, em geral legume, seco, deiscente por duas valvas ou do tipo lomento,
segmentando-se; ou secos e indeiscentes ou de pericarpo mais ou menos carnoso. Sementes às
vezes envoltas em mucilagem, ou polpa doce, ou com arilo, ou ainda com testa duríssima
(Joly, 1976; Barroso, 1991; Gunn, 1991).
Muitas são plantas que vivem simbioticamente com certas bactérias capazes de
fixar o nitrogênio do ar, encontradas nos nódulos das raízes (Joly, 1976).
Em todos os órgãos das leguminosae pode-se encontrar cristais, solitários ou não
(Metcalfe & Chalk, 1957).
Os vasos do caule das Caesalpinioideae e Mimosoideae são geralmente solitários,
poucos são múltiplos e irregulares; nas Papilionoideae são múltiplos, variando de duas ou três
células, na maioria das espécies. Os raios são de uni a plurigeminados, variando entre as
espécies e/ou gêneros (Metcalfe & Chalk, 1957).
37
4. Bauhinia monandra KURZ
● Bauhinia monandra Kurz, J. Asiat. Soc. Beng. 42 (2): 73. 1873.
4.1. Sinonímias
- B. richardiana Voigt, Hort. suburb. Calcutta 225. 1845 (non DC.).
- B. kappleri Sagot, Ann. Sci. nat. (Bot.) 4,13:317. 1882.
- B. krugii Urb., Ber. deutsch. bot Ges. 3:83. 1885.
- Caspareopsis monandra (Kurz) Br. & Rose in N. Am. Fl. 23:217. 1930.
4.2. Nomes vulgares
Na Amazônia, a espécie Bauhinia monandra Kurz recebe diferentes denominações
populares: pata-de-vaca, capa-bode, casco-de-burro, casco-de-vaca, ceroula-do-homem,
miriró, mororó, pata-de-veado, unha-de-anta, unha-de-vaca, unha-de-veado e bauínia (Font
Quer, 1963; Pio Corrêa, 1926; Cruz, 1982; Vieira, 1992; Martins et al., 1995; Franco, 1996;
Panizza, 1997); bem como as espécies B. candicans Benth. , B. forficata, B. variegata, ou
qualquer espécie deste gênero com folhas bilobuladas no ápice, o que lhes confere o aspecto
característico de uma pata-de-vaca.
É possível encontrar algumas variações na nomenclatura popular para diferenciar
algumas espécies do gênero Bauhinia, como “pata-de-vaca” para B. forficata, “pata-de-vaca
avermelhada” para B. purpúrea, “pata-de-vaca branca” para B. variegata, e “pata-de-vaca
lilás” para B. monandra (Filho, 2004).
38
Essien & Fetuga (1989), referem-se a B. monandra como “Bauínia-borboleta”.
Na Costa Rica esta espécie é conhecida por Orquídea de pobre ou árvore das
orquídeas (Poveda & Sánchez, 1999).
4.3. Importância econômica
Alguns autores (Pio Corrêa, 1926; Essien & Fetuga, 1989; Vieira, 1992; Martins et
al., 1995; Franco, 1996; Argolo et al., 2004; Damasceno et al, 2004; Lino et al., 2004; Pepato
et al., 2004; de Sousa et al., 2004) relatam que a “pata-de-vaca“ é potencialmente medicinal,
eficaz no tratamento da diabete (hipoglicemiante), como fonte de vitamina A, purgativa e
diurética.
Sementes, cascas, folhas e brotos da espécie Bauhinia monandra são utilizados de
várias formas nas regiões onde ocorrem: as sementes servem como alimento, pois é fonte de
vitamina A (Essien & Fetuga, 1989) e como um possível agente controlador de praga
(Freedman et al., 1979); segundo Balogun & Fetuga (1985), em geral, as sementes de
Bauhinia contêm altas concentrações de ácidos graxos oléicos e linoleicos, que são de grande
importância aos processos inflamatórios, de dor e coagulação do sangue (Moyna & Heinzen,
2003); a madeira é usada para alimentar caldeiras em Porto Rico e em estacas para cercas na
Jamaica (Little Jr. et al., 1974); o chá ou a tintura das folhas de algumas espécies de Bauhinia
conhecidas como pata-de-vaca, por exemplo a B. forficata, é eficaz no tratamento da diabete,
combate a urina solta (poliúria), reduz a excreção urinária às proporções normais e impede o
aparecimento de açúcar na urina e no sangue; as flores novas possuem ação purgativa e a
casca dos ramos combate a diarréia; a raiz, em decocto, funciona como vermífugo (Vieira,
39
1992; Martins et al., 1995; Panizza, 1997; Argolo et al., 2004; Damasceno et al, 2004; Lino et
al., 2004; Pepato et al., 2004; de Sousa et al., 2004).
Alguns autores (Bailey, 1941; Neal, 1965; Larsen & Larsen, 1973; Cruz, 1982;
Martins et al., 1995) citam ainda, a importância de B. monandra como planta ornamental,
devido a beleza de suas flores.
4.4. Distribuição geográfica
A espécie B. monandra é freqüente nas regiões tropicais de todo o mundo (Larson,
1974).
É nativa do sudeste da Ásia, e plantada no Havaí. É naturalizada em Porto Rico e
em toda parte no oeste da Índia. Na Venezuela foi coletada em Mérida (Francis & Liogier,
1991; Little et al., 1974; Neal, 1965).
No Havaí encontram-se 13 espécies introduzidas de Bauhinia (Neal, 1965), e pelo
menos cinco espécies em Porto Rico, inclusive B. monandra (Francis & Liogier, 1991). É
também cultivada em Burma (Larson, 1974).
Há registros de ocorrência no Brasil, sendo cultivada no estado da Bahia, em
Ilhéus; no Distrito Federal (Filho, 2004); e ainda nos estados do Amapá, Pará, e Amazonas.
4.5. Características botânicas gerais
Bauhinia monandra é uma arvoreta de pequeno ou médio porte que pode atingir
de 3 a 8 m de altura; tronco liso de tons cinza, podendo tornar-se escamoso de cor marromavermelhado nos indivíduos mais velhos (Little & Wadsworth, 1964); possui pequenos ramos
40
frágeis, pendentes; folhas alternas, arredondadas e bilobadas no ápice, lóbulos concrescidos
na base até um terço ou metade da folha; venação palmatinérvia, constituída por 09 ou 11
veias principais, o que lhe dá o aspecto de uma pata de vaca. Flores zigomorfas parecidas com
as orquídeas, com cinco pétalas; de comprimento igual ou menor que as sépalas do cálice, que
variam entre a cor rosa e lilás com pontoações avermelhadas; quando jovens apresentam-se
quase brancas com pontoações róseas; de dimensões variadas; possui somente um estame
fértil. Fruto do tipo vagem, de coloração pardo-escura (Little & Wadsworth, 1964; Neal,
1965).
Esta espécie floresce aos três ou quatro anos de idade (Bailey, 1941), sua floração
e frutificação permanecem por quase todo o ano, no período de abril a outubro (Little &
Wadsworth, 1964), sendo que a época de maturação ideal ocorre entre os meses de agosto a
outubro.
Algumas espécies do gênero Bauhinia têm exigências fisiológicas bem
determinadas, pois vegeta, preferencialmente, em solos com alta fertilidade, sendo
consideradas como padrão de solo equilibrado (Costa, 1975), como é o caso de B monandra e
B. forficata.
B. monandra propaga-se por sementes em viveiro, desenvolvendo-se em vários
tipos de solos, não tolera terrenos encharcados; o espaçamento usado no plantio é de 4x4 m e
a colheita é feita após 2-3 anos do plantio (Martins et al., 1995). Em Porto Rico desenvolve-se
em áreas que recebem 900 a 2000 mm de chuva anualmente, em solos bem drenados (Francis
& Liogier, 1991).
A época ideal para coleta das sementes merece especial atenção e apurada
observação, pois Popinigis (1977) afirma que o grau de maturação fisiológica e sanidade das
sementes são fatores limitantes para uma boa germinação.
41
As condições ideais para a germinação de uma espécie estão diretamente
relacionadas ao seu desenvolvimento vegetativo (Pereira, 1992). Outro fator importante
relacionado com a boa germinação é a orientação das sementes no solo no momento do
plantio.
Studart (1989) observou no campo a reprodução natural, por sementes, nas
circunvizinhanças da planta mãe de B. forficata, fato este que também ocorre com B.
monandra. Constatou, também, em indivíduos mais velhos, rebrotamentos a partir da raiz à
distância de mais de um metro da planta original.
As espécies do gênero Bauhinia possuem características diferentes, embora
possuam outras típicas e exclusivas, mas no que diz respeito a germinação, podem ser
variados os índices e necessidades das sementes, como no caso da B. rufescens Lam., pois a
germinação pode ocorrer satisfatoriamente com 52 semanas, submetendo as sementes ao
processo de escarificação e submersão em ácido sulfúrico (H2SO4) 97% (Connor, 2000).
Uma vez secas, com menos que 12% de umidade, as sementes de B. monandra
quando colocadas em recipientes hermeticamente fechados, e armazenadas em temperatura
entre 2 e 4ºC, devem conservar suas características intactas por pelo menos 3 anos (Connor,
2000).
As sementes de B. monandra não apresentam impermeabilidade do tegumento à
água, como muitas sementes de leguminosas, não necessitando de tratamentos prégerminativos para superar a dormência, como em espécies dos gêneros Mimosa (Kuniyoshi,
1983), Calopogonium, Dipteryx e Senna (Gurgel, 2000), pois as sementes da espécie B.
monandra germinam sem a necessidade de escarificação, ou qualquer tipo de tratamento que
vise a quebra da dormência, obtendo-se alta taxa de germinação (Francis & Rodriguez, 1993).
42
Estudos feitos por Francis & Rodriguez (1993), com B. monandra, resultaram em
100% de germinação, e as sementes começaram a germinar quatro dias após a semeadura,
utilizando-se papel de filtro como substrato.
4.6. Princípio ativo
Em geral, as sementes de Bauhinia contêm altas concentrações de ácidos graxos,
oleico e linoleico (Balogun & Fetuga, 1985).
Na região amazônica, as plantas chamadas “pata-de-vaca” são largamente
utilizadas pela população como medicamento, devido sua pretensa ação hipoglicemiante,
visando o controle do diabetes. A espécie Bauhinia forficata, também conhecida por “pata-devaca”, é a espécie mais citada pelos pesquisadores da fitologia, como a espécie medicinal de
ação hipoglicemiante utilizada no Brasil (Machado et al., 1965; Studart, 1989; Pereira, 1992;
Vieira, 1992; Martins et al., 1995; Panizza, 1997; Atroch, 1999).
Alguns autores (Martins et al., 1995; Panizza, 1997) citam os flavonóides
(campferol, rutina e quercitrina) como constituintes químicos principais da espécie Bauhinia
forficata atribuindo-lhes a ação fitoterápica da espécie. Os flavonóides são citados
constantemente em estudos com espécies medicinais, como substâncias altamente ativas e
com
variados
efeitos
terapêuticos,
como
antineoplásicos,
antiinflamatórios
e
hipoglicemiantes, entre outras propriedades (Atroch, 1999).
Segundo Domínguez (1973) existem cerca de 200 flavonóides naturais (pigmentos
vegetais) que se encontram extensamente distribuídos entre as plantas de forma livre, tanto
quanto os glicosídeos que são responsáveis pelas cores das flores, frutos e folhas.
43
Além dos flavonóides, Martins et al. (1995) e Panizza (1997) citam glicosídeos,
ácidos orgânicos (tartáricos), taninos, sais minerais e mucilagem como princípios ativos da
espécie B. forficata.
A espécie B. monandra e outras do gênero Bauhinia, como B. forficata, B.
malabarica Roxb., B. pentandra (Bong.) Vog. ex Steud. e B. variegata têm despertado grande
interesse por parte dos pesquisadores, devido suas propriedades farmacológicas. Muitos
trabalhos de caráter qualitativo e quantitativo têm sido feitos com o intuito de avaliar as
substâncias que exercem ação farmacológica nestas espécies, como por exemplo, os estudos
de Bailey, 1941; Neal, 1965; Freedman, et al., 1979; Cruz, 1982; Zaka, et al., 1983; Balogun
& Fetuga, 1985; Essien & Fetuga, 1989; Correa Júnior et al., 1991; Francis & Rodríguez,
1993; Martins et al., 1995; Poveda, 1999; Coelho & Silva, 2000; Connor, 2000; Silva et al.,
2001; Warren, 2001; Di Stasi & Hiruma-Lima, 2002; Reis et al., 2003.
44
CAPÍTULO III
MATERIAL E MÉTODOS
45
•
ÁREA DE COLETA
As sementes utilizadas para propagação foram coletadas no Banco de
Germoplasma (BAG) da EMBRAPA - Amazônia Oriental, localizada na Trav. Dr. Enéias
Pinheiro s.n., Belém (PA) (Fig. 01).
Figura 01- Banco de Germoplasma (BAG) de Bauhinia,
EMBRAPA-CPATU/ Belém-PA.
•
SELEÇÃO DAS MATRIZES E OBTENÇÃO DE MATERIAL BOTÂNICO
Foram selecionados cinco indivíduos adultos no mesmo estádio de crescimento.
Deles foram coletas 1000 sementes, sendo 100 para estudos morfológicos, 50 para estudos
anatômicos, 100 destinadas aos estudos fitoquímicos e as 750 restantes para semeadura.
46
Das 750 sementes que foram semeadas, todas atingiram o estádio de plântula:
destas, cerca de 380 alcançaram o estádio juvenil e dez foram cultivadas até atingir o estádio
adulto. Obtendo-se assim, o material vegetativo destinado aos estudos morfológicos,
anatômicos e fitoquímicos. Algumas plântulas se deterioraram no decorrer do experimento
por fatores ambientais.
As folhas foram coletadas aleatoriamente de indivíduos adultos, sendo que seis
folhas de cada indivíduo foram utilizadas para morfologia e três para anatomia.
•
COLETA E BENEFICIAMENTO DOS FRUTOS E OBTENÇÃO DAS SEMENTES
Os frutos foram coletados diretamente das copas das matrizes, aleatoriamente, com
auxílio de podão ou tesoura de poda e acondicionados em sacos de papel. As medidas foram
feitas com paquímetro digital, abertos com o auxílio de uma faca com lâmina de metal e
levados ao Laboratório da EMBRAPA - Amazônia Oriental, onde os experimentos foram
conduzidos.
As sementes foram retiradas manualmente do fruto e misturadas para
homogenização do lote, sendo pesadas e acondicionadas em potes plásticos e
mantidas sob refrigeração até o momento das análises.
•
GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Para a obtenção das plântulas, as sementes foram semeadas em areia lavada, a
meio centímetro do solo, mantidas em câmara úmida em casa de vegetação.
47
As plântulas que não foram utilizadas nos estudos morfológicos, anatômicos e
fitoquímicos, foram transplantadas para sacos de polietileno contendo mistura de terra e areia
na proporção 1/1, sendo mantidas e acompanhadas em estufa de sombrite (50%) e regadas
diariamente até a obtenção dos indivíduos jovens. Posteriormente, os indivíduos reservados
ao estádio adulto foram levados ao campo e transplantados para covas de 0,3 m3.
Não houve a necessidade de realizar qualquer tratamento para superação da
dormência das sementes.
Para evitar aproximação de insetos e/ou fungos foi utilizado Benlat 70% no
substrato da câmara úmida e adicionado ao composto terra e areia.
Aos vinte e dois dias após o início da germinação foram obtidas as plântulas, e aos
30 dias após o estabelecimento das mesmas foram coletados os indivíduos em estádio juvenil,
selecionados somente aqueles que se apresentaram normais, ou seja, sem deformações ou
deteriorização causadas por motivos ambientais ou por insetos.
Para a definição de plântula foi considerada a presença do primeiro e segundo
protófilos já estabelecidos, outras gerações foliares e presença de cotilédones. Para a definição
do estádio juvenil foi considerada a presença dos dois protófilos e dois metáfilos já
estabelecidos, acompanhados de outras gerações foliares.
Os espécimes adultos estudados apresentavam-se com aproximadamente três
anos de desenvolvimento, medindo em torno de três metros de altura, com diâmetro do
caule variando de cinco a oito centímetros.
1. ESTUDO MORFOLÓGICO
1.1. Morfologia das sementes
48
As sementes foram selecionadas aleatoriamente e feitos cortes transversais e
longitudinais, à mão livre, utilizando-se lâminas de aço e estereoscópio. Foram
pesadas em balança de precisão e medidas com auxílio de paquímetro digital
(mm) (Oliveira & Saito, 1991).
As medidas tomadas foram: comprimento, medido da base até o ápice da
semente, largura e espessura e obtidos os seguintes dados estatísticos: média,
mínimo, máximo e desvio padrão, considerando a aferição de 30 sementes.
1.2. Morfologia dos órgãos vegetativos
As análises morfológicas foram feitas com o auxílio de lupa de mesa e lâminas
de aço.
As raízes dos indivíduos em estádio adulto foram observadas em trincheiras,
utilizando-se pá e serra de metal.
Os parâmetros observados para a descrição do caule seguiram a classificação
de Ribeiro et al. (1999).
1.3. Fotografias e MEV
As fotografias foram obtidas com o auxílio de fotoestereoscópio Steni SV11 MC80, Zeiss,
do Laboratório de Botânica Agroflorestal (LABAF), da Universidade Federal do
Amazonas (UFAM); as eletromicrografias foram obtidas em Microscópio Eletrônico de
49
Varredura (MEV) JMS-5400 LV, JEOL, do Laboratório de Geologia do Museu Paraense
Emílio Goeldi, Belém, Pará.
2. ESTUDO ANATÔMICO
2.1. Diafanização
As folhas foram fixadas em solução de hidróxido de sódio 5%, trocadas a cada
24 horas, por dois dias, e lavadas em água corrente, seguindo-se coloração com safranina 1%
em álcool 50% (Johansen, 1940).
2.2. Dissociação da epiderme foliar
As folhas foram divididas nas regiões apical, mediana e basal, de onde foram
retiradas secções da região da nervura central e margem e submersas em hipoclorito de sódio
comercial (Mendonça, 1983) por algumas horas, para separação das epidermes adaxial e
abaxial. Posteriormente, o material foi corado com safranina, astrablau e/ou fucsina básica
(Machado et al., 1988).
2.3. Número de estômatos por mm2
50
Foram contados estômatos de dez campos aleatórios, das margens e próximos à
nervura central. A contagem de estômatos foi obtida em objetiva de 40x, com o auxílio de
fotomicroscópio Axioskop MC80, Carl Zeiss.
2.4. Cortes histológicos
Para confecção de lâminas semi-permanentes foram utilizados cortes à mão
livre feitos com lâminas de barbear, com a finalidade de realizar testes histoquímicos; e com o
auxílio de micrótomo rotativo Leica RM2145 foram confeccionadas as lâminas permanentes,
sendo o material anteriormente preparado e emblocado em parafina, seguindo a técnica usual
em anatomia vegetal (Johansen, 1940), com modificações do tempo de fixação.
Lâminas permanentes de caule adulto foram confeccionadas com o auxílio de
micrótomo de deslize, Jung SM 2000, de onde foram retirados cortes anatômicos nos planos
transversal, longitudinal-radial e longitudinal-tangencial, seguindo-se técnica usual em
anatomia da madeira (Kraus & Arduin, 1997). A montagem foi feita em Bálsamo do Canadá e
glicerina (Johansen, 1940; Mendonça, 1980).
2.5. Obtenção dos corpos de prova
Para os estudos anatômicos do caule adulto foram retirados corpos-de-prova
com dimensão de 1x1x2cm, devidamente orientados, obtidos com auxílio de serra de metal,
retirados de discos de diferentes diâmetros.
51
2.6. Montagem de lâminas permanentes de macerado de xilema
Dos corpos-de-prova foram retirados pequenos cavacos que foram fixados em
solução de ácido acético glacial 50%, peróxido de hidrogênio 130V 38% e água destilada
12%, lavados em água corrente e montados em Bálsamo do Canadá, seguindo técnica usual
em anatomia da madeira para confecção de lâminas permanentes de macerado de xilema
(Kraus & Arduin, 1997), com modificações no tempo de fixação; cujas lâminas foram
utilizadas para mensuração de segmentos de vasos e fibras. Para as medições anatômicas
foram adotadas as normas da COPANT (1973), com modificações adotadas por Burger
(1979) e Marchiori (1980).
2.7. Testes histoquímicos
Testes histoquímicos foram realizados para identificação de alcalóides, taninos,
oxalato de cálcio, grãos de aleurona e amido, além de testes para detectar a presença do
princípio ativo, seguindo técnica usual em anatomia vegetal (Hamly, 1932; Johansen, 1940;
Sass, 1951; Costa, 1982; Menezes-Neto, et al. 1998).
2.8. Fotomicrografias e MEV
Pequenos fragmentos do material em análise foram submetidos ao processo de
desidratação em série alcoólica etanólica (30, 50, 70, 80, 90, 95 e 100%), em um período total
de duas horas e 20 minutos. Em seguida foram conduzidos ao processo de obtenção de ponto
52
crítico e metalização com pó de ouro, a fim de que pudessem ser depositados, devidamente
organizados, em suportes circulares de metal (stubs), de mais ou menos um centímetro de
diâmetro, com a finalidade de obtenção de eletromicrografias em Microscópio Eletrônico de
Varredura (MEV) JMS-5400 LV, JEOL, do Laboratório de Geologia do Museu Paraense
Emílio Goeldi, Belém, Pará.
As fotografias foram obtidas através de fotomicroscópio Axioskop MC80, Zeiss e
fotoestereoscópio Stemi SV11 MC80, Zeiss, do Laboratório de Botânica Agroflorestal
(LABAF), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
3. ESTUDO FITOQUÍMICO
3.1. Coleta, transporte e beneficiamento das amostras
O
MATERIAL UTILIZADO FOI COLETADO E LEVADO IMEDIATAMENTE À ESTUFA,
SEGUINDO O PROCESSO DE ESTABILIZAÇÃO E SECAGEM A
DESIDRATAÇÃO.
ESTE
65ºC,
ATÉ COMPLETA
PROCESSO FOI ADAPTADO AOS ÓRGÃOS VEGETATIVOS E SEMENTES,
NECESSITANDO DE DIFERENTES INTERVALOS DE TEMPO, QUEBRA, CORTES OU FISSURAS,
RELACIONADAS AOS DIFERENTES ÓRGÃOS, ATÉ TOTAL ESTABILIZAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE.
As folhas foram coletadas com o auxílio de tesoura de poda. O material caulinar
do indivíduo adulto foi obtido com auxílio de serra de metal, obtendo-se discos de diferentes
diâmetros, selecionados aleatoriamente. As raízes puderam ser obtidas com o auxílio de pá,
cortadas com serra de metal.
Todo material foi levado à estufa em sacos de papel, de 0,5, 1 e 2 Kg.
53
3.2. Condições de análise do teor de princípio ativo
Para a extração do princípio ativo foram utilizados 2 g (dois gramas) do material
seco e moído.
Foi avaliado o teor de flavonóides totais da semente, folha, caule e raiz, nos
diferentes estádios de desenvolvimento, por meio de técnica de extração, com 150 ml de
metanol (MeOH) 70%, em Soxhlet por três horas (Fig. 02A). Em seguida o extrato foi
filtrado, em papel de filtro, e o volume completado para 250 ml, com MeOH 70%. Uma
alíquota de 15ml do extrato foi colocada em balão volumétrico, acrescida de 1 ml de solução
de cloreto de alumínio (5 g de cloreto de alumínio em 100 ml de MeOH), sendo o volume
completado para 50 ml, com MeOH 70%. Após um repouso de 30 minutos foi levado ao
espectrofotômetro UV/visível, e feita a leitura a 425 nm, para a obtenção da concentração de
flavonóides em μm/ml (Fig. 02B).
A análise foi feita em triplicata (Fig. 02C), e os dados de absorbância das amostras
foram comparados com uma curva padrão constituída a partir de solução com concentrações
crescentes de rutina. A solução padrão foi preparada com MeOH 70% numa concentração de
100 μm/ml. Alíquotas de 2,0 a 6,0 ml, com intervalos de 0,5 ml foram utilizadas para
confecção da curva, acrescidas de 1,0 ml de cloreto de alumínio e o volume completado para
50 ml com MeOH 70%. Os teores de flavonóides totais foram expressos em porcentagem por
grama de matéria seca (Atroch, 1999).
Houve a necessidade de diferentes diluições, a fim de que os valores se
encaixassem na curva padrão. Foram retiradas alíquotas do extrato, nas quantidades
necessárias de acordo com os órgãos vegetativos e sementes, e acrescentado 1 ml da solução
54
de cloreto de alumínio e completado para 50 ml, com MeOH 70%. Nos cálculos de diluição,
foram levadas em conta as diferenças.
Os valores da curva padrão na leitura a 425nm, em espectrofotômetro UV/visível
formaram os seguintes pontos:
Curva Padrão (RUTINA)
Concentrações crescentes
Pontos da curva
(μg/ml)
2,0ml sol. padrão >> 4μg/ml
0,111
2,5ml sol. padrão >> 5μg/ml
0,138
3,0ml sol. padrão >> 6μg/ml
0,164
3,5ml sol. padrão >> 7μg/ml
0,190
4,0ml sol. padrão >> 8μg/ml
0,220
4,5ml sol. padrão >> 9μg/ml
0,247
5,0ml sol. padrão >> 10μg/ml
0,276
5,5ml sol. padrão >> 11μg/ml
0,300
6,0ml sol. padrão >> 12μg/ml
0,329
55
A
LABORATÓRIO
DE
PESQUISA AGROFLORESTAL
DO
ANÁLISE DO TEOR DE PRINCÍPIO ATIVO FOI FEITA NO
AGROINDÚSTRIA/PLANTAS MEDICINAIS,
NO
CENTRO
DE
TRÓPICO ÚMIDO (CPATU) / EMBRAPA - AMAZÔNIA ORIENTAL, BELÉM (PA).
B
A
C
Figura 02- Condições de análise para obtenção e quantificação de
flavonóides. A) O material seco e moído foi submetido ao Soxhlet em MeOH
70%; B) Espectrofotômetro UV/visível, leitura a 425nm para a obtenção da
concentração em μm/ml; C) Triplicatas dos órgãos vegetativos do estágio
juvenil.
56
CAPÍTULO IV
MORFO-ANATOMIA DA SEMENTE DE Bauhinia monandra KURZ
(LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) COMO CONTRIBUIÇÃO AO
ESTUDO FARMACOGNÓSTICO DE PLANTAS NA REGIÃO
AMAZÔNICA.
57
1. INTRODUÇÃO
A família Leguminosae é uma das mais importantes no reino vegetal, pois é
abundante o número de gêneros e espécies distribuídos nas subfamílias Mimosoideae,
Papilionoideae e Caesalpinioideae. Nesta última está presente o gênero Bauhinia, constituído
por 250 espécies (Cronquist, 1981).
B. monandra, em especial, possui grande valor econômico, pois é utilizada como
ornamental, forrageira e principalmente medicinal, cuja ação hipoglicemiante é utilizada para
o controle do diabetes. Na Amazônia esta espécie é conhecida popularmente como “pata-devaca”, devido à forma peculiar de suas folhas.
O conhecimento das características morfológicas e anatômicas dos diversos
órgãos, reprodutivos e/ou vegetativos, das plantas medicinais é fundamental para a correta
identificação das espécies largamente utilizadas pela população, e segundo Metcalfe & Chalk
(1950), os estudos anatômicos têm se mostrado cada vez mais úteis na identificação botânica,
tornando-se fundamental à sistemática e taxonomia.
A identificação botânica de sementes por meio de características morfológicas e
estruturais, segundo Beltrati (1994), é relevante aos estudos paleobotânicos, arqueológicos e
fitopatológicos, de comunidades vegetais e análise de sementes de uso agrícola, e o
conhecimento das características morfológicas dos frutos e do processo germinativo é
necessário para a compreensão do comportamento das espécies em diferentes estádios de
desenvolvimento (Kuniyoshi, 1983).
Este estudo tem por finalidade descrever morfológica e anatomicamente as
sementes de B. monandra e avaliar o teor de princípio ativo (flavonóides), como contribuição
58
aos estudos taxonômicos e farmacognósticos de plantas de uso medicinal presentes na
Amazônia.
2. RESULTADOS
Para um maior entendimento a respeito das sementes, fez-se necessário um breve
estudo morfológico do fruto.
O fruto de B. monandra é um legume reto, ligeiramente encurvado nas
extremidades, simples, seco, de deiscência elástica, placentação marginal, polispérmico, com
as sementes se alternado nas duas valvas lenhosas, possuindo em média, 12 sementes por
fruto (4 - 19). O pericarpo maduro é seco, pulverulento, internamente opaco, de tons castanho;
funículo relativamente curto, sub-lenhoso, filiforme, castanho-claro (Fig. 03). O fruto maduro
possui margens de coloração castanho, quase negro, e no centro, sob os núcleos seminíferos,
castanho escuro (Fig. 04Aa); quando imaturo apresenta-se de cor verde (Fig. 04Ab). É
estenocárpico, estreitamente oblongo, achatado, com ápice suavemente agudo, apiculado (Fig.
04B) e base cuneada atenuada, sub-estipitada (Fig. 04C); margens inteiras, nervuras dorsal e
ventral caracterizadas por uma linha rígida e saliente, que vai do ápice a base do fruto. Os
frutos medem em média 18,99 cm de comprimento, 2,14 cm de largura e 1,40 cm de
espessura; pesam em torno de 4,5 g.
59
1 cm
Figura 03 – Fruto de B. monandra. Valvas lenhosas
com sementes alternas.
a
b
2 cm
A
B
2 cm
C
2 cm
Figura 04 – Fruto de Bauhinia monandra. A) Frutos maduro (a) e
imaturo (b); B) Detalhe do ápice; C) Detalhe da base.
A semente de Bauhinia monandra é estenospérmica, oblongas, com base
arredondada, margem inteira, ápice assimétrico, perfil convexo pouco acentuado (Fig. 05)
(Tab. 01). É exotestal, conforme classificação de Beltrati & Paoli (2003).
A testa é monocrômica, de cor castanho, tendendo a ser mais escura nas bordas,
brilhante e lisa; possui depressões pouco acentuadas na região sub-apical; apresenta-se pétrea
quando desidratada e membranácea quando hidratada. Encontra-se recoberta por uma fina
cutícula, apresentando pequenas perfurações em sua superfície, vista em MEV (Fig. 06). É
60
constituída por dois estratos epidérmicos: o estrato externo é formado por células alongadas
em paliçada que formam uma camada de macrosclereídeos ou camada de Malpighi,
característica comum às sementes das Leguminosae-Caesalpinioideae, onde se pode observar
a presença da linha lúcida (Fig.07A), ou linha clara, que resulta em uma região reforçada
pouco acima do meio das células, que por estarem na mesma posição formam uma linha
contínua que acompanha toda a extensão da semente. O segundo estrato apresenta-se
pluriestratificado, com células heterodimensionais, irregulares, de paredes ligeiramente
espessas, com conteúdo resinífero de coloração marrom-avermelhado e grandes espaços
intercelulares (Fig. 07B).
Figura 05 – Sementes de Bauhinia monandra
61
Figura 06 – Testa da semente de B. monandra, MEV.
ct
cs
te
te
ll
rs
en
en
38 µm
A
B
Figura 07- A) Secção transversal da semente de B. monandra destacando linha
lúcida, em microscópio eletrônico de varredura (MEV) . B) Corte transversal da
semente com detalhe para o contudo resinífero. cs- camada subepidérmica; ctcutícula; en- endosperma; ll- linha lúcida; rs- conteúdo resinífero; te- testa.
A semente é albuminosa com endosperma contínuo, cartilaginoso e branco
quando desidratado, gelatinoso e hialino-amarelado quando hidratado, espesso, adnato à testa;
é formado por uma camada unisseriada de células justapostas de formato arredondado, que
compõem um estrato multisseriado de células ovaladas de tamanhos diferenciados (Fig. 07);
62
observou-se a presença de substância mucilaginosa nos espaços intercelulares. O endosperma
ocupa cerca de 2/3 do espaço interno da semente (Fig. 08A).
O embrião é axial, invaginado, ocupa 1/3 da semente com relação ao endosperma,
possui eixo embrionário com plúmula rudimentar e radícula imperceptível (Fig. 08B e 09).
Além de dois cotilédones foliáceos, planos, espessos, de consistência cartilaginosa de
coloração branco-amarelado, recobrindo parcialmente o eixo embrionário, base arredondada,
margem inteira, lâminas unidas somente próximo ao eixo (Fig. 08C), exibem nervação bem
marcada em vista dorsal; apresentam protoderme com células cúbicas de paredes lisas e
meristema fundamental, com células alongadas de formato retangular, arranjadas de modo
que na face externa dos cotilédones duas pequenas camadas de tecido paliçádico já tendem a
se formar. O feixe vascular do cotilédone é envolvido por bainhas de feixes. É comum a
presença abundante de grãos de amido no interior das células do cotilédone (Fig. 10B).
ex
en
ee
co
1 mm
A
en
co
en
fv
ex
ee
co
1 mm
2 mm
B
C
Figura 08 – B. monandra Kurz. A) Secção transversal; B) Secção longitudinal; C)
Secção tangencial. co- cotilédone; ee- eixo embrionário; en- endosperma; exexotesta; fv- feixe vascular.
63
O feixe vascular rafeal (Fig. 10A) é evidente em corte longitudinal, ocupa ¾ da
circunferência da semente em corte transversal, com o lado da rafe, isto é, do feixe vascular
rafeal, maior que o da antirafe, caracterizando uma semente obcampilótropa.
co
co
ee
pr
15 µm
A
B
Figura 09– Eixo embrionário de B. monandra Kurz. A) Vista geral em MEV; B)
Secção tangencial destacando plúmula rudimentar. co- cotilédone; ee- eixo embrionário;
pr- plúmula rudimentar
gr
co
fv
64
B
A
Figura 10 – Secção transversal da semente de B. monandra (MEV). A) Feixe vascular
rafeal no tegumento; B) Células do meristema fundamental do cotilédone com conteúdo
amiláceo. co- cotilédone; fv- feixe vascular; gr- grãos de amido.
O hilo é em forma de V (V-shaped) na região apical, heterocrômico, castanhoavermelhado, levemente encoberto por resquícios do funículo de cor branca (Fig. 11).
Pleurograma e linha divisória ausentes. Micrópila, lente e rafe não foram visualizadas.
hi
rf
Figura 11 – Hilo em forma de V (V-shaped)
das sementes de B. monandra (MEV). hi- hilo;
rf- resquício do funículo.
Após dois ou três minutos das sementes embebidas em água, o endocarpo que
permaneceu na semente aderido à testa, desprende-se como uma película membranácea de
coloração hialino-amarelada (Fig. 12).
re
65
A
B
Figura 12 – Semente de B. monandra. A) Após retirada do fruto; B)
Após alguns minutos em água. re- resíduos do endocarpo.
Os flavonóides estão presentes nos vacúolos das células. São pigmentos
hidrossolúveis citados por Martins et al. (1995), Panizza (1997) e Atroch (1999) como os
responsáveis pela atividade hipoglicemiante.
O teor de flavonóides observado nas sementes foi de 0,35% de flavonóides/g de
matéria seca.
Tabela 01- Biometria das sementes de Bauhinia
monandra Kurz.
Biometria (mm)
Comp.
Larg.
Esp.
Mínima
9,46
6,01
2,39
Média
10,45
7,04
2,98
Máxima
11,14
8,67
3,69
Desvio Padrão
0,44
0,63
0,33
66
3. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
As características dos frutos de B. monandra, utilizados neste estudo foram
também verificadas por Oliveira & Pereira (1984) e Beltrati & Paoli (1989), em estudos de
germinação das sementes de B. forficata L., verificando-se poucas variações, apenas com
relação a coloração. Segundo estes autores esta característica está relacionada com o período
de maturação do fruto.
Quanto aos aspectos morfológicos das sementes de B. monandra, certas
características externas levam a identificação segura de família, subfamília e gênero, pois
segundo Gunn (1991), hilo em forma de V é característica exclusiva do gênero Bauhinia.
Porém, as semelhanças das sementes de algumas espécies deste gênero, tornam difícil a
identificação, necessitando do auxílio dos estudos anatômicos para maiores esclarecimentos
das características internas dos tegumentos, endosperma e embrião (Albuquerque, 1993),
como é o caso de B. monandra e B. forficata (Beltrati & Paoli, 1989).
As sementes de B. monandra apresentaram-se com tamanhos levemente
diferenciados, tanto entre frutos, como dentro de um mesmo fruto. Estas variações são
67
comuns em frutos polispérmicos da família Leguminosae. Em frutos alongados as sementes
proximais e distais tendem a ser menores que as medianas, como ocorre em B. monandra,
embora a maioria seja estenospérmica (Harper et al, 1970).
A superfície das sementes de várias espécies de Leguminosae, segundo Gunn
(1991), possui endocarpo remanescente do fruto aderido à testa, característica esta, também
observada em B. monandra, pois quando embebidas em água, mesmo que por poucos
minutos, o endocarpo desprende-se das sementes na forma de uma película de consistência
membranácea.
Embora a lente não tenha sido visualizada em B. monandra, esta ocorre em 34%
dos gêneros pertencentes a subfamília Caesalpinioideae (Gunn, 1991; Melo, 2001).
Corner (1976), classifica o caráter básico que diferencia o envoltório da semente,
primeiro pela posição, depois pela estrutura da principal camada de tecido mecânico presente.
Seguindo esta classificação, as sementes da espécie B. monandra são incontestavelmente
“testais”, onde a principal camada de tecido mecânico está na testa, e a epiderme externa
desta, forma uma camada paliçádica rígida, ou exotesta. O autor cita que sementes exotestais
ocorrem com freqüência em Leguminosae.
A presença da linha lúcida mediana bem evidente em toda extensão da exotesta
das sementes é uma característica que tem se mostrado de grande importância para separar
grupos de espécies do gênero Bauhinia, pois ocorrem nas sementes de B. monandra, B.
fassoglesis Kotschy ex Schweinf., B. forficata (Beltrati & Paoli, 1989) e B. variegata, e estão
ausentes nas demais espécies relatadas por Corner (1976), como B. picta (Kunth) DC., B.
purpurea DC. ex Walp, B. rosea Kurz, B. violacea L. e B. flammifera Ridl..
Segundo Esau (1974), a linha lúcida, comum às sementes das Leguminosae, é
causadora do alto grau de impermeabilidade destas, afetando a capacidade de germinação.
68
Porém B. monandra não apresenta impermeabilidade do tegumento à água, isto é, não
necessita de tratamento que vise quebra de dormência, obtendo uma alta taxa de germinação
(100%).
A presença de endosperma na proporção de 2/3 da semente em B. monandra,
pode ser encontrada em cerca de 32% das Caesalpinioideae (Barroso et al., 1984; Gunn,
1991).
Sementes de muitas famílias, como as Leguminosae, em particular de
Caesalpinioideae e Mimosoideae, possuem sistema vascular formado por apenas um feixe
pós-calazal circundando a semente no sentido longitudinal, um único feixe não-ramificado
que vai do hilo até a calaza, depois até a micrópila (Beltrati & Paoli, 2003), exatamente como
ocorre em B. monandra.
Externamente, a semente de B. monandra parece ser campilótropa, pois o hilo
encontra-se junto à micrópila, sem rafe aparente, mas por apresentar feixe rafeal maior que a
antirafe, caracteriza semente obcampilótropa, originada de óvulo anátropo (Corner, 1976).
As características morfológicas e anatômicas das sementes de Bauhinia monandra
são muito semelhantes às das sementes de B. forficata, estudadas por Beltrati & Paoli (1989):
ambas apresentam formação obcampilótropa, são exotestais, entre outras características que
as confundem, porém este estudo vem contribuir para o esclarecimento de alguns caracteres
que diferenciam B. monandra das demais espécies do gênero.
Estudando a morfologia da germinação de B. forficata, Beltrati & Paoli (1989),
citam a ocorrência de grãos de aleurona nos cotilédones e eixo embrionário e não citam grãos
de amido, não ocorrendo o mesmo em B. monandra, que possui grande quantidade de grãos
de amido e não apresentam aleurona. A presença de conteúdo amiláceo também foi observada
69
nas sementes de Copaifera langsdorfii Desf. (Crestana & Beltrati, 1988) e Dipteryx odorata
(Aubl.) Willd (Ohana, 1998).
B. forficata, também conhecida por pata-de-vaca em todo território nacional, é a
mais citada dentre as espécies do gênero Bauhinia, pelos pesquisadores da fitologia, como
espécie medicinal de ação hipoglicemiante, utilizada para o controle do diabetes (Machado et
al., 1965; Studart, 1989; Pereira, 1992; Vieira, 1992; Correa Júnior et al., 1994; Martins et al.,
1995; Panizza, 1997; Binutu, 1998; Atroch, 1999; Albuquerque et al., 2000; Coelho & Silva,
2000).
Os principais metabólitos secundários responsáveis pela ação hipoglicemiante são
comprovadamente os flavonóides (campferol, rutina e quercitrina), agindo em conjunto com
taninos e sais minerais (Martins et al., 1995; Franco, 1996; Panizza, 1997). Para Raven et al.,
(2001), os metabólitos secundários são produzidos em vários sítios no interior das células e
são armazenados, primariamente, dentro dos vacúolos. São freqüentemente sintetizados em
uma parte da planta e armazenados em outra. Segundo Larcher (2000), os flavonóides são
pigmento conhecidos por estarem presentes nas raízes, caules, folhas, flores e frutos.
O resultado da análise fitoquímica demonstrou que o teor de flavonóides
observado nas sementes de B. monandra (0,35%) foi semelhante ao observado por Atroch
(1999) em B. forficata, pois o maior índice obtido nas folhas adultas desta, que são utilizadas
em forma de chá pela população, foi de 0,33% de flavonóides por grama de matéria seca.
Não há informações a respeito da utilização de sementes de B. monandra como
hipiglicemiante, somente as folhas de B. forficata são citadas. No entanto, percebe-se que os
teores de princípio ativo são semelhantes.
Na região amazônica, cuja diversidade da flora é tão grande quanto as
possibilidades de pesquisa, há necessidade de maiores investigações que permitam um
70
entendimento mais aprofundado dos caracteres que diferenciam grandes grupos, ou até
mesmo gêneros ou espécies, principalmente as de uso medicinal, pois a identificação
superficial destas pode levar a graves conseqüências para a saúde.
71
CAPÍTULO V
MORFO-ANATOMIA DOS ÓRGÃOS VEGETATIVOS EM TRÊS
ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO DE Bauhinia monandra KURZ
(LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) COMO CONTRIBUIÇÃO AO
ESTUDO FARMACOGNÓSTICO DE PLANTAS NA REGIÃO
AMAZÔNICA.
72
1. INTRODUÇÃO
Há uma grande diversidade de plantas medicinais na Amazônia, mas pouco se
conhece a respeito do estabelecimento de estratégias de utilização das espécies que
constituem a flora medicinal da região. E de acordo com Gottlieb & Borin (1997), esta é uma
área de pesquisa relativamente recente no país, uma vez que o número de pesquisadores
dedicados aos estudos com plantas medicinais é muito reduzido, comparado ao número de
espécies a se estudar.
A utilização de plantas medicinais no Brasil vem crescendo a cada ano. Com isso,
a prática de domesticação e cultivo dessas espécies aparece como opção para obtenção da
matéria-prima de interesse farmacêutico e redução do extrativismo nas formações florestais
(Reis et al., 2003).
Em meio a diversidade de plantas de uso medicinal, nativas ou cultivadas,
presentes na flora amazônica, encontra-se a espécie Bauhinia monandra Kurz, popularmente
conhecida
por
“pata-de-vaca”,
pertencente
à
família
Leguminosae,
subfamília
Caesalpinioideae, abundante na região amazônica e de importância ornamental, forrageira e
medicinal, levantando interesses para o desenvolvimento de estudos anatômicos,
morfológicos e fitoquímicos.
Na Amazônia, as plantas chamadas “pata-de-vaca”, sem distinção de espécies
e/ou variedades, são utilizadas pela população na forma de chá, como medicamento que
possui ação hipoglicemiante. Estas plantas destacam-se como uma boa opção de tornar o
diabetes controlável, principalmente pela população de baixa renda. No entanto, a utilização
indiscriminada de qualquer produto fitoterápico pode levar a graves conseqüências, havendo a
73
necessidade de estudos que auxiliem na identificação das espécies (Correa Júnior et al.,
1994).
Estudos morfológicos de plantas em diferentes estádios de desenvolvimento,
segundo Duke & Polhill (1981), Kuniyoshi (1983) e Oliveira (1988), são de grande
relevância, pois auxiliam na identificação das famílias, gêneros e espécies . E de acordo com
estes autores, estádios de plântula e juvenil tornam a identificação ainda mais difícil.
Segundo Costa (1986), o estudo anatômico de plantas, principalmente
das medicinais, é muito importante, pois possibilita a identificação de elementos
responsáveis por atividades terapêuticas, contribuindo também com estudos de
taxonomia vegetal.
Visando contribuir com os estudos taxonômicos, morfológicos,
anatômicos e farmacognósticos de espécies presentes na região amazônica com
interesse medicinal, este estudo tem por finalidade descrever morfológica e
anatomicamente órgãos vegetativos de indivíduos em estádios de plântula,
juvenil e adulto da espécie B. monandra.
74
2. RESULTADOS
2.1. ESTUDOS
MORFO-ANATÔMICOS DOS ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE
Bauhinia monandra
KURZ EM TRÊS ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO
2.1.1. Morfo-anatomia da PLÂNTULA
As sementes apresentaram taxa de germinação de 100%, com o início da
germinação aos quatro dias após a semeadura.
A germinação de B. monandra é faneroepígea, visto que seus cotilédones
emergem da testa e são elevados da superfície do substrato pelo desenvolvimento do
hipocótilo.
O sistema radicular apresenta-se pivotante, com raiz primária axial, cilíndrica,
sinuosa, sub-herbácea, de cor castanho, bem desenvolvida, coberta por raízes secundárias
finas, curtas e ramificadas, cilíndricas, glabras, formando um conjunto irregular de tons
castanho, porém mais claros que o da raiz principal; coifa afilada de coloração castanho;
nódulos ausentes (Fig 13).
A epiderme radicular é constituída por apenas um estrato de células com paredes
lisas, de formato cilíndrico, quando vistas em MEV (Fig. 14).
A exoderme é pluriestratificada, constituída de uma a cinco camadas de células
justapostas com tamanho e formato irregulares, menores que as demais células corticais, que
apresentam-se parenquimatosas com paredes anticlinais lisas, circulares, tamanho irregular e
distribuição irregular, ocupando a maior parte da raiz, quando vistas em corte transversal,
possui numerosos espaços intercelulares (Fig. 14).
75
O cilindro vascular é envolto pelo periciclo. Endoderme e estrias de Caspary não
puderam ser visualizadas.
pt
ep
cd
hp
cl
sr
1 cm
Figura 13 – Plântula de Bauhinia monandra. cd- cotilédone; cl- coleto; ep- epicótilo; hphipocótilo; pt- protófilo; sr- sistema radicular.
76
ex
cc
ep
500 µm
Figura 14 – Raiz de plântula de B. monandra (MEV). ep- epiderme; ex- exoderme; cccélulas corticais.
A raiz é tetrarca, com quatro pólos procambiais (Fig. 15A), apresentando início de
desenvolvimento de floema e xilema secundário. Não apresenta medula.
O coleto é pouco evidente, observando-se apenas diferença de coloração entre a
raiz e o hipocótilo.
fp
1
2
xs
4
3
A
cc
xp
B
xp
Figura 15 – Raiz de B. monandra Kurz., mostrando formação do cilindro vascular (MEV).
A) Vista geral da raiz em crescimento primário com pólos procambiais em distribuição
tetrarca (1, 2, 3 e 4). B) Detalhes dos estratos que compõe a raiz em crescimento secundário.
cc- células corticais; fp- floema primário; xp- xilema primário; xs- xilema secundário.
77
O hipocótilo é faneroepígeo, longo, anguloso com formação tetragonal (Fig. 19),
sub-herbáceo com coloração esverdeada, quase branca (Fig. 13); quando em desenvolvimento
eleva os cotilédones à superfície do substrato. Não apresenta catáfilos.
Em corte transversal mediano, observa-se epiderme uniestratificada com células de
paredes lisas e circulares, justapostas, encoberta por cutícula de aspecto reticulado, sob uma
camada delgada de cera epicuticular. Estômatos estão presentes ao longo do hipocótilo (Fig.
16).
Apresenta, em vista geral, pêlos curtos, macios e hialinos em sua superfície,
principalmente próximo ao nó cotiledonar, porém, em detalhe estrutural observa-se tricomas
unicelulares recobertos por cera epicuticular em abundância (Fig. 17).
es
25µm
Figura 16 – Estômatos presentes ao longo do hipocótilo das
plântulas de B. monandra (MEV). es- estômatos.
O córtex é constituído por células de formato circular, com a evidência de
pequenos espaços intercelulares; as paredes celulares são relativamente finas e lisas, iguais em
formato e diâmetro. As células corticais apresentam membranas internas, de aparência
rendada, e algumas delas envolvem grãos de amido em abundância (Fig. 18).
78
tr
Figura 17 – Tricomas presentes no hipocótilo das plântulas de
B. monandra (MEV). tr- tricoma.
mb
Figura 18 – Detalhe das células do hipocótilo das plântulas de B.
monandra, destacando a presença de membrana interna (MEV).
mb- membrana interna.
79
A formação dos feixes vasculares é tetrarca, com atividade cambial em regiões
independentes de procâmbio, com quatro pólos de protofloema e floema secundário
diferenciando-se na direção centrípeta; e presença de protoxilema com diferenciação de
xilema secundário na direção centrífuga (Fig. 19A).
As fibras do floema primário são justapostas; as células do floema secundário
possuem paredes finas; o xilema apresenta células circulares de parede lisa e relativamente
espessa (Fig.19B).
1
me
cx
2
3
fp
4
A
xp
xs
B
Figura 19 – Hipocótilo da plântula de B. monandra Kurz., mostrando formação do
cilindro vascular (MEV). A) Vista geral dos pólos procambiais em distribuição tetrarca
(1, 2, 3 e 4). B) Detalhes dos estratos que compõe o hipocótilo. cx- córtex; fp- fibras do
floema primário; me- medula; xp- xilema primário; xs- xilema secundário.
Paracotilédones estão presentes no ápice do hipocótilo, inseridos no nó
cotiledonar. São faneroepígeos, opostos, sésseis, foliáceos e cartáceos, oblongos, ápice
arredondado, margem inteira, verdes, prefoliação valvar, com nervação bem marcada
palmatinérvia.
80
Em vista geral, a face dorsal dos paracotilédones apresenta-se levemente côncava
na base, próximo à inserção no nó cotiledonar (Fig. 20A), e a face ventral levemente convexa
(Fig.20B). São anfiestomáticos, apresentando estômatos do tipo anomocíticos (Fig. 22), em
maior quantidade na face abaxial, onde os estômatos encontram-se em depressão pouco
acentuada em relação as demais células epidérmicas (Fig. 21B). Apresentam epidermes
adaxial (Fig. 21A) e abaxial (Fig. 21B) formadas por uma camada de células ligeiramente
globosas, de paredes lisas, retangulares em vista frontal, e cúbicas quando vistas em corte
transversal; na face abaxial, logo abaixo da epiderme, há duas ou três camadas de células em
paliçada, diferindo das demais células do parênquima lacunoso, que são mais arredondadas e
com espaços intercelulares evidentes (Fig. 23); há abundância de grãos de aleurona presentes
no seu interior. O floema e xilema são envolvidos por bainha de feixe.
ai
ai
A
B
Figura 20 – Base do paracotilédone foliáceo em plântulas de B. monandra (MEV). A)
Face dorsal; B) Face ventral. ai- área de inserção do nó cotiledonar.
O nó cotiledonar é saliente, de coloração verde, tendendo para cor parda.
O epicótilo apresenta-se verde, anguloso-biconvexo (Fig. 24A), sub-herbáceo;
piloso, com pelos curtos e hialinos, em maior densidade que no hipocótilo, principalmente
próximo aos paracotilédones.
81
st
A
B
Figura 21 – Vista frontal da epiderme do paracotilédone foliáceo em plântulas de B.
monandra (MEV). A) Face adaxial; B) Face abaxial. st- estômato.
st
Figura 22 – Estômato sob camada de cera epicuticular, face abaxial dos
paracotilédones de B. monandra (MEV). st- estômato.
82
ad
pl
pp
fv
ab
Figura 23 – Corte transversal do paracotilédone em plântulas de
B. monandra (MEV). ab- epiderme abaxial; ad- epiderme adaxial;
fv- feixe vascular; pl- parênquima lacunoso; pp- parênquima
paliçádico.
O epicótilo possui características anatômicas semelhantes ao hipocótilo. Em corte
transversal mediano, apresenta epiderme uniestratificada com células de paredes lisas e
circulares, justapostas, encobertas por cutícula de aspecto reticulado, sob uma camada delgada
de cera epicuticular (Fig. 24B).
O córtex tem proporções parecidas com o hipocótilo, e é constituído por células
de formato circular, com paredes relativamente finas e lisas; é evidente a presença de
pequenos espaços intercelulares.
A formação dos feixes vasculares do epicótilo também é tetrarca, e as células dos
elementos vasculares são semelhantes as do hipocótilo (Fig. 24A).
83
2
1
me
cx
ep
fp
xp
xs
4
3
A
B
Figura 24 – Epicótilo da plântula de B. monandra, mostrando formação do cilindro
vascular (MEV). A) Vista geral dos pólos procambiais em distribuição tetrarca (1, 2, 3 e
4). B) Detalhe dos estratos que compõe o epicótilo. cx- córtex; ep- epiderme; fp- fibras
do floema primário; me- medula; xp- xilema primário; xs- xilema secundário.
Foram observados estômatos anomocíticos ao longo do epicótilo (Fig. 25A) e
tricomas uni e pluricelulares, cobertos por cera epicuticular (Fig. 25B).
st
tp
tu
A
B
Figura 25 – Epicótilo da plântula de B. monandra (MEV).
A) Característica do estômato sobre epicótilo; B) Presença
e diversidade de tricomas. st- estômato; tp- tricoma
pluricelular; tu- tricoma unicelular.
84
Na base do epicótilo, sobre os cotilédones, há duas gemas vegetativas axilares,
opostas, quase imperceptíveis acima dos cotilédones, com estômatos e tricomas, e recobertas
por uma camada delgada de cera epicuticular (Fig. 26).
st
ai
gv
B
gv
st
ai
C
A
Figura 26 – Gemas vegetativas em plântula de B. monandra (MEV). A) Base do epicótilo,
região do nó cotiledonar; B) Vista frontal da gema axilar; C) Detalhe mostrando a presença
de estômatos e tricomas. ai- área de inserção dos cotilédones; gv- gema vegetativa; stestômato.
Os protófilos são unifoliolados, bilobados, com base cordata e ápices
arredondados, pilosos, verdes, face adaxial levemente mais escura que a abaxial, estipulados,
prefoliação conduplicada (Fig. 13).
Apresentaram-se mucronados, com a ocorrência de
múcron somente na terminação da nervura central.
A epiderme dos protófilos é uniseriada, formada por células arredondadas de
paredes lisas. As epidermes abaxial e adaxial possuem as células com formatos e tamanhos
iguais (Fig. 27).
São anfiestomáticos, a epiderme adaxial apresenta estômatos somente próximos as
nervuras, com média de 08 estômatos/mm2, enquanto que na abaxial os estômatos estão
distribuídos por todo o limbo foliar, com média de 4,6 estômatos/mm2. Os estômatos são
85
circundados por células subsidiárias desiguais, em sua forma e número, caracterizando o tipo
anomocítico (Fig. 28).
tr
tr
mr
A
B
Figura 27 – Vista frontal da superfície foliar da plântula de B. monandra (MEV). A) Face
adaxial; B) Face abaxial. mr- margem; tr- tricoma.
st
A
st
B
Figura 28 – Superfície foliar da plântula de B. monandra, com destaque para a
presença de estômatos anomocíticos (MEV). A) Face adaxial; B) Face abaxial. stestômato.
Observou-se a presença de tricomas tectores pluricelulares de diversos tamanhos, e
algumas vezes unicelulares ou simples aculeados, estando em maior abundância na face
abaxial, recobertos por cera epicuticular (Fig. 29).
86
tp
tu
tu
x
x
A
B
20µm
Figura 29 – Tricomas sobre nervura e limbo foliar em plântula de B. monandra (MEV). A)
Destaque para variação no tamanho dos tricomas pluricelulares observados sobre nervuras
principais; B) Tricoma unicelular, recoberto por cera epicuticular. tp- tricoma pluricelular; tutricoma unicelular.
O mesofilo, em corte transversal, é dorsiventral, constituído por um ou dois
estratos de células de parênquima paliçádico. As células apresentam-se, alongadas com
paredes lisas. Segue-se um estrato, de parênquima lacunoso composto por células irregulares
com espaços intercelulares pouco evidentes (Fig. 30).
Observou-se abundância de grãos de amido no interior das células do mesofilo,
envolvidos por uma membrana de aparência rendada (Fig. 31).
Os protófilos das plântulas de B. monandra possuem venação palmatinérvia,
somando em torno de 9 a 11 nervuras principais, originadas na base da lâmina foliar (Fig. 32).
Há abundantes pêlos curtos e hialinos, presentes nas nervuras (Fig. 33B).
Em microscopia eletrônica de varredura observa-se que as nervuras na face adaxial
são pouco expressivas, quase que planas, acompanhando a epiderme do restante do limbo
foliar, às vezes com pequena saliência sobre as nervuras principais (Fig. 33A); e na face
abaxial as nervuras apresentam-se impressas (Fig. 33B).
87
pp
ad
eps
epi
fv
pl
ab
fv
A
B
Figura 30 – Corte transversal da lâmina foliar da plântula de B. monandra (MEV). A)
Secção na região mediana de uma das nervuras principais, com destaque para a
característica dorsiventral do mesofilo; B) Detalhe da região marginal da lâmina foliar. abface abaxial; ad- face adaxial; epi- epiderme inferior; eps- epiderme superior; fv- feixe
vascular; pp- parênquima paliçádico; pl- parênquima lacunoso.
pp
me
pl
gr
me
Figura 31 – Corte transversal da lâmina foliar da plântula de
B. monandra, destacando a presença de grãos de amido no
interior das células do mesofilo (MEV). gr- grão de amido;
me-
membrana
interna;
pp-
células
do
paliçádico; pl- célula do parênquima lacunoso.
parênquima
88
np
pc
1 cm
Figura 32 – Primeiro protófilo de plântula de B. monandra
submetido a técnica de diafanização, evidenciando venação
principal (MEV). np- nervuras principais; pc pecíolo.
np
np
ns
A
B
Figura 33 – Superfície foliar da plântula de B. monandra, com destaque para as nervuras
(MEV). A) Face adaxial; B) Face abaxial. np- nervura principal; ns- nervura secundária.
Em vista frontal as células epidérmicas das nervuras principais, das duas faces,
apresentam-se alongadas, de tamanhos irregulares, diferenciando-se das demais células da
epiderme; com paredes lisas (Fig. 33).
89
A epiderme nas margens dos protófilos apresenta células mais alongadas que as
demais, verificando-se a presença de nervuras em todo o contorno do limbo foliar (Fig. 30B).
Os feixes vasculares inclusos no mesofilo, em geral, possuem bainhas de feixes constituídas
de células maiores com paredes lisas.
Os feixes vasculares das nervuras principais ocupam quase todo o espaço central.
Feixes vasculares e estratos de células esclerenquimáticas estão presentes em ambas as faces,
porém são mais expressivos próximos a face abaxial. Células colenquimáticas foram
visualizadas próximas às epidermes abaxial e adaxial, onde substitui células do tecido
paliçádico.
O pecíolo apresenta-se longo, cilíndrico e verde. A epiderme do pecíolo é
uniseriada, formada por células arredondadas, com paredes lisas. A região central é formada
por um estrato multiseriado de células esclerenquimáticas que circundam dois feixes
vasculares, estes encontram-se entre células parenquimáticas, formando um conjunto
cilíndrico central. Tecidos colenquimáticos estão presentes próximos a epiderme nas duas
faces (Fig. 34).
Na face abaxial do pecíolo em relação ao limbo foliar, encontram-se dois feixes
menores, pouco expressivos, semelhantes em arranjos aos das nervuras principais.
Tricomas tectores pluricelulares de diversos tamanhos e mais raramente simples
aculeados, encobertos por cera epicuticular, também foram encontrados sobre o pecíolo,
estando em maior quantidade próximo da base foliar.
Gemas vegetativas axilares foram observadas na base do pecíolo, na inserção com
o epicótilo. Estão delimitadas por duas estípulas providas de tricomas e estômatos (Fig. 35).
90
cl
esc
cp
cl
fl xi
fl xi
fvs
Figura 34 – Corte transversal do pecíolo de plântula de B. monandra (MEV). cl- colênquima;
esc- esclerênquima; fl- floema; fvs- feixe vascular simples; cp- células parenquimáticas; xixilema.
et
et
epc
pc
B
gv
es
tr
et
1 mm
A
C
Figura 35– Plântula de B. monandra (MEV). A) Visão geral da gema axilar; B) Vista
frontal da estípula; C) Detalhe da superfície da epiderme da estípula. epc- epicótilo;
es- estômato; et- estípula; gv- gema vegetativa; pc- pecíolo, tr- tricoma.
91
2.1.2. Morfo-anatomia dos órgãos vegetativos de B. monandra Kurz em estádio
JUVENIL
O sistema radicular é pivotante, com raiz primária axial, cilíndrica irregular,
sinuosa, herbácea, pouco mais resistente que as das plântulas, de coloração castanho-escuro,
bem desenvolvida; coberta por raízes laterais, sinuosas, ramificadas, cilíndricas, formando um
conjunto irregular de tons castanho, mais claros que o da raiz principal; coifa afilada de
coloração castanho-escuro quase negra; nódulos ausentes (Fig. 36).
Nesta fase as raízes de B. monandra já apresentam periderme, pluriestratificada,
constituída de duas a seis camadas de células heterodimensionais, alongadas e retangular (Fig.
37).
fs
cx
ff
pe
Figura 37- Corte transversal da raiz principal de B. monandra em
estádio juvenil (MEV). cx- córtex; ff- feixes de fibra; fs- floema
secundário; pe- periderme.
92
mt
pt
pt
pe
ca
cl
sr
1 cm
Figura 36 – Bauhinia monandra em estádio juvenil. ca- caule; cl- coleto; mt- metáfilo; pepecíolo; pt- protófilo; sr- sistema radicular.
93
Na região cortical há um aumento em número de camadas no sentido radial em
relação às plântulas, caracterizando o crescimento secundário, podendo ser visualizadas em
corte transversal. Nesta fase o córtex ocupa menos da metade do espaço interno no sentido
radial da raiz (Fig. 38). Feixes de fibras estão distribuídos em cadeia circular em torno do
floema secundário (Fig. 37 e 38), caracterizando fibras de floema primário. As células
corticais possuem paredes lisas, arredondadas, de tamanho irregular e distribuição
desuniforme, com espaços intercelulares (Fig. 37).
xi
fp
Figura 38- Visão geral da raiz em desenvolvimento secundário de B.
monandra em estádio juvenil (MEV). fp- fibra de floema primário; xixilema.
94
O cilindro vascular é envolto por uma camada de periciclo distinto, com células
bem menores que as células corticais, paredes lisas e formato irregular, vistas em corte
transversal.
Neste estádio de desenvolvimento da raiz a atividade cambial já formou mais
floema e xilema secundários, separando definitivamente o floema secundário do xilema
primário, tornando-se um cilindro perfeito.
As raízes laterais são originadas do periciclo projetando-se através do córtex (Fig.
39).
Figura 39- Corte transversal da raiz principal com destaque para
raiz lateral endógena, de B. monandra em estádio juvenil (MEV).
Grãos de amido são abundantes e retidos por uma membrana interna das células
corticais, constituindo uma bolsa de contenção de grãos, que ocupa cerca de 50 a 100% do
interior das células (Fig. 40).
95
O coleto possui coloração ferrugínea, observando-se transição evidente, entre raiz
e caule.
O caule juvenil apresenta-se longo, anguloso, quase circular, herbáceo com
coloração castanho esverdeado, exceto próximo ao nó cotiledonar, onde passa de castanho
esverdeado para verde.
gr
me
Figura 40- Células corticais da raiz de B. monandra em estádio
juvenil com destaque para grãos de amido (MEV). gr- grãos de
amido; me- membrana envoltória .
Em corte transversal mediano, observa-se uma epiderme uniestratificada com
células de paredes lisas e espessas, encoberta por cutícula sob cera epicuticular.
A periderme apresenta-se pluriestratificada com células de paredes lisas, formato
retangular e tamanho irregular. (Fig. 41).
96
pr
ep
50 µm
Figura 41- Seção transversal do caule juvenil de B. monandra
(MEV) destacando formação da periderme. ep- epiderme; prperiderme.
Verificou-se a presença de lenticelas em toda extensão do caule, destacando-se
como elevações circulares de distribuição irregular, difusa. Originam-se da periderme,
favorecendo a troca de gases, (Fig. 42A).
O caule juvenil apresenta pêlos pluricelulares curtos e hialinos, em maior
quantidade no terço superior. Quando submetidos à análise anatômica, observa-se que são
encobertos por cera epicuticular, dispersos por toda superfície, principalmente próximo ao nó
cotiledonar e pecíolo (Fig. 42B).
A região cortical é formada por células circulares, irregulares, com a presença de
pequenos espaços intercelulares, de células relativamente finas e lisas. Fibras do floema
primário encontram-se em cadeias circulares (Fig. 43).
97
le
tr
A
B
Figura 42- Caule juvenil de B. monandra (MEV). A) Lenticela de formação circular
em desenvolvimento; B) Tricomas pluricelulares encobertos por cera epicuticular. lelenticelas; tr- tricomas.
Neste estádio de desenvolvimento mais floema e xilema secundários se
diferenciam a partir do cambio vascular, já bem evidente, promovendo crescimento radial e
conseqüentemente o espessamento do caule. Pólos de fibras radiais e do floema primário
distribuidos pela região do córtex, dando início a formação de tecidos de dilatação (Fig. 43).
Neste estádio de desenvolvimento percebe-se o crescimento secundário a partir do
espessamento da periderme, dilatação dos raios floemáticos com distribuição das fibras de
floema primário rumo à periferia do caule juvenil e aumento na produção de xilema em
relação ao floema secundário (Fig. 44).
O nó cotiledonar, presente na região mediana do caule, é saliente, elíptico de
coloração parda, quase castanho-claro. As gemas vegetativas axilares, quase imperceptíveis a
olho nu, presentes acima das cicatrizes dos paracotilédones, ainda persistem; têm formato
triangular, visivelmente mais maduras, porém, sem desenvolvimento vegetativo aparente (Fig.
45).
98
fp
fs
xi
cv
Figura 43- Corte transversal do caule de B. monandra em estádio
juvenil (MEV). cv- câmbio vascular; fp- fibras do floema
primário; fs- floema secundário; xi- xilema.
fp
xi
me
Figura 44- Visão geral do caule em desenvolvimento secundário; estádio
juvenil (MEV). fp- feixes de fibras do floema primário; me- medula; xixilema.
99
gv
cz
A
B
Figura 45- Nó cotiledonar de uma planta jovem de B. monandra (MEV). A) Vista frontal
da gema axilar e cicatriz do paracotilédone; B) Detalhe da gema axilar mais madura e
recoberta por camada delgada de cera epicuticular. cz- cicatriz do cotilédone; gv- gema
Foi observada a presença abundante de grãos de amido envoltos em membranas
proteicas no interior das células do córtex, xilema e medula (Fig. 46).
Os metáfilos são unifoliolados, bilobados, bases cordatas, ápices arredondados,
mucronados (Fig. 47), pilosos, verdes, face adaxial mais escura que a abaxial, estipulados, de
prefoliação conduplicada, semelhantes aos protófilos.
Figura 46- Células da medula do caule em estádio
juvenil, com destaque para a abundância de grãos
de amido (MEV).
100
500 µm
Figura 47- Múcron em metáfilo de B. monandra na
terminação da nervura central (MEV).
A epiderme dos metáfilos é uniseriada, com células arredondadas, paredes lisas e
encobertas por cutícula, sob camada delgada de cera epicuticular. As células da epiderme da
face abaxial têm as paredes anticlinais menos sinuosas que as da face adaxial.
Os metáfilos são anfiestomáticos, com média de 8,5 estômatos/mm2 na epiderme
adaxial, com maior concentração próximo as nervuras principais; enquanto que na abaxial os
estômatos estão distribuídos por todo o limbo foliar, com média de 4,3 estômatos/mm2. Os
estômatos são anomocíticos e encontram-se recobertos por uma espessa camada de cera
epicuticular (Fig. 48).
O mesofilo dos metáfilos é constituído por um, às vezes dois estratos de células de
parênquima paliçádico, sendo este último mais comum. Em corte transversal, as células
apresentam-se alongadas com paredes periclinais e anticlinais lisas, seguido por um estrato de
parênquima lacunoso composto por células de distribuição irregular, formando grandes
espaços intercelulares. Observou-se abundância de grãos de amido no interior das células. Os
feixes vasculares imersos no mesofilo são colaterais envoltos por bainhas.
101
Figura 48- Estômato anomocítico na face adaxial
dos metáfilos de B. monandra, com destaque para a
espessa camada de cera epicuticular (MEV).
Os metáfilos das plantas jovens de B. monandra possuem venação palmada, com
9 ou 11 nervuras principais originando-se na base da lâmina foliar.
Em corte transversal as nervuras principais da face adaxial são visivelmente mais
impressas que nos protófilos, e na face abaxial apresentam-se bastante salientes e cristadas
(Fig. 49).
Tricomas tectores pluricelulares de diversos tamanhos e simples aculeados estão
presentes, mais abundantes na fase abaxial da folhas, principalmente sobre as nervuras da face
abaxial (Fig.49).
As células epidérmicas das nervuras principais apresentam paredes lisas com
tamanhos irregulares, curtas ou alongadas, diferenciando-se das demais células do limbo
foliar (Fig. 50).
102
tp
np
ct
ts
A
B
Figura 49- Superfície foliar de B. monandra de indivíduo em estádio juvenil (MEV). A) Face
adaxial; B) Face abaxial. ct- cristas; np- nervura principal; tp- tricoma pluricelular; ts- tricoma
simples.
O feixe vascular é do tipo colateral, onde o floema está voltado para a face inferior
e o xilema para a face superior. Apresenta-se constituído por células esclerenquimáticas, de
paredes espessas, que ocupam o lado inferior do feixe (face abaxial), alargando-se próximo à
região cristada; outro feixe menor de esclerênquima está presente imediatamente após o
floema. Abaixo da epiderme adaxial encontra-se um conjunto de células colenquimáticas (Fig.
50).
O pecíolo dos metáfilo em estádio juvenil é verde, longo, anguloso, com leve
concavidade na face adaxial em relação a lâmina foliar. Filotaxia alterna e oposta.
A epiderme do pecíolo é uniseriada, formada por células com paredes periclinais
lisas de formato arredondado, semelhante às das plântulas.
103
ep
co
es
xi
fl
co
ep
es
ct
Figura 50- Corte transversal de uma das nervuras principais da folha de B.
monandra de indivíduo em estádio juvenil (MEV). co- células
colenquimáticas; ct- cristas; ep- epiderme; es- esclerênquima; fl- floema; xixilema.
O cilindro vascular é constituído por um anel contínuo de esclerênquima que
circunda dois feixes vasculares; um maior e mais expressivo, voltado para face abaxial, e
outro menor, voltado para face adaxial, separados por um conjunto de células
parenquimáticas. Tecidos colenquimáticos estão presentes. Os feixes vasculares menores
tornam-se mais evidentes neste estádio, conferindo aspecto anguloso ao pecíolo (Fig. 51);
tecidos esclerenquimáticos envolvem parcialmente os feixes.
104
fm
cl
xi
fl
fl
xi
ec
cl
ep
Figura 51- Corte transversal do pecíolo da folha de B. monandra de
indivíduo em estádio juvenil (MEV). cl- colênquima; ep- epiderme; ecesclerênquima; fm- feixes menores; fl- floema; xi- xilema.
Estômatos, tricomas tectores pluricelulares e simples aculeados, encobertos por
cera epicuticular, também foram encontrados sobre o pecíolo no estádio juvenil, em maior
abundância próximo ao limbo foliar (Fig. 52).
Gemas vegetativas axilares também foram observadas na inserção do pecíolo no
caule, em indivíduos juvenis.
105
st
A
B
Figura 52- Pecíolo de B. monandra de indivíduo em estádio juvenil (MEV). A) Detalhe da
distribuição e abundância de tricomas; B) Estômato (st).
106
2.1.3. Morfo-anatomia dos órgãos vegetativos de B. monandra Kurz em estádio
ADULTO
2.1.3.1. RAIZ
2.1.3.1.1. Descrição das características organolépticas
O sistema radicular é formando por um conjunto irregular de tons castanho, com
raiz primária mais escura, apresentando pouca variação entre as raízes secundárias e
terciárias. Apresentam ritidoma reticulado de consistência e farinácea. A coifa é de coloração
castanho-escuro, quase negra.
O odor das raízes de B. monandra é agradável, quase indiferente. Sabor indistinto.
Possui certa resistência ao ser cortado por navalha.
Coleto evidente, de coloração castanho escuro.
2.1.3.1.2. Descrição macroscópica
O sistema radicular possui raiz primária axial, cilíndrica irregular,
sinuosa, lenhosa, bem desenvolvida; possui raízes secundárias sinuosas e
ramificadas, cilíndricas. Nódulos ausentes.
Parênquima axial de difícil visualização; linhas radiais invisíveis a olho nu; poros
xilemáticos muito pequenos, visíveis somente com o auxílio de lupa, de distribuição irregular.
Córtex e cilindro vascular indistintos a olho nu.
107
2.1.3.1.3. Descrição microscópica
A periderme, na raiz da planta adulta, é formada por estratos multiseriados de
células procumbentes, de paredes periclinais e anticlinais lisas, sem espaços intercelulares
(Fig. 53).
As linhas radiais são formadas por células parenquimáticas eretas, de tamanhos
variados (Fig. 54), unisseriadas em sua maioria (Fig. 53), às vezes em séries duplas ou triplas.
O parênquima axial é formado por células circulares de paredes espessas com
pequenos espaços intercelulares, quase sempre contendo grãos de amido (Fig. 54).
Com o desenvolvimento o floema primário tende a se tornar indistinto, e está
representado pelos feixes de fibras distribuídos no sentido radial (Fig. 56).
O cilindro vascular é um protostelo, pois a coluna central desta raiz é formada pelo
tecido vascular. Os vasos do xilema apresentam-se, em geral, com distribuição difusa e
desuniforme; solitários ou agrupados de dois a três (Fig. 57).
pe
250 µm
Figura 53- Vista frontal de seção transversal da raiz
adulta com destaque para a periderme (MEV). peperiderme.
108
ra
gr
fi
cp
Figura 54- Região xilemática da raiz adulta de B. monandra
(MEV). fi- fibras; gr- grãos de amido em células do parênquima
axial; ra- células do raio.
ra
Figura 55- Vista frontal da seção transversal da raiz adulta
(MEV). ra- raio.
109
Figura 56- Feixes de fibras de floema primário (setas) em raiz de
B. monandra (MEV).
Figura 57- Cilindro vascular da raiz de B. monandra com detalhe
para distribuição dos vasos de xilema e ausência de medula central
(MEV).
110
2.1.3.2. CAULE
2.1.3.2.1. Descrição morfológica
B. monandra é uma arvoreta, medindo em torno de três a quatro metros de
altura, lenhosa, com um tronco único levando a copa à formação de sub-bosque; possui um
caule principal com ramos glabros e cilíndricos, formando copa irregular (Fig. 58 e 59).
O aspecto do caule como um todo é cilíndrico, com base reta, sem dilatação lateral; o
ritidoma, ou casca externa, é estriado, em estado fresco se solta em fitas no sentido
vertical, apresenta lenticelas não nitidamente agrupadas, associadas à fissuras, não muito
expressivas em linhas verticais; não apresenta espinhos ou acúleos (Fig. 60). A casca viva,
ou casca interna, é fina, formando uma textura homogênea e compacta.
Não apresenta exsudação de seiva, resina ou goma.
Figura 58- Aspecto geral dos ramos de B. monandra Kurz.
111
Figura 59- Aspecto geral de B. monandra Kurz.
20 mm
Figura 60- Detalhe do caule de B. monandra
112
2.1.3.2.2. Descrição das características organolépticas
O ritidoma é de cor marrom, com lenticelas de coloração marrom, quase negro.
O alburno e o cerne possuem coloração amarelada ou rosada, às vezes com tonalidade
acinzentada, com área de transição mudando gradualmente. Espessura do alburno muito
estreita, com menos de 2 cm, ocupando em torno de 10% da área total da secção
transversal.
O cerne possui resistência moderadamente dura ao ser cortado por navalha. Grã
direita, textura fina, com diâmetro tangencial dos poros menor que 100 μm.
O odor do caule de B. monandra é inicialmente agradável, quase imperceptível,
porém se mantido sob hidratação torna-se adocicado e nauseante. Sabor indistinto.
2.1.3.2.3. Descrição macroscópica
•
Plano transversal
Parênquima axial de difícil visualização, disposição paratraqueal vasicêntrico, em
abundância.
Raios invisíveis a olho nu, numerosos, apresentando-se de 51 a 80, em intervalos
de 11 a 16/mm. Poros muito pequenos, visíveis somente com o auxílio de lupa, podendo ser
de solitários a múltiplos, em cadeias radiais, retas, com secção circular, às vezes ovalada;
diâmetro tangencial muito pequeno, menor que 0,05 mm (< 50 μm). A freqüência dos poros é
considerada numerosíssima, com mais de 250 poros/10 mm2. Distribuição irregular. Placas de
perfuração simples, visíveis com lentes de aumento.
113
Anéis de crescimento diferenciados, com bordos escuros e claros, onde as zonas
mais escuras são de tecido fibroso. A cada 10 cm de raio foram visualizados de 3 a 5 anéis
distintos. Máculas medulares e canais secretores ausentes.
•
Plano longitudinal - tangencial
Raios invisíveis mesmo com o auxílio de lupa. Linhas vasculares retilíneas, sem
obstrução, perfeitamente distintas. Distribuição regular. Não foram observados canais
secretores.
•
Plano longitudinal - radial
Raios contratados, porém, visíveis somente com auxílio de lupa.
2.1.3.2.4. Descrição microscópica
Os vasos apresentam-se, em geral, delgados, com distribuição difusa e
desuniforme; sob as zonas mais escuras, em alguns campos dos anéis de crescimento tem-se a
falsa impressão de distribuição em anel circular; apresentam-se solitários ou plurigeminados
no sentido radial, às vezes tangencial, agrupados de dois a oito (Fig. 61). São pouco
freqüentes, com 3 a 5 vasos/mm2; pequenos, com média de 70,97 μm de diâmetro tangencial;
com elementos de vaso muito curtos, com média de 210,80 μm de comprimento (Tab. 02).
Nos elementos de vaso os prolongamentos podem estar ausentes ou presentes em uma ou em
ambas as extremidades; quando presentes, podem ser curtíssimos com 1/8 do tamanho do
114
elemento vascular. Possuem placa de perfuração com inclinação oblíqua, às vezes horizontal;
tipo de perfuração simples; pontoações areoladas ou elípticas, com fenda estreita, inclusa,
disposição alterna e não coalescente, perpendicular à parede do vaso (Fig. 62A e B).
Anéis de crescimento distintos, formados por tecido fibroso (Fig. 61).
As fibras são libriformes, extremamente curtas (Fig. 63), com 697,27 μm de
comprimento, e estreitas, com diâmetro tangencial em torno de 15,66 μm.
Parênquima axial paratraqueal vasicêntrico, com células circulares, contendo grãos
de amido em abundância (Fig. 64).
Os raios são heterogêneos, homocelulares, com células eretas (Fig. 65A);
unisseriado em sua maioria, às vezes bi ou trisseriado; muito baixos, com aproximadamente
707,76 μm de altura e 30 células em média (Fig. 65B).
lu
ac
150 µm
Figura 61- Plano transversal do caule de B. monandra com
detalhe para distribuição dos vasos de xilema e anéis de
crescimento. ac- anéis de crescimento; lu- lume.
115
15 µm
A
15 µm
B
Figura 62- Elementos de vaso do caule de B. monandra. A)
Aspecto geral dos elementos de vaso mostrando prolongamentos e
placa de perfuração simples; B) Detalhe para pontoações.
15 µm
Figura 63- Fibras do caule de B. monandra.
116
gr
150 µm
Figura 64- Parênquima axial do caule de B. monandra com grãos de amido em
abundância, em plano longitudinal radial. gr- grãos de amido.
ev
ra
ra
vs
A
38 µm
B
75 µm
Figura 65- Plano longitudinal tangencial do caule de B. monandra. A) Detalhe
das células do raio; B) Aspecto geral. ev- elemento de vaso; ra- raio; vs- vaso
de xilema.
117
A coluna central do caule adulto é formada por tecido fundamental, a medula (Fig.
66), com transição do xilema bem diferenciado em plano transversal, dando formação ao
eustelo.
me
xi
38 µm
Figura 66- Cilindro central do caule em corte transversal, B.
monandra. me- medula; xi- xilema.
Cristais de oxalato de cálcio com formatos rômbicos (Fig. 67A) e em drusas (Fig.
67B), de solitários a múltiplos, foram observados no córtex, principalmente na região do
floema. Feixes de fibras contínuos também estão presentes no córtex, organizados em torno
do cilindro vascular, podem ser observadas em cortes transversal e longitudinal radial (Fig. 68
e 69A).
Em corte transversal, há tecidos de dilatação (Fig. 70), formados por tecido
parenquimático depositado pelos raios nos espaços criados pelo crescimento em diâmetro,
bem como de camadas superpostas de tecido morto que compõe o ritidoma, unidas em função
da presença de fibras radiais entre elas (Fig. 69B e 70).
118
cd
cr
38 µm
A
B
38 µm
Figura 67- Cristais de oxalato de cálcio presentes no
córtex do caule de B. monandra, em corte longitudinal
radial. A) Formato rômbico (cr); B) Em forma de drusas
(cd).
ff
75 µm
Figura 68- Plano transversal com destaque para distribuição dos
feixes de fibra (ff) no córtex do caule de B. monandra.
119
pe
ff
xi
ra
75 µm
A
75 µm
B
Figura 69- Plano longitudinal radial do caule de B. monandra. A) Aspecto geral
mostrando raios e fibras. B) Periderme (pe). ff- fibras; ra- raios; xi- xilema.
dl
150 µm
Figura 70- Aspecto geral do córtex em plano longitudinal radial
do caule, mostrando tecidos de dilatação. dl- dilatação.
Lenticelas estão presentes na casca externa, podendo ser visualizadas em plano
longitudinal radial (Fig. 71).
120
le
15 µm
Figura 71- Lenticelas ( le ) do caule adulto de B. monandra.
Tabela 02- Ficha biométrica do caule do indivíduo adulto de B. monandra Kurz.
Plano
onde se
efetua a
aferição
Un. de
medida
120
120
120
macerado
macerado
transversal
μm
μm
μm
210,80
70,97
68,33
47,48
12,65
18,46
22,53
17,83
27,02
120
120
macerado
macerado
μm
μm
697,27
15,66
137,09
4,30
19,66
27,46
120
120
120
tangencial nº. de células
1,3
tangencial nº. de células
30
tangencial
707,76
μm
0,43
32,82
484,42
48,30
234,44
68,42
Elementos anatômicos do Nº. de
aferição
caule
Valores obtidos
Média Desvio Coef. de
padrão variação
(%)
VASOS
Comprimento do elemento
Diâmetro tang. do elemento
Diâmetro do lume
FIBRAS
Comprimento
Diâmetro tangencial
RAIOS
Largura
Altura
Altura
121
2.1.3.3. FOLHA
As folhas são bilobadas, bífidas, de base cordata, margem inteira, ápices dos
lóbulos arredondados, sub-agudos, verdes, com a face adaxial mais escura que a abaxial,
prefoliação conduplicada. Filotaxia alterna e oposta. (Fig. 72A) Escurecem durante o
crescimento. Neste estádio o múcron apresenta-se bastante acentuado na terminação da
nervura central (Fig. 73).
fi
A
B
fs
20 mm
Figura 72- Folhas de B. monandra em estádio adulto. A) Aspecto geral, filotaxia; B) Em
detalhe. fi- face inferior; fs- face superior.
A epiderme da folha de B. monandra é unisseriada, formada por células alongadas,
com paredes lisas, circulares, em vista frontal.
A folha é anfiestomática, com estômatos do tipo anomocítico, encobertos por cera
epicuticular (Fig. 74). A epiderme adaxial possui maior concentração de estômatos nas
regiões próximas às nervuras, com média de 9,2 estômatos/mm2, enquanto que na face abaxial
os estômatos estão distribuídos por todo o limbo foliar, com média de 4,8 estômatos/mm2.
122
lf
Figura 73- Múcron da folha de B. monandra em estádio adulto, na terminação da nervura
central entre os lobos foliares, face abaxial. lf- limbo foliar seccionado para exposição do
múcron.
tr
st
Figura 74- Vista frontal da face adaxial com destaque para a cera
que recobre as células da epiderme, estômatos e tricomas (MEV).
st- estômato; tr- tricoma.
123
Observou-se abundância de tricomas tectores de uni a pluricelulares, hialinos,
heterodimensionais e recobertos por cera epicuticular (Fig. 74). Os tricomas estão presentes
em ambas as faces, porém encontra-se em maior quantidade na face abaxial, principalmente
sobre as nervuras principais (Fig. 75) e margens do limbo foliar (Fig. 76).
A
B
Figura 75- Vista frontal da face adaxial da folha de B. monandra em estádio adulto
(MEV). A) Face adaxial; B) Face abaxial.
2 mm
Figura 76- Margem da folha de B. monandra em estádio adulto,
face abaxial.
124
O mesofilo é constituído por dois estratos de parênquima paliçádico. Em corte
transversal, as células apresentam-se, em sua maioria, alongadas com paredes lisas. Segue-se
um estrato pouco expressivo de parênquima lacunoso (Fig. 77). O feixe vascular no mesofilo
é envolto por bainha de feixe, constituída por células de paredes periclinais lisas, e por células
esclerenquimáticas, porém, associadas aos feixes de forma descontínua, próximas às
epidermes abaxial e adaxial.
Grãos de amido são encontrados em abundância nas células do mesofilo,
envolvidos por membranas proteicas no interior das células parenquimáticas unidas à parede
celular, às vezes imperceptíveis.
es
bf
pp
pl
ecl fv
ei
Figura 77- Corte transversal da folha de B. monandra em estádio
adulto. ecl- esclerênquima; es- epiderme superior; ei- epiderme
inferior; fv- feixe vascular; pp- parênquima paliçádico; plparênquima lacunoso.
As folhas dos indivíduos em estádio adulto possuem venação palmada,
campilódroma marginal e reticulada (Fig. 78), contendo em torno de 11 nervuras principais
originando na base da lâmina foliar (Fig. 79), às vezes somam 9 ou 13.
125
As nervuras principais da face adaxial são pouco evidentes, (Fig. 75A). Na face
abaxial, apresentam-se bastante proeminentes e cristadas (Fig. 75B), com uma ou duas cristas;
recobertas por cera epicuticular (Fig. 80).
As células epidérmicas das nervuras principais, das duas faces, são retangulares e
alongadas, heterodimensionais, de paredes lisas, diferenciando-se das demais células da
epiderme. O feixe vascular é único, ocupando quase todo o espaço central das nervuras
principais. Um estrato de células esclerenquimáticas cerca o feixe vascular na face abaxial,
onde se encontra floema e xilema bem delimitados pelo câmbio. Células colenquimáticas
estão presentes, próximo as epidermes abaxial e adaxial, onde substituem as células do tecido
paliçádico (Fig. 81).
Tricomas pluricelulares de diversos tamanhos foram observados sobre as nervuras
das duas faces, estando em maior abundância na face abaxial (Fig. 74 e 75).
Cristais de oxalato de cálcio de formato rômbico foram observados em toda
extensão das nervuras principais e secundárias.
10 mm
Figura
78-
Venação
primária
palmada,
campilódroma marginal e terciária reticulada.
secundária
126
8 mm
A
B
10 mm
Figura 79- Venação palmada da folha de B. monandra. A) Folha desenvolvida
contendo 11 nervuras principais, face superior; B) Nova geração foliar com
nervação bem marcada.
fv
ct
Figura 80- Nervura principal duplamente cristada, face abaxial da folha de
B. monandra. ct- cristas, fv- feixe vascular.
127
fb
cv
es
co
fd
es
fl
co
xi
Figura 81- Corte transversal de uma das nervuras principais
da folha de B. monandra de indivíduo em estádio adulto
(MEV).
co-
colênquima;
cv-
cambio
vascular;
es-
esclerênquima; fb- face abaxial; fd- face adaxial; fl- floema;
xi- xilema.
O pecíolo é longo, anguloso-biconvexo-canaliculado, com protuberâncias voltadas
para face frontal em relação a lâmina foliar (Fig. 82B), verde, tendendo a escurecer próximo à
folha, na região do pulvino conspícuo, no ápice do longo pecíolo (Fig. 82A).
Tricomas hialinos pluricelulares de diversos tamanhos, algumas vezes simples
aculeados, também foram encontrados sobre o pecíolo do indivíduo adulto, porém, em maior
quantidade próximo à base foliar (Fig. 82B).
A epiderme é uniseriada, formada por células alongadas, com paredes periclinais e
anticlinais lisas. As epidermes abaxial e adaxial têm as paredes de suas células com formatos
e tamanhos iguais. O cilindro vascular é formado por um extrato multiseriado de células
esclerenquimáticas que envolve dois feixes vasculares, com o xilema voltado para dentro e
floema para fora.
128
Os dois feixes vasculares menores, anteriormente pouco expressivos, agora
emergem a superfície do pecíolo como duas saliências laterais, porém voltados para a face
adaxial, o que confere o aspecto anguloso-biconvexo-canaliculado ao pecíolo no estádio
adulto (Fig. 82B). Estes feixes são colaterais, semelhantes às nervuras principais, sendo que
os vasos de xilema estão voltados para o interior do pecíolo, e os de floema para a face
externa.
10 mm
A
4 mm
B
Figura 82- Pecíolo de B. monandra.A) Pulvino com pêlos
hialinos; B) Visão geral com destaque para o formato anguloso
biconvexo, canaliculado.
129
Há gemas axilares na base do pecíolo, no ângulo formado com os ramos (Fig. 83).
8 mm
A
20 mm
B
Figura 83- Gemas axilares na inserção caule/pecíolo de B. monandra, em estádio
adulto. A) Região apical do ramo; B) Região basal.
130
2.2. ANÁLISE DO TEOR DE FLAVONÓIDES EM ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE Bauhinia monandra
KURZ
Os metabólitos secundários não estão uniformemente distribuídos nas plantas. Sua
produção ocorre em células, tecidos ou órgãos específicos, e sua concentração na planta
freqüentemente varia durante o período de 24 horas. Portanto, vale ressaltar que o material
utilizado para as análises fitoquímicas dos diferentes órgãos e estádios de desenvolvimento,
foi coletado sempre pelo período da manhã.
A partir das análises fitoquímicas pode-se observar que houve variação no teor de
flavonóides entre a plântula e os diferentes órgãos vegetativos dos três estádios de
desenvolvimento (Tab. 03). Estas diferenças foram suficientes para avaliar onde e em que
estádio de desenvolvimento a espécie B. monandra concentra maior teor do principio ativo
responsável pela ação fitoterápica.
Tabela 03. Teores de flavonóides totais em três estádios diferentes de desenvolvimento
de Bauhinia monandra Kurz expressos em %/g de matéria seca.
Bauhinia monandra Kurz.
Flavonóides
totais (%/g)
Plântula
raiz
Juvenil
caule
0,62
0,08
0,26
folha
1,44
raiz
Adulto
caule
folha
0,05
0,06
1,27
Os indivíduos em estádio juvenil obtiveram as maiores concentrações de
flavonóides totais por grama de matéria seca, com 0,08% na raiz, 0,26% no caule e 1,44% na
131
folha; seguidos pelos indivíduos adultos, que apresentaram 0,05% na raiz; 0,06% no caule; e
1,27% na folha (Graf. 01).
A concentração de flavonóides totais nas plântulas foi de 0,62%. Neste caso, os
órgãos vegetativos não foram avaliados separadamente, visto a insignificância dos dados
comparados à curva padrão.
1,44
1,27
0,62
0,26
0,08
0,05
0,06
raiz
caule
Juvenil
folha
Adulto
Plântula
Gráfico 01- Análise comparativa dos teores de flavonóides (%) nos órgãos
vegetativos em três estádios de desenvolvimento de B. monandra Kurz.
132
3. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Espécies com rápido desenvolvimento, como é o caso de Bauhinia monandra e B.
forficata, são geralmente indicadas para os programas de reconstituição de matas degradadas
(Beltrati & Paoli, 1989). A espécie utilizada neste estudo, por exemplo, germinou ao quarto
dia após o plantio, e segundo Bailey (1941), nas regiões tropicais, floresce em três ou quatros
anos. Sua floração e frutificação permanecem por quase todo o ano, tornando-se mais
abundante no período de abril a outubro (Little & Wadsworth, 1964), bem como foi
observado neste estudo.
A germinação de algumas espécies do gênero Bauhinia, como a B. forficata,
recebe a classificação de fanerocotiledonar, de acordo com Duke (1969); porém, acredita-se
que a classificação de Duke & Polhill (1981) seja a mais adequada (faneroepígea), visto que
os cotilédones foliáceos são elevados da superfície do substrato pelo desenvolvimento do
hipocótilo, emergindo a partir da testa (Pereira, 1992). Este termo também é seguido por Silva
et al., (1989), e adotado neste estudo.
Pereira (1992), estudando a germinação de sementes de B. forficata, considerou
plântula normal somente até a emissão do primeiro protófilo, enquanto que neste trabalho
considerou-se como plântula normal o que este autor considerou como planta jovem,
constituída por primeiro e segundo protófilos acompanhados de outras gerações foliares e
presença de cotilédones, imediatamente anterior à queda dos mesmos. Com o trabalho de
Pereira (1992) foi possível perceber que o desenvolvimento da espécie B. forficata é
semelhante ao da espécie B. monandra, considerando-se o desenvolvimento até o estádio de
plântulas, diferindo no fato de que para o sucesso da germinação houve a necessidade de
tratamento pré-germinativo, no trabalho desenvolvido por Beltrati & Paoli (1989) com B.
133
forficata, onde as sementes só germinaram quando escarificadas, mostrando 100% de
germinação no claro e 96% no escuro.
O estádio juvenil é o mais longo e o mais crítico, e dele depende o sucesso no
estabelecimento de uma planta, cujo fracasso pode levar a espécie à extinção (Oliveira, 1997).
Plantas jovens de B. monandra apresentam protófilos semelhantes aos metáfilos,
característica comum em Cercideae (Duke & Polhill, 1981), mas fundamental para diferenciálas das plantas jovens de B. forficata, pois esta apresenta metáfilos diferentes dos protófilos,
com estípulas espiniformes, ausentes na espécie objeto deste estudo. Esta informação é de
extrema importância, pois as duas espécies supracitadas são muito parecidas neste estádio de
desenvolvimento, podendo-se facilmente confundi-las.
As características da planta adulta já estão presentes nas plantas jovens da espécie
B. monandra, sejam raízes, caules ou folhas, a partir do 52º dia após a germinação.
Espécies do gênero Bauhinia são amplamente utilizadas como ornamentais,
principalmente a espécie B. forficata. No entanto Di Stasi & Hiruma-Lima (2002) relatam que
devido a presença de seus espinhos estas são geralmente substituídas por outras espécies do
mesmo gênero, como a B. monandra, potencialmente ornamental, medicinal e forrageira.
É interessante destacar as semelhanças e diferenças morfológicas entre as
plântulas e as plantas jovens de B. monandra, que além do tamanho, presença de metáfilos e
ausência de cotilédones, as plantas jovens diferem das plântulas pelo aumento na quantidade
de tricomas no caule, pecíolo, e limbo foliar, principalmente sobre as nervuras; forma quase
cilíndrica do caule, com início de formação de lenticelas, e ramificação radicular mais
desenvolvida. Ambos os estádios de desenvolvimento possuem coloração mais escura na
região do pulvino, no ápice do longo pecíolo, além de apresentar grande densidade de
tricomas nesta região.
134
A presença de pulvino é comum em espécies da família Leguminosae. São mais
cilíndricos que em outras famílias; e quando em folhas simples, a presença de pulvino e
nervação palmada, como é o caso de B. monandra, formam um conjunto de características
que facilitam a identificação (Handro, 1964; Hickey, 1973; Ribeiro et al., 1999).
As características anatômicas da epiderme e mesofilo das folhas das plântulas são
semelhantes às do estádio juvenil, porém, apresentaram-se diferentes quanto ao
amadurecimento dos tecidos e aumento na quantidade de conteúdo no interior das células.
As nervuras principais do estádio juvenil, além de mais proeminentes no limbo
foliar, na face abaxial, apresentaram-se cristadas, com células epidérmicas mais alongadas
sobre as nervuras, quando comparadas à fase de plântula. No estádio adulto as nervuras
apresentaram-se mais desenvolvidas, podendo apresentar de uma ou duas cristas, mas no geral
são semelhantes ás da fase juvenil.
Beltrati & Paoli (1989), visualizaram em B. forficata feixes vasculares envoltos
em células que caracterizam pequenas bainhas, característica também observada no mesofilo
das folhas de B. monandra.
A formação do pecíolo com quatro feixes vasculares, dois independentes e dois
limitados por um único anel de esclerênquima, como foi observado em B. monandra, também
é uma característica comum à espécie B. forficata (Metcalfe & Chalk, 1950). Metcalfe &
Chalk (1950) citam que a presença de esclerênquima é comum nos feixes vasculares internos
do mesofilo em espécies da subfamília Caesalpinioideae. Esta característica também foi
observada em Aldina heterophylla (Leguminosae-Papilionoideae) (Araújo & Mendonça,
1998).
Assim como em B. monandra, o pecíolo de espécies de Caesalpinioideae possuem
lados dorsal e ventral bem definidos, como é o caso de Bauhinia forficata, Cassia grandis,
135
Cercis siliquastrum, Gleiditschia capsica, G. japonica, Schotia latifolia e Tamarindus indica,
e tipos perfeitamente cilíndricos como em Caesalpinia japonica (Metcalfe & Chalk, 1950).
A raiz é uma estrutura axial relativamente simples quando comparada ao caule
(Appezzato-da-Glória & Hayashi, 2003). As raízes da fase adulta da espécie B. monandra
mostraram estruturas nada complexas, com camadas externas de tecido morto, em estratos
multiseriados que tendem a se desprenderem com o desenvolvimento. O cilindro vascular
apresenta vasos xilemáticos com distribuição difusa e desuniforme, agrupados de dois a três.
Observou-se que em B. monandra os pólos de fibras de floema primário, com o
decorrer do desenvolvimento dispersam-se, pois enquanto plântula só há quatro pólos
procambiais, e ao atingir o estádio adulto, inúmeros feixes de fibras estão presentes,
representando o floema primário, que se encontra indistinto neste estádio. Segundo Raven et
al. (2001), nas raízes e caules em desenvolvimento secundário, estas fibras podem ser os
únicos componentes remanescentes distinguíveis do floema primário.
Não há ocorrência de “guarnição” nas paredes dos vasos de B. monandra e, de
acordo com Beiley (1933), Machado et al. (1965) e Metcalfe & Chalk, (1957), entre todas as
Leguminosas, a tribo Bauhinieae é a única que não possui esta característica.
Machado et al. (1965), observaram a presença de incrustação nas pontoações dos
vasos de B. forficata, ficando cada vez mais transparente à medida que o vaso se desenvolve.
No entanto, em nenhum dos estádios de desenvolvimento observados em B. monandra foi
detectado qualquer tipo de obstrução nas paredes ou placas de perfuração.
Os elementos de vaso das Caesalpinioideae, em geral, são solitários, podendo ser
múltiplos em algumas espécies, e o parênquima axial quase sempre é paratraqueal (Metcalfe
& Chalk, 1950). De maneira geral, o caule de B. monandra se enquadra em quase todas as
136
características comuns à esta subfamília, pois os vasos apresentam-se em B. monandra, e em
B. forficata (Machado et al., 1965) com distribuição difusa, solitários ou múltiplos.
Metcalfe & Chalk (1950) citam que o gênero Bauhinia é o único gênero que não
apresenta anéis contínuos de esclerênquima no periciclo do caule, confirmado em B.
monandra.
Esta espécie, enquanto plântula, apresenta estômatos na superfície do hipocótilo e
epicótilo além de tricomas mas, em estádio juvenil, e posteriormente adulto, apresentaram
lenticelas. Estas começam a se formar durante o desenvolvimento da primeira periderme
(Raven et al., 2001), presente a partir do estádio juvenil, geralmente surgindo abaixo dos
estômatos ou grupo de estômatos, substituindo-os nos estádios de crescimento mais
avançados.
Com exceção de algumas espécies de Cassia, o gênero Bauhinia apresenta
características exclusivas, presença de estruturas anômalas, como por exemplo, a formação de
sucessivos prolongamentos no caule durante o crescimento de Bauhinia angulosa , B.
rubiginosa e B. vehlii (Metcalfe & Chalk, 1950), esta característica não foi observada em B.
monandra.
Gemas vegetativas, axilares, presentes sobre as cicatrizes dos cotilédones nos
indivíduos jovens, também foram reportadas por Ferreira et al. (2001), em Dimorphandra
mollis Benth. (Leguminosae, Caesalpinioideae), cuja germinação também é do tipo
fanerocotiledonar. Algumas espécies da família Leguminosae, segundo Duke (1969),
apresentam estípulas na base dos cotilédones das plântulas, característica importante para a
identificação (Burkart, 1952).
Os tricomas tectores, pluricelulares, observados sobre as epidermes, nervuras e
pecíolos, são maiores que os simples-aculeados unicelulares, porém menos freqüentes.
137
Metcalfe & Chalk (1950), citam a presença de tricomas glandulares e nãoglandulares em espécies da subfamília Caesalpinioideae. Os observados em B. monandra não
são glandulares e estão presentes em outras espécies do gênero. Tricomas glandulares, como
as glândulas peroladas de B. anatomica, não foram observados em B. monandra ou em B.
forficata (Beltrati & Paoli, 1989).
A presença de tricomas pluricelulares nas plântulas foi mais abundante que de
unicelulares, em toda a extensão do limbo foliar, principalmente sobre as nervuras, porém a
freqüência dos unicelulares foi aumentando, conforme o desenvolvimento da planta,
apresentando pluricelulares quase que somente sobre as nervuras. Segundo Hummel &
Staesche (1962), é comum a mudança de forma e função dos tricomas ao longo do
desenvolvimento.
Quanto aos elementos secretores, Metcalfe & Chalk (1950) citam a presença de
cavidades secretoras no córtex de Copaifera; cavidades secretoras alongadas no córtex de
espécies de Caesalpinia, Daniella, Detarium, Hardwickia, Kingiodendron, Oxystigma e
Schotia; canais secretores no córtex primário de Eperua falcata, e nas pontoações de
Copaifera, Daniella, Oxystigm e Prioria; células secretoras, com conteúdo taninífero, no
córtex, floema, raios e pontoações de algumas espécies de Brownea, Cercis, Saraca,
Tamarindus e, apenas no floema de Cassia grandis e Haematoxylon campechianum. Estes
autores não citam a ocorrência de estruturas anatômicas secretoras em espécies do gênero
Baunihia, o que confirma os resultados deste estudo com B. monandra, uma vez que esta não
apresentou nenhum tipo incomum de células, canais ou cavidades.
Estruturas como idioblastos, cavidades, ductos, superfícies epidérmicas e tricomas
estão envolvidos na secreção de material contendo compostos fenólicos, que estão presentes
em diversos órgãos de espécies pertencentes às famílias Anacardiaceae, Asteraceae,
138
Clusiaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Simaroubaceae e
Sterculiaceae, além da família Leguminosae (Castro & Machado, 2003).
As biomembranas presentes no interior das células, quase sempre envolvendo
grãos de amido em B. monandra, segundo Nultsch (2000), são tipicamente formadas de
proteínas, lipídios, e em alguns casos de carboidratos. Uma das suas principais funções é a
organização das células em compartimentos com permeabilidade seletiva. Grãos de amido são
substâncias ergásticas resultantes da atividade metabólica, sintetizadas nos cloroplastos de
tecidos fotossintetizantes e armazenadas em tecidos não-fotossintéticos, abundantes em todos
os estádios de desenvolvimento de B. monandra.
Cristais são secretados em formas isoladas e agrupadas, algumas vezes ocorrem
dos dois tipos em uma única planta (Metcalfe & Chalk, 1950), como é o caso de B.
monandra, visto que nas nervuras os cristais de oxalato de cálcio ocorrem agrupados, e no
floema do caule adulto ocorrem nas duas formas.
De acordo com Machado et al. (1965), plantas adultas de B. forficata também
apresentaram cristais no parênquima axial do caule, agregados ao raio.
A deposição de cera sobre a cutícula pode estar presente em várias formas de
ornamentação como bastonetes, escamas, camadas contínuas, grânulos ou papilas como
ocorre sobre os tricomas de B. monandra, ou ainda de aspecto reticulado como pode ser
observado sobre o epicótilo e o hipocótilo de plântulas e caules, no estádio juvenil. O
desenvolvimento de cutícula e cera sobre a lâmina foliar é influenciado por fatores ambientais
(Hull et al., 1975).
Como características escleromórficas da espécie B. monandra, não são apenas as
espessas camadas de cera epicuticular que estão representadas, mas a abundância de tricomas,
139
dupla camada de parênquima no mesofilo, bainhas de feixes vasculares e presença de
lenticelas no caule.
Por se tratar de uma espécie medicinal é importante destacar as adaptações
ambientais da espécie B. monandra, pois a produção dos metabólitos secundários, que são os
responsáveis pela ação fitoterápica da espécie, estão diretamente relacionadas a sobrevivência
e a propagação das plantas que os produzem, e a produção destes são respostas aos estímulos
ambientais.
A habilidade de sentir cheiro varia muito entre as pessoas e é, geralmente,
associado à coisas conhecidas, então não existe um sistema de classificação para aromas
(Ribeiro et al., 1999). Porém, não se pode negar que as plantas têm cheiros bem particulares
que, segundo Ribeiro et al. (1999), são muito úteis na identificação, como alho, pimenta,
gengibre, cravo, linhaça, entre outros. No caso de B. monandra, o cheiro das raízes, tronco e
folhas são relativamente agradáveis, porém, quase imperceptíveis, não podendo ser associado
a nenhum odor característico.
Os resultados das análises fitoquímicas revelam que nas folhas dos indivíduos
jovens de B. monandra há a maior concentração de flavonóides totais, e que nas raízes, tanto
dos indivíduos jovens como dos adultos e no caule adulto, estão as menores concentrações.
A concentração de flavonóides no caule dos indivíduos jovens apresenta-se maior
que no caule adulto, embora não seja tão alta quanto a das folhas.
Segundo Larcher (2000), a produção de flavonóides é influenciada pela
intensidade luminosa, pois estes são pigmentos de proteção contra raios ultravioleta, o que
explica o fato das folhas terem alcançado maiores concentrações de princípio ativo, por
estarem mais expostas à luz.
140
Os teores de flavonóides observados na espécie B. monandra foram maiores que
os observados por Atroch (1999) em B. forficata, pois o maior índice obtido nas folhas
adultas desta foi de 0,33% de flavonóides por grama de matéria seca e as de B. monandra
apresentaram 1,27%. As folhas das plantas jovens da B. forficata apresentaram-se com 0,52%,
e em B. monandra a concentração de flavonóides totais foi de 1,44%.
As plântulas de B. monandra, também, apresentaram altos índices de flavonóides,
considerando que o valor obtido para folhas de plantas adultas de B. forficata (Atroch, 1999)
foi utilizado como parâmetro de comparação, uma vez que esta espécie é utilizada com os
mesmos fins medicinais.
Percebe-se, no entanto, que tanto em B. monandra como em B. forficata as plantas
jovens apresentaram maiores concentrações que as adultas. Em B. monandra não só as folhas
dos indivíduos jovens possuem maior quantidade de flavonóides, mas também as raízes e os
caules.
Embora as folhas de plantas adultas de B. monandra sejam largamente utilizadas
pela população da região amazônica no tratamento do diabetes, o fato de que plantas mais
jovens possuem maiores concentrações de princípio ativo é explicado por Robbers et al.
(1997), que relatam que, em certos casos, o teor do princípio ativo que atinge o pico máximo
no início do crescimento, e depois começa a declinar, podendo até ser substituído por outro
componente.
Os flavonóides representam o maior grupo de compostos fenólicos vegetais, e
entre estes estão as antocianinas, as flavonas e os flavonóis. As flavonas, por exemplo, como a
quercetina, são inibidoras eficazes da aldose redutase, que devem desempenhar um papel no
surgimento de males como o diabete; a hesperidina e a rutina são empregadas como remédio
ativo na dilatação dos vasos e tônico capilar.
141
Os flavonóides são pigmentos hidrossolúveis presentes nos vacúolos das células,
que entre outras funções, contribuem para dar cor às folhas, flores e frutos. Segundo Larcher
(2000), isto ocorre devido a ligação dos pigmentos às biomembranas, às paredes celulares e
aos glicosídios dissolvidos no suco celular, cuja cor depende da estrutura molecular do
pigmento. Segundo Castro & Machado (2003), a presença dos compostos fenólicos
acumulada nos vacúolos, em órgãos totalmente diferentes, está relacionada com a manutenção
celular e integridade dos tecidos, em caso de estresse hídrico.
Três fatores principais podem influenciar os componentes secundários das plantas
medicinais: hereditários, ontogênicos e ambientais. Plantas da mesma espécie semelhantes
fenotipicamente, podem ser muito diferentes em termos de variação genética, ocasionando
diferenças na composição química, principalmente no que diz respeito aos componentes
secundários (Robbers et al., 1997).
O fator ontogenético precisa ser considerado ao avaliar a concentração dos
princípios ativos, que variam com a idade e o estádio de desenvolvimento. Além de
considerar que os princípios ativos não estão distribuídos uniformemente nas plantas, e sim
em partes ou órgãos destas (Montanari Jr. et al., 1997; Larcher, 2000), como podemos
observar neste estudo.
A concentração de metabólitos secundários, em geral, tende a aumentar com a
idade da planta, porém deve-se levar em conta que a identidade desses componentes também
pode variar de acordo com o estádio de desenvolvimento (Robbers et al., 1997), o que
obviamente não ocorreu com a espécie B. monandra.
Fatores como temperatura, luz, umidade, tipo de solo, forma de plantio, adubação,
irrigação, colheita e transporte podem produzir variações no teor de princípio ativo em uma
142
planta (Correa Júnior et al., 1994), e como todos estes fatores estão de alguma forma
relacionados, é difícil avalia-los individualmente (Robbers et al., 1997).
Contudo, a partir das análises fitoquímicas pode-se constatar que houve variação
no teor de flavonóides entre as sementes e os órgãos vegetativos em estádios de
desenvolvimento diferentes, embora estes valores possam sofrer variações devido aos fatores
ambientais, estratégias de estabelecimento e condições de cultivo.
O conhecimento das características morfológicas das plantas, não só em estádio
adulto, mas enquanto semente, ou plântula, e até mesmo em um estádio intermediário de
desenvolvimento, como é o caso das plantas em estádio juvenil, são fundamentais para os
estudos taxonômicos e sistemáticos de grupos vegetais grandes e complexos. Tais
informações vêm contribuir para o conhecimento do desenvolvimento de órgãos reprodutivos
e vegetativos de espécies que necessitam de especial atenção, como as plantas de uso
medicinal.
143
GLOSSÁRIO
144
Abaxial- órgão mais afastado do eixo sobre o qual se insere; antônimo de adaxial.
Acúleo- formação epidérmica semelhante a espinho facilmente removível.
Adaxial- órgão mais próximo do eixo sobre o qual se insere; antônimo de abaxial.
Adnato- aderente, concrescente.
Albuminoso- diz-se da semente que contém albumina, tecido contendo substâncias nutritivas
na semente, o mesmo que endosperma.
Alburno- parte externa e funcional do xilema.
Aleurona- reserva de proteína, cristalóides ou globóides.
Amido- carboidrato insolúvel, polissacarídeo.
Amiláceo- que contém amido.
Anátropo- referente ao óvulo curvo, com a micrópila próxima ao funículo.
Anfiestomáticas- com estômato em ambas as epidermes da folha.
Anomocíticos- referente aos estômatos desprovidos de células subsidiárias diferenciadas.
Anticlinal- referente às paredes celulares de um órgão vegetal, perpendiculares à superfície
da mesma.
Bainha de feixe- camada de células que envolve o feixe vascular.
Biomembrana- limite plasmático constituído de uma camada lipídica bimolecular e
proteínas.
Calaza- região do óvulo pela qual ele se prende ao funículo.
Canaliculado- acanalado.
Cartáceo- com consistência de papel ou pergaminho.
Catáfilos- folhas modificadas, de consistência variável, freqüentemente sem clorofila.
Centrífugo- referente ao movimento que se faz do centro para a periferia; oposto de
centrípeto.
145
Centrípeto- referente ao movimento que se faz da periferia para o centro; oposto de
centrífugo.
Cerne- parte intera e não funcional do xilema.
Coalescente- aderente, unido.
Coifa- espécie de capuz que recobre o meristema apical da raiz.
Colênquima- tecido de sustentação com reforço de celulose em certos pontos ou em toda a
extensão da célula.
Conduplicado- referente à folhas, cujas metades se dobram ao longo da nervura mediana.
Cordato ou cordado- o mesmo que cordiforme, em forma de coração.
Córtex- conjunto dos tecidos situados entre o sistema vascular e a epiderme.
Cotilédone- folha embrionária, cotendo, em geral, reserva nutritiva.
Cutícula- camada de cutina, pouco permeável a água, que reveste a parede externa de células
epidérmicas.
Distal- referente ao que é distante do ponto tomado como origem.
Diurético- que favorece a secreção urinária; que aumenta ou provoca secreção urinária.
Embrião axial- referente à posição que o embrião ocupa na semente, com ou sem
endosperma.
Endocarpo- camada interna do pericarpo, correspondente à epiderme interna.
Epicótilo- primeiro internó acima do ponto de inserção dos cotilédones no caule.
Esclerênquima- tecido morto de sustentação, formado por células lignificadas de paredes
muito espessas.
Estádio- período ou etapa do desenvolvimento da planta.
Estenoscárpico- frutos com pouca variabilidade quanto a forma, cor, tamanho e outros
aspectos superficiais.
146
Estenospérmica- sementes com pouca variabilidade quanto à forma, cor, tamanho e outros
aspectos superficiais.
Estípula- formação laminar presente na base dos pecíolos de algumas plantas
Estômatos- estruturas microscópicas presentes na epiderme de órgãos aéreos vegetativos,
especialmente nas folhas, que têm por função efetuar trocas gasosas entre a
planta e o meio.
Eustelo- tipo de estelo mais comum nos caules das dicotiledôneas, em que os feixes
condutores estão dispostos em um cilindro central.
Exoderme- camada mais externa do córtex de raiz, constituída de uma ou mais camadas de
células mais ou menos suberificadas que podem sofrer posterior esclerificação.
Exotesta- epiderme externa da testa, cuja camada de células encontra-se em paliçada.
Faneroepígea- tipo de germinação cujos cotilédones são liberados a partir da testa da
semente, pelo desenvolvimento do hipocótilo.
Farmacognosia- estudo das drogas ou bases medicamentosas de origem vegetal, com menor
ênfase na ação, antes de serem submetidas à qualquer manipulação.
Farinácea- termo aplicado à superfície coberta por indumanto farinhento.
Felogênio- tecido gerador de súber e de feloderma; meristema originado da epiderme ou de
camadas corticais mais profundas.
Feloderma- tecido formado pelo felogênio para o interior do órgão, por divisões tangenciais
das células que compõem o primeiro.
Filotaxia- referente à forma pela qual as folhas estão inseridas no caule; disposição das folhas
nos ramos.
Fitofármaco- produto medicinal farmacêutico que possui como matéria prima substância
ativa isolada de plantas.
147
Fitoterápico- medicamento que tem como componente terapêutico ativo matéria prima de
origem vegetal; plantas inteiras ou partes delas.
Fitoterapia- emprego de fitoterápicos no tratamento de doenças.
Flavonóides- substâncias fenólicas que ocorrem de forma livre ou ligadas à açúcares; muitos
flavonóides atuam na atração de insetos para a polinização de flores e
apresentam inúmeras ações farmacológicas
Floema- tecido condutor que transporta a seiva elaborada.
Foliáceo- semelhante ou relativo a folhas.
Funículo- pedúnculo pelo qual o óvulo se liga a placenta ou a parede do ovário.
Gema vegetativa- gema que se desenvolve em ramos caulinares.
Glabro- referente a órgãos vegetais desprovidos de pelos.
Herbáceo- que tem porte e consistência de erva; referente a caules não lenhosos.
Heterocrômico- de diversas cores; não monocrômico.
Hialino- translúcido.
Hidrossolúvel- referentes à substância solúvel em água.
Hilo- cicatriz deixada no tegumento da semente, evidente após a separação do funículo.
Hipocótilo- parte do eixo da plântula situada entre ponto de inserção dos cotilédones e o
início da radícula.
Hipoglicemiante- que baixa a taxa de glicose do sangue.
Incrustação- referente à interposição de materiais minerais entre as partículas orgânicas;
promove o espessamento de superfícies; formação de membranas celulares.
Lenticela- excrescência geralmente visível a olho nu, que pode ocorrer em vários órgãos
vegetais, o arranjo frouxa de suas células permite que se efetuem trocas gasosas.
Lente- protuberância localizada acima do hilo, em posição oposta a micrópila.
148
Limbo- referente à parte expandida da lâmina foliar.
Linha lúcida- linha contínua ao longo do tegumento externo da semente, comum a certas
sementes de leguminosae.
Mácula- referente à mancha.
Medula- parênquima que ocupa a parte central de caules e raízes de Angiospermas,
Gimnospermas e algumas Pteridófitas.
Meristema- tecido vivo ainda não diferenciado que possui a capacidade de se multiplicar por
divisão celular, formando outros tecidos.
Mesofilo- conjunto de tecidos que ficam entre as epidermes das duas faces da folha e entre as
nervuras.
Metabólito- qualquer produto do metabolismo.
Micrópila- pequena abertura presente na extremidade das sementes; existente nos tegumentos
do óvulo, atravessando-os.
Monocrômica- de uma cor.
Múcron ou mucro- proeminência curta d ápice agudo presente na extremidade de um órgão.
Mucronado- que tem múcron.
Nervação- distribuição das nervuras, ou conjunto das mesmas; o mesmo que venação ou
inervação.
Obcampilótropa- referente ao óvulo curvo, onde a calaza não fica oposta à micrópila; a rafe
se desenvolve mais que a anti-rafe; a semente é formada a partir de óvulo
anátropo ou campilótropo.
Ontogênico- referente ao desenvolvimento completo de um indivíduo a partir do zigoto ou do
esporo; história da formação do indivíduo.
149
Palmatinérvia- com nervuras em forma de palma, cujos nervos da mesma categoria partem
todos de um mesmo ponto e divergem como os dedos de uma mão aberta.
Paracotilédones- são cotilédones isófilos ou foliáceos, expostos após a germinação, com
função de órgão assimilador; são fotossintéticos.
Paratraqueal- referente ao parênquima axial do lenho, relacionado com os elementos de
vaso.
Parênquima- tecido de células vivas.
Pecíolo- parte da folha que prende o limbo ao caule, diretamente ou por meio de uma bainha.
Periciclo- porção mais externa do tecido vascular, entre este e a endoderme.
Periclinal- referente às paredes celulares de um órgão vegetal quando paralelas a superfície
do mesmo; oposto de anticlinal.
Periderme- tecido protetor secundário que substitui a epiderme de plantas que crescem em
espessura; formado a partir do felogênio.
Pétreo- com consistência de pedra.
Pigmento- nome genérico para designar substâncias corantes.
Placentação- a maneira como se dispõe a placenta e conseqüentemente os óvulos no ovário.
Planta medicinal- planta que contém em um ou mais de seus órgãos substâncias que podem
ser utilizadas com propósitos terapêuticos ou que sejam precursoras de
semisíntese quimicofarmacêutica.
Plântula- embrião vegetal que começa a desenvolver-se na germinação da semente; pequena
planta recém nascida.
Pleurograma- linha definida presente na superfície das sementes de algumas Leguminosae.
Plúmula- parte do embrião vegetal que corresponde a gema apical situada entre os
cotilédones, que originará a parte aérea da planta.
150
Polispérmico- referente ao fruto que contém várias sementes.
Pontoação- depressão ou região delgada na parede celular.
Prefoliação- modo pelo qual se dispõem as folhas nas gemas vegetativas, antes de
desabrocharem; o mesmo que vernação.
Princípio ativo- substância com ação farmacológica, qualquer que seja sua origem.
Procâmbio- tecido meristemático responsável pela formação de tecidos vasculares e câmbio;
um dos responsáveis pela formação do corpo primário.
Protoderme- tecido meristemático primário que origina a epiderme.
Protófilo- a primeira folha de uma planta.
Protofloema- os primeiros elementos floemáticos formados num órgão vegetal.
Protostelo- tipo mais simples de eustelo contendo uma coluna sólida de tecido vascular.
Protoxilema- primeiros elementos do xilema formados num órgão vegetal.
Proximal- mais próximo da origem ou do local de inserção.
Pulvino- dilatação na base do pecíolo de uma folha ou peciólulo de um folíolo; estrutura que
exerce papel fundamental nos movimentos destes órgãos.
Radícula- pequena raiz; parte do embrião que dará origem à raiz principal; constitui a
continuação basal do hipocótilo no embrião.
Rafe- porção do funículo de um óvulo adnata ao tegumento, presente em geral, em óvulos
anátropos e persistentes, como cicatriz na semente.
Raio- lâmina de tecido variável em altura e largura, formada pelas iniciais radiais do câmbio
vascular, que se estende no sentido radial nos xilemas e floemas secundários.
Resinífero- referente à certos ductos cujas células de revestimento segregam resina.
Ritidoma- conjunto de tecidos mortos da casca de caules e raízes, resultantes da atividade do
felogênio.
151
Séssil- diz-se de qualquer órgão vegetal desprovido de pedúnculo ou pedicelo, por isso sem
capacidade de movimento.
Tetrarca- xilema primário da raiz, que possui quatro pólos de protoxilema.
Tegumento- qualquer invólucro ou estrutura que reveste e protege uma parte ou um órgão
vegetal.
Testa- tegumento externo da semente, quando o óvulo original tem dois tegumentos
Tricoma- usado genericamente como sinônimo de pêlo.
Vacúolo- cavidade no citoplasma cheio de fluido aquoso, o suco celular.
Vaso- elemento tubular de condução cujas paredes adjacentes apresentam perfurações ou
pontoações.
Venação- distribuição das nervuras ou veias, na lâmina foliar, o mesmo que nervação.
Xilema- conjunto de vasos, traqueídes, parênquima lenhoso e fibras; o mesmo que lenho.
Xilopódio- órgão subterrâneo lignificado; nem sempre é fácil determinar sua natureza
(caulinar, radicular ou mista).
152
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
153
Albuquerque, J.M. 1993. Identificação e germinação de sementes amazônicas. FCAP.
Serviço de Documentação e Informação. Belém, Pará. 132p.
Albuquerque, U.P.de; Pereira, S.A.B.; Silva, A.V.da. 2000. Pharmacobotanical study of
species used in the treatment of the diabetes. Acta Farmacêutica Bonaerense, eneromarzo, 19(1): 7-12.
Amorim, I. L. 1996. Morfologia de frutos, sementes, germinação, plântulas e mudas de
espécies florestais na região de Lavras-MG. Dissertação de mestrado. Universidade
Federal de Lavras. Lavras, Minas Gerais. 127 p.
Appezzato-da-Glória, B.; Hayashi, A.H. 2003. Raiz. In: Appezzato-da-Glória, B.; CarmelloGuerreiro, S.M. Anatomia vegetal. UFV. Viçosa, Minas Gerais. 438p.
Araújo, M.G.P.; Mendonça, M.S. 1998. Escleromorfismo foliar de Aldina heterophylla
Spruce ex. Benth (Leguminosae: Papilionoideae) em três campinas da Amazônia
Central. Acta Amazônica, 28(4): 353-371.
Argolo, A.C.; Sant’Ana, A.E.; Pletsch, M.; Coelho, L.C. 2004. Antioxidant activity of leaf
extracts from Bauhinia monandra. Bioresour Technol., Nov. 95(2):229-33.
Arruda Camargo, M.T.L. 1985. Medicina popular, aspectos metodológicos para pesquisa,
garrafada, objeto de pesquisa, componentes medicinais de origem vegetal, animal e
mineral. São Paulo: Almed. 129p.
154
Atroch, E.M.A.C. 1999. Efeitos de diferentes níveis de irradiância sobre aspectos
ecofisiológicos, anatômicos e biossíntese de flavoníodes em Bauhinia forficata Link.
Dissertação de Mestrado em Fisiologia Vegetal, UFLA. Lavras, Minas Gerais. 62p.
Bacchi, E.M. 1996. Controle de Qualidade de Fitoterápicos In: Di Stasi, L.C. Plantas
medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo interdiciplinar. UNESP. São Paulo, SP.
230p.
Bailey LH. 1941. The standard cyclopedia of horticulture. New York: MacMillan. 1200 p.
Balogun A.M.; Fetuga B.L. 1985. Fatty acid composition of seed oils of some members of the
Leguminosae family. Food Chemistry, 17(3): 175-182.
Barroso, G.M. 1976. Curso sobre identificação de sementes. Universidade Federal de Pelotas.
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Pelotas, Rio Grande do Sul. 34p.
Barroso, G.M. 1991. Sistemática de angiospermas do Brasil. Imprensa Universitária da
Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, Minas Gerais. v2, 377p.
Barroso, G.M.; Peixoto, A.L.; Costa, C.G.; Ichaso, C.L.F.; Guimarães, E.F.; Lima, H.C. 1984.
Sistemática das Angiospermas do Brasil. Imprensa Universitária. Viçosa, Minas Gerais.
v.2. 377p.
155
Beltrati, C.M. 1994. Morfologia e anatomia de sementes. Pós-Graduação em Ciências
Biológicas, Área de Biologia Vegetal. Departamento de Botânica. Instituto de
Biociências, UNESP. Rio Claro, São Paulo. 112p.
Beltrati, C.M.; Paoli, A.A.S. 1989. Morfologia, anatomia e desenvolvimento de sementes e
plântulas de Bauhinia forficata Link. (Leguminosae-Caesalpinioideae). Rev. Bras. Biol.,
49 (2): 583-590.
Beltrati, C.M.; Paoli, A.A.S. 2003. Semente. In: Appezzato-da-Glória, B.; CarmelloGuerreiro, S.M. Anatomia vegetal. UFV. Viçosa, Minas Gerais. p399-424.
Beiley, I.W. 1933. The cambium and its derivative tissue. VIII. Structure, distribuition and
diagnostic significance of vestured pits in dicotyledons. Journal of the Arnold
Arboretum, 14:259-273.
Bewley, J.D.; Black, M. 1982. Physiology and biochemistry of seed in relation to
germination. Viability, dormancy and environmental control. Berlim: Springer Verlag.
375p.
Binutu, O.A. 1998. Antibacterial activities of some leguminosae plants. Fitoterapia, 69(2):
187-188.
Braga, P.I.S. 1979. Subdivisão fitogeográfica, tipos de vegetação, conservação e inventário
florístico da floresta amazônica. Acta Amazônica, 9(4):53-80.
156
Brasil. 1998. Primeiro relatório nacional para a conservação sobre diversidade biológica:
Brasil. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
Brasília.
Brasil. 2000. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) nº.17 de 24.2.2000. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil, 24 abr.
Brito, A.R.M.S. 1996. Farmacologia de plantas medicinais. In: Di Stasi, L.C. Plantas
medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo interdiciplinar. UNESP. São Paulo, SP.
230p.
Burkart, A. 1952. Las Leguminosas Argentinas sylvestres y cultivadas. Buenos Aires, Acne
Agenc. 590p.
Burger, L.M. 1979. Estudos anatômicos do xilema secundário de sete espécies do gênero
Dalbergia – Leguminosae, Faboideae. Dissertação de Mestrado em Engenharia
Florestal. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná. 184p.
Bustamante, F.M.L. de. 1993. Plantas medicinales y aromaticas. Estudio, cultivo y
processado. Madrid. 365p.
Carlini, E.A. 1983. Pesquisas com plantas medicinais usadas em medicina popular. Rev.
Assoc. Med. Bras., 29 (516): 109-110.
157
Carreira, L.M.M.; Gurgel, E.S. 1995. Leguminosas da Amazônia Brasileira – V. O pólem de
gênero Monopteryx Ducke (Leguminosae - Papilionoideae.). Bol. Mus. Para. Emílio
Goeldi, Sér. Bot., 11(1):99-108.
Castro, M. de M.; Machado, S.R. 2003. Células e tecidos secretores. In: Appezzato-da-Glória,
B.; Carmello-Guerreiro, S.M. Anatomia vegetal. UFV. Viçosa, Minas Gerais. 438p.
Castro, J.L. de. 1981. Medicina vegetal - Teoria e prática conforme a naturopatia. Editora
Europa-América, Portugal. 373p.
Coelho, L.C.B.B.; Silva, M.B.R. 2000. Simple method to purify miligram quantities of the
galactose-specific lectin fron the leaves of Bauhinia monandra. Phytochemistry
Analysis, 11:295-300.
Connor, K.F. 2000. Bauhinia monandra Kurz.. Southern Research Station, USDA Forest
Service. Mississipi State, Mississipi.
COPANT, Comision Panamericana de Normas Técnicas. 1973. Informe correspondiente al
anteproyecto de normas Panamericanas – COPANT, 30:1 – 019. Maderas. Descripción
de características generales, macroscópicas y microscópicas de la madera
Angiosperma, Dicotiledoneas.
Corner, E.J.H. 1976. The seeds of Dycotyledons. Cambridge: Cambridge University Press, v2.
158
Correa Júnior, C., Ming, L.C., Scheffer, M.C. 1991. Cultivo de plantas medicinais,
condimentares e aromáticas. Emater, Paraná. 151p.
Correa Júnior, C., Ming, L.C., Scheffer, M.C. 1994. Cultivo de plantas medicinais,
condimentares e aromáticas. 2 ed. FUNEP. Jaboticabal, São Paulo. 162p.
Costa, O.A. 1975. Bauhinia forficata Link.. Rio de Janeiro. Leandra, 5(6):104-106.
Costa, A.F. 1982. Farmacognosia. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, 2ª ed. v3, 1117p.
Costa, A.F. 1986. Farmacognosia. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 4ª ed. v1, 1031p.
Crestana, C.M., Beltrati, C.M. 1988. Morfologia e anatomia das sementes de Copaifera
langsdorffi Desf. (Leguminosae- Caesalpinioideae). Naturalia, 13:45-54.
Cronquist, A. 1981. Na integrated system of classification of flowering plants. Columbia
University Press. New York. 1264p.
Cruz, G.L. 1982. Dicionário das plantas úteis do Brasil. Difel. Rio de Janeiro, RJ. 2ª ed.
599p.
Damasceno, D.C.; Volpato, G.T.; Calderon Ide, M.; Aguilar, R.; Rudge M.V. 2004. Effect of
Bauhinia forficata extract in diabetic pregnant rats: maternal repercussions.
Phytomedicine, Feb. 11(2-3):196-201.
159
De Bery, A. 1877. Vergleichende anatomie der Vegetationsorgane der phanerogamen und
Farne. W. Engelmann, Leipzig.
de Sousa, E.; Zanatta, L.; Seifriz, I.; Creczynski-Pasa, T.B.; Pezzolatti, M.G.; Szpoganicz, B.;
Silva, F.R. 2004. Hypoglycemic effect and antioxidant potencial of kaempferol (alpha)dirhamnoside from Bauhinia forficata leaves. J Nat Prod., May. 67(5):829-32.
Di Stasi, L.C. 1996. Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo interdiciplinar.
UNESP. São Paulo, SP. 230p.
Di Stasi, L.C.; Hiruma-Lima, C.A. 2002. Plantas medicinais na Amazônia e na Mata
Atlântica. UNESP. 2ed. São Paulo, SP. 604p.
Domínguez, X.A. 1973. Métodos de investigacion fitoquímica. Agencia para del Desarrollo
Internacional (AID). México. 281p.
Duke, J.A. 1969. On tropical tree. 1.Seeds, seedling, systems and systematics. St. Louis. Ann.
Missouri Bot. Gard., 56(2):125-61.
Duke, J.A. & Polhill, R.M. 1981. Seedlings of Leguminosae. In: Polhil, R.M. & Raven, P.H.
Advances in Legume Systematics, Kew. 2: 291-949.
Ducke, A.; Black, G.A. 1954. Notas sobre a fitogeografia da Amazônia brasileira. Belém, PA.
Bol. Téc. do Instituto Agronômico do Norte – IAN, (29):62.
160
Elisabetsky, E. 1987. Pesquisa com plantas medicinais. Ciência & Cultura, 39(8): 697-702.
Engler, A. 1964. Syllabus der pflanzenfamiliem. By H. Melchior, Berlin, Gebrüder
Borntraeger, 2:193-242.
Esau, K. 1974. Anatomia das plantas com sementes. São Paulo: Edgard Blucher. 393p.
Essien AI, Fetuga BL. 1989. Beta-carotene content and some characteristics of underexploited seed oils of forest trees in Nigeria. Food Chemistry, 32(2): 109-116.
Ferreira, R.A.; Botelho, S.A.; Davide, A.C.; Malavasi, M. de M. 2001. Morfologia de frutos,
sementes, plântulas e plantas jovens de Dimorphandra mollis Benth. – faveira
(Leguminosae – Caesalpinioideae). São Paulo. Rev. Bras. Bot., 24(3).
Filho,
R.
F.
2004.
Lista
de
mudas.
Jardim
Botânico
do
Rio
de
Janeiro.
PETROBRAS/REDUC. Rio de Janeiro, RJ.
Font-Quer, P. 1963. Dicionário de botânica. Barcelona: Labor. 1244p.
Francis J.K., Liogier H.A.. 1991. Naturalized exotic tree species in Puerto Rico. Gen. Tech.
Rep. SO-82. New Orleans, USDA Forest Service, Southern Forest Experiment Station.
12 p.
161
Francis JK, Rodríguez, A. 1993. Sedes of Puerto Rican trees and shrubs: second installment.
Res. Note SO-374. New Orleans, USDA Forest Service, Southern Forest Experiment
Station. 5p.
Franco, L.L. 1996. As sensacionais 50 plantas medicinais campeãs de poder curativo. O
Naturista. 2ed. Curitiba, Paraná. 241p.
Freedman, B.; Nowak, L.J.; Kwolek, W.F.; Berry, E.C.; Guthrie, W.D. 1979. A bioassay for
plant-derived pest control agents using the European corn borer. Journal of Economic
Entomology, 72(4): 541-545.
Furlan, M.R. 1996. Aspectos agronômicos em plantas medicinais. In: Di Stasi, L.C. Plantas
medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo interdiciplinar. UNESP. São Paulo, SP.
230p.
Gottlieb, O.R.; Borin, M.R.M.B. 1997. Natural products research in Brazil. Ciência e cultura,
49(5/6): 315 – 320.
Guarin Neto, G. 1994. Riqueza e exploração da flora. In: Amazônia: uma proposta
interdisciplinar de educação ambiental: temas básicos. Brasilia: IBAMA. p.193-223.
Guarim Neto,G; Morais, R.G.. 2003. Recursos medicinais de espécie do Cerrado de Mato
Grosso: um estudo bibliográfico. Acta bot. bras., 17(4):561-584.
162
Guerra, M.P.; Nodari, R.O. 2003. Biodiversidade: aspectos biológicos, geográficos, legais e
éticos. In: Simões, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosmann, G.; Mello, J.C.P. de; Mentz,
L.A.; Petrivick, P.R. Farmacognosia, da planta ao medicamento. 5ºed. Porto Alegre,
Florianópolis: UFRGS/UFSC.
Gunn, C.R. 1991. Fruits and seeds of genera in the sub-family Caesalpinioideae (Fabaceae).
U.S. Departament of Agriculture, Tech. Bull., 1.755:408.
Gurgel, E.S. 2000. Morfologia de frutos, sementes, germinação e plântulas de leguminosae
presentes em uma vegetação de mata secundária da Amazônia Central. Dissertação de
Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia / Universidade do Amazonas.
Manaus, Amazonas. 160p.
Hamly, D.H. 1932. Softening of the seeds of Melilotus alba. Bot. Gaz., 93(4): 345-375.
Handro, W. 1964. Contribuição ao estudo da venação foliar das Amarantáceas dos cerrados.
Rio de Janeiro. Anais Acad. Bras. de Ciências, 36(4):479-499.
Harper, J.L.; Lovell, P.H.; Moore, K.G. 1970. The shapes and sizes of seeds. Annu. Rev. Ecol.
Syst, 1:21-6.
Hickey, L.J. 1973. Classification of the architecture of dicotyledons leaves. American Journal
Botany, 60(1):17-33.
163
Hull, H.M.; Morton, H.L.; Wharie, J.R. 1975. Environmental influences on cuticle
development and resultant foliar penetration. Bol Rev., 44:421-452.
Hummel, K. & Staesche, K. 1962. Die verbbreitung der haartypen in den naturlichen
verwandtschaftsgruppen. Gebruder Borntraeger. Berlin, Nikolassee. 292p.
Ilkiu-Borges, F. 2000. Anatomia de órgãos vegetativos de Croton cajucara Benth. como
contribuição ao estudo farmacognóstico de plantas da região amazônica. Dissertação
de Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia / Universidade do
Amazonas. Manaus, Amazonas. 60p.
Johansen, D.A. 1940. Plant microtechnique. New York, McGraw-Hill. 523p.
Joly, A.B. 1976. Botânica. Introdução à taxonomia vegetal. Editora Nacional, São Paulo, SP.
Bibl. Univ., 3ªed., 4:777p.
Joly, A.B. 1991. Botânica. Introdução à taxonomia vegetal. Editora Nacional, São Paulo, SP.
Bibl. Univ., 11ªed., 4:777p.
Kraus, J.E., Arduin, M. 1997. Manual básico de métodos em morfologia vegetal. Rio de
Janeiro: EDUR. 198p.
164
Kunyoshi, Y. S. 1983. Morfologia da semente e da germinação de 25 espécies arbóreas de
uma floresta com araucária. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná.
Curitiba, Paraná. 232 p.
Larcher, W. 2000. Ecofisiologia Vegetal. RiMa Artes e Textos. São Carlos, São Paulo. 531p.
Larsen, K.; Larsen, S.S. 1973. The genus Bauhinia in Thailand. The Natural History Bulletin
of the Siam Society, 25(1/2):22p.
Larson, S.S. 1974. Pollen morphology of Thai species of Bauhinia (Caesalpinioideae). Grana,
14:114 - 131.
Lewis, G.P.; Owen, P.E. 1989. Legumes da ilha de Maracá. Royal Botanic Gardens, Kew,
Richmond, Surrey, England. 95p.
Lino, C.deS.; Diogenes, J.P.; Pereira, B.A.; Faria, R.A.; Andrade Neto, M.; Al de Queiroz,
M.G.; de Sousa, F.C.; Viana, G.S. 2004. Antidiabetc activity of Bauhinia forficata
extracts in alloxan-diabetcs rats. Biol. Pharm Bull. Jan., 27(1):125-127.
Little, E.L. Jr; Wadsworth, F.H. 1964. Common trees of Puerto Rico and the Virgin Islands.
Agric. Handbk. 249. Washington DC, USDA Forest Service: p168-170.
Little, E.L. Jr; Woodbury, R.O.; Wadsworth, F.H. 1974. Trees of Puerto Rico and the Virgin
Islands. Agric. Handbk. 449. Washington DC, USDA Forest Service: 266-269.
165
Lorenzi, H. 1992. Árvores Brasileiras. Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas
nativas do Brasil. Editora Plantarum LTDA. Nova Odessa, SP, Brasil. 327 p.
Machado, R.D.; Mattos Filho, A. de; Pereira, J.M.G. 1965. Estrutura microscópica e submicroscópica da madeira de Bauhinia forficata Link (Leg. Caes.). Rodriguésia, XXV,
(37):313-334.
Machado, R.D.; Costa. C.G.; Fontenelle, G.B. 1988. Supl. Acta bot. bras., 1(2):275-285.
Marchiori, J.N.C. 1980. Estudo anatômico do xilema secundário e da casca de algumas
espécies dos gêneros Acacia e Mimosa, nativas no estado do Rio Grande do Sul.
Dissertação de Mestrado em Engenharia Florestal. Universidade Federal do Paraná.
Curitiba, Paraná. 186p.
Marchiori, J.N.C. 1997. Dendrologia das angiospermas leguminosas. Ed. UFSM. Santa
Maria, Rio Grande do Sul. P.11-13.
Martins, E.R.; Castro, D.M.de; Castellani, D.C.; Dias, J.E. 1995. Plantas Medicinais. UFV,
Impr. Univ. Viçosa, Minas Gerais. 220p.
Melo, M. da G. 2001. Análise morfológica de sementes, germinação e plântulas de cinco
espécies arbóreas utilizadas em sistemas agroflorestais (SAF) na Amazônia.
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Amazonas. Manaus, Amazonas.
111p.
166
Mendonça, M.S. de. 1980. Aspectos anatômicos e distribuição de vasos laticíferos de
algumas espécies de Manihot (Maniçobas). Dissertação de Mestrado. 187p.
Mendonça, M.S. de. 1983. Estudo de plantas laticíferas. 1.Aspectos anatômicos e distribuição
de vasos laticíferos de Manihot caerulenscens Pohl. Acta Amazônica, 13 (3-4): 501-517.
Menezes-Neto, M.A.; Mendes, A.M.C. de M.; Mendes, A.C. de B. 1998. Práticas de
anatomia vegetal. UFPa. Belém, Pará. 83p.
Metcalfe, C.R. & Chalk, L. 1950. Anatomy of the dicotyledons. Clarendon Press. Oxford. v1.
Metcalfe, C.R.; Chalk, L. 1957. Anatomy of the dicotyledons. Clarendon Press. Oxford. v2,
1500p.
Ming, L.C. 1996. Coleta de plantas medicinais. In: Di Stasi, L.C. Plantas medicinais: arte e
ciência. Um guia de estudo interdiciplinar. UNESP. São Paulo, SP. 230p.
Montanari Júnior, I; Pereira, B.; Magalhães, P.M. de; Figueira, G.M. 1997. Cultivo e plantas
medicinais. In: III Jornada Paulista de Plantas Medicinais, I Racine de Fitoterapia e
Fitocosmédica. CPQBA/UNICAMP. Campinas, São Paulo. 34p.
Moyna, P.; Heinzen, H. 2003. Lipídios: química y productos naturales que los contienen. In:
Simões, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosmann, G.; Mello, J.C.P. de; Mentz, L.A.; Petrivick,
167
P.R. Farmacognosia, da planta ao medicamento. ed.5. Porto Alegre, Florianópolis:
UFRGS/UFSC.
Neal MC. 1965. In gardens of Hawaii. Honolulu: Bishop Museum Press. 924 p.
Nultsch, W. 2000. Botânica geral. 10º ed. Artmed. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 489p.
Ohana, D.T. 1998. Anatomia de sementes e plântulas de Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.
(Fabaceae), como contribuição ao estudo farmacognóstico de plantas da região
amazônica. Dissertação de Mestrado, INPA. Manaus, Amazonas. 61p.
Oliveira, D.M.T. de. 1997. Análise morfológica comparativa de frutos, sementes, plântulas e
plantas jovens de 30 espécies arbóreas de Fabaceae ocorrentes no Estado de São
Paulo. Tese de doutorado. Rio Claro, São Paulo. 212p.
Oliveira, E. de C.; Pereira, T. S. 1984. Morfologia dos frutos alados em leguminosaeCaesalpinioideae–Martiodendron Gleason, Peltophorum (Vogel) Walpers, Sclerolobium
Vogel, Tachigalia Aublet e Schizolobium Vogel. Rio de Janeiro. Rodriguésia,
36(60):35-42.
Oliveira, E. C. 1988. Morfologia de plântulas. In: Rodrigues, F. C. M. Manual de análise de
sementes florestais. Campinas, Fundação Cargill, p.15-24, 1988.
168
Oliveira, E. C. 1993. Morfologia de plântulas florestais. In: Aguiar, I. B.; Piña-Rodrigues, F.
C. M.; Figliolia, M. B. Sementes florestais tropicais. Brasília: ABRATES, p. 175-214.
Oliveira, F. de & Saito, M.L. 1991. Práticas de morfologia vegetal. Atheneu, Rio de Janeiro,
RJ. 115p.
Panizza, S. 1997. Plantas que curam: cheiro de mato. IBRASA, São Paulo, SP. 3ª ed. 279p.
Pepato, M.T.; Baviera, A.M.; Vendramini, R.C.; Brunetti, I.L. 2004. Evaluation of toxicity
after one-months treatment with Bauhinia forficata decoction in streptozotocin-induced
diabetic rats. BMC Complement Altern Med. Jun., 08; 04(1): 7.
Pereira, T.S. 1992. Germinação de sementes de Bauhinia forficata Link. (LeguminosaeCaesalpinoideae). Rev. Bras. de Sem., 14 (1):77-82.
Perozin, M.M. 1989. Projeto de fitoterapia do SUDS. Plantas medicinais nos serviços de
saúde. Secretaria Estadual de Saúde. Curitiba, Paraná. 33p.
Petrovick, P.R.; Ortega, G.G.; Bassani, V.L. 1997. From a medicinal plant to a
pharmaceutical dosage form. A (still) long way for the Brazilian medicinal plant Ciência
e Cultura, 49(5/6): 364-369p.
169
Pinheiro, A.L. 1986. Estudos de características dendrológicas, anatômicas e taxonômicas de
Meliaceae na microrregião de Viçosa, MG. Tese de doutorado. Viçosa, Minas Gerais.
192p.
Pio Corrêa, M. 1926. Dicionário de plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas.
Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, RJ. v1, 400p.
Plotkin, M.J. 1991. Tradicional knowledge of medicinal plants: the search for new jungle
medicines. Pp. 53-64. In: Akerele, O.; Heywood, V.; Synge, H.. Conservation of
medicinal plants. Cambridge University Press, Cambridge.
Polhill, R.M.; Raven, P.H. 1978. Advances in legume systematics. Part 1. Royal Botanic
Gardens, Kew. 425p.
Polhill, R.M.; Raven, P.H.; Stirton, C.H. 1981. Evolution and Systematics of the
Leguminosae. In: Polhill, R.M.; Raven, P.H. Advances in Legume Systematics. v1. Kew,
Richmond, Surey England, p.1-26.
Popinigis, F. 1977. Fisiologia da Semente. Brasília, DF. AGIPLAN. 289p.
Poveda, L.J., Sánchez P.E,. 1999. Árboles y palmas del Pacífico Norte de Costa Rica: claves
dendrológicas. Herbario Juvenal Valerio Rodríguez, Universidad Nacional.
170
Rauter, J. 1872. Zur Entwicklungsgeschichte einiger trichomgebilde. Denkschr. Akad. Wien
31.2.
Raven, P.H.; Evert, R.F.; Eichhorn, S.E. 2001. Biologia vegetal. 6ª ed. Guanabara Koogan.
Rio de janeiro, RJ. 906p.
Reis, M.S. dos; Mariot, A.; Steenbock,W. 2003. Diversidade e domesticação de plantas
medicinais. In: Simões, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosmann, G.; Mello, J.C.P. de; Mentz,
L.A.; Petrivick, P.R. Farmacognosia, da planta ao medicamento. ed.5. Porto
Alegre/Florianópolis: UFRGS/UFSC.
Ribeiro, J.E.L. da S.; Hopkins, M.J.G; Vicentini, A; Sothers, C.A.; Costa, M.A.da S.; Brito,
J.M.de; Souza, M.A.D.de; Martins, L.H.P.; Lohmann, L.G.; Assunção, P.A.C.L.;
Pereira, E.da C.; Silva, C.F. da; Mesquita, M.R.; Procópio, L.C. 1999. Flora da Reserva
Ducke: Guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na
Amazônia Central. INPA/DFID. Manaus, Amazonas. 800p.
Robbers, J.E.; Speedie, M.K.; Tyler, V.E. 1997. Farmacognosia e Farmacobiotecnologia.
Editora Premier. São Paulo, SP. 372p.
Roderjan, C. V. 1983. Morfologia do estádio juvenil de 24 espécies arbóreas de uma floresta
de araucária. Dissertação de mestrado, UFPR. Curitiba, Paraná. 148 p.
Sass, J.E. 1951. Botanical microtechnique. Iowa. The State College Press. 228p.
171
Shultes, R.E. 1968. The plant kingdom and modern medicine. The Herbarist, New York. p.1826.
Silva, A.L.C. da; Horta, A.C.G.; Moreira, R.de A. 2001. Isolation and partial characterization
of a lectin from Bauhinia pentandra (Bong) Vog. Ex. Steua. Lavras, MG. Rev. Bras.
Fisiol. Veg., 13(3)
Silva, M.F.; Carreira, L.M.M.; Tavares, A.S.; Ribeiro, I.C.; Jardim, M.A.G.; Lobo, M.G.A.;
Oliveira, J.O. 1989. As Leguminosas da Amazônia Brasileira, Lista Prévia. Acta
Botânica Brasílica, 2(1):193-237.
Solereder, H. 1908. Systematic anatomy of the dicotyledons. English edition, translated by L.
A. Boodle and F. E. Fritsch. Clarendon Press, Oxford. 2 vols. 1183p.
Sonaglio, D.; Ortega, G.G.; Petrovick, P.R.; Bassani, V.L. 2003. Desenvolvimento
tecnológico e produção de fitoterápicos. In: Simões, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosmann,
G.; Mello, J.C.P. de; Mentz, L.A.; Petrivick, P.R. Farmacognosia, da planta ao
medicamento. Ed.5. Porto Alegre/Florianópolis: UFRGS/UFSC.
Studart, A.F.V. 1989. Bauhinia forficata Link. In: Pereira, T.S. 1992. Germinação de
sementes de Bauhinia forficata Link. (Leguminosae Caesalpinoideae). Rev. Bras. de
Sem., 14(1):77-82
172
Taktajan, A.J. 1980. Outline of the classification of flowering plants (Magnoliophita). The
Botanical Review, 46(3): 225-359.
Torres, E.B. 1986. Identificacion de plantulas de algunas especies arboreas delbosque de
Niebla. II Parte. Perez-Arbelaezia, 1:165-209.
Varela, V.P.; Gurgel, E.S.C. 2001. Tratamentos pré-germinativos em sementes de
calopogônio (Calopogonium mucunoides Desv) – Leguminosae, Papilionoideae. Belém,
PA. Rev. Ciênc. Agrár., (jan./jun), 35:89-96
Vieira, L.S. 1992. Fitoterapia da Amazônia - Manual das plantas medicinais. Agronômica
Ceres Ltda, São Paulo, SP. 2ª ed. 347p.
Werren G. 2001. Rainforest weeds and their ways: the need for vigilance. Using Rainforest
Research. Cooperative research center for tropical rainforest ecology and management.
James Cook University. Queensland, Australia.
Weiss, A. 1867. Die Pflanzenhaare. Karten Bot. Unters, 1:369-677.
Zaka, S.; Saleem, M.; Shakir, N.; Khan, S.A. 1983. Fatty acid composition of Bauhinia
variegata and Bauhinia malabarica seed oils: comparison of their physico-chemical
properties. [Tropical Oil Seeds Abstracts 1976] Fette Seifen Anstrichmitte, l85(4): 169170.
173