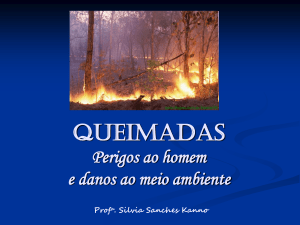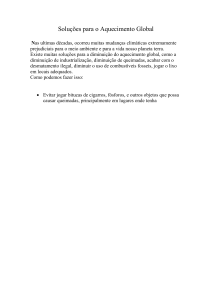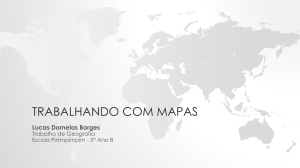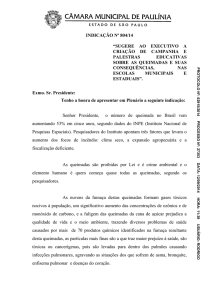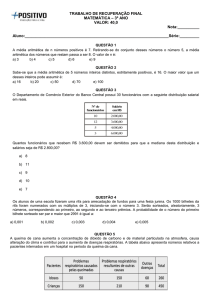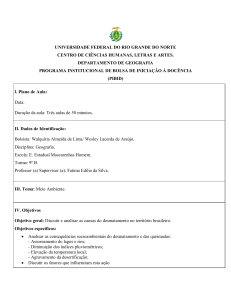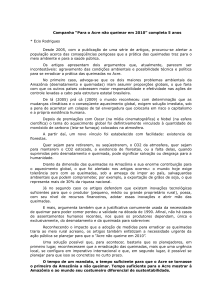A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
FREQUÊNCIA DAS QUEIMADAS FRENTE AOS EVENTOS ENOS E
AMO NA GRAN SABANA- PARQUE NACIONAL CANAIMAVENEZUELA.
RUTH ESTEFANÍA SALAZAR-GASCÓN 1
Resumo: Este trabalho procura analisar e quantificar as queimadas na Gran Sabana em relação à
sua frequência e distribuição desde o ano 2003 até o ano 2014, visando compreender as relações
entre os padrões de queimadas detectados com sensores remotos e a ocorrência dos eventos ENOS
(El Niño, La Niña e Oscilação do Sur) e AMO (Oscilação Multidecadal do Atlântico). Os resultados
mostram que o maior/menor número de focos de queimadas nos anos 2005 e 2007/ 2009 e 2010,
estão associados à ocorrência de eventos ENOS/AMO, respectivamente. À distribuição dos focos de
queimadas apresentam uma relação com as áreas mais populosas e mais proximas das estradas.
Períodos de secas estendidos pelas anomalias climáticas do pacífico favorecem ao incremento no
número de incêndios. No entanto, o incremento nas precipitações produto das anomalias no Atlântico
diminui a quantidade de focos de calor detectado pelos sensores remotos.
Palavras-chave: Queimadas; ENOS; AMO
Abstract: This work seeks to analyze and quantify the fires in the Gran Sabana in relation to their
frequency and distribution since 2003 until 2014, seeking to understand the relationships between fire
patterns detected with remote sensors and the occurrence of ENSO events (El Niño, La Niña and
South Oscillation) and AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation). Results show that the highest / lowest
number of fire outbreaks in 2005 and 2007/2009 and 2010 are associated with the occurrence of
ENSO events / AMO, respectively.The distribution of fire outbreaks are linked to the most populous
and areas of greatest proximity roads. Dry periods extended by climate Pacific anomalies favor the
increase in the number of fires. In on both, the increase in rainfall by anomalies in the Atlantic
decreases the amount of heat spots detected by remote sensors.
Key-words: FIRE; ENSO; NAO
1
- Licenciatura em Biología, Universidad Simón Bolívar (USB)-Venezuela. Mestranda em Geografia da
Universidade Federal Juiz de Fora (UFJF)-Brasil.
E-mail de contato: [email protected]
7412
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
1 – Introdução
O Parque Nacional Canaima (PNC) é uma área protegida de importância
estratégica e econômica para a Venezuela, já que nele se encontram as nascentes
dos principais rios que abastecem a bacia do Rio Caroní, a qual representa 10% do
território Venezuelano, onde se estabelece a Central Hidroelétrica Simón Bolívar
considerada a mais importante no País por fornecer 72% da energia nacional. Além
disso, o PNC é conhecido pela grande riqueza e biodiversidade de espécies sendo
decretado em 1994 pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO) como Patrimônio Mundial da Humanidade.
Dentro do PNC, especificamente na região conhecida como Gran Sabana
(GS), se apresentam mosaicos de vegetação compostas por florestas ombrófilas,
savanas e arbustos submesotérmicos com um alto endemismo de espécies de
acordo com a classificação de Huber (1988). Como possui um clima predominante
tropical chuvoso com precipitações que variam entre os 1.800 e 2.500 mm/a, poderia
se esperar a presença de uma cobertura florestal contínua. No entanto, a alta
incidência de fogos na região derivada de atividade turística, mineração e
principalmente atividades associadas às práticas culturais e de sobrevivência das
comunidades Indígenas da etnia Pemón, têm modelado estes mosaicos. Em alguns
casos, inclusive, todo esse processo induz à degradação da vegetação florestal,
acarretando perda de solo fértil e, consequentemente, no incremento das savanas
de origem antrópica, incremento nos processos erosivos, deposição de sedimentos
no leito dos rios, diminuição no aporte de água pela dissecação e perda de serviços
ambientais.
Por outra parte, as anomalias climáticas nas últimas décadas são catalogadas
como as principais responsáveis pela ocorrência de grandes catástrofes naturais
que têm impactado na humanidade (FEARNSIDE, 2006). No caso da região sudeste
da Venezuela, as secas reportadas para os anos 2005 e 2010 tiveram alto impacto
na produção de energia a nível nacional pela diminuição no volume de água dos
Rios que abastecem a central hidroelétrica Simón Bolívar.
Particularmente os fenômenos do El Niño associados ao índice da Oscilação
7413
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
do Sul em sua fase positiva que acontece no Pacífico produto das alterações nas
temperaturas da superfície do mar (TSM) têm sido apontado como o principal
responsável pelas secas que tiverem lugar na região Amazônica, a qual limita pelo
Norte com a Guiana Venezuelana. No entanto, estudos recentes apontam que
Oscilação Multidecadal do Atlântico (AMO), especificamente do Atlântico Norte é
também responsável pelos períodos de secas intensas reportadas recentemente
nessa região (BORMA E NOBRE, 2013).
Confrontando esse panorama a detecção de focos de queimadas mediante
produtos de sensoriamento remoto têm sido usados na atualidade como ferramentas
para compreender os padrões de resposta dos ecossistemas ante os eventos de
fogo. Sendo que as queimadas produzem alterações de diversos tipos nos
ecossistemas entre as que destacam: o aumento no albedo sobre a superfície,
alteração no estoque de carbono, diminuição na disponibilidade de recursos hídricos
pelo impacto provocado nos solos, incremento na ocorrência de processos erosivos
e deposição de sedimentos nos leito de rios (DE CARVALHO NETO et all, 2011).
Compreender o comportamento das queimadas frente as anomalias
climáticas, cada vez mais frequentes, são relevantes aos gestores de importantes
áreas protegidas. Nesse sentido, este trabalho procura analisar e quantificar as
queimadas na GS em relação à sua frequência e distribuição desde o ano 2003 até
o ano 2014, visando compreender as relações entre os padrões de queimadas
detectados com sensores remotos e a ocorrência dos eventos ENOS (El Niño, La
Niña e Oscilação do Sul) e AMO (Oscilação Multidecadal do Atlântico) considerando
as anomalias apresentadas no Atlântico Norte.
1.1 – Área de estudo
A região de estudo compreende um recorte da Gran Sabana localizada dentro
de dois limites do PNC, englobando parte dos municípios Gran Sabana, Sifontes e
Piar do Estado Bolívar, Venezuela. Uma área que abrange 7.656 km 2 localizada
entre as coordenadas geográficas (como 4 5º58'e 56 'de latitude norte e 61º 62' e
61º 9 ' Longitude Oeste) Figura 1.
7414
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Figura 1: Área de estudo
Segundo a classificação Köppen, se apresentam dois tipos de zonas
climáticas: Tropicais Monções (Am) e predominantemente tropical equatorial (Af),
com precipitações médias mensais superiores aos 60 mm como se observa na
figura 2 e temperaturas de 17 ° a 24 °C as quais variam pela influência das
variações na altitude, pela presença dos “Tepuys”, denominação de origem indígena
Pemón aos platôs elevados característicos desta região do Escudo das Guianas
(HUBER et al 2001; FLANTUA, 2008; DELGADO ET AL., 2009).
7415
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Figura 2: Pluviosidade media mensal na área de estudo
Em termos de litologia, é dividido em duas áreas pertencentes a província
geológica Roraima depositado em Grupos Cuchiveros e Pastora. A primeira é uma
camada estratificada de rochas descontínuas sedimentares depositadas sobre o
embasamento
ígnea-metamórfico
do
Escudo
das
Guianas,
a
segunda
é
caracterizada pela presença irregular de afloramentos de rochas intrusivas que
penetravam as camadas de rochas sedimentares durante os períodos do Paleozóico
e Mesozóico. Estas rochas magmáticas intrusivas são predominantemente
diferentes tipos de diabásio e granito em menor grau, o solo formado a partir dessas
rochas intrusivas é considerado mais fértil e muitas vezes cobertos com florestas
densas (HUBBER, 2001; ELCORO E VERA, 1986).
7416
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
2 – Materiais e métodos
Os dados de pluviosidade fornecidos pela Corporação Elétrica Nacional
(CORPOELEC) do Estado Bolívar-Venezuela (Tabela I) foram interpolados pelo
método de Krigagem Linear, utilizando a ferramenta de Kriging disponível no
software ARCGIS 10.1.
Na detecção de focos de queimadas foram usados os produtos globais de
sensoriamento
remoto
do
satélite
NOAA
(National Oceanic Administration
Atmosferic) series 12, 14, 15, 16, 17 e 18 com uma resolução de 1 Km x 1 Km para
detecção de focos de calor na superfície terrestre com extensão igual ou maior a
30m2, contabilizados desde janeiro de 2003 até de dezembro de 2014 e fornecidos
pelo Monitoramento de Queimadas e Incêndios do INPE.
Tabela 1: Estações climáticas consideradas neste estudo
Localização
(UTM/WSG84)
X
Y
Nome estaçao
HUSO
Altitude
(m.s.n.m.)
Data de registro
Començo
Final
638264 617384
20N
Kavanayen
1235
01/01/1959 18/04/2015
704925 554949
20N
Yuruani
874
28/05/1974 18/05/2015
640184 550864
20N
Wonken
817
01/01/1959 18/04/2015
659408 628460
20N
Parupa
1207
21/03/1974 18/04/2015
573470 524819
20N
Arapichi
434
21/07/1977 18/04/2015
721124 567286
20N
Compuiba
902
01/01/1992 18/04/2015
637796 543151
20N
Caruaiken
807
31/07/2001 18/04/2015
675259 659772
20N
Sierra de lema
1334
04/08/1988 18/04/2015
Foi calculado o índice genérico normalizado de ocorrência (INQ) proposto por
De Carvalho Neto (2011) o qual se define como a razão entre a frequência de focos
de incêndio mensal (Ffi) pela frequência máxima (Ffmax) observada para o período
de estudo para um pixel j como a formula (1):
INQ= Ffi
(1)
Ffmax
7417
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
As anomalias climáticas de ENOS e AMO foram obtidos pelo Clima Prediction
Center do National Weather Service. A análise dos resultados leva em consideração
o enfoque sistêmico proposto por Bertrand (2004).
3 – Resultados e discussão
Figura 3: Esq. Sup. (A): Nº Focos de Queimadas registrados 2003-2014. Esq. Inf. (B): Distribuição
espacial dos focos de queimadas 2003 até 2014. Der. Sup. (C): NºFocos de queimadas detectados
em épocas de secas. Der. Med. (D):NºFocos detectados em épocas de chuvas. Der.Inf. (E): Indice
Normalizado de Queimadas (INQ).
A distribuição dos focos de calor como destaca na Figura 3 esteve
concentrada na porção leste da área de estudo (3-B). Além de reportar uma queda
na quantidade de focos de queimadas durante o período de interesse (3-A), que
estão associados ao incremento no número de focos de calor reportados tanto nas
temporadas de secas (3-C) quanto nas de chuvas (3-D) no período que abrange
desde 2003 até inícios de 2008, sendo que o INQ (3-E) nos anos 2005 e 2007
7418
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
apontaram um maior número de queimadas em proporção a média da série temporal
considerada.
Figura 4: Pluviosidade mensal desde o ano 2003 até o ano 2014 na área de estudo
Em quanto isso, a distribuição da precipitação na área de estudo durante o
período de interesse se mostra na Figura 4, destacando o período dos anos 20032005 com menor quantidade de precipitação durante mais meses, seguido por
séries com maior quantidade de pluviosidade durante mais meses destacando
agosto do ano 2010 que apresentou o maior volume de precipitação.
Nessa ordem de ideias na figura 5 se apresentam as anomalias climáticas
para o Oceano Pacífico (5-A) diante o índice de oscilação do Sul, e no caso do
Oceano Atlântico diante à Oscilação do Atlântico Norte (5-B), as quais afeitam a
dinâmica das precipitações em nossa área de estudo.
7419
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Segundo Obregón (2013), pela influência do fenômeno ENOS em sua fase
positiva (El Niño), na região Norte de América do Sul estabelece-se uma zona de
subsidência (movimentos descendentes) que impede o processo de formação de
nuvens, o qual origina períodos de secas.
Figura 5: Acima (A): Comportamento trimestral das TSM no Pacífico equatorial do ISO (índice de
oscilação do Sul) no Pacífico. Sua fase positiva conhecida como EL NIÑO e em sua fase negativa
como LA NIÑA. In baixo (B): Comportamento mensal das TSM no Atlântico Norte. sendo sua fase
positiva esfriamento e sua fase negativa aquecimento. Dados fornecidos pelo Clima Prediction Center
do National Weather Service
Logo, estabelece-se uma zona de convecção (movimentos ascendentes) na
região subtropical do hemisfério norte produto do enfraquecimento dos ventos alísios
do nordeste e a diminuição da atuação do Anticiclone do Atlântico Norte no final do
verão (DJF), enquanto o processo de evaporação se reduz e o aquecimento
7420
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
anômalo das TSM (temperaturas da superfície do mar) no Atlântico Norte estendese a região das Antilhas. Pelo anterior pode-se compreender então como o AMO
influencia nas ubiquações anômalas da célula de Hadley.
Quando o AMO acontece em sua fase positiva nas épocas do verão no
hemisfério norte causa uma ubiquação anômala da ZCIT (Zona de Convergência
Intertropical), promovendo-se um deslocamento mais ao Norte o qual leva a uma
ausência de chuvas na área de estudo.
No entanto, como se observa na Figura 5-B, um esfriamento do Atlântico
Norte promove ao incremento nas precipitações em nossa área de estudo,
especificamente para o ano 2010 onde a precipitação registrada atingiu os máximos
volumes (Fig. 4). Este fato se potencializa pela influência da fase negativa ENSO em
sua fase de La Niña a partir do mês de abril desse ano, que em consequência reflete
numa diminuição considerável na quantidade de focos de queimadas nesse ano
(Fig. 3-A).
No caso do ENOS, é evidente a influência da fase positiva durante os anos
2003 até meados do ano 2005 (Fig.5-A) o qual repercute numa diminuição nas
precipitações mesmo nas épocas de chuvas (Fig. 4). E consequentemente aumenta
a probabilidade de incêndios na região, produto do secado do material vegetal que
morre por conta da seca, pelo que se volta mais vulnerável ao fogo frente a um
evento de queimada.
Evidentemente existe uma relação entre as áreas que apresentam menores
valores de precipitação (Fig. 4) e as zonas onde se apresentam maior número de
queimadas (Fig. 3-B), as quais geralmente estão associadas em sua maioria as
zonas de centros povoados e estradas.
4 – Considerações finais
Resultados preliminares desta pesquisa têm mostrado que o maior e menor
número de focos de queimadas nos anos 2005 e 2007 e 2009 e 2010, estão
associados à ocorrência de eventos ENOS e aos eventos AMO, respectivamente.
À distribuição dos focos de queimadas apresentam uma relação com as áreas
mais populosas e mais próximas das estradas.
7421
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Os períodos de secas estendidos pelas anomalias climáticas do pacífico
favorecem ao incremento no número de incêndios. No entanto, o incremento nas
precipitações produto das anomalias no Atlântico diminui a quantidade de focos de
calor detectado pelos sensores remotos.
5 – Bibliografia
BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global. Esboço metodológico. Curitiba:
Editora UFPR, Nº8: 141-152p. 2004.
BILBAO, B.; LEAL, A. Y MENDEZ, C. Indigenous use of fire and forest loss in
Canaima National Park, Venezuela. Assessment and tools for alternative strategies
of fires management in Pemon indigenous land. Human Ecology. 80p., 2010.
BORMA, L. D.S e NOBRE, C. A.(org.). Secas na Amazônia: Causas e
consequências. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.
DE CARVALHO NETO, G.; NOGUEIRA, J.M.P; COELHO, G. L. N; MORENO, L.P. e
DELFINO BARBOSA, J.P.R.A. Aplicação de produtos globais de sensoriamento
remoto para estudo do regime de queimadas em diferentes escalas espaciais na
América do Sul. Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto.
Curitiba. p.3142-3149, 2011.
DELGADO, L.; CASTELLANOS, H. Y RODRIGUEZ, M. Capítulo 2: Vegetación del
Parque Nacional Canaima. In: SEÑARIS, J.C.; LEW, D. E LASSO, C. (Editores)
Biodiversidad del Parque Nacional Canaima. Bases técnicas para la conservación de
la Guayana Venezolana. Caracas: Fundación La Salle de Ciencias Naturales y The
Nature conservancy, 2009, p. 39- 73p.
EDELCA. La cuenca del Río Caroní. Una visión em cifras. CORPOELECElectrificación del Caroní (EDELCA), 2008.
ELCORO, S. Y VERA, N. Estudio de rastrojos en áreas con altas concentraciones de
población en Kavanayén, la Gran Sabana Estado Bolívar. B.Sc. Tesis (Ciencias
forestales). Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. 68 pp. 1986.
FEARNSIDE, P. Desmatamento na Amazônia: dinámica, impactos e controle. Acta
Amazonica. v36, p. 395-400, 2006.
7422
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
FLANTUA, S. G. A. Land use and Land-cover changes in the Sector II. Kamarata
The National Park Canaima, Venezuela. Master Project Biological Sciences.
University of Amsterdam, Netherlands. Universidad Simón Bolívar, Venezuela.
Univesity of Leicester, United Lingdom, 2008.
HUBER, O.; FEBRES, G. E ARNAL, H. Ecological guide to Gran Sabana. The
Nature Conservancy. Caracas, 2001, 189 p.
HUBER, O. Vegetación y flora de Pantepui, Region Guayana. Acta Bot. Bras. 1 v.2,
1998, p. 41-52.
LIMA, A.; ARAGÃO, L.E.O.; BARLOW, J.; SHIMABUKURO, Y. Y.; ANDERSON, L.
O. E DUARTE, V. Treze: Severidade dos incêndios florestais em anos de seca
extrema. In: BORMA, L. D.S e NOBRE, C. A.(org.). Secas na Amazônia: Causas e
consequências. São Paulo: Oficina de Textos, 2013, p.180-205.
MENESES-TOVAR, C. El índice normalizado diferencial de la vegetación como
indicador de la degradación del bosque. Unasylva 238. V. 62, 2011.
NOBRE, C. A.; OBREGÓN, G.O. E MARENGO, J. A. Características do Clima
Amazônico: Aspectos principais. In: KELLER, M.; BUSTAMANTE, m.; GASH, J. E
DIAS, P.S. (editores). Amazonia and Global Change. Geophysical Monograph
Series. V. 186, p. 149-162, 2013.
OBREGON, G.O. Anexo: O clima da Amazônia: principais características. In:
BORMA, L. D.S e NOBRE, C. A.(org.). Secas na Amazônia: Causas e
consequências. São Paulo: Oficina de Textos, 2013, p. 338-357.
XAVIER-DA-SILVA, J.; CARVALHO, L.M. Sistemas de Informação Geográfica: uma
proposta metodológica. IV Confêrencia Latinoamericana sobre Sistemas de
Informação Geográfica. 2º Simpósio Brasilero de Geoporcessamento. Sao
Paulo, 1993.
7423