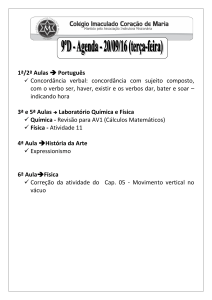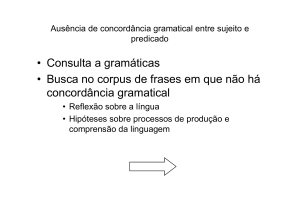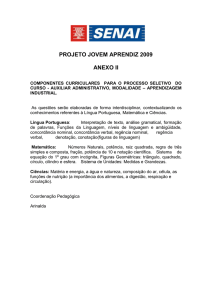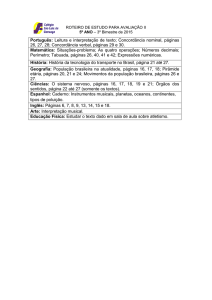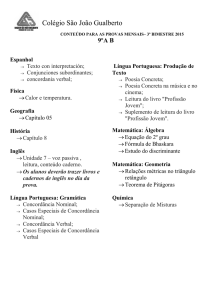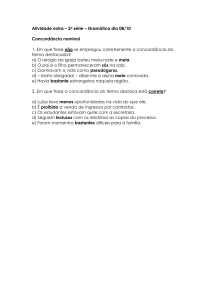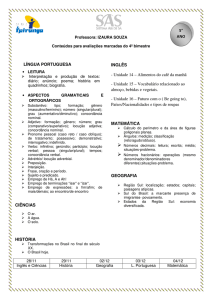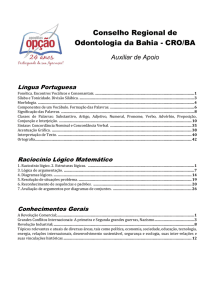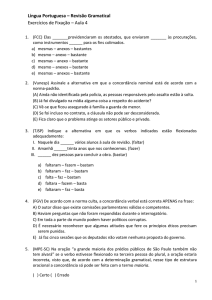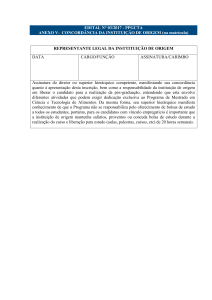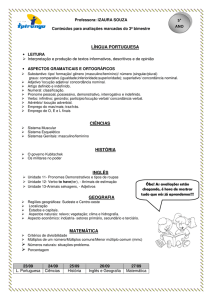VARIAÇÃO NO PROCESSO CONCORDÂNCIA NOMINAL: ESTUDO
COMPARATIVO DAS DÉCADAS DE 70 E 90
João Carlos Tavares da Silva
RESUMO: Esta pesquisa se acerca do comportamento da concordância entre os
elementos flexionáveis do sintagma nominal em falantes cultos cariocas das décadas de
70 e 90. Devido ao fato de a não-concordância ainda ser uma variante linguística muito
estigmatizada, buscam-se, na pesquisa, resultados que possam apresentar, científica e
empiricamente, os fatores condicionadores que levam à perda de marca de concordância
nos elementos flexionáveis do SN. Entre os objetivos da pesquisa, destacam-se
verificar: (a) uma tendência em direção à não-marcação da concordância em todos os
elementos do SN no PB; (b) a variação no fenômeno da concordância entre os
elementos flexionáveis do sintagma nominal observáveis nesses vinte anos, indicando
um possível processo de mudança de parâmetro da concordância no PB; e (c) se os
resultados apresentados por Scherre (1988) se confirmam nessa pesquisa. Com os
resultados, é possível propor que a marcação de plural no SN esteja deixando de ser
feita pela estratégia de concordância entre os elementos do SN para ocorrer apenas na
primeira posição do SN, independentemente da classe gramatical ou função dos
elementos dentro do SN. Isso indica uma marcação que leva em consideração a posição
do elemento no sintagma e não a função, como ocorre, por exemplo, no inglês, que
marca apenas o núcleo do sintagma
PALAVRAS-CHAVE: concordância; sintagma nominal; Sociolingüistica
Variacionista
ABSTRACT: This research discourses on the agreement among noun phrase inflective
elements spoken by cultured carioca speakers from 70s until 90s. Due to the fact that
non-agreement is still a strongly stigmatized linguistic variant, this research aims to
seek results that are able to present scientifically and empirically the provocative factors
to the loss of agreement traces in the NP inflective elements. Among the objectives,
Mestrando em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
there can be stood out: (a) a tendency towards the non-agreement in all the NP
elements; (b) the variability in the phenomenon of the agreement among the noun
phrase inflective elements observed through the last twenty years, pointing a possible
changing process in the parameter for agreement in Brazilian Portuguese; and (c)
whether the results presented by Scherre (1988) are confirmed. The results suggest that
the NP plural trace may occurs exclusively in the NP first position independently of the
elements grammatical class and function in the NP, at the expense of the strategy of
agreement among the NP elements. This indicates an agreement that prioritizes the
element position in the phrase, instead of its function, as it occurs, for instance, in the
English language, that presents an agreement only in the center of the phrase.
KEYWORDS: concordance; noun phrases; sociolinguistic
1) Introdução
Esta pesquisa se acerca do comportamento da concordância entre os elementos
flexionáveis do sintagma nominal em falantes cultos cariocas das décadas de 70 e 90.
Buscam-se, na pesquisa, resultados que possam apresentar, científica e empiricamente,
os fatores condicionadores que levam à perda ou à manutenção da marca de
concordância nos elementos flexionáveis do SN.
Entre os objetivos da pesquisa, destacam-se verificar: (a) a possível tendência em
direção à não-marcação da concordância em todos os elementos do SN no PB; (b) a
variação no fenômeno da concordância entre os elementos flexionáveis do sintagma
nominal observáveis nesses vinte anos, indicando um possível processo de mudança de
parâmetro da concordância no PB; e (c) os resultados apresentados por Scherre (1988)
comparados à presente pesquisa.
Este trabalho se apoia, basicamente, nos resultados observados na tese de
doutorado da Professora Doutora Maria Marta Pereira Scherre, entitulada Reanálise da
concordância nominal em português, defendida na Universidade Federal do Rio de
Janeiro, no ano de 1988.
Devido à não-concordância ainda ser alvo de forte estigma no português
brasileiro, o trabalho de Marta Scherre (1988) é de fundamental relevância para mostrar
a) a complexidade e a sistematicidade do fenômeno; b) a não-aleatoriedade do
fenômeno, e c) os inúmeros fatores condicionadores. A autora faz dois tipos de análise
dos dados: uma análise atomística, que toma como objeto de análise cada um dos
constituintes flexionáveis do sintagma, e outra não-atomística, que toma todo o
sintagma como objeto de análise. Assim, um sintagma do tipo “As três meninas mais
bonitas” teria três objetos de análise numa visão atomística e apenas um objeto de
análise – todo o sintagma – numa visão não-atomística, conforme esquema abaixo. Os
parênteses limitam o elemento a ser analisado.
1a. (As) três (meninas) mais (bonitas) – atomística
1b. (As três meninas mais bonitas) – não-atomística
Embora Scherre tenha demonstrado a extrema relevância da análise nãoatomística, o presente artigo se limita a uma análise atomística dos dados.
Espera-se que a pesquisa contribua para um maior esclarecimento acerca do
fenômeno da concordância, dando destaque aos condicionamentos estruturais que
interferem na presença/ausência de marca de plural, convergindo para uma visão menos
preconceituosa do fenômeno.
2) Metodologia
O corpus analisado foi extraído do banco de dados do projeto VARPORTl i .
Foram selecionadas treze entrevistas do tipo documentador-informante-documentador
(DID), sendo seis da década de 70 e sete da década de 90, o que resultou um total de
401 dados analisados – 184 dados da década de 70 e 217, de 90. Utilizou-se o suporte
teórico-metodológico da Sociolinguística de inspiração laboviana (LABOV, 1972), por
pressupor a heterogeneidade ordenada dos fenômenos em variação, e, ainda, por
proporcionar uma análise empírica sustentada por dados quantitativos que possibilitam a
sistematização das variações e das possíveis mudanças em curso na língua.
No que tange às variáveis hipotetizadas para o trabalho, consideraram-se: 1)
tonicidade da palavra; 2) processo de formação de plural – marca regular (acréscimo de
[s] à forma singular), plural duplo (acréscimo de [s] + metafonia), palavras com singular
em /R/, em /S/, em /l/ e em -ão; 3) número de sílabas 4) classe gramatical; 5) posição do
elemento no sintagma; 6) posição do elemento em relação ao núcleo (elemento nuclear,
não-nuclear anteposto e não-nuclear posposto); 7) função sintática; e 8) década.
2.1) Variáveis independentes
2.1.1) Saliência fônica
Este princípio consiste em estabelecer que as formas mais salientes, e por isso
mais perceptíveis, são mais prováveis de serem marcadas do que as menos salientes. O
pioneirismo da inclusão da saliência fônica para explicar aspectos do funcionamento
sincrônico de uma língua se deve a Lemle & Naro, em estudos sobre o português do
Brasil publicados em 1976 e em 1977 (cf. NARO & LEMLE, 1976: 259-68; LEMLE &
NARO, 1977: 47; NARO & LEMLE, 1977: 259-68).
Embora Lemle & Naro tenham focalizado o princípio da saliência fônica
especialmente na concordância verbal, diversos autores o utilizaram para análises em
concordância nominal como Braga (1977), Scherre (1978), Ponte (1979) e Carvalho
Nina (1980). Scherre (1988) analisa três dimensões do eixo da saliência fônica: grau de
diferenciação material fônica na relação singular/plural – denominada, por Scherre,
processos; tonicidade da sílaba; e número de sílabas. Adotaram-se, aqui, as mesmas três
dimensões da saliência fônica.
2.1.1.1) Processos
Com relação ao eixo processos, espera-se que as formas com maior diferenciação
na relação singular/plural (atenci[o]so - atenci[]sos, animal – animais, amor – amores)
tendam a ser mais marcadas que formas com menor diferenciação entre singular/plural
(carro – carros). Com isso, estabelece-se uma escala de que vai da maior à menor
diferença singular/plural.
Plural duplo > singular em ão > singular em /R/ > singular em /S/ > singular em /l/ >
regular
Cabe salientar que todas as palavras com singular em –ão, independente da saída
final (-ãs, -ãos ou –ões), foram codificadas juntas. As palavras com marcação informal
como (país – paisi, amor – amori) foram codificadas como aplicação da regra de
concordância, levando-se em consideração que o que ocorre, nesses casos, é apenas um
desgaste fonético de parte da marca de plural. Entende-se que, mesmo com a queda do
[s], ainda há nítida oposição estrutural entre a forma singular e a plural.
Fenômeno similar acontece na marcação de plural do artigo em espanhol. Os
artigos masculinos do espanhol se opõem em singular/plural pelas formas el e los, ao
passo que os femininos se opõem pelas formas la e las. O comportamento dos artigos
em espanhol foi descrito por Camacho (in MUSSALIM & BENTES, 2003: 53) que
afirma:
Comparando com o singular “el niño”, a ausência de [s], mesmo no artigo “los”, mantém a
integridade da informação de número no sintagma nominal pluralizado em “lo niño”. Não
sendo possível contar com a oposição [s] x [], em função da erosão das consoantes finais
na fala, o falante lança mão de outra oposição funcional com o mesmo sucesso: “el” x “lo”.
Já no feminino, o fenômeno se iguala ao português como se pode observar a partir da
oposição “la niña” x “las niñas”. Se o falante eliminar o segmento [s] do sintagma no
plural, eliminará concomitantemente a marcação de número. (apud MUSSALIM &
BENTES, 2003: 53)
Fenômenos dessa natureza são comuns nas línguas naturais. Kiparsky (1972)
explica tais ocorrências, postulando a existência de condições de natureza funcional,
denominada por ele Condições de Distintividade. O autor explica que regras fonológicas
ou morfológicas são bloqueadas quando sua aplicação torna formas em oposição
indistinguíveis, mas se aplica livremente onde esta distinção é retida por uma diferença
fônica.
2.1.1.2) Número de sílabas
Com relação ao número de sílabas, espera-se que palavras com maior quantidade
de sílabas, logo maior saliência fônica, favoreçam a aplicação da regra de pluralização.
Scherre faz uma análise tríplice da variável número de sílabas: monossílabos, dissílabos
e mais de duas sílabas. Nessa pesquisa, porém, optou-se por uma análise que levasse em
consideração o número exato de sílabas das palavras. Sendo assim, a subdivisão dos
dados ficou da seguinte forma: uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas e
cinco sílabas. Não houve, no corpus analisado, palavras com mais de cinco sílabas. Fezse essa subdivisão na tentativa de verificar se poderia haver um continuum exato entre
número de sílaba e aplicação da regra de concordância, ou seja, espera-se o continuum
abaixo:
1 sílaba > 2 sílabas > 3 sílabas > 4 sílabas > 5 sílabas
|....................................................................................|
grau mínimo
de concordância
grau máximo
de concordância
2.1.1.3) Tonicidade
Com relação à Tonicidade, espera-se que os oxítonos e os monossílabos tônicos,
por terem acento na sílaba em que se encontra o morfema de plural (pés, animais)
favoreçam mais a aplicação da regra do que os paroxítonos e proparoxítonos, cuja sílaba
final não é acentuada (castelos, rígidos). O trabalho de Scherre (1988), com o qual se
quer sempre tecer comparações, analisa a tonicidade da forma singular, partindo do
princípio de que o favorecimento da regra de concordância se dá pela adjunção do
morfema a uma sílaba átona ou tônica, fazendo a oposição entre sílaba marcada e nãomarcada.
Ao contrário, foi analisada aqui a tonicidade da forma plural, levando-se em
consideração que: a) o desgaste fonético que gera a não-concordância se dá após a
aplicação da regra de pluralização da palavra – o que se comprova em casos como país
> paisi, amor > amori, n[o]vo > n[]vo; b) as oxítonas terminadas em R e S passam a
paroxítonas após a adjunção do morfema de plural – imperador (oxítono) > imperadores
(paroxítono), mês (monossílabo tônico) > meses (paroxítono).
Entende-se que essa ressilabificação causa uma maior saliência fônica, ou seja,
maior afastamento entre as formas singular e plural. Isso justificaria a tendência à
manutenção de parte do morfema de plural – imperador > imperadori, mês > mesi. Em
outras palavras, a relevância não está na tonicidade da sílaba que recebe o morfema de
plural, mas na distância entre as formas singular e plural.
Uma outra diferença entre a presente pesquisa e a de Scherre, em relação à
quantificação dos monossílabos átonos e dos paroxítonos, é que, nesta pesquisa, essas
duas variantes foram quantificadas separadamente, ao passo que Sherre opta por
quantificar os monossílabos átonos e os paroxítonos como uma variante única.
2.1.2) Classe gramatical
A variável classe gramatical foi dividida em seis itens: substantivos, adjetivos,
artigos/ demonstrativos, quantificadores, possessivos e indefinidos. A motivação para a
inclusão dessa variável na pesquisa foi verificar se alguma classe específica favorece a
aplicação da concordância.
2.1.3) Posição do elemento no sintagma
A inclusão dessa variável na pesquisa tem o fim de comparar os resultados obtidos
com os de Scherre e com considerações feitas por outros autores, já que todos eles
afirmam ser a primeira posição do sintagma a mais marcada, em oposição às outras
posições.
A variável posição, no trabalho de Scherre, é analisada de duas formas: linear e
não-linear. No primeiro caso, cada elemento flexionável do sintagma possui um lugar
específico dentro do SN, gerando as variantes posição 0 (zero), posição 1, posição 2,
posição 3, posição 4 e posição 5. No segundo, leva-se em conta a posição do elemento
flexionável do SN em relação ao núcleo.
Foram feitos, aqui, os dois tipos de análise da posição do elemento dentro do
sintagma. A linear assemelha-se à análise feita por Sherre, levando em consideração a
posição de cada elemento dentro do sintagma. Com isso, obtiveram-se sete posições.
Cabe ressaltar que as posições indicam o ponto exato do elemento flexionável do SN e
que, para isso, não podem ser descartados os elementos não flexionáveis, ou seja, os
elementos não flexionáveis importam para determinar a posição dos elementos
flexionáveis, mas não são codificados.
As
meninas
Posição 1
posição 2
mais
bonitas
posição 4
A análise não-linear leva em conta a posição do elemento flexionável do SN em
relação ao núcleo. Sendo assim, essa variável possui três variantes: elemento nuclear,
elemento anteposto ao núcleo e elemento posposto ao núcleo.
2.1.4) Função sintática
A variável função sintática foi criada principalmente pela necessidade de se levar
em consideração a concordância entre sujeito e predicativo, e a possibilidade de o plural
não ser marcado no predicativo por já estar marcado no sujeito. A princípio, fez-se a
seguinte subdivisão: sujeito, objeto direto, predicativo, Sprep e outros.
A variante Sprep fez-se necessária pelo fato de não haver diferença estrutural
entre as formas objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal, adjunto
adverbial e agente da passiva, já que são todas formas preposicionadas, tendo diferenças
apenas funcionais e semânticas.
A variante outros foi criada pelo fato de haver sintagmas nominais que não
encontram nenhum tipo de classificação na tradição gramatical. Esses sintagmas foram
separados no trabalho de Scherre em: SN de função resumitiva e SN de função
abortada. O primeiro funciona como um resumo de idéias anteriores: “a gente brincava
de bola (...) de soltar pipa... (...) além disso... tinha o pião... (...) a bola de gude... enfim
essas brincadeiras...”. Já o segundo, são os casos em que ocorrem interrupções no
discurso ou na sequência lógica do enunciado: “porque lá é assim... as pessoas... eu
estava habituada lá na minha casa...”.
Como os resultados dessas variantes se mostraram irrelevantes, resolveu-se
amalgamar as variantes sujeito, objeto direto, Sprep e outros, criando-se as variantes
SNs de plural independente – sujeito, objeto direto, sintagmas preposicionados – e SNs
de plural dependente – predicativo. Com isso, espera-se que os elementos flexionáveis
dentro de um SN predicativo do sujeito sejam menos marcados que os outros.
2.1.5) Década
Esta variável é a de maior importância para o objetivo principal da pesquisa.
Objetiva-se verificar a variação no fenômeno da concordância entre os elementos
flexionáveis do sintagma nominal observáveis nas décadas de 70 e 90. Com a
comparação entre os dados dessas duas décadas, espera-se que a regra de aplicação da
concordância nominal seja mais presente na fala dos informantes da década de 70, uma
vez que se postula a hipótese de que se está perdendo gradativamente a marca de
concordância /S/ no português brasileiro.
3) Análise dos resultados
3.1) Percentuais
Com base na observação dos percentuais, será feito um breve comentário do que
ocorreu em cada variável elaborada para a análise da concordância nominal.
Os resultados das variáveis relacionadas à saliência fônica – tonicidade e
processos – evidenciaram o comportamento categórico (knockout) de algumas de suas
variantes. No eixo tonicidade, as variantes categoricamente marcadas foram
oxítonos/monossílabos tônicos (27/27) – como locais e graus – e proparoxítonos (4/4) –
rígidos. Estes dados foram excluídos para a análise estatístico-probabilística. O eixo
processos apresentou cinco das seis variantes categoricamente marcadas – plural duplo
(2/2) – atenci[]sos – palavras com singular em /R/ (10/10) – lugares – em /S/ (3/3) –
paises - em /l/ (5/5) – animais – e em -ão (8/8) - impressões. Houve variação na regra
de concordância apenas na variante marca regular – carros – gerando um grupo único
(singleton group), motivo pelo qual se eliminou esse grupo de fatores.
Fazendo-se uma análise qualitativa dos dados categóricos relacionados à saliência
fônica, observa-se que, como se esperava, os oxítonos/monossílabos tônicos favorecem
a aplicação da regra de concordância. Ao contrário, os proparoxítonos quebraram as
expectativas iniciais; porém, pode-se propor que os vocábulos proparoxítonos são, em
termos funcionalistas, categorias marcadas na língua. Martellotta (2005) afirma que “as
formas marcadas tendem a ser menos automatizadas, a ter baixa frequência de uso e a
ser mais complexas em sua forma e seu sentido”. Levando-se em conta o baixo número
de palavras proparoxítonas na língua, o que consequentemente acarretaria uma baixa
frequência de uso, pode-se considerar tais vocábulos marcados e, por isso,
cognitivamente mais salientes. Além disso, deve-se atentar para o baixo número de
dados no corpus (quatro no total). Com relação ao eixo processos, vê-se a nítida
oposição entre o item menos saliente (marca regular) e os demais, corroborando a
relevância da saliência fônica para a aplicação da regra de concordância.
A variável classe gramatical apresentou comportamento categórico de
concordância, quando o elemento sob enfoque era pronomes possessivos (9/9) e
pronomes indefinidos (20/20). É muito provável que a aplicação categórica nesses casos
esteja relacionada à posição desses vocábulos dentro da cadeia sintagmática e não à
classe gramatical em si. Dos 20 casos de pronomes indefinidos, 11 encontram-se na
primeira posição (vários personagens); 4 pertencem a Sprep, em que a preposição foi
codificada como o primeiro elemento do sintagma. Sendo assim, o pronome é o
segundo elemento do sintagma, porém o primeiro elemento flexionável (sem muitas
dificuldades); 4 pertencem a estruturas com dois determinantes (as outras formas de
diversão) e um caso mais específico de pronome indefinido substituindo parte de um
numeral (...beirando uns quarenta e poucos anos). Esse último é o único caso de
pronome indefinido mais afastado da posição inicial do SN. O mesmo acontece com os
pronomes possessivos, em que, dos 9 dados, 5 aparecem na primeira posição (nossas
cabanas); 4 dados aparecem em estruturas com dois determinantes (dos nossos avós),
sendo um deles dentro de um Sprep na primeira posição (durante as minhas viagens).
Das sete posições da análise linear da posição do elemento no SN, as posições 5
(um quatro mil e quinhentos metros quadrados), 6 (todas as ruas e estradas
completamente limpas) e 7 (esses pacotinhos de filé de pescada congelados)
apresentaram knockout. Essas posições apresentaram apenas um dado cada uma, ou
seja, apenas os sintagmas exemplificados acima, motivo pelo qual foram excluídos da
análise.
A fim de possibilitar uma análise mais confiável e em função da quantidade de
dados, no grupo de fatores função sintática, amalgamaram-se artigos/determinantes,
quantificadores, pronomes possessivos e pronomes indefinidos em uma nova variante
denominada determinantes. Feitas essas considerações, passa-se à apresentação dos
resultados da análise multivariacional.
3.2) Variáveis selecionadas
A análise computacional selecionou apenas três variáveis como relevantes para o
fenômeno da concordância: posição do elemento em relação ao núcleo, década e
tonicidade, respectivamente, com nível de significância 0.009. As demais variáveis não
se mostraram relevantes para aplicação do fenômeno da concordância nominal. Segue
abaixo a análise dos resultados.
3.2.1) Posição do elemento no SN
Essa variável foi a primeira a ser selecionada e é a que apresenta maior relevância
para a aplicação do fenômeno da concordância nominal.
TABELA 1
POSIÇÃO DO ELEMENTO FEXIONÁVEL DO SN EM RELAÇÃO AO NÚCLEO
Posição do elemento no sintagma em
Aplicação/total = %
Prob.
relação ao núcleo
Elemento anteposto ao núcleo
157/159 = 98%
0.82
Elemento nuclear
178/207 = 85%
0.26
Elemento posposto ao núcleo
30/35 = 85%
0.26
Vê-se claramente a oposição entre os elementos antepostos ao núcleo,
favorecendo a regra de concordância (0.82) e os elementos nucleares e pospostos ao
núcleo, desfavorecendo a aplicação da regra (0.26).
A princípio, seria possível concluir que o simples fato de o elemento flexionável
estar antes do núcleo é condição suficiente para favorecer a regra da concordância.
Porém, é preciso atentar para as seguintes considerações:
a) todos os casos antepostos são de determinantes, com exceção de um caso de adjetivo
– “mas eu só tive boas impressões da Austrália”;
b) dos 158 dados de determinantes, 135 estão na primeira posição do SN (as pessoas),
22 na segunda (os seus amigos) e 1 na terceira (quase todos os pratos);
c) os casos de determinantes na segunda e terceira posições são de sintagmas com mais
de um determinante: “as outras brincadeiras”, “as mesmas pessoas”, “quase todos os
pratos”;
d) apenas cinco casos de elementos da primeira posição não foram marcados, dentre
eles, três de predicativos do sujeito, o que possibilita a não marcação pelo fato de o
plural já vir marcado no sujeito (essas duas referências são importante); um caso de
marca de plural apenas no segundo elemento (a galinhas), e um caso com dois
determinantes em que o primeiro não foi marcado (todo os dois gostam...).
Pode-se concluir que o primeiro elemento flexionável do sintagma é
categoricamente marcado – salvo aqueles pertencentes a SNs de plural dependentes
(predicativos do sujeito) – em oposição às demais posições do sintagma que sofrem
variação. Com isso, chega-se às mesmas conclusões de Scherre, que afirma:
não é simplesmente a primeira posição do SN que determina o índice de marcas plurais,
mas sim a colocação da classe não nuclear em relação ao núcleo e o núcleo em relação à
posição que ele ocupa no SN. São, então, mais marcados todos os elementos não nucleares
antepostos e menos marcados todos os elementos nucleares e os pospostos ao núcleo.
(SCHERRE, 1988: 476)
As considerações feitas pela autora confirmam a hipótese levantada pela pesquisa
acerca dessa variante. Scherre, porém, analisa o índice de marcas de plural, opondo
apenas os mais marcados (antepostos ao núcleo) dos menos marcados (pospostos ao
núcleo).
A presente pesquisa tenta ir um pouco além e mostra que, embora a
anteposição dos elementos flexionáveis em relação ao núcleo favoreça a marca de
plural, o primeiro elemento flexionável do sintagma é categoricamente marcado em
oposição aos demais elementos, que sofrem variação, comprovando que a primeira
posição é condição ótima para aplicação da marca de plural no SN.
3.2.2) Década
Esta análise em tempo real de curta duração (análise em que se comparam
corpora diferentes coletados em períodos relativamente curtos, como décadas, por
exemplo) possibilitou verificar uma maior tendência à não marcação dos elementos
flexionáveis do SN na década de 90. A tabela abaixo apresenta os resultados dessa
variável social.
TABELA 2
DÉCADA: COMPARAÇÃO DAS DÉCADAS DE 70 E 90
Década
Aplicação/total = %
Prob.
70
177/182 = 98%
0.73
90
188/219 = 85%
0.30
Vê-se que a diferença probabilística entre as duas variantes é grande (0.43),
demonstrando claramente que a concordância se mostrava mais marcada na década de
70.
Os resultados acima confirmam as expectativas iniciais da pesquisa, pois mostram
que falantes da década de 70 aplicavam mais a regra de concordância nominal que os
falantes da década de 90, apresentando um aumento de 13% de não-concordância (2%
de não-concordância para a década de 70 e 15% de não-concordância para a década de
90) nesse intervalo de vinte anos.
3.2.3) Tonicidade
A tabela 3 abaixo apresenta os resultados finais dessa variável
TABELA 3
TONICIDADE DOS MONOSSILABOS ÁTONOS E DOS PAROXÍTONOS
Tonicidade
Aplicação/total = %
Prob.
Monossílabos átonos
89/90 = 98%
0.56
Paroxítonos
245/280 = 87%
0.48
A análise quantitativa dos dados feita acima mostrou que os itens mais salientes –
oxítonos e monossílabos tônicos, assim como os proparoxítonos, são categoricamente
marcados. Os resultados que levaram em conta apenas os monossílabos átonos e os
paroxítonos revelam um comportamento próximo à neutralidade (0.56 e 0.48). Cabe
ressaltar, no entanto, que a tendência à marcação da concordância nos monossílabos
átonos (0.56), se dá pelo fato destes ocuparem principalmente a primeira posição do
sintagma. São 79 casos de monossílabos átonos em primeira posição de um total de 90
dados. Além disso, os outros 11 dados aparecem na estrutura todos(as) os(as)... (todas
as facilidades) – caso em que o sintagma apresenta dois determinantes. Com isso,
confirma-se a tese de que a primeira posição é a posição ótima para a marcação do
plural no sintagma nominal no PB.
4) Conclusão
Dos resultados alcançados neste estudo, observa-se que a marca de concordância
de número se manifesta antes no elemento que está anteposto ao núcleo do SN do que
no elemento nuclear ou pós-nuclear. Assim, parece se comprovar a tendência ao plural
apresentar-se no primeiro elemento do SN, cancelando-se nos demais.
Quanto à variável não-estrutural década, os resultados enunciam uma tendência
do português brasileiro ao cancelamento da marca de concordância, tendo em vista que
a análise em tempo real demonstra que os falantes da década de 70 apresentam maior
aplicação da regra do que os de 90. Gradativamente, parece haver encaminhamento para
a marcação apenas no primeiro elemento flexionável do SN.
Em relação à variável que controlou saliência (tonicidade), os monossílabos
mostram maior tendência à marca de plural, chegando-se à conclusão de que se trata de
determinantes. Portanto, em posição pré-nuclear e, na maior parte dos casos, ocupando a
primeira posição.
Em comparação aos resultados de Scherre, das variáveis em comum às duas
pesquisas, foram selecionadas em ambas a tonicidade e a posição dos elementos em
relação ao núcleo (análise não-linear). A posição do elemento no SN (análise linear) e a
variável processos foram selecionadas apenas na pesquisa de Scherre. As demais
variáveis não se mostraram relevantes para a aplicação da regra de concordância
nominal. Todas essas considerações aproximam esta pesquisa das análises expostas por
Scherre (1988: 163) que afirma que a primeira posição do SN é percentualmente a mais
marcada, independente da classe gramatical.
Entretanto, a natureza preliminar da pesquisa e o recorte temporal feito (décadas
de 70 e 90) impossibilitam inferências mais ousadas acerca da concordância nominal
entre os falantes cultos cariocas atualmente e dos possíveis rumos desse fenômeno.
Diante disso, pretende-se dar continuidade ao trabalho, fazendo análise de corpus atual
para se comparar com os dados de 70 e 90, obtendo, assim, dois intervalos de vinte anos
– de 70 a 90 e de 90 a 2010.
5) Referências bibliográficas
CAMACHO, Roberto Gomes. Sociolinguística: parte II. In: MUSSALIN, Fernanda;
BENTES, Anna Christina (orgs). Introdução à linguística: domínios e fronteiras. São
Paulo: Cortez, 2003.
BRAGA, Maria Luiza. A Concordância de número no sintagma nominal no triângulo
mineiro. Dissertação de Mestrado, PUC: Rio de Janeiro, 1977.
CARVALHO NINA, Terezinha de Jesus. Concordância nominal/verbal do analfabeto
na micro-região de Bragantina. Dissertação de Mestrado, PUC: Rio Grande do Sul,
1980.
LEMLE, Miriam. & NARO, Anthony Julius. Competências básicas do português.
Relatório final de pesquisa apresentado às instituições patrocinadoras Fundação
Movimento Brasileiro (MOBRAL) e Fundação Ford: Rio de Janeiro, 1977.
MARTELLOTTA, Mario. Funcionalismo. In: WILSON; MARTELLOTTA, Mario;
CEZARIO, Maria Maura. Linguística: fundamentos. Rio de Janeiro: ECAA, 2005.
NARO, Anthony J. & LEMLE, Miriam. Syntactic diffusion. In: STEEVER, Sandord B.
Et alii (eds.). Papers from the parasession on diachronic syntax. Chicago: Chicago
Linguistic Society, 1976.
_____. Syntactic diffusion. Ciência e cultura, 29(3):259-68, 1977.
PONTE, Vanessa Maria Lôbo. A concordância nominal de uma comunidade de Porto
Alegre. Dissertação de Mestrado, PUC: Rio Grande do Sul, 1979.
SCHERRE, Maria Marta Pereira. A regra de concordância de número no sintagma
nominal em português. Dissertação de Mestrado, PUC: Rio de Janeiro, 1978.
_________. Reanálise da concordância nominal em Português. Tese (Doutorado em
Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de
Janeiro, 1988.
KIPARSKY, Paul. Explanation in Phonology. In: PETERS, Stanley. (ed.). Goals of
linguistic theory. New Jersey: Prentice Hall, 1972.
WEINREICH, U.; LABOV, W.; HERZOG, I. Fundamentos empíricos para uma Teoria
da Mudança Linguística. Trad. Marcos Bagno. São Paulo: Parábola, 2006.
i
«http://www.letras.ufrj.br/varport»