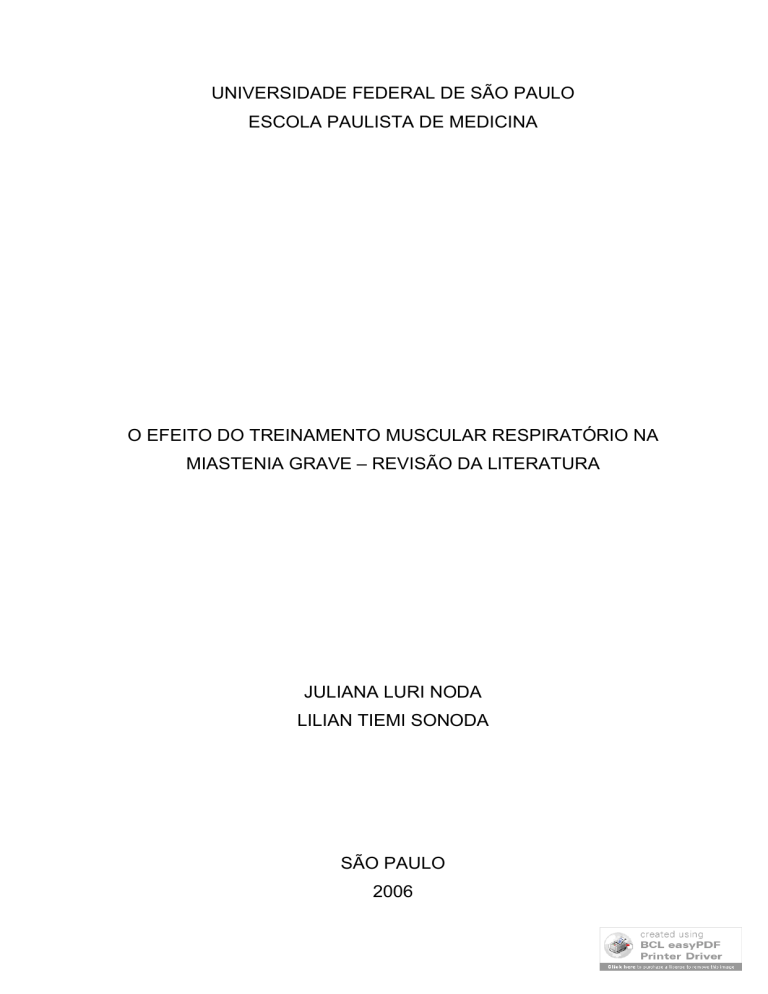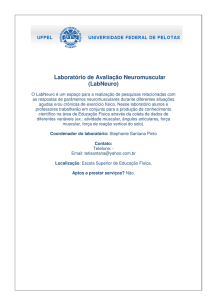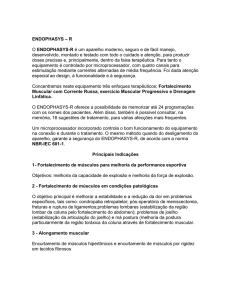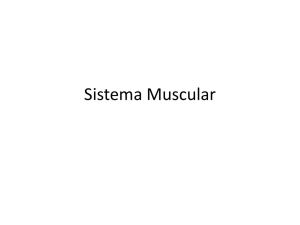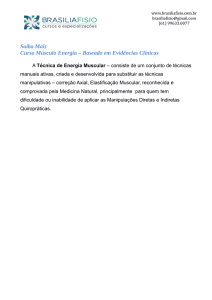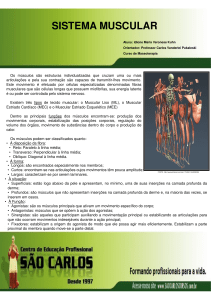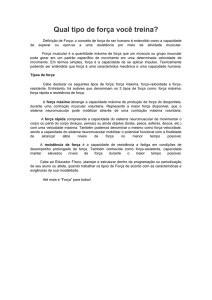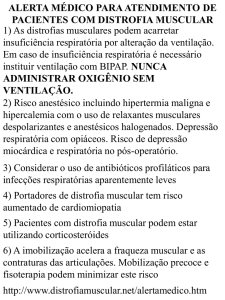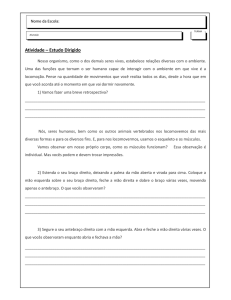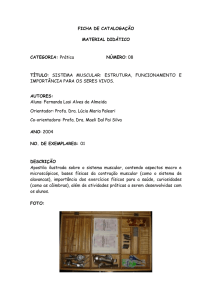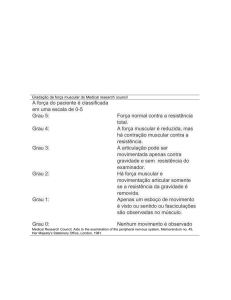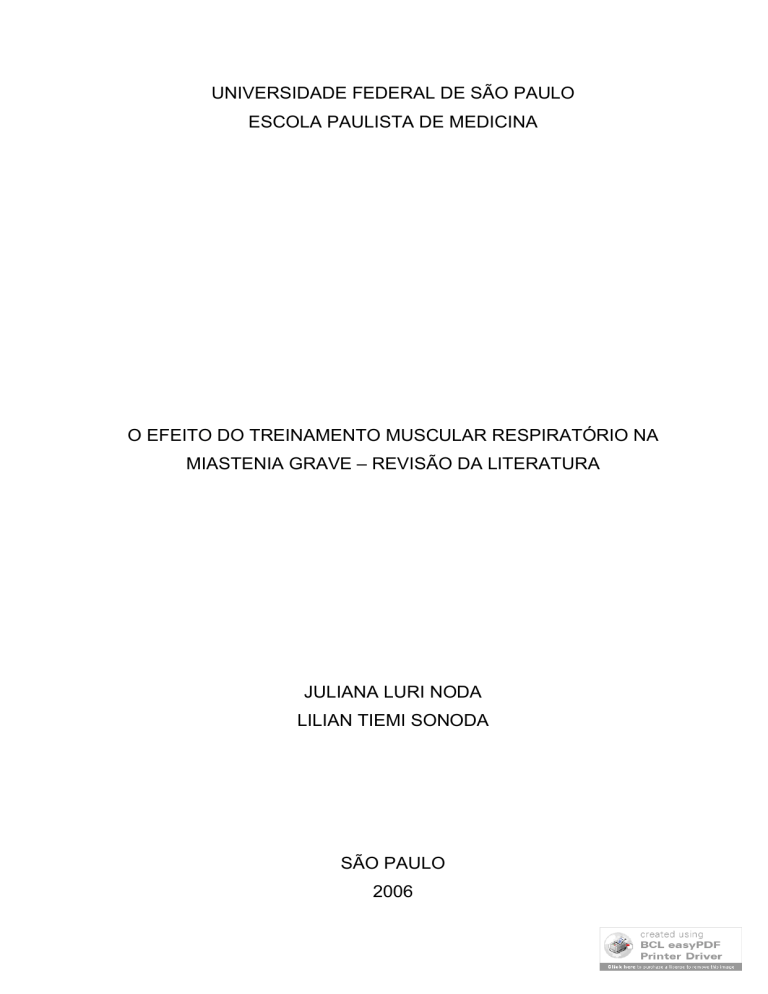
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
O EFEITO DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO NA
MIASTENIA GRAVE – REVISÃO DA LITERATURA
JULIANA LURI NODA
LILIAN TIEMI SONODA
SÃO PAULO
2006
JULIANA LURI NODA
LILIAN TIEMI SONODA
O EFEITO DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO NA
MIASTENIA GRAVE – REVISÃO DA LITERATURA
Monografia apresentada a Universidade
Federal de São Paulo – Escola Paulista de
Medicina, para obtenção do Título de
Especialista
em
Intervenção
Fisioterapêutica
em
Doenças
Neuromusculares
Orientadora: Profª Márcia C. Sangean
SÃO PAULO
2006
Universidade Federal de São Paulo
Escola Paulista de Medicina
Especialização em Intervenções Fisioterapêuticas nas Doenças
Neuromusculares
Chefe do departamento: Débora Amado Scerni
Coordenadores do Curso de Especialização:
Profº Dr. Acary Souza Bulle Oliveira
Ms. Francis Meire Fávero
Dra. Sissy Veloso Fontes
Juliana Luri Noda
Lilian Tiemi Sonoda
O EFEITO DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO NA
MIASTENIA GRAVE – REVISÃO DA LITERATURA
Banca Examinadora
Professor Orientador (Márcia C. Sangean)
Professor Examinador (Abrahão A. J. Quadros)
Professor Examinador
Aprovada em: ___/___/____
DEDICATÓRIA
Aos nossos familiares, pelo amor, incentivo, paciência, apoio e compreensão
dedicados durante a realização deste trabalho.
AGRADECIMENTOS
À Deus, que nos concedeu força, perseverança e coragem para a concretização
deste trabalho e a realização de mais um sonho.
À nossa orientadora Márcia Sangean pelo apoio, colaboração e incentivo
dedicado ao trabalho.
Eu, Juliana, agradeço aos meus queridos familiares, pelo amor incondicional,
dedicação e carinho. À minha dupla Lilian que, além de sua amizade, forneceu
dedicação e paciência essenciais para execução deste trabalho.
Eu, Lilian, agradeço aos meus pais pelo apoio, amor, dedicação e por sempre
acreditarem nos meus sonhos. À Juliana que me ensinou como um trabalho em equipe
pode funcionar quando os participantes sonham e dividem os problemas juntos,
sempre com muita paciência, amizade e compreensão.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ACh – Acetilcolina
AChR – Receptor muscular nicotínico de acetilcolina
CPT – Capacidade pulmonar total
CV – Capacidade vital
CVF – Capacidade vital forçada
DMD – Distrofia Muscular de Duchenne
DNM – Doenças neuromusculares
DPOC – Doença pulmonar obstrutiva crônica
FEF25-75 - Média do fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% da FVC
JNM – Junção neuromuscular
MG – Miastenia grave
MGAA - Miastenia grave autoimune adquirida
PEmáx – Pressão expiratória máxima
PImáx – Pressão inspiratória máxima
TMI – Treinamento muscular inspiratório
TME – Treinamento muscular expiratório
TMR - Treinamento muscular respiratório
VC – Volume corrente
VEF1 – Volume expiratório forçado no primeiro segundo
VVM – Ventilação voluntária máxima
LISTA DE FIGURAS
Figura 1- Esquema da junção neuromuscular normal
Figura 2- Esquema da junção neuromuscular na MG
RESUMO
Introdução: A miastenia grave autoimune adquirida (MGAA) é uma desordem
neuromuscular resultante da ação de anticorpos contra os receptores de acetilcolina,
sendo tipicamente caracterizada por fraqueza e fadigabilidade, de caráter flutuante, da
musculatura esquelética. A gravidade da doença está diretamente relacionada com o
comprometimento respiratório, que está presente em 60 a 80% dos pacientes
miastênicos em nível avançado. O treinamento muscular respiratório (TMR) visando
melhora da força e resistência muscular é uma alternativa na tentativa de minimizar ou
retardar o desenvolvimento de complicações decorrentes do declínio da função dos
músculos respiratórios. Objetivo: O presente trabalho visou verificar a efetividade do
TMR na MG. Métodos: A revisão da literatura utilizou artigos indexados publicados de
1966 a 2006 nas bases de dados MedLine, PubMed, Lilacs, Scielo e Cochrane, assim
como referências de livros, dissertações e teses. Resultados: Na literatura existe uma
grande variedade de protocolos aplicados em pacientes neuromusculares e com
comprometimento respiratório primário, contudo, foi verificada escassez de descrições
sobre a influencia da técnica de TMR na miastenia grave (MG). Os artigos encontrados
evidenciaram melhora principalmente da força e resistência dos músculos respiratórios,
associado à elevação da qualidade de vida. Porém não há consenso sobre a melhor
técnica e protocolo a serem aplicados, assim como a eficácia do TMR em cada estágio
da doença. Conclusão: A revisão demonstrou que o TMR parece ser um tratamento
eficaz na MG visando melhora do padrão respiratório, força e resistência muscular,
índice de dispnéia e qualidade de vida. Entretanto, a escassez de estudos exige uma
análise cuidadosa dos resultados encontrados, denunciando a necessidade de novos
estudos sobre o assunto.
Palavras-chave: Miastenia Grave, Doenças Neuromusculares, Exercícios para os
Músculos Respiratórios, Fadiga Muscular, Tolerância ao Exercício.
ABSTRACT
Introduction: Acquired autoimmune myasthenia gravis (AAMG) is a neuromuscular
disorder caused by circulating antibodies directed towards the skeletal muscle
acetylcholine receptor (AChR), which is often characterized by fluctuating weakness
and fatigue of skeletal muscles. Symptoms due to respiratory muscle involvement
depend on the severity of the disease, which is found in 60-80% of severe myasthenia
gravis (MG) patients. The respiratory muscle training (RMT) is an alternative attempt to
improve strength and resistance of the respiratory muscle, thus, reduce or delay the
respiratory muscle complications due to deterioration of respiratory muscle function.
Objective: The aim of this study was to assess the effectiveness of respiratory muscle
training in MG. Methods: The literature review included indexed trials from 1966 to
2006 on databases: Pubmed, Medline, Lilacs, Scielo, Cochrane Library, and manual
search in books, dissertation and thesis. Results: There was lack of descriptions about
the influence of the RMT in MG, although, exists in the literature a wide variety of
protocols used in neuromuscular patients and ones with impaired function of the
respiratory muscles. There was found trials that showed improvement of the respiratory
muscle strength and endurance associated with increased quality of life. However, there
was not a consensus on which protocol or method is better, as well as the efficacy of
the RMT in each stage of the disease. Conclusion: This review showed that the RMT
seems to be an efficient treatment in MG with improvements on respiratory muscle
function, strength, endurance, dyspnea index and quality of life. Nevertheless, the lack
of studies demand a careful analyze of the outcomes, denouncing an urgent need of
new trials about this topic.
Key Words: Myasthenia Gravis, Neuromuscular Diseases, Breathing Exercises, Muscle
Fatigue, Exercise Tolerance.
SUMÁRIO
Capa...................................................................................................................... i
Folha de rosto........................................................................................................ii
Folha de identificação............................................................................................iii
Termo de aprovação..............................................................................................iv
Dedicatória.............................................................................................................v
Agradecimentos.....................................................................................................vi
Lista de abreviaturas e siglas................................................................................ vii
Lista de ilustrações................................................................................................ viii
Resumo................................................................................................................. ix
Abstract..................................................................................................................x
1 Introdução...........................................................................................................01
1.1 Fundamentação Teórica..................................................................................01
1.1.1 Miastenia grave............................................................................................ 01
1.1.2 Função respiratória na miastenia grave....................................................... 17
1.1.3 Medidas de avaliação da força muscular respiratória.................................. 21
1.1.4 Fisioterapia na miastenia grave................................................................... 24
1.1.4.1 Treinamento muscular respiratório............................................................ 24
2 Objetivo...............................................................................................................29
3 Métodos.............................................................................................................. 30
3.1 Tipo de estudo................................................................................................. 30
3.2 Bases de dados e ano de publicação dos estudos......................................... 30
2.3 Critérios de inclusão dos estudos....................................................................30
4 Resultados..........................................................................................................31
5 Discussão........................................................................................................... 33
6 Conclusão...........................................................................................................47
7 Referências.........................................................................................................48
8 Anexo..................................................................................................................55
1 INTRODUÇÃO
1.1 Fundamentação teórica
1.1.1 Miastenia Grave
A miastenia grave auto-imune adquirida (MGAA) é definida como fraqueza
muscular decorrente de uma desordem de transmissão neuromuscular que resulta na
ação de anticorpos contra os receptores musculares nicotínicos de acetilcolina (ACh). É
a doença neuromuscular primária mais freqüente, que afeta a junção na membrana pós
sináptica, sendo potencialmente grave, no entanto passível de tratamento1-4
Em 1672, Thomas Willis, um clínico inglês de Oxford, fez as primeiras descrições
da doença, por meio de um grupo de pacientes que apresentavam fraqueza de caráter
flutuante acometendo apenas musculatura esquelética, e que aumentava durante o
curso do dia. Em particular, foi descrito o caso de uma paciente que referia fraqueza e
a queixa do desaparecimento completo da voz frente a longos períodos de utilização da
fala, porém que retornava ao normal após algumas horas de repouso vocal. No
momento, a doença foi descrita como paralisia esporádica não habitual, que
posteriormente seria reconhecida como miastenia grave (MG)5-8
A literatura fornece diversas denominações utilizadas para designar a MG, dentre
elas a paralisia bulbar sem achado anatômico, paralisia bulbar astênica, síndrome
paralítico
bulbo-espinhal
possivelmente
curável,
paralisia
bulbar
subagudo
descendente, síndrome de Erb Goldflam, síndrome de Erb, miastenia bulbar espinhal,
poliomesencefalomielite, neuromiastenia grave e hipocinesia de Erb6
Friedrich Jolly, em 1895, foi o pioneiro a utilizar o termo miastenia grave para
descrever a doença, sendo a palavra miastenia derivada do grego, que significa
fraqueza muscular, enquanto gravis refere-se, em latim, a severo, grave5,7,8
A MG apresenta a prevalência estimada de 0,5 a 12,5 em cada 100.000
indivíduos e incidência de 0,4 por 100.000 na população em geral, com relação
homem: mulher de 2:3. Na Inglaterra, a prevalência é de 2 a 7 em cada 10.000
indivíduos. Nos Estados Unidos é de 14,2 casos em 1 milhão de pessoas, e na Grécia,
a incidência é de 7,40 casos em 1 milhão de indivíduos por ano e prevalência de 70,63
em 1 milhão2,7,9. Apesar de surgir em qualquer idade e sexo, a MG generalizada é mais
freqüente em mulheres enquanto a forma ocular tende a acometer mais homens acima
dos 50 anos. Verifica-se ainda um pico dos 20 aos 40 anos em mulheres e dos 40 as
60 nos homens, havendo indícios de queda da incidência após a sétima década em
ambos os sexos2,9.
Fisiopatologia
O entendimento da anatomia e fisiologia da junção neuromuscular (JNM) é
importante para haver maior compreensão da doença.
A JNM ou junção sináptica normal (figura 1) envolve o terminal do nervo motor e
a membrana do músculo, apresentando como principal função a ampliação de um
impulso nervoso relativamente fraco em um impulso elétrico potente, capaz de produzir
a contração muscular. Existem três componentes importantes da JNM: junção présináptica, fenda sináptica e junção pós-sináptica. A junção pré-sináptica é formada pelo
terminal do nervo motor e as estruturas que o compõe. A fenda sináptica é dividida em
fenda primária e fenda secundária. A primeira é formada pelo espaço que separa a
membrana nervosa pré-sináptica da membrana pós-sináptica muscular. A acetilcolina
(ACh) é liberada neste espaço, onde interage com os seus receptores. Já as fendas
secundárias são os espaços entre as pregas da junção pós-sináptica e o espaço da
fenda primária, onde está contido primariamente a acetilcolinesterase, que hidrolisa a
Ach7.
A junção pós-sináptica é composta pela membrana muscular que está oposta ao
terminal nervoso e sua superfície é composta por pregas. A ACh é armazenada nas
vesículas dos terminais sinápticos dos nervos motores, na qual cada vesícula contém
aproximadamente 10.000 moléculas de ACh. Com a chegada do potencial de ação, a
ACh é liberada por exocitose no espaço sináptico, sendo que uma porcentagem dessas
moléculas se liga a AChR localizados na membrana pós-sináptica3,7
O AChR é uma proteína composta por cinco subunidades localizadas em uma
superfície específica da JNM. Quando a ACh liga-se a estes receptores específicos, há
a abertura dos canais iônicos, induzindo o aumento da permeabilidade ao sódio e ao
potássio, e conseqüente geração de potenciais de ação e contração muscular. A
amplitude desta despolarização depende do número de moléculas de ACh que interage
com os seus receptores. A transmissão neuromuscular termina com a ação da enzima
que degrada a ACh livre, a acetilcolinesterase, sobre a ACh na membrana póssináptica3,5,7.
A acetilcolinesterase, concentrada em grande número nas pregas da junção pós
sináptica, está primariamente localizada nas fendas secundárias, onde hidrolizam a
ACh para interromper a transmissão neuromuscular, para que então o músculo possa
ser
estimulado
novamente.
A
estrutura,
função
e
biologia
molecular
da
acetilcolinesterase são atualmente conhecidas, o que leva ao maior entendimento sobre
a MG e seu tratamento7.
Figura 1: Esquema da junção neuromuscular normal
Fonte: Thanvi, B R et al. Postgrad Med J 2004;80:690-700
Cada forma de MG possui características específicas em relação à fisiopatologia,
sendo destacada a forma mais conhecida e freqüente da doença, auto-imune adquirida.
Neste caso, os auto-anticorpos ou linfócitos sensibilizados difundem-se rapidamente
através dos capilares atuando contra os antígenos autólogos da doença (AChR),
promovendo assim a lise e a maior internalização dos receptores, reduzindo o número
em cerca da metade do normal de receptores íntegros para interagirem com a ACh
livre. Desta forma, o processo de despolarização tende a ser insuficiente para a
geração do potencial de ação suficiente para a contração das fibras musculares, visto
que os AChRs restantes já apresentam anticorpos ligados5,10,11. Em síntese, a MGAA é
uma doença autoimune com acometimento da transmissão neuromuscular decorrente
de alterações pós-sinápticas, na maioria das vezes acompanhadas de anticorpos
circulantes e linfócitos sensibilizados, especialmente reativos ao AChR da musculatura
estriada8 (Figura 2).
Se o comprometimento é moderado, o potencial de ação pode ser produzido
inicialmente, no entanto, quando a JNM é sobrecarregada por estimulações nervosas
constantes e repetitivas, o potencial de ação se torna incapaz de promover a contração
muscular. A ativação constante acarreta a atração de macrófagos, que causam danos à
junção sináptica e aumento do limiar de potencial de ação dos canais de sódio. A
conseqüência da perda dos AChR e canais de sódio é a redução dos fatores de
segurança da transmissão neuromuscular, assim, a transmissão na placa terminal
torna-se falha12-14.
Figura 2: Esquema da junção neuromuscular na MG
Fonte: Thanvi, B R et al. Postgrad Med J 2004;80:690-700
Na literatura, há estudos sobre MG que descrevem um declínio progressivo na
tensão muscular durante a estimulação muscular indireta por estímulos repetitivos, que
melhorava com o repouso. Pesquisadores como Harvey e Marsland descreveram que
havia redução da resposta evocada do músculo frente a estímulos repetitivos5,7.
Durante muito tempo a doença esteve relacionada com anticorpos contra os
AChR, apenas recentemente uma proteína muscular específica foi identificada como
alvo da doença em pacientes soronegativos (tirosinoquinase músculo específico MuSK). Durante a ontogenia, esta proteína parece representar um papel importante na
agregação dos AChR na placa motora terminal, contudo, sua função durante a vida
adulta ainda não está clara7,14.
Apesar do fator causal ainda ser desconhecido, acredita-se que disfunções no
timo possam estar correlacionadas com a doença, visto que aproximadamente 60%
dos indivíduos miastênicos (essencialmente mulheres jovens) apresentam hiperplasia
do timo, e 10 a 15% desenvolvem o timoma, que pode ser maligno7,15.
A genética parece apresentar correlação com a MGAA, uma vez que os
miastênicos freqüentemente têm complexos de antígenos em maior quantidade, e
diversos membros na família com doenças auto-imunes, quando comparados à
população geral. Entretanto, filhos de indivíduos portadores da MGAA não possuem
maior probabilidade de desenvolverem a doença, quando comparados aos filhos de
indivíduos normais. É importante ressaltar que a MGAA não pode ser considerada uma
doença genética5.
Classificação
A MG pode ser classificada de acordo com a idade de início, gravidade, etiologia
da doença, e presença ou ausência de anticorpos contra os receptores de ACh7.
A etiologia divide a doença em neonatal transitória; autoimune adquirida e
síndrome miastênica congênita (por deficiência de AChR, síndrome do canal lento ou
síndrome do canal rápido7. A primeira ocorre por transferência de anticorpos anticolinesterásicos maternos pela placenta, que atuam nos receptores de ACh do
neonato. Neste caso, apenas 10 a 15% dos indivíduos manifestam sinais e sintomas
típicos da MG nas primeiras horas de vida, sendo que tendem a desaparecer
espontaneamente de 1 a 3 semanas. Os sinais clínicos surgem ao nascimento ou nas
primeiras 72 horas, tendendo a remissão clínica espontânea em uma a seis semanas.
Já a forma adquirida surge em qualquer idade, apresentando as formas clínicas ocular
ou generalizada, dependendo dos grupos musculares acometidos8.
A presença ou ausência dos anticorpos contra os AChR podem classificar a
doença em soropositiva ou soronegativa. A MGAA com a presença de receptores
anticolinesterásicos na membrana pós sináptica da JNM é o tipo mais comum da
doença, sendo verificada em 85% dos casos na forma generalizada e em 50 a 60% na
MG ocular. No entanto, 10 a 20% dos pacientes com MG não apresentam estes
anticorpos, porém supõe-se que 20 a 50% destes possuem disfunção auto-imune
relacionada aos anticorpos MuSK7,15.
A classificação de Osserman é bastante conhecida e utilizada, dividindo a doença
em quatro grupos de acordo com a gravidade. Segundo este critério, há a forma ocular,
na qual a manifestação se limita à musculatura ocular extrínseca e palpebral, a MG
generalizada de leve (boa resposta a drogas e sem comprometimento respiratório) ou
moderada intensidade (musculatura respiratória acometida e menor resposta às
drogas), a MG generalizada fulminante (crise miastênica associada à falência
respiratória) e a forma generalizada tardia (grave com evolução após mínimo de dois
anos do início da doença)4.
No entanto, esta classificação tem sido modificada pela American myasthenia
gravis foundation, sendo definidos cinco grupos distintos. O grupo I inclui a fraqueza
muscular estritamente ocular; o grupo IIa destina-se a fraqueza leve em outros
músculos além do ocular, porém predominantemente em segmentos ou axial, e
fraqueza ocular em qualquer gravidade; o grupo IIb é semelhante ao anterior, exceto o
acometimento maior de músculos respiratórios ou de orofaringe; o IIIa refere-se à
fraqueza moderada em músculos (principalmente axiais ou apendiculares) exceto os
oculares, pode ocorrer a fraqueza ocular; o IIIb difere do anterior apenas pelo
envolvimento maior de musculatura respiratória e de orofaringe; o IVa é idêntico ao IIIa,
assim como o IVb em relação ao IIIb, porém a fraqueza é grave; e o grupo V é definido
pela intubação com ou sem ventilação mecânica, exceto nos casos de utilização desse
material apenas durante a rotina do período pós-operatório3,7.
A crise miastenica é definida como uma piora súbita da função respiratória,
considerada uma urgência neurológica na qual a fraqueza muscular é tão severa que
impede a função respiratória ou o funcionamento adequado das vias aéreas2,3,16.
Presente em 15 a 25% dos pacientes com MG, com grande incidência
principalmente nos pacientes do grupo III e IV, segundo a classificação de Osserman, a
crise miastênica têm sido mais freqüentes na 3ª e 4ª décadas de vida. Está
demonstrado que tende a ocorrer durante os dois primeiros anos da doença,
acometendo principalmente as mulheres9,17.
Raramente é tida como forma de início da doença, e pode apresentar como
fatores precipitantes, as infecções respiratórias e os medicamentos, entre outros. Um
estudo feito pela Clinica Mayo, demonstrou que os pacientes que apresentaram a crise
miastênica, em sua maioria, eram os que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos
(principalmente após timectomia)16.
Mehta18 descreveu como componentes responsáveis pela falência respiratória, a
disfunção das vias aéreas superiores, a fraqueza dos músculos inspiratórios e
expiratórios e as complicações pulmonares associadas a essas condições. Em paises
desenvolvidos, a MG e Síndrome de Guillain-Barré parecem ser responsáveis pela
maior causa de falência respiratória aguda associada às DNM.
Frente à crise, muitos pacientes optam pela auto-medicação à base de inibidores
acetilcolinesterásicos, contudo, sabe-se que o excesso deste medicamento pode
promover o aumento da fraqueza muscular e conseqüente piora do quadro2.
O excesso de utilização de medicamentos inibidores de acetilcolinesterase
induziria a crise miastênica, devido à grande estimulação dos AChR (crise colinérgica).
A crise colinérgica associada à fraqueza muscular é caracterizada por efeitos colaterais
muscarínicos e nicotínicos. Os efeitos muscarínicos mais comuns são: cólica, diarréia,
lacrimejamento e secreção orofaríngea excessiva. Os efeitos nicotínicos podem variar
entre fasciculações e câimbras, porém não são comuns3. No entanto, observa-se que
em aproximadamente 33% destes pacientes, não há a presença de qualquer fator de
precipitação19.
Desta forma, a avaliação da função dos músculos respiratórios é de suma
importância, visto que auxilia na prevenção ou retardo da insuficiência respiratória em
pacientes com DNM. A intervenção precoce com intubação traqueal e ventilação
mecânica, se necessário, além da monitorização intensa são indispensáveis neste
momento19.
Quadro Clínico
Na MG, o início dos sintomas pode ser abrupto ou insidioso e o curso da doença
é variável. As queixas freqüentes destes pacientes envolvem desde atividades
complexas (que exijam esforço e resistência) até funções simples como levantar os
braços, levantar da cadeira, subir e descer escadas3.
O quadro clínico destes pacientes pode variar de acordo com o local, intensidade
e forma de acometimento, porém é caracterizada normalmente por um histórico de
flutuação da fraqueza da musculatura esquelética e fadigabilidade, com períodos de
remissão e exacerbação, sendo estes raros, completos ou permanentes11,20. Estes
sinais e sintomas são acentuados por atividades repetitivas ou sustentadas,
temperaturas elevadas, infecções, cirurgias e excitação e são aliviados pelo repouso e
por inibidores colinesterásicos. Os sintomas podem variar durante o dia, tendendo a ser
mais intenso ao anoitecer3,7,11.
O acometimento dos músculos tende a seguir a direção crânio-caudal, de forma
assimétrica e proximal, estando mais comumente acometido na musculatura axial,
músculos responsáveis pela mímica facial, extensores de pescoço, levantador da
pálpebra superior e músculos extra-oculares7.
A fraqueza da musculatura extra-ocular comumente pode provocar a diplopia e a
ptose palpebral, com característica assimétrica e flutuante, ocorrendo normalmente
durante a leitura ou ao dirigir por período prolongado. O acometimento pode ser uni ou
bilateral. Também pode ocorrer a fraqueza do músculo orbicular dos olhos, levando à
dificuldade de fechar os olhos. Entre 15 a 20% dos pacientes apresentarão apenas a
forma ocular da MG, sem envolvimento sistêmico. Outros músculos inervados pelos
nervos cranianos podem estar envolvidos, acarretando fraqueza dos músculos faciais,
com lábios e mandíbula caídos. A face encontra-se pouco expressiva e a boca pode
permanecer aberta, principalmente após as refeições. Alguns pacientes podem
apresentar fadiga severa e fraqueza durante a mastigação, sendo incapazes de
manterem a boca fechada2,3.
A voz nasal torna mais suave e fraca à conversação, e a regurgitação nasal pode
ocorrer devido à fraqueza da musculatura do palato. A disfonia é resultante da fraqueza
da laringe, que acarreta na abertura anormal das cordas vocais e estridor laríngeo,
provocados pela obstrução das vias aéreas superiores, enquanto a disfagia ocorre
devido à fraqueza dos músculos da deglutição e mastigação. As dificuldades na fala,
deglutição e mastigação também podem surgir como queixa inicial, porém a freqüência
destes sintomas é mais raro que os sintomas oculares. A disfagia e fraqueza dos
músculos mastigatórios persistente por longo prazo pode acarretar em emagrecimento
pronunciado2,3,8.
Distúrbios do sono são freqüentes em pacientes com doenças neuromusculares
(DNM), porém sua incidência na MG não é conhecida. Em um estudo conduzido por
Quera-Salva21, as fases do sono foram analisadas em pacientes com MG, mostrando
aumento da fase 1, diminuição proporcional das fases 3 e 4 e REM, e elevada
incidência de apnéia e hipopnéia centrais.
A fraqueza em membros superiores é mais evidente e comum quando
comparada aos membros inferiores1,7. Quando o paciente apresenta fraqueza
generalizada dos membros sem envolvimento bulbar, o diagnóstico de MG deve ser
questionado. Como se trata de uma desordem da JNM, não é esperado qualquer
alteração cognitiva, sensorial ou autonômica. Por outro lado, não é incomum o paciente
com MG apresentar sintomas de depressão2.
De acordo com o início dos sinais e sintomas, a progressão da doença e outros
aspectos específicos, é possível prever o prognóstico dos miastênicos. Os pacientes
que manifestam fraqueza da musculatura respiratória na ausência de quadro infeccioso
e/ou que evoluem de modo severo nos primeiros cinco anos da doença e/ou
apresentam a forma timomatosa tendem a possuir um mau prognóstico. Já as formas
oculares puras assim como as formas congênita e neonatal da MG normalmente são
benignas. Sabe-se que devido ao avanço nas pesquisas sobre possíveis tratamentos
para as manifestações clínicas na MG, associada ao rigoroso acompanhamento do
paciente, o prognóstico da doença melhorou significativamente nos últimos anos, e os
índices de morbidade e mortalidade reduziram8.
Diagnóstico
O diagnóstico da MG é freqüentemente baseado na história clínica, no exame
físico e em alguns exames objetivos que avaliam a função neuromuscular. Entretanto,
em pacientes com fraqueza focal de determinados grupos musculares, como os
músculos respiratórios, o diagnóstico se torna difícil3,8.
Na teoria, a fraqueza e a fadiga muscular características da MG deveriam ser
reconhecidas com facilidade. Entretanto, na prática, existe um longo período entre a
instalação dos sintomas e o seu diagnóstico. Isto ocorre pelo fato da MG ser uma
doença relativamente rara, e doenças mais comuns como acidente vascular encefálico
(AVE), doença do neurônio motor ou histeria podem ser diagnosticados erroneamente.
Além disso, a característica flutuante da doença também pode gerar confusão e atraso
no diagnóstico14.
Os testes que visam auxiliar a confirmação da doença consideram características
como diplopia, ptose palpebral, cansaço ao mastigar, fraqueza de musculatura facial,
comprometimento na deglutição, queda da mandíbula, emagrecimento inexplicável,
dificuldade respiratória entre outros. O teste do gelo é uma técnica utilizada em
pacientes com ptose palpebral, onde um cubo de gelo é colocado sobre a linha dos
olhos por 2 minutos. A melhora da ptose após o procedimento sugere uma disfunção da
transmissão neuromuscular. Outros testes para exame dos músculos oculares como a
Manobra de Cogan e o teste das lentes verde-vermelho também são utilizados2,7,8.
Um teste clínico bastante utilizado para verificar a presença de ptose palpebral
ou diplopia é a manutenção da pálpebra elevada, sendo verificada a queda da mesma
após poucos minutos. A diplopia também pode ser testada frente à movimentação
ocular, principalmente transversal. Ao solicitar a leitura ininterrupta por alguns minutos,
é possível analisar se o paciente apresenta disartria ou fadiga muscular O exame
clínico ainda inclui o exame dos músculos da face, orofaringe (teste do copo d’água
para disfagia), da musculatura do pescoço, membros superiores e inferiores, incluindo
as manobras deficitárias da queda da cabeça, dos braços estendidos e o teste de
Mingazzini para membros inferiores, que exigem a manutenção da postura por
aproximadamente dois minutos (positivo frente a sensação de fadiga e peso ou
tendência a queda do segmento), além da análise dos músculos respiratórios5,8.
A avaliação dos músculos respiratórios inclui a observação da expansão
pulmonar, a ausculta pulmonar ou por medidas de avaliação específicas, como valores
obtidos por meio da espirometria, manuvacuometria e outros. Estes métodos serão
comentados posteriormente5.
Os exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico clínico são os testes
farmacológicos, imunológicos, eletrofisiológicos, provas de função tereoidiana e
pulmonar, testes oftalmológicos e biópsia muscular. Eventualmente a biópsia muscular
pode ser uma alternativa para definição do diagnóstico, principalmente na tentativa de
distinguir a MG das miopatias8.
A avaliação mais sensível e específica para o diagnóstico da MGAA é a
presença de anticorpos dos AChR. O teste anticolinesterase é baseado na melhora
clínica induzida por inibidores de acetilcolinesterase, prolongando os efeitos da ACh
sobre os receptores disponíveis. O Cloridrato de Edrofonio (Tensilon®) é o mais
utilizado, pois tem início de ação rápido (30 segundos) e efeito de curta duração (5
minutos)2,7.
Após o exame completo de força muscular, uma injeção de atropina é aplicada.
Esta injeção tem o objetivo de proteger o paciente dos agentes anticolinesterásicos e
não desenvolver os efeitos colaterais muscarínicos, além de servir como placebo para
os grupos-controle em casos de estudos. Após 2 minutos da injeção, outra evolução de
fraqueza muscular é observada. Então, é injetada uma dose intravenosa de Tensilon®,
acarretando novamente a melhora da força muscular. Se não houver melhora, outra
dose desta última droga é administrada. O resultado positivo do teste seria a melhora
significante do desempenho muscular3.
Apesar de ser um método eficaz e rápido, representa pequeno risco, porém não
insignificante para o paciente, e deve ser utilizado com cautela, pois pode ocorrer
parada respiratória e arritmia cardíaca. O resultado positivo claro associado à fadiga e
fraqueza muscular pode ser suficiente para confirmar o diagnostico de MG. Neste
exame falso-positivos são raros, porém o resultado positivo isolado não é 100%
específico para MG, podendo variar entre diversas doenças como a doença do
neurônio motor e o botulismo. Por outro lado, o resultado negativo também não exclui a
MG14.
Entre 80% a 90% dos pacientes com a forma generalizada da MG podem ser
detectados anticorpos contra os AChR no soro sanguíneo. E apenas 45% a 65% em
pacientes com a forma ocular. A presença ou quantidade de anticorpos não está
relacionada com a severidade da doença2,3.
De acordo com exames de imagem, sabe-se que aproximadamente 20% dos
pacientes com MG apresentam timoma, enquanto que 70% desenvolvem hiperplasia do
timo. Para detectar estas anormalidades, todos os pacientes com MG devem realizar o
exame de tomografia computadorizada (TC) com contraste do tórax. O exame de
radiografia do tórax também deve ser realizado como exame de rotina, porém, não
deve substituir o exame de TC2.
O exame eletrofisiológico dos pacientes com MG envolve uma rotina de testes de
condução nervosa, estimulação repetitiva do nervo, teste de exercício e eletromiografia
(EMG). Os resultados dos testes de condução nervosa em pacientes com MG
geralmente apresentam resultados normais. Caso os exames apresentarem alguma
anormalidade, os médicos devem questionar o diagnóstico de MG2.
O teste de eletrodiagnóstico não é específico para a doença, mas pode revelar
anormalidades características. A estimulação elétrica repetida com taxas lentas é
enviada ao músculo e são medidos assim os potenciais de ação do músculo7. A
amplitude dos potenciais de ação na transmissão neuromuscular normal não mudam,
porém na MG ocorre redução da amplitude conforme o músculo é estimulado
rapidamente. Este teste pode ser utilizado após o teste anticolinesterásico3. Os
resultados devem apresentar um decréscimo maior que 10% do potencial esperado
para ser considerado um resultado positivo2.
A amplitude dos potenciais de ação na transmissão neuromuscular normal não
mudam, porém na MG ocorre redução da amplitude conforme o músculo é estimulado
rapidamente. Este teste pode ser utilizado após o teste anticolinesterásico3. A
estimulação
repetitiva
é
utilizada
para
detectar
os
déficits
da
transmissão
neuromuscular, porém não proporciona informações sobre a força e fadiga muscular10.
O resultado do teste pode ser amplificado se os nervos proximais forem estimulados,
como por exemplo, o nervo acessório ou o nervo facial, ou quando a temperatura do
membro está aumentada, ou ainda quando o teste é seguido de exercícios dos
músculos apropriados. O teste de exercícios deve ser feito juntamente com a
estimulação repetitiva do nervo, pois a diminuição dos potenciais de ação geralmente é
observada após os exercícios2.
Entre os exames de eletrodiagnóstico, a eletromiografia da fibra muscular é a mais
sensível para detectar os distúrbios da transmissão neuromuscular. O registro é feito
pela estimulação de duas fibras musculares em uma única unidade motora1,14.
Apesar da EMG de única fibra ser o exame mais sensível para a análise da
transmissão neuromuscular, ela não é específica, ou seja, os resultados podem
também ser anormais em grande variedade de doenças neuropáticas ou miopáticas.
Com isso, os resultados dos exames de eletrodiagnóstico devem ser interpretados
dentro do contexto das apresentações clínicas da doença2.
Diagnóstico diferencial
Antes de diagnosticar a MG é necessário excluir outras condições que podem de
alguma forma ser similares à doença. O diagnóstico diferencial inclui doenças como
compressão dos nervos cranianos por massas intracranianas, síndrome miastênica
induzida por drogas, doenças da transmissão neuromuscular congênitas, miopatias
mitocondriais e miotonias2,3.
O comprometimento da tireóide é comumente investigado no diagnóstico
diferencial. Os pacientes com MG podem apresentar uma doença auto-imune
associada2.
A síndrome miastênica pode desenvolver-se em associação a tumores
(particularmente carcinoma broncogênico de pequenas células) e pode causar certa
confusão com a MG. Esta síndrome, de causa desconhecida, tem sido referenciada
como síndrome de Eaton-Lambert, e assim como na MG pode estar associada à
diminuição da ação da ACh. Apesar desta síndrome também mostrar pobre resposta à
inibição da acetilcolinesterase, ela então é distinguida da MG pelo início dos sintomas,
que atingem primariamente a cintura pélvica e músculos da coxa, além do aumento, ao
invés da diminuição da força muscular, após a contração muscular sustentada. Este
aumento está associado ao aumento progressivo dos potenciais de ação após
estimulação repetida3.
A forma ocular da MG pode mimetizar doenças que envolvam o III, IV e VI pares
cranianos, assim como a oftalmoplegia internuclear, que produz a limitação do
movimento ocular, porém não apresenta ptose palpebral. Diferentemente da paralisia
do III nervo, a MG nunca afeta a função pupilar. A ptose recorrente ou que afeta as
pálpebras alternadamente é característica exclusiva da MG. A fraqueza unilateral para
o movimento de abdução do olho pode mimetizar a paralisia do VI nervo, no entanto, é
diferenciada pela fadigabilidade e envolvimento de outros músculos5 .
A MG também pode ser confundida com outras DNM, sendo normalmente
distinguidas devido à presença elevada da creatinofosfoquinase sérica, alterações
eletromiográficas e características musculares específicas5 .
Tratamento
A MG freqüentemente causava incapacidades graves e crônicas, além de elevada
mortalidade. No entanto, os avanços no tratamento têm melhorado o prognóstico do
paciente e a expectativa de vida encontra-se próxima do normal15. Não existe um
protocolo específico para o tratamento de pacientes com MG. Em geral, a idade do
paciente, o grau de progressão da doença, a distribuição e a gravidade da fraqueza
muscular podem servir como guia para o plano de tratamento.
O tratamento atual se baseia na utilização de medicamentos inibidores da
acetilcolinesterase, imunosupressores, corticosteróides, plasmaferese, imunoglobulina
intravenosa e timectomia2 .
Os inibidores de acetilcolinesterase atuam de forma
rápida, elevando a disponibilidade da ACh para agir nos respectivos receptores, sendo
utilizado como tratamento inicial de escolha. Porém não alteram o curso da doença,
apenas geram benefícios sintomáticos por aproximadamente 4 horas5,7 .
Thanvi7 relatou que a maioria dos pacientes com MG tratados com inibidores de
acetilcolinesterase apresentou melhora significativa, porém a maioria permaneceu com
comprometimento do desempenho dos músculos respiratórios. Além disso, uma
superdosagem da acetilcolinesterase pode causar a dessensibilização dos receptores,
piorando a fraqueza muscular, e promovendo a chamada crise colinérgica.
Esta droga normalmente é bem tolerada em doses de até 60mg, cinco vezes ao
dia. Quando utilizada em proporções elevadas, promove excesso de ACh na JNM,
podendo gerar efeitos adversos como alteração do ritmo respiratório, excesso de
secreção gastrointestinal, bradicardia, sudorese intensa, espasmos, fasciculações,
aumento da secreção brônquica e hipermotilidade intestinal. Desta forma, a dose ótima
deve ser definida pelo equilíbrio entre a melhora clínica e os efeitos adversos15 .
Em um estudo, De Troyer22 mostrou melhora na mecânica pulmonar após
tratamento com inibidores de acetilcolinesterase (piridostigmina®). Essa melhora,
segundo os autores, ocorreu devido ao aumento da força muscular, entretanto, a
incidência e a localização da fraqueza muscular respiratória não foram descritas
formalmente antes e após o uso do medicamento.
Mier-Jedrzejowicz e colaboradores11 concluíram que após a administração de um
inibidor de acetilcolinestares (Tensilon®) em 17 pacientes com MG, houve melhora
significativa nas pressões inspiratória (PImáx) e expiratória máximas (PEmáx).
Entretanto, esses resultados não foram observados nos pacientes com miastenia
severa.
Segundo Skeie e colaboradores15, não há nenhum estudo randomizado
controlado placebo, que verifique a efetividade desta droga, contudo, estudos de caso,
série de casos e a experiência clínica diária têm demonstrado efeitos clínicos positivos.
A MGAA é uma doença auto-imune, por isso um dos principais objetivos do
tratamento envolve a supressão do sistema imunológico. A imunossupressão é utilizada
com algum sucesso na maioria dos pacientes com MGAA, pois promove melhora da
força muscular por meio da alteração do processo de destruição dos receptores pelos
anticorpos. Porém, esta terapia diminui a capacidade do paciente de lutar contra os
organismos invasores. O início do tratamento deve ser feito com muita cautela, pois
existe o risco da exacerbação da fraqueza muscular3,7,12 .
A ciclofosfamida é um forte imunossupressor, que atua contra a atividade dos
linfócitos B e na síntese de anticorpos, agindo quando em altas doses, na função dos
linfócitos T. De Feo e colaboradores23 realizaram um estudo randomizado, duplo-cego,
placebo, controlado com 23 indivíduos miastênicos, que apresentaram resposta positiva
da força muscular e baixa dose de esteróides, quando comparado ao grupo placebo.
A ciclofosfamida intravenosa é capaz de reduzir os esteróides sistêmicos sem
provocar a deterioração da força muscular ou gerar efeitos colaterais. Contudo, o uso
deste medicamento nos pacientes com MG é limitado devido ao risco de toxicidade. A
ciclosforina possui efeitos imunossupressores em doenças auto-imunes, como a MG,
atuando como inibidor da função das células T. Um estudo randomizado, duplo-cego,
placebo controlado realizado por Tindall24 recrutou 20 pacientes miastênicos, que foram
submetidos ao tratamento com ciclosforina por seis meses. Foi observada melhora da
força muscular associada à redução dos anticorpos contra os AChR, quando
comparado ao grupo controle.
Este medicamento é efetivo no tratamento da MG, porém, devido aos efeitos
adversos como a nefrotoxocidade e hipertensão arterial sistêmica, deve ser utilizado
apenas nos pacientes intolerantes ou não responsivos à azatioprina. A azatioprina é um
imunossupressor extensamente utilizado, que inibe a síntese de DNA e RNA, além de
interferir na síntese e funcionamento das células T. Desta forma, reduz o nível de
anticorpos contra os AChR na JNM, tornando-se a opção de tratamento quando os
corticosteróides forem contra-indicados ou em casos de resposta insuficiente ao
esteróide. A resposta terapêutica ocorre em 4 a 12 meses, sendo o efeito máximo
obtido após a 6 a 24 semanas5.
Palace e colaboradores25 realizaram um amplo estudo randomizado duplo-cego,
no qual demonstraram que a melhor resposta ocorre na combinação da azatioprina
associada à administração de esteróides, quando comparada ao uso isolado deste. No
entanto, os efeitos adversos do uso de esteróides incluem a retenção de líquidos,
hipertensão arterial sistêmica, diabetes, ansiedade, insônia, depressão, psicoses,
glaucoma, catarata, hemorragia gastrintestinal, miopatias, necrose avascular de
articulações e maior suscetibilidade para infecções.
Num estudo menor, executado por Bromberg e colaboradores26 foi verificado que a
associação com a prednizolona obteve resultados melhores e mais precoces na força
muscular em relação à azatioprina.
A princípio as doses de prednizolona baixas (15 a 25 mg por dia) podem ser
utilizadas seguramente. As doses podem ser aumentadas gradualmente até a melhora
ser observada. Após alguns meses de tratamento, um esquema de dias alternados de
medicação é suficiente para manutenção. Outros imunossupressores como azatioprina
e ciclosporina também são efetivos na MG tanto sozinhos como em associação com
esteróides3,7,12.
A combinação do processo natural da doença com a terapia medicamentosa
predispõe o paciente a desenvolver complicações respiratórias como atelectasias,
pneumonias e falência respiratória12.
Os corticosteróides podem induzir a remissão da doença em até 80% dos
pacientes, atuando principalmente nos casos moderados e graves, sendo o início da
melhora após dois a quatro semanas, com pico de efeito após 6 a 12 meses3,7 . Porém,
Skeie relata que não há estudos duplo cego, controlados e comparados com estudosplacebo, que confirmem a efetividade deste tratamento15.
Um cuidado especial deve ser tomado ao prescrever medicamentos para os
pacientes com MG, pois uma grande lista de medicamentos pode agravar ainda mais a
fraqueza muscular. Alguns medicamentos como quinina, quinidina, procainamida,
barbitúricos, cloropromazina e antibióticos aminoglicosideos devem ser evitados, pois
estes causam comprometimento da transmissão neuromuscular. A depleção de
potássio causada por certos diuréticos também podem acarretar o bloqueio
neuromuscular3.
Em contrapartida a plasmaferese é um método que visa remover os anticorpos do
paciente frente a um processo de filtração do sangue. Os efeitos tendem a surgir na
primeira semana após a realização da plasmaferese e seus resultados se mantém por
cerca de um a três meses15.
Na MG, a plasmaferese é efetiva por promover rápida, porém temporária melhora,
devido à redução dos anticorpos contra os AChR. Ela promove a melhora dos sintomas
clínicos em muitos pacientes, principalmente nos pacientes que apresentam
comprometimento severo e ainda pode melhorar as condições do paciente antes da
cirurgia. A plasmaferese pode ser útil em pacientes com falência respiratória que não
respondem à terapia medicamentosa e em pacientes que necessitam de ventilação
mecânica por períodos prolongados3,7.
Em fases tardias da doença serão necessárias plasmafereses constantes, no
entanto, Skeie15 relata que a tentativa de obtenção da imunossupressão contínua por
meio do uso repetido da plasmaferese, não é recomendada na MG.
Já a terapia com imunoglobulina intravenosa também mostrou ser efetiva no
tratamento da MG, apesar do seu mecanismo de ação permanecer desconhecido. Ela
tem as mesmas indicações da plasmaferese, incluindo MG severa ou crise miastênica,
período pré e pós-operatório e miastenia intratável. Em contraste com a plasmaferese,
a imunoglobulina intravenosa não requer equipamentos caros ou grandes acessos
venosos. Recentemente, este tipo de terapia mostrou-se efetiva no tratamento em
longo prazo em alguns casos de MG. A plasmaferese age mais rapidamente,
entretanto, as duas terapias parecem ter o mesmo efeito7.
A timectomia mostra melhora na maioria dos pacientes com MG. A intervenção
cirúrgica é indicada não apenas para os pacientes com timomas, pelo risco da
transformação maligna, mas também para os pacientes com menos de 55 anos que
não apresentam timomas. Até 80% dos pacientes que não apresentam qualquer
evidência de timomas apresentam melhora significante após a cirurgia, apesar dos
benefícios serem identificados após meses ou até mesmo anos após a realização da
cirurgia7,14,27. Em crianças e adultos acima de 55 anos, a indicação da timectomia é
controversa. O risco pode ser baixo quando o cirurgião é experiente. Pacientes com
grau III e IV na classificação de Osserman e aqueles com fraqueza dos músculos
bulbares apresentam maior risco de necessitarem de ventilação mecânica por um
tempo prolongado após a cirurgia3.
Segundo Skeie15 não há estudos controlados e randomizados sobre a efetividade
da timectomia na MG. Em um estudo controlado, foi verificada a remissão da doença
em 34% dos pacientes com MG e 32% de melhora após a timectomia, comparado com
8% e 16% de remissão e melhora, respectivamente, dos pacientes com MG que não
sofreram a intervenção. É citado que nenhum estudo prévio realizado encontrou efeitos
negativos do tratamento cirúrgico, contudo, os pacientes que apresentam apenas a
forma ocular parecem não se beneficiar da técnica. Porém é importante ressaltar que o
fato do paciente ser submetido à um procedimento cirúrgico, que envolve riscos, deve
se analisado com cautela.
1.1.2 Função respiratória na miastenia grave
Na MG o comprometimento respiratório parece estar extremamente relacionado à
gravidade da doença, entretanto, parece não existir nenhuma correlação entre a força
de músculos respiratórios e a força muscular geral19,20,28.
O comprometimento dos músculos respiratórios é evidenciado em 1 a 4% dos
pacientes miastênicos em estágios iniciais, aumentando para 60 a 80% com o avanço
da doença. A doença pode afetar tanto os músculos inspiratórios como expiratórios, e
normalmente ambos os músculos são comprometidos no mesmo grau, contudo, a
manifestação clínica não se correlaciona, visto que os músculos expiratórios são
menos importantes durante a respiração normal, quando comparados à musculatura
inspiratória3,11,20.
Assim, o declínio da função respiratória na MG normalmente é atribuído à
fraqueza principalmente do músculo diafragma e dos músculos torácicos, e raramente
está associada à obstrução das vias aéreas superiores11,29. A fraqueza muscular
generalizada é tida como uma queixa importante, que exige cuidados intensos,
principalmente quando acomete a musculatura respiratória. Isto porque são músculos
bastante propensos à fadiga, uma vez que estão atuantes ininterruptamente com média
de 12 a 20 contrações por minuto30. A fadiga destes músculos é tida como a condição
em que há a perda da capacidade em promover força e/ou velocidade na função dos
músculos, resultando na atividade muscular abaixo do nível desejado, porém reversível
frente ao repouso. Enquanto isso, a fraqueza muscular pode ser definida como o
comprometimento e gerar força muscular frente ao músculo em repouso31. Desta
forma, parece que o fator reversibilidade seria capaz de distinguir fadiga de fraqueza
muscular, porém, tendo em vista que músculos respiratórios não possibilitam o
repouso, este critério não poderia ser analisado. Apesar da dificuldade de
diferenciação, sabe-se que em diversas doenças, como a MG, a fadiga e fraqueza
muscular respiratória estão presentes paralelamente30.
Como conseqüência da fraqueza da musculatura respiratória, ocorre a redução da
capacidade de expansão da caixa torácica e de insuflação pulmonar, sendo
inicialmente uma alteração pulmonar restritiva11,31. A parede torácica se torna mais
rígida e a complacência pulmonar reduz, elevando o trabalho respiratório, o risco de
hipoxemia, comprometimento da relação ventilação-perfusão e microatelectasias
pulmonares disseminadas, por conseqüência das áreas que não são ventiladas por
grande período de tempo, que tendem ao colapso, além de levar a sensação de
dispnéia e fadiga3,13,28,31-33.
Apesar da dispnéia ser um dos sintomas que denunciam esta alteração, verificase, no entanto, que em estágios mais avançados pode haver ausência desta
característica. Este fato pode ser justificado pela limitação radical das atividades físicas
decorrente da fraqueza de segmentos11,28. Frente ao aumento do trabalho respiratório,
ocorre a sobrecarga do sistema que culmina na exacerbação da dispnéia, visto que na
MG há o déficit da contração muscular que é mantido30. A alteração ventilatória pode
variar de uma dispnéia leve/moderada até a falência respiratória, podendo necessitar
de assistência ventilatória mecânica por períodos prolongados20,28.
A capacidade pulmonar total (CPT) é resultado do equilíbrio entre o recuo elástico
do sistema respiratório e a força dos músculos respiratórios, justificando a tendência à
diminuição desses valores na MG, justamente devido à fraqueza dos músculos
inspiratórios associada à fraqueza da musculatura expiratória que provoca o aumento
do volume residual, diminuição da efetividade da tosse e retenção da secreção
pulmonar28,33.
A alteração da força e da resistência dos músculos respiratórios na MG tem sido
abordadas na literatura. No entanto, apenas demonstrado e estudado nos casos de
pacientes que apresentam a forma generalizada da doença, enquanto a presença e
influência na forma ocular isolada permanecem pouco elucidadas. Considerando as
falhas existentes nas técnicas de mensuração dos parâmetros respiratórios, acredita-se
que possa haver um déficit da função ventilatória destes pacientes, porém acredita-se
que este déficit não seja significativo20.
A fraqueza dos músculos respiratórios acarreta um distúrbio ventilatório de padrão
restritivo evidenciado na espirometria dos pacientes com DNM, contudo, os volumes e
as capacidades não são indicadores sensíveis à alteração de força muscular. As
medidas de capacidade vital forçada (CVF) e volume expiratório forçado no primeiro
segundo (VEF1) são dinâmicas, no entanto, utilizam um esforço único, e podem falhar
na detecção de disfunções respiratórias súbitas28,29.
Na MG ocorre redução da CPT, da capacidade residual funcional normal ou
reduzida e volume residual elevado. Quando a capacidade vital (CV) estiver reduzida,
indica a presença de fraqueza respiratória intensa, sendo um preditor da falência
respiratória. A ventilação voluntária máxima (VVM) normalmente encontra-se baixa
devido à fraqueza de musculatura respiratória e parece ser mais sensível do que a CV,
em detectar a fraqueza destes músculos28. No estudo de Heliopoulos29 foi verificado
que não há diferença significativa dos valores de VVM de pacientes com a forma ocular
quando comparados ao normal. No entanto, nos grupos IIa e IIB segundo a
classificação de Osserman, evidenciou-se redução dos volumes respiratórios.
Segundo Mccool e Tzelepis31, há a necessidade de realizar pequena força dos
músculos inspiratórios para garantir os volumes pulmonares normais, sendo que a
redução da CPT freqüentemente é compatível à diminuição da força muscular
inspiratória em mais de 50% do que é previsto para estes pacientes. É esperado que
um paciente com fraqueza moderada destes músculos ainda tenha condições de gerar
volumes considerados normais.
A CV diferença entre a CPT e o volume residual, encontra-se diminuída devido à
fraqueza muscular causada primariamente pela redução da CPT (principalmente por
diminuição da capacidade inspiratória e do volume de reserva expiratória), porém
secundariamente gerada pelo aumento do volume residual3,13,31.
Com o objetivo de avaliar a função respiratória na MG, Saraiva34 recrutou 324
pacientes miastênicos apresentando variadas formas clinicas, porém sem qualquer
sintoma respiratório. Os pacientes foram analisados por meio da VEF1, CVF, fluxo
expiratório forçado entre 0,2 e 1,2 litros, a média do fluxo expiratório forçado entre 25 e
75% da FVC (FEF25-75), o tempo gasto durante a excursão deste fluxo, a média de
tempo da expiração, CPT, volume residual (VR) e o “padrão miastênico”. Neste mesmo
estudo, foi verificado que indivíduos do sexo masculino que apresentavam a forma
ocular, possuíam o “padrão miastênico” quando associado às alterações pulmonares, e
as manifestações eram menos intensas. As mulheres com a forma ocular
demonstraram um padrão respiratório semelhante à forma generalizada da doença. O
“padrão miastênico” é caracterizado pela modificação da curva volume-fluxo que se
encontra aplanada, tendendo ao formato retangular. Este padrão está presente em
doenças neurológicas e neuromusculares que cursam com comprometimento de
laringe e traquéia, e conseqüente alteração da tosse e deglutição, o que sugere que
haja fadiga da musculatura da laringe na MG28.
A fraqueza de orofaringe pode resultar na impossibilidade de limpeza de vias
aéreas e aspiração de secreções, promovendo a possibilidade de piora do quadro
rapidamente. Além disso, a hipoventilação, alteração do padrão respiratório também
contribuem para a dificuldade em gerar fluxo aéreo adequado durante a necessidade
de tosse19. Segundo Kang35, para que ocorra o mecanismo de tosse adequado, é
necessário que as etapas de inspiração, compressão e expulsão do ar estejam
preservadas. Durante a fase inspiratória, indivíduos normais são capazes de elevar o
volume corrente (VC) de 85 a 90% da capacidade inspiratória para atingirem um pico
de fluxo de tosse ótimo. Na compressão e expulsão, a contração dos músculos
expiratórios contra a glote ocluída e, posteriormente aberta, permite a eliminação de
grande fluxo aéreo. Contudo, a fraqueza muscular respiratória encontrada nos
pacientes miastênicos compromete este processo, seja por dificuldade na insuflação
pulmonar ou por déficit de força expiratória para a expulsão do ar adequadamente.
Quando a fraqueza de músculos respiratórios nas DNM encontra-se leve ou
moderada, observa-se a tendência à hiperventilação, e a gasometria arterial apresentase com pH normal, concentração de PaCO2 (pressão arterial de dióxido de carbono)
em níveis inferiores ao normal e concentração de PaO2 (pressão arterial de oxigênio)
na faixa de normalidade, porém este último pode estar reduzido. No entanto, em
estágios mais avançados, pode se verificar a elevação dos níveis de PaCO2
(hipercapnia), por decorrência da hipoventilação (que acarreta a retenção de dióxido de
carbono) secundária à fadiga da musculatura inspiratória que dificulta a mobilidade da
caixa torácica e da complacência pulmonar normal3,13,28,31-33 .
Estudos prévios têm demonstrado que os valores das pressões respiratórias
estáticas máximas, a pressão inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória
máxima (PEmáx), encontram-se alterados desde as fases iniciais das DNM, enquanto
os índices espirométricos estariam normais17. Ringqvist36 estudou nove pacientes com
moderada a severa miastenia, sendo encontrada acentuada redução na média da
PEmáx (55% do predito) e da PImáx (78% do predito), concluindo que os músculos
expiratórios são afetados em maior grau que os músculos inspiratórios. Entretanto, em
outro estudo, verificou-se a redução proporcional dos valores de PImáx e PEmáx (52%
e 54% do previsto) respectivamente. De acordo com Saraiva34 e Zulueta3, não há
evidências de correlação entre a PImáx e o VC ou CPT. Ocorre ainda nas DNM
redução da CV para 20ml/kg é um indicativo para ventilação mecânica, porém, na MG
este preditor tem se mostrado bastante falho.
Nos casos da doença severa, os pacientes tendem a se beneficiar do uso da
ventilação mecânica não invasiva quando apresentarem diminuição da PImáx maior
que 30%. No entanto, se estiver associada à hipercapnia, a ventilação não invasiva
provavelmente não será eficaz, progredindo para intubação traqueal e ventilação
mecânica invasiva. Pacientes miastênicos graves com valores de CV maiores que
20ml/kg, PEmáx maior que 40 cmH2O e PImáx mais negativa que – 40 cmH2O não são
indicados para intubação traqueal. No estudo citado anteriormente, 75% dos pacientes
que não necessitaram de ventilação mecânica possuíam VC abaixo deste valor37.
Assim, para ocorrer trocas gasosas pulmonares de forma efetiva, renovação do ar
alveolar, eliminação das secreções pulmonares e substâncias irritantes das vias
aéreas, é necessário haver integridade dos músculos respiratórios. Perda da força dos
músculos respiratórios pode acarretar alterações da função ventilatória, da limpeza
pulmonar e interferência na qualidade de vida do individuo38.
1.1.3 Medidas de avaliação da força muscular respiratória
Os músculos respiratórios são considerados de difícil avaliação, sendo as
pressões respiratórias máximas, ou seja, a PEmáx e a pressão inspiratória máxima
PImáx as mais descritas e utilizadas. Esta mensuração utilizada para avaliar a força
muscular respiratória com base nas medidas de pressões respiratórias estáticas
máximas, exige uma resistência constante contra uma via aérea ocluída. A força dos
músculos inspiratórios está relacionada com a PImáx e a força muscular expiratória,
com a PEmáx30.
De acordo com Gozal e colaboradores39 estes parâmetros são os mais utilizados
e descritos na literatura para avaliação de pacientes neuromusculares, apresentando
normalmente valores reduzidos. Os valores considerados normais em indivíduos
adultos variam entre 80 a 120mmHg.
Kang e colaboradores35 relatam que em pacientes portadores da Distrofia
Muscular de Duchenne (DMD), as pressões respiratórias máximas parecem estar
relacionadas principalmente com a fraqueza de musculatura respiratória, não havendo
correlação com os volumes e capacidades pulmonares. Este fato é comprovado pois o
VC destes pacientes normalmente não apresenta alterações nos 10 primeiros anos de
vida, contrastando com a redução das pressões respiratórias máximas durante este
período.
Esta técnica é amplamente utilizada e exige força normal da musculatura facial,
fato este nem sempre presente nos pacientes miastênicos30. Lyall40 descreve o uso do
“sniff” como um método complementar de fácil compreensão, que mensura a pressão
esofágica e transdiafragmática frente a manobras de respiração máxima nasal. Apesar
de fornecer valores confiáveis e atuar como auxiliar na avaliação da força dos
músculos inspiratórios, principalmente em caso de fraqueza bulbar, trata-se de um
método invasivo e desconfortável que necessita da inserção de um cateter posicionado
no terço distal de esôfago e estomago.
Fitting41 realizou um estudo com 16 pacientes portadores de Esclerose Lateral
Amiotrófica (ELA) visando comprovar a efetividade deste método e a correlação com
outros parâmetros de avaliação. Os autores relataram maior sensibilidade do “Sniff” em
relação aos valores de VC frente a pequenas modificações da força muscular, além de
permitirem o uso independentemente do estágio da doença, contrastando com as
pressões respiratórias máximas, que se tornam menos fidedignas e de pior aplicação
com a progressão da doença.
Com o objetivo de analisar a efetividade do método “sniff”, Stefanutti42 recrutou
126 pacientes neuromusculares ou portadores de desordens musculares que foram
submetidos à avaliação das pressões respiratórias máximas, volumes pulmonares e ao
“sniff”. Todos os indivíduos foram capazes de realizar a técnica “sniff” sem dificuldade,
enquanto 10 sujeitos foram incapazes de executar as medidas corretas no aparelho
destinado a mensuração da Pimáx e PEmáx, o manuvacuômetro.
Além disso, principalmente os pacientes portadores de ELA apresentaram grande
dificuldade em medir a PImáx e PEmáx devido à fraqueza bulbar, tornando o resultado
duvidoso. Os autores do estudo afirmam que a técnica “sniff” permite melhor ativação
da musculatura inspiratória (essencialmente o diafragma), parcialmente devido ao
padrão respiratório adotado, que difere do realizado durante esforços inspiratórios
estáticos.
Apesar de comparados nos estudos citados, Stefanutti42 concluiu que os
diferentes tipos de esforço respiratório e padrão de ativação muscular gerados na
medida de PImáx e no “sniff”, provavelmente resultam de aspectos da função muscular
inspiratória distintos. Desta forma, os dois parâmetros não devem ser substituídos, e
sim complementados.
Todos os parâmetros citados anteriormente exigem a motivação e volição do
paciente, devendo os resultados, serem analisados com cautela. Como método
adicional e complementar, pode-se optar pela pressão transdiafragmática obtida após a
estimulação magnética cervical bilateral do nervo frênico, visto que é um teste que não
requer esforço do paciente40.
A pressão expiratória, além de verificada a partir da PEmáx, também pode ser
mensurada por testes não volicionais, além de um teste alternativo que avalia a
pressão gástrica gerada durante o fluxo máximo de tosse40.
A espirometria é um método que fornece medidas das capacidades dinâmicas e
volumes pulmonares. Dentre os parâmetros analisados, existem os valores de volume
expiratório forçado no primeiro segundo VEF1 e a CVF que são úteis no estudo da
função pulmonar frente a um único esforço. Já a análise da saturação de
oxihemoglobina no sangue arterial é útil principalmente em doentes críticos, com
fraqueza muscular avançada, pacientes com risco de aspiração, e em casos de apnéia
noturna. A saturação de oxihemoglobina é um indicador pouco sensível para casos de
hipoventilação, uma vez que a hipoventilação é mensurada pelo dióxido de carbono28.
A VVM avalia a função respiratória durante a atividade dinâmica, sendo definida
como o volume máximo que pode ser inspirado e expirado frente a um esforço
voluntário durante um intervalo de 10 a 15 segundos29. Segundo Rochester28, o fato do
teste ser dinâmico, estaria mais relacionado com a fisiopatologia da doença, e portanto,
forneceria dados mais concretos e fidedignos.
Porém esta técnica de avaliação exige força muscular facial adequada para
adaptação do bucal, além do esforço e cooperação do paciente. Heliopoulos29 afirma
que a VVM promove uma avaliação inespecífica das vias aéreas, parênquima
pulmonar, caixa torácica e diafragma, sendo que baixos valores não identificam qual
componente encontra-se alterado.
Desta forma, as medidas de pressão respiratória máxima provavelmente seriam
os métodos mais sensíveis para a avaliação da função dos músculos respiratórios e
tem demonstrado validade em outras doenças neuromusculares. É uma forma não
invasiva, de baixo custo e fácil realização, que utiliza uma carga constante e apresenta
adequada correlação com outros testes de função pulmonar1,28,29.
Os testes que verificam a força da musculatura ventilatória parecem ser mais
sensíveis que a espirometria para detectar o envolvimento da musculatura respiratória
em pacientes com MG3,20. No entanto, o estudo realizado por Heliopoulos29 revela que
as medidas estáticas de pressões respiratórias máximas, apesar de mais sensíveis,
não correlacionam com o sintoma de dispnéia.
Keenan20 relata que muitos estudos se limitam a verificar a força da musculatura
respiratória utilizando as pressões respiratórias estáticas máximas, porém acredita-se
que a avaliação da resistência destes músculos seja um indicador mais sensível. Isto
porque a doença é caracterizada pela fadigabilidade.
1.1.4 Fisioterapia na miastenia grave
São escassos os trabalhos que abordam o treino da musculatura esquelética
visando o fortalecimento ou aumento da resistência muscular em pacientes com MG.
Lohi10 verificou que além do aumento da força muscular, nenhum efeito adverso ou
desconforto foi encontrado após o treino de fortalecimento da musculatura flexora e
extensora do cotovelo de pacientes com MG, após dez semanas de treinamento. A
literatura tem sugerido a necessidade de alterações na realização das atividades de
vida diária, porém não existe nenhuma evidência científica forte que sustente estas
suposições15.
Há estudos que demonstram os benefícios do treino da musculatura respiratória
em pacientes com MG leve. Além disso, o treinamento físico cuidadoso e seguro em
miastênicos leves podem promover a melhora da força muscular15.
Entretanto, os pacientes com MG devem receber atenção especial, pois o
exercício físico pode levar à fadiga. A fadiga é um sintoma comum tanto em pessoas
saudáveis como em pacientes miastênicos, contudo, a fadiga patológica diferentemente
da fadiga normal, não cessa com o descanso e é caracterizada por uma sensação de
cansaço antes da atividade, falta de energia para executar as tarefas, exaustão após
atividades rotineiras ou todos sintomas em conjunto citados anteriormente. Além disso,
a fadiga pode afetar negativamente a vida de um indivíduo na performance de
atividades físicas ou mentais, assim como na sua qualidade de vida42. Assim, qualquer
tipo de atividade física deve ser programado cuidadosamente para os indivíduos
miastênicos.
1.1.4.1 Treinamento muscular respiratório
O treinamento muscular, de modo geral, visa aumento da força, hipertrofia
muscular, ou resistência das fibras musculares. O aumento da força muscular ocorre por
hipertrofia da fibra muscular, principalmente as fibras do tipo IIb, enquanto o ganho da
resistência decorre essencialmente pelo recrutamento das fibras tipo I38.
Atividades musculares que utilizam cargas elevadas e baixo número de repetições
visam promover a hipertrofia muscular. Já as atividades que utilizam menor intensidade
de carga, porém com repetições prolongadas, tendem a melhorar a resistência
muscular43. A melhora na resistência muscular esquelética está associada ao aumento
da capacidade oxidativa devido aos altos níveis de enzimas oxidativas, grande
quantidade de substratos de lipídios e glicogênio, além do aumento no número de
capilares30.
O treinamento muscular respiratório (TMR) assim como o treinamento de outros
músculos esqueléticos segue os princípios da especificidade e reversibilidade. O primeiro
princípio implica nas alterações estruturais e funcionais decorrentes da natureza do
estímulo aplicado. Já a reversibilidade está presente com a interrupção do treinamento,
em que há um reajuste relacionados a redução da demanda fisiológica e os benefícios
adquiridos durante o treino podem ser perdidos44.
Está bem estabelecido que, como outros músculos esqueléticos, os músculos
respiratórios podem ser treinados visando o fortalecimento ou a endurance, e muitos
estudos têm sido publicados sobre o treino muscular ventilatório38,45.
O fato da disfunção respiratória estar diretamente relacionada com a fraqueza da
musculatura respiratória supõe-se que o fortalecimento destes músculos poderia retardar
ou minimizar o desenvolvimento de complicações decorrentes da redução da força dos
músculos inspiratórios31.
Em diversas doenças na qual a fraqueza muscular é fator determinante para a
morbidade e mortalidade, o treinamento dos músculos inspiratórios tem se mostrado útil
na melhora da função dos músculos respiratórios45. E quando existe fraqueza da
musculatura respiratória, há elevada incidência de insuficiência ventilatória, justificando
assim, o fortalecimento dos músculos respiratórios como forma de prevenção43.
Segundo Gosselink46 existem dois métodos para realização do TMR, sendo o treino
resistivo inspiratório e a hiperpnéia normocápnica. Estas técnicas têm sido descritas e
aplicadas em doenças que cursam com fraqueza da musculatura respiratória associada à
falência respiratória ao repouso ou frente ao esforço. O treino da musculatura inspiratória
por meio do último método citado é realizado utilizando um padrão de hiperpnéia
normocápnica, na qual o paciente realiza uma hiperventilação voluntária, durante um
período pré-determinado (normalmente de 15 a 20 minutos), visando melhora da
resistência muscular. Durante o período de treinamento deve ser mantida a hiperpnéia,
porém com a PaCO2 constante. O método é considerado complexo, não sendo
aconselhável para a realização em domicílio e sem supervisão, visto que há tendência à
diminuição da PaCO2 31.
Outra forma de realizar o TMR é utilizando uma resistência pressórica alinear,
quando o objetivo principal for o aumento da força muscular, uma vez que neste caso, a
resistência à carga inspiratória depende do fluxo inspiratório gerado pelo paciente,
havendo aumento da carga resistida conforme o fluxo inspiratório se altera (fluxo
dependente) 47.
Contudo, o método mais freqüente e seguro, descrito na literatura é a utilização da
carga linear pressórica, na qual é possível um ajuste direto da carga (pressão) de
treinamento. Neste caso, a carga não varia de acordo com o fluxo de ar inspiratório
gerado pelo paciente (fluxo independente). O Threshold® tem sido o aparelho mais
utilizado, e pode ser utilizado para treino de músculos inspiratórios ou expiratórios47.
Nesta técnica, a pressão inicial a ser utilizada no treinamento normalmente é definida pela
pressão respiratória máxima sustentada, obtida pelo aumento gradual da resistência ao
fluxo inspiratório inicial até que ocorra a falha na tarefa, na qual o sujeito é incapaz de
continuar. Ainda pode ser determinada a partir dos valores de pressão respiratória
máxima28.
A maioria dos estudos que utiliza o TMR destina-se a demonstrar os benefícios em
pacientes saudáveis ou portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). O
treino da musculatura respiratória com carga elevada, para pacientes com DPOC pode
retardar ou prevenir a fadiga e a falência dos músculos respiratórios, melhorando seu
desempenho, reduzindo ainda a sensação de dispnéia45,47. Porém, Gosselink e
colaboradores46. afirmam que apesar da grande quantidade de pesquisas que evidenciam
os benefícios do TMR na DPOC, existem apenas dois estudos randomizados, controlados
e validados estatisticamente que comprovam estes efeitos.
Um estudo realizado por Bisschop e colaboradores48 relataram hipertrofia
significativa de aproximadamente 30% das fibras musculares tipo IIa do músculo
diafragma de ratos com mínima alteração das fibras tipo IIb (aproximadamente 6%) do
mesmo músculo frente ao treinamento resistido inspiratório de baixa intensidade.
Porém, alguns autores sugerem que haja um aumento deste valor após poucas
exposições iniciais à técnica, que aparentemente não estaria relacionada à melhora da
força muscular. Além disso, a fadiga dos músculos inspiratórios não parece ser um fator
importante na falha da tarefa em pacientes treinados49. Desta forma, a carga máxima
inicial suportada pelos indivíduos parece estar relacionada principalmente pelo
desconforto do que pela função pulmonar, sendo, portanto, correta a mensuração deste
valor somente após o período de aprendizado da técnica.
Visando analisar a efetividade do treino muscular respiratório e a influência da
familiarização do teste, Sonetti50 recrutaram 17 ciclistas divididos em grupo treinamento e
controle. Ambos foram submetidos a cinco dias na semana, por cinco semanas,
totalizando 25 sessões supervisionados e em domicílio. O protocolo era composto por 30
minutos de treino de hiperpnéia (com aumento progressivo do trabalho respiratório) e
fortalecimento muscular inspiratório com resistor linear pressórico mantido até a falha do
teste (decorrente da fadiga). O grupo placebo era instruído a realizar uma respiração
“placebo” pelo mesmo período total que o grupo teste. Neste estudo, o grupo submetido
ao TMR apresentou aumento significativo de 8% na PImáx, comparado a apenas 3,7%
no grupo placebo. Corroborando com artigos anteriormente citados, o autor ressalta a
possível influência do aprendizado (familiarização), essencialmente em testes que exijam
a volição, sobre a confiabilidade dos resultados.
Dentre as doenças neuromusculares submetidas ao TMR mais estudadas e
relatadas, incluem a Distrofia Muscular de Duchenne e as miopatias33. Nestes, alguns
estudos demonstram os mesmos benefícios do TMR observados em pulmões insuflados,
porém os resultados são controversos.
A eficácia do fortalecimento dos músculos respiratórios pode ser analisada
paralelamente aos resultados controversos obtidos frente ao ganho de força em
músculos apendiculares. Existem algumas hipóteses contrárias ao uso do fortalecimento
nas doenças neuromusculares, na qual ressaltam que a fraqueza do músculo esquelético
presente no doente, o torna incapaz de tolerar o estímulo do treinamento de força
muscular. Além disso, destacam que o fortalecimento pode exceder o limite e até mesmo
lesar as fibras musculares, apesar de nenhum efeito deletério aparente ter sido
observado nos estudos realizados39.
Além disso, a maioria dos estudos não reportou aumento dos volumes e
capacidades pulmonares, com melhores resultados nos pacientes em estágios iniciais da
doença31,39,51.
Portanto, de acordo com Eagle52 o TMR apresenta maior efetividade quando
realizado em músculos com pouco ou nenhum comprometimento, visto que nos estágios
mais avançados das DNM, os pacientes já utilizam, no repouso, suas capacidades
pulmonares máximas. Em músculos respiratórios bastante acometidos, o treinamento
poderia predispor à fadiga muscular.
Apesar da maioria dos estudos não evidenciarem melhora na medida de CV, os
valores de pressões estáticas máximas melhoram significativamente após a aplicação de
protocolos que incluíam um mínimo de seis semanas de TMR em pacientes pouco
acometidos pela doença39.
2 OBJETIVO
Verificar por meio de uma revisão bibliográfica a efetividade do treinamento
muscular respiratório na miastenia grave.
3 MÉTODO
3.1 Tipo de estudo
Revisão da literatura
3.2 Bases de dados e ano de publicação dos estudos
Foram utilizados artigos científicos indexados publicados de 1966 a 2006 nas
bases de dados Medline, Pubmed, Lilacs e Scielo, assim como referências de livros e
teses nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa.
3.3 Critérios de inclusão dos estudos
Foram inclusos os estudos do tipo: estudo de casos, caso controle, ensaio clínico
controlado randomizado e revisões da literatura que analisaram a influência do
treinamento muscular respiratório na miastenia grave.
Como critérios de busca foram utilizadas as palavras-chave: miastenia grave,
doenças neuromusculares, exercícios para os músculos respiratórios, fadiga muscular,
tolerância ao exercício, e as similares em inglês e espanhol, além de termos como
treinamento muscular respiratório, fadiga, força muscular e resistência muscular, onde
ficou estabelecida a relação entre miastenia grave e treinamento muscular respiratório.
O trabalho passou pela aprovação do comitê de ética em pesquisa da UNIFESP
No: 1617/06.
4 RESULTADOS
De acordo com a revisão de literatura realizada para execução deste trabalho
foram utilizados 13 artigos sobre o TMR, sendo que 10 referem-se à análise do TMR
em doenças pulmonares como a DPOC, DNM, evidenciando principalmente a DMD e a
atrofia espinal progressiva, assim como a verificação da efetividade deste treino em
indivíduos saudáveis. Foram encontrados apenas três artigos sobre o TMR na MG.
Os estudos encontrados foram apresentados por ordem decrescente de ano e
nível de evidência e serão expostos a seguir.
Autor/
ano
Tipo de
estudo
População
Fregonezi /2005
Métodos
/intervenções
Objetivos
Resultados
53
Weiner /1998
54
Gross /1993
55
Ensaio clínico controlado randomizado
Série de casos
Série de casos
27 pacientes com MG generalizada
(Osserman IIa e IIb).
18 pacientes com MG. MG de moderada
a severa.
Os
indivíduos
foram
divididos
randomicamente em grupo controle e
treinamento; idade inferior à 75 anos;
condição neurológica e respiratória
estável, sem crises há 2 meses; 60% da
PImáx, não ultrapassando o valor
máximo de 41cmH2O do Threshold®;
nenhuma outra doença associada que
impeça o treinamento
O grupo controle realizou durante a
primeira
visita
ao
retreinamento
respiratório incluindo a respiração
diafragmática e a respiração em
frenolabial, além da orientação sobre
conservação
de
energia.
Foram
encorajados a utilizar as técnicas e a
contatar a equipe, se necessário.
O grupo treinamento foi submetido ao
pré-treinamento e posterior TMI por 8
semanas, 3 vezes/ semana com 20%
PImáx, sendo aumentado para 30% na 3ª
semana, 45% na 5ª semana e 60% na 7ª
semana. A duração da terapia era de 45
minutos, sendo associado o TMI à
respiração
diafragmática
e
em
frenolabial.
Os pacientes foram avaliados antes e
após as 8 semanas de treinamento, de
acordo com parâmetros de função
pulmonar,
padrão
respiratório,
mobilidade torácica, força e resistência
muscular respiratória.
Avaliar os efeitos do TMI combinado ao
programa de retreinamento respiratório
em pacientes com MG.
Pacientes divididos sem randomização
em dois grupos: A: 10 pacientes
(Osserman II e III) receberam o TMI e
TME; B: oito pacientes (Osserman IV)
receberam
apenas
treinamento
inspiratório.
Espirometria antes do treinamento, um e
três meses após o inicio do treinamento.
Medido índice de dispnéia. CVF, VEF1
medidos três vezes e escolhido o melhor
resultado. FM respiratória (PImax,
PEmax, CPT – melhor de três).
Protocolo de treinamento: seis vezes por
semana, durante meia hora, por três
meses. Supervisão do fisioterapeuta. Os
indivíduos do primeiro grupo utilizaram
o Threshold® para o TMI nos primeiros
15 minutos de cada sessão e o mesmo
aparelho segurado de maneira inversa,
para o TME, iniciando o treinamento
com 15% da PImáx ou PEmáx
(previamente avaliados), durante uma
semana.
A
resistência
foi
progressivamente, 5% a cada terapia, até
atingir 60% da PImáx e PEmáx.
23
pacientes
com
doenças
neuromusculares
(doença
do
neurônio
motor,
miastênicos,
síndrome miastênica de Eaton –
Lambert, miopatia inflamatória,
dermatomiosite e poliomiosite)
Os pacientes foram divididos em 3
grupos: Grupo I - 6 sujeitos com
doenças do neurônio; Grupo II - 11
sujeito com doença da JNM (10
miastênicos e 1 síndrome
miastênica de Eaton –Lambert);
Grupo III - 7 sujeitos com doenças
do músculo (miopatia inflamatória,
dermatomiosite e poliomiosite).
TMI com respiração resistida até o
limiar da fadiga, por 10 minutos, 3
vezes ao dia, por 3 meses
consecutivos.
A reavaliação dos parâmetros de
VVM, PImáx, CVF, VEF1 e pico
de fluxo expiratório foi realizada a
cada 6 meses.
Determinar os efeitos do TMR na
performance muscular, nos índices
inspirometricos e de dispnéia.
Determinar os efeitos do TMR na
função e capacidade ventilatória de
pacientes neuromusculares.
O grupo submetido ao treinamento
obteve melhora significativa da PImáx
(27% acima da inicial), PEmáx (12% de
melhora), ventilação voluntária máxima
(8% de aumento), volumes pulmonares e
expansão (44%) e redução (43%)
máxima da caixa torácica, em relação ao
parâmetro inicial e ao grupo controle.
O grupo controle não obteve aumento
significativo dos valores analisados no
estudo.
A media da PImax aumentou em ambos
os grupos (mais no grupo A).
PEmax aumentou no grupo A e
permaneceu inalterada no grupo B. O
endurance
muscular
respiratório
aumentou em ambos os grupos (mais no
grupo A). Houve também aumento da
VEF1, CVF e índice de dispnéia nos 2
grupos.
Conclusão do autor: TMR provou ser
útil como terapia complementar, com o
objetivo de diminuir a dispnéia, adiar
crises respiratórias e a necessidade de
ventilação mecânica precoce.
No grupo I a CVF alterou 14,4% do
predito; no grupo II: 16,3% e no
grupo III: 6,3%.
A VVM e PImáx melhorou nos 3
grupos. Os valores de VEF1 não
modificaram com o treinamento.
Legenda: MG: miastenia grave; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; FM: Força
Muscular; PImax: pressão inspiratória máxima; PEmax: pressão expiratória máxima; CPT: capacidade pulmonar total; TMI: treinamento
muscular inspiratório; TME: treinamento muscular expiratório.
5 DISCUSSÃO
Frente à revisão da literatura foram selecionados além de estudos sobre MG,
artigos relacionados a pacientes com outras doenças pulmonares e neuromusculares.
A sobrecarga dos músculos respiratórios pode ser causada pela redução da força
muscular, presente em DNM e anormalidades sistêmicas, pelo aumento do trabalho
respiratório, observado em obstrução de vias aéreas ou diminuição da complacência da
caixa torácica, ou devido à redução da eficiência ventilatória encontrada em pacientes
hiperinsuflados. Entretanto todos os casos culminam com a fadiga dos músculos
respiratórios, que se não tratada, promove a lesão dos mesmos30.
Portanto, os artigos que abordam o TMR em pacientes com DPOC também foram
discutidos no nosso estudo, uma vez que apesar de serem caracterizados por um
padrão obstrutivo, também necessitam de ganho de força e resistência muscular
respiratória para reverter à desvantagem mecânica destes pacientes. Outra razão é o
fato das doenças pulmonares serem as pioneiras a executar estes exercícios em
músculos respiratórios, fornecendo informações importantes e mais consolidadas sobre
este tipo de tratamento45,56,57.
Já os artigos que recrutaram pacientes com distrofias e miopatias foram
analisados, pois apesar de apresentarem diferenças evidentes, como a causa, quadro
clínico e fisiopatologia, estas doenças possuem semelhanças em relação ao padrão
respiratório dos pacientes com MG. É observada a tendência ao padrão restritivo,
decorrente da fraqueza muscular respiratória, que no caso da DMD, é agravado pelas
escolioses freqüentes38,39,58.
Como citado anteriormente, o TMR pode enfatizar a musculatura inspiratória,
expiratória ou beneficiar ambas. Na maioria dos artigos encontrados, o treinamento é
realizado visando ganho de força e resistência dos músculos inspiratórios, sendo
justificado por alguns autores, devido a maior importância e recrutamento destes
músculos durante a mecânica respiratória3,11. Contudo, sabe-se que a musculatura
expiratória também é prejudicada na MG, principalmente evidenciado na expiração
forçada e no mecanismo de tosse. Um déficit dos músculos expiratórios comprometeria
a eliminação de secreções, tendendo a piora da condição pulmonar.
Nos artigos que submeteram pacientes com DPOC ao TMR, Riera56 e Hill45
utilizaram apenas o treinamento muscular inspiratório (TMI) visando correlacionar com
o nível de dispnéia, performance no exercício e a qualidade de vida. Enquanto
Scherer59 optou pela técnica de hiperpnéia normocápnica em relação aos mesmos
parâmetros analisados nos estudos anteriores.
Na literatura encontrada referente às DNM, nove estudos aplicaram somente o
TMI31,58,60, um optou pelo treinamento inspiratório e expiratório39, um pela hiperpnéia e
um pela contração isométrica de músculos peitorais31.
Dentre os três trabalhos que utilizaram o TMR em pacientes miastênicos,
Fregonezi53 realizou apenas TMI, porém associado à respiração diafragmática e com
padrão de freno-labial em um grupo intervenção e no controle, sendo neste, sem uso
de carga. Enquanto isso, Weiner54 optou pelo treinamento de ambas as musculaturas
no grupo de pacientes menos acometidos e de TMI no grupo mais afetado.
Baseado nestes estudos verifica-se que apenas o TMI foi capaz de melhorar a
força muscular respiratória, mobilidade de caixa torácica, padrão respiratório,
resistência muscular e índice de dispnéia em pacientes miastênicos, independente da
gravidade da doença.
Apesar do treinamento de ambas as musculaturas fornecerem aumento dos
valores de PImáx, foi verificado que o treino isolado dos músculos inspiratórios permitiu
a melhora desta medida. Contudo, é importante ressaltar que no estudo de Fregonezi53
combina-se o TMI à respiração com padrão de freno-labial, que embora não seja
diretamente relacionado aos músculos expiratórios, promove uma resistência de 2 a
4cmH20 durante a expiração. Soma-se a isso, o fato de apresentarem algumas
diferenças metodológicas.
Embora seja importante a comparação entre os resultados, a análise crítica dos
artigos denunciou disparidades em fatores como o protocolo de TMR escolhido, o
critério de divisão dos grupos e a gravidade da doença, permitindo somente o
pareamento das informações.
O TMR verificado na maioria da bibliografia consultada faz uso de um resistor
linear pressórico, como o Threshold®39,58,53,54. A razão envolveria essencialmente a
segurança que o instrumento fornece, além da praticidade, baixo custo e por ser
considerado um método não invasivo38. Como verificado nas três referências de TMR
na MG, sugere-se que no TMR de indivíduos miastênicos, este também seja o melhor
método de escolha.
A hiperpnéia normocápnica, apesar de visar a otimização da resistência muscular
respiratória, é um método complexo e necessita de um supervisor para a sua
realização, dificultando a utilização em domicílio. Este fator se torna bastante limitante
quando o uso da técnica visa o TMR, visto os protocolos encontrados nos artigos, que
exigem o mínimo de aplicação de três vezes por semana, como duração média de três
meses, como descrito posteriormente31,46.
Budweiser57 executou um ensaio clinico estudo randomizado controlado, em que
utilizou esta técnica associada à ventilação mecânica não invasiva em 28 pacientes
com padrão respiratório restritivo por três meses ininterruptos, em um mínimo de dez
minutos com baixa freqüência, duas vezes ao dia. Os resultados demonstram
alterações pouco significativas na performance do exercício e na qualidade de vida dos
pacientes do grupo intervenção.
Sugere-se que o treino com o resistor alinear pressórico também não seja a
primeira opção de escolha na MG, uma vez que, de acordo com a fisiopatologia da
doença, o principal déficit refere-se à resistência muscular. Tendo em vista que este
tipo de exercício visa o fortalecimento dos músculos respiratórios, por ser fluxo
dependente, acredita-se que aumentaria o risco de fadiga muscular além de não tratar
diretamente o maior comprometimento dos miastênicos47.
Como visto anteriormente, os pacientes com MG apresentam comprometimento
da musculatura esquelética ocular, axial e de membros superiores, com períodos de
remissão, exacerbação e flutuação da fraqueza e da fadiga muscular. Contudo, o
comprometimento respiratório é o mais preocupante, uma vez que a diminuição da
força e resistência da musculatura respiratória pode ser um importante fator de risco
não apenas para o decréscimo da qualidade de vida e funcionalidade do indivíduo,
como também para o desencadeamento da crise miastênica, falência respiratória e
morte.
Frente a esse quadro, o estudo do TMR em pacientes com MG mostra-se como
forte aliado no entendimento e reabilitação dessa doença, visto que o TMR provou ser
útil na melhora da função muscular respiratória em diversas doenças, onde a fraqueza
muscular pode determinar a morbidade e mortalidade. Assim, há possibilidade de
prevenir ou minimizar as complicações pulmonares decorrentes da fraqueza muscular
respiratória que leva à fadiga, dispnéia, crise miastênica, intubação traqueal, ventilação
mecânica precoce e morte53.
Dessa forma, a ausência de revisões bibliográficas e a pobreza de estudos sobre
o TMR na MG denunciam a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto,
permitindo a realização de estudos de caso e ensaios clínicos com seguranças nestes
pacientes. Para tanto, é preciso uma completa compreensão sobre a fisiopatologia da
MG assim como as vantagens e as desvantagens do TMR, evitando possíveis riscos
decorrentes do uso da técnica.
A principal barreira do TMR nestes pacientes é a fadiga, que limita a realização de
exercícios prolongados, mantidos e/ou intensos. Isto porque a atividade muscular
respiratória acentua o fenômeno de bloqueio sináptico de parte dos AChR, justificando
o mecanismo de fadigabilidade. Como resultado, o déficit motor se torna mais
freqüente durante a solicitação muscular e no final do dia61.
Portanto, o TMR na MG, assim como nas demais DNM somente deve iniciar após
uma criteriosa seleção do protocolo a ser aplicado.
Sabe-se que em condições normais, os músculos inspiratórios tendem a trabalhar
contra uma baixa resistência, sugerindo que o protocolo de treinamento visando a
resistência muscular seja mais benéfico em relação ao fortalecimento, por assemelhar
a mecânica respiratória normal. No entanto, quando os músculos respiratórios
encontram-se enfraquecidos como na MG, o fortalecimento pode ser necessário,
principalmente se incluso no protocolo de resistência muscular. Porém, normalmente é
exatamente nestes casos em que o fortalecimento, que exige vencer elevadas
resistências, não é bem tolerado30.
Riera56 utilizou um protocolo de TMR, contudo em 20 pacientes com DPOC.
Assim como nos outros estudos citados, os sujeitos foram divididos em grupo de
treinamento e grupo controle. O primeiro grupo foi orientado a realizar seis meses de
TMI com um instrumento de válvula bidirecional, seis vezes por semana, 30 minutos
por dia em domicílio.
Diferente dos demais protocolos analisados neste trabalho, Riera56 utilizou como
valor de referência da carga a ser aplicada, uma porcentagem da pressão inspiratória
máxima sustentada e não da PImáx. Portanto, neste estudo, a mensuração da PImáx
foi feita apenas com o objetivo de analisar a influência da força no padrão respiratório.
A carga definida variou entre 60 e 70% deste valor, correspondendo a
aproximadamente 30% da PImáx. O aumento de -3 a -4 cmH20 da pressão máxima
inspiratória sustentada corresponde a 10 cmH20 da PImáx56.
Para determinar a pressão máxima sustentada, inicialmente os pacientes
respiravam por 2 minutos sem uso de carga seguido do aumento da resistência para 6cmH20, sendo elevados -2 cmH20 a cada 2 minutos até atingir uma pressão que não
pudesse ser mantida por um mínimo de 60 segundos. Os autores defendem que a
habilidade de sustentar uma determinada pressão não estaria relacionada a uma
fração da PImáx56.
Scherer59 aplicou a técnica de hiperpnéia normocápnica em 30 pacientes com
DPOC divididos aleatoriamente em grupo intervenção e grupo controle. Ambos
treinaram com um resistor pressórico, duas vezes por semana, com duração de 15
minutos, cinco dias na semana, por oito semanas. Houve alterações na resistência dos
músculos respiratórios, PEmáx e na capacidade de desempenho na caminhada de 6
minutos em ambos, porém melhores no grupo intervenção. Alguns parâmetros como
dispnéia e PImáx não sofreram modificações significativas entre os grupos.
Hill45 verificou os efeitos do TMI sobre os valores de dispnéia e fadiga, qualidade
de vida e função pulmonar em indivíduos com DPOC de moderada a severa. O
treinamento foi realizado a intensidade máxima tolerada (101% da PImáx) em 16
pacientes, enquanto que no outro grupo, o TMI à baixa intensidade (10% da PImáx) foi
realizado em 17 pacientes. O treinamento teve duração de oito semanas, com sessões
de três vezes por semana e supervisionado constantemente pelos autores do estudo.
O TMI com intensidade máxima acarretou em melhora dos índices de dispnéia, fadiga
e da função pulmonar comparado com o TMI com baixa intensidade, entretanto, a
qualidade de vida comparada entre os dois grupos, mostrou melhora discreta no grupo
de treinamento com baixa intensidade.
A preocupação com a qualidade de vida de um indivíduo com algum tipo de
enfermidade é referenciada em diversos estudos45,56,59. É extremamente importante
que qualquer tipo de tratamento vise sempre a funcionalidade dos estudos na vida do
indivíduo, ou seja, a visão de como a vida do paciente pode ser mudada para melhor
ou pior, a partir de determinada intervenção, deve sempre guiar qualquer tratamento.
Na DPOC, os estudos selecionados concluem que o uso de um resistor linear
pressórico é benéfico em relação à melhora da dispnéia, qualidade de vida e
performance em exercícios de força e resistência muscular. No entanto, a técnica de
hiperpnéia não apresentou melhora em todos os parâmetros avaliados45,56,59.
Como previamente descrito, existem diversas publicações referentes ao TMR em
DNM, porém poucas destinadas à MG. Utilizando pacientes portadores de distrofias
musculares, Estrup60 aplicou um protocolo de oito semanas, sendo quatro para
fortalecimento muscular e quatro para ganho de resistência muscular respiratória em
12 pacientes e seis indivíduos saudáveis.
O fortalecimento era realizado por meio de um procedimento no qual o paciente
inspirava com a glote aberta por 10 segundos até atingir a CPT, seguido de uma
expiração máxima sustentada de 10 segundos até o volume residual. Eram realizadas
quatro séries diárias de seis repetições. Já a resistência era obtida pelo treino com
resistor pressórico a 70% da PImáx, quatro vezes ao dia, com duração de 7,5 a 15
minutos. Ao término, foi encontrado aumento significativo da CV e resistência
respiratória no grupo investigação, comprovada pela melhora em 70% na VVM60.
Koessler58 publicou um artigo visando avaliar a função pulmonar e dos músculos
respiratórios após dois anos de TMI em 27 pacientes com DNM (18 DMD e nove AME).
Além disso, foi questionada a influência do fator motivacional e da gravidade da doença
nos resultados do TMI.
O treino consistia em realizar 10 ciclos respiratórios de 1 minuto cada,
intercalados por 20 segundos de repouso. A resistência utilizada variou de 70 a 80% da
PImáx, devendo ser realizados 10 ciclos, duas vezes ao dia (treino de força e
resistência). Após 15 minutos do treino de resistência, o protocolo exigia 10 esforços
inspiratórios estáticos máximos, gerando um mínimo de 90% da PImáx, com 20
segundos de intervalo entre as manobras. Caso o paciente não atingisse o mínimo
necessário, o teste era repetido até completar as 10 inspirações55. Os resultados deste
autor denunciaram um aumento da PImáx e VVM12 em todos os grupos, porém
principalmente em pacientes com maior CV inicial.
Gozal e Thiriet39 submeteram um grupo de 11 pacientes com DMD e AME a um
protocolo experimental de seis meses de treinamento com resistor linear pressórico
(Threshold®) inspiratório e expiratório, duas vezes ao dia, todos os dias da semana.
Foram formados dois grupos controle de indivíduos saudáveis para comparação com
outros dois grupos de pacientes com e sem uso de carga. O grupo era orientado a
respirar (inspiração e expiração) inicialmente frente a menor resistência (-7 cmH20),
seguida por 1 minuto de repouso. O procedimento era repetido, porém com aumento
progressivo de -2 cmH20 até atingir a taxa de pressão máxima de treinamento, ou seja,
30% da PImáx ou PEmáx. Assim como o estudo anteriormente descrito, parte do
protocolo foi destinado a um período de pré-treinamento da prática, no entanto, com
período indefinido, com tempo suficiente para que os sujeitos compreendessem a
técnica apropriadamente. Entretanto neste caso, a supervisão era feita pelas anotações
em um diário sobre o desempenho, além do telefonema semanal, com o intuito apenas
de lembrete, evitando o esquecimento39. Encontrou-se melhora significativa da PImáx e
PEmáx, assim como a redução na RPL (escala visual analógica modificada de Borg)
que foi mantida até 12 meses após a aplicação do protocolo, diferente dos valores de
PImáx e PEmáx, que retornaram ao valor inicial após três meses. Não foi encontrada
nenhuma melhora no grupo controle.
Nunes38 realizou o TMI em 14 indivíduos com DNM (distrofia cintura-membros,
atrofia muscular espinhal, Distrofia de Becker e distrofia facio-escápulo umeral). O
protocolo foi utilizado por um período de 30 dias, com duração de 20 minutos cada
sessão, uma vez por dia. Cada paciente recebia as orientações prévias a respeito do
uso do resistor linear pressórico (Threshold®) destinado ao TMI, além de seu próprio
aparelho portátil para utilização em domicílio e uma folha de orientações descrevendo
todo o procedimento. A carga utilizada para o TMI foi de 40% da PImáx, 10% superior à
carga mínima de treinamento sugerida por outros estudos56,62. E ainda, associado ao
treinamento, os pacientes fizeram uso de medicamento esteróide (oxandrolona). Como
resultado, a autora encontrou melhora da força dos músculos inspiratórios, entretanto,
com efeito de caráter transitório38. E assim como verificado em outros estudos33,58 não
se sabe a verdadeira eficácia do TMR em longo prazo para os pacientes com DNM. A
musculatura respiratória parece exibir as mesmas características adaptativas ao
treinamento dos outros músculos esqueléticos, pressupondo assim, que o TMR poderia
seguir os mesmos princípios de intensidade, duração do estímulo e especificidades do
treinamento de outro músculo esquelético, entretanto, argumenta-se que o cuidado ao
se treinar a musculatura respiratória em pacientes DNM deve ser redobrado, uma vez
que há o risco de acelerar a fadiga dos músculos respiratórios pelo excesso de
trabalho33,58 verificou ainda que as melhoras encontradas após o TMR dos valores de
PImáx e PEmáx, voltaram a níveis de pré-treinamento assim que houve a
descontinuidade do treinamento.
Os estudos acima descritos em pacientes neuromusculares utilizaram parâmetros
de avaliação e técnicas diferenciados, contudo todos apresentaram resultados positivos
à curto prazo, sem efeitos adversos evidentes.
Uma revisão bibliográfica realizada por Mccool31 demonstrou que dentre oito
artigos analisados de TMR em DNM, dois apresentaram melhora da PImáx, o que
corrobora com o estudo de Nunes38. A PEmáx não apresentou alteração em nenhum
estudo, podendo-se explicar pelo foco do treinamento não se destinar à musculatura
expiratória. A resistência muscular otimizada após o protocolo esteve presente em
quatro trabalhos, enquanto a CV, VRE e a VVM aumentaram em estudos distintos.
Os estudos posteriormente citados foram aqueles nos quais os autores optaram
pela aplicação do TMR em indivíduos miastêncos.
Weiner54 verificou os efeitos do TMR na performance muscular, nos índices
inspirométricos e de dispnéia em 18 pacientes com MG. Os pacientes foram divididos
em dois grupos: 10 pacientes com comprometimento de médio a moderado, receberam
treinamentos musculares inspiratório e expiratório, e 8 pacientes com miastenia severa,
foram submetidos apenas ao treino muscular inspiratório. Os indivíduos do primeiro
grupo utilizaram o resistor linear pressórico (Threshold®) para o TMI nos primeiros 15
minutos de cada sessão e o mesmo aparelho segurado de maneira inversa, para o
treinamento muscular expiratório (TME), iniciando o treinamento com 15% da PImáx ou
PEmáx (previamente avaliados), durante uma semana. A resistência foi então
aumentada progressivamente, 5% a cada terapia, até atingir 60% de suas PImáx e
PEmáx no final do primeiro mês, que se manteve nos dois meses seguintes do estudo.
Os indivíduos do segundo grupo receberam apenas o TMI durante todas as sessões,
seguindo o mesmo protocolo. Como resultado, verificaram a melhora nos valores de
PImáx em ambos os grupos, enquanto a PEmáx aumentou apenas no primeiro grupo.
A resistência muscular respiratória aumentou em ambos os grupos, sendo mais
pronunciada no primeiro grupo. Houve também aumento da VEF1, CVF e índice de
dispnéia nos dois grupos. A justificativa do autor em fazer apenas o TMI nos pacientes
mais comprometidos foi de diminuir a sobrecarga de treinamento, entretanto, o estudo
aparentou ser tendencioso, uma vez que os pacientes menos comprometidos
receberam ambos os treinamentos inspiratórios e expiratórios. Apesar de comprometer
o resultado em relação ao objetivo proposto, foi possível comparar a efetividade do TMI
isolado e a associação de TMI e TME em pacientes com MG. Com isso, verificou-se
melhora da função pulmonar e da dispnéia em ambos os grupos, ficando incertos os
benefícios do TMI associado ao TME. E ainda, o estudo não apresentou um grupo
controle para comparação dos resultados e verificar se houve melhora efetiva. Outro
fator de confusão do estudo foi o fato de todos os pacientes estarem sob medicação de
anticolinesterásicos, e 11 pacientes estarem sob medicação de esteróides, impedindo
comprovar se o treinamento isolado, sem medicação é realmente efetivo para as
melhoras encontradas.
Gross55 recrutaram 23 pacientes neuromusculares que foram divididos em três
grupos de acordo com a fisiopatologia da doença, sendo um grupo formado por seis
sujeitos portadores de doenças do neurônio motor, outro com sete pacientes com
acometimento muscular primário (distrofias, poliomiosites e dermatomiosites) e o
terceiro grupo composto por 11 indivíduos com doenças da JNM apresentando
severidade grau III e IV (classificação de Osserman), envolvendo principalmente a MG.
Todos os pacientes foram submetidos ao TMI profilático, na qual deveriam realizar um
ciclo de respirações resistidas até o limiar da fadiga, por 10 minutos, três vezes ao dia.
Apesar do treino visar o ganho de resistência (comprovada com a melhora de 44% na
VVM do grupo de doenças da JNM), houve melhora nos parâmetros que avaliam força
muscular, como a PImáx (aumento em 70% do mesmo grupo) após os três meses de
treinamento. Os demais gurpos também apresentaram melhora significativa dos
parâmetros avaliados após seis semanas e principalmente ao término do terceiro mês.
No artigo de Fregonezi53 o programa de treinamento é baseado em TMI
combinado com o re-treinamento respiratório por meio da respiração diafragmática e
respiração com padrão de freno-labial em pacientes com MG. Os pacientes do grupo
controle recebiam uma sessão de re-treinamento respiratório e orientações sobre
conservação de energia Já os pacientes que pertenciam ao grupo teste foram
submetidos a três dias de TMI com carga mínima e respiração diafragmática para
aprendizado do método. Posteriormente, o protocolo envolvia oito semanas
consecutivas, três vezes por semana (uma no hospital e duas em domicílio), com
duração de 45 minutos cada sessão. Com a supervisão mantida durante todo período,
o treino consistia em 10 minutos de respiração diafragmática seguido por 10 minutos
de TMI utilizando o resistor linear pressórico (Threshold®), e 10 minutos de respiração
em frenolabial. Os sujeitos tinham 5 minutos de repouso após o término de cada bloco
de 10 minutos. O grupo iniciava com carga de 20% da PImáx, evoluindo para 30% na
terceira semana, prosseguindo para 45% na quinta semana e finalizando com 60% na
sétima semana. Durante as três primeiras semanas, o treino era de cinco séries de TMI
com 2 minutos de duração cada, seguindo posteriormente na quarta, quinta e sexta
semanas com redução para quatro séries compostas por 2, 3, 3 e 2 minutos,
respectivamente. As duas últimas semanas foram destinadas a três séries de 3, 4 e 3
minutos, sendo o tempo de repouso total entre as séries, reduzido de 8 minutos (na
primeira semana) para 4 minutos na última.
Como resultado, o autor verificou melhora significativa da Pimáx, PEmáx e
mobilidade da porção superior de caixa torácica quando comparada ao grupo controle.
Entretanto, nenhuma modificação na função pulmonar foi encontrada.
Visto a escassez de artigos específicos ao tema abordado neste trabalho, é válida
uma análise mais criteriosa sobre este estudo. Partindo de um total de três artigos
sobre TMR na MG, este definitivamente é o que apresenta maior embasamento
bibliográfico, visto que foi o primeiro dentre os três a ser randomizado e controlado,
além de utilizar como referência os dois estudos anteriores. Desta forma, a margem de
erro foi reduzida por não cometer erros presentes nestes experimentos.
É importante ressaltar que o autor recrutou um número de sujeitos considerável,
porém todos apresentam 60% da Pimáx e classificação IIa e IIb, indicando pouco
comprometimento de musculatura respiratória e de orofaringe. Provavelmente os
resultados positivos também decorrem deste fator, não podendo concluir se o mesmo
seria verificado em pacientes miastênicos mais acometidos. Gross55 assim como
Weiner54 recrutaram pacientes miastênicos bastante comprometidos (grau III e IV de
Osserman), que apresentavam reduções significativas em volumes, capacidades e
medidas de força e resistência dos músculos respiratórios. Contudo, obtiveram
resultados positivos na função pulmonar e capacidade respiratória, sem relatos de
efeitos adversos como fadiga extrema.
A inclusão de três técnicas (frenolabial, respiração diafragmática e TMI) no
protocolo de treinamento, dificulta a análise dos benefícios de cada método isolado. A
melhora dos valores avaliados pode ser atribuída apenas ao TMI como à associação
entre as demais. Este viés não foi encontrado nos outros artigos que abordam o TMR
na MG, visto que a metodologia foi limitada ao uso da respiração resistida.
A carga utilizada pelo autor variou durante a aplicação do protocolo, sendo a
maior resistência de 60%. O fato de não ultrapassar 70% da Pimáx, sugere que os
resultados estejam somente direcionados ao ganho de resistência muscular,
coincidindo com o objetivo de Weiner54. Porém a intercalação de treino aeróbico e
anaeróbico gerado pela variação da carga favoreceu o trabalho de fortalecimento
muscular.
Assim como os dois autores anteriormente citados, Fregonezi53, questiona se a
melhora encontrada após a aplicação do protocolo de treinamento não estaria
relacionada ao fator aprendizado. Porém acredita-se que não haja correlação entre os
fatores, visto que caso fosse verdadeiro, a melhora ocorreria apenas nos primeiros dias
de treino (divergindo do resultado dos estudos), em que há a habituação com a técnica.
Diante dos protocolos de TMR em MG, acredita-se que o protocolo mais eficaz
essencialmente consiste na aplicação por um período contínuo, em dias intercalados,
supervisionado e com acompanhamento por período prolongado. Dessa forma, os
princípios propostos por um treinamento muscular seriam atingidos, evitando a
exaustão do paciente, a não aderência ao protocolo estabelecido e a avaliação da
melhora dos parâmetros em longo prazo.
Portanto, o desenvolvimento de um protocolo individualizado, de acordo com a
fisiopatologia da doença, permite promover um treinamento rigoroso, porém sem
sobrecarregar a função dos músculos respiratórios do paciente.
Frente aos protocolos previamente citados, ficou evidente o benefício do TMR
visando o ganho de força e resistência muscular respiratória. Todavia, existem algumas
limitações e barreiras que dificultam a execução desta técnica, principalmente em
pacientes com MG.
A dificuldade em cumprir rigorosamente os protocolos, normalmente compostos
de várias repetições com duração média de 30 minutos, diversas vezes na semana, por
meses, pode ser considerada um fator bastante relevante para o resultado do TMR.
Por esta dificuldade, associada à necessidade e comodidade em realizar o treino em
domicílio, torna a supervisão e controle sobre o paciente, falho e questionável. Apesar
dos pacientes serem orientados e treinados por profissionais para a realização do
treinamento, sabe-se que existe a possibilidade dos pacientes realizarem de maneira
errônea e ineficaz o TMR, ou ainda, não seguir o protocolo corretamente, devendo o
resultado ser analisado com cautela33,38,56,58.
Além disso, os benefícios de tratamentos que exijam motivação e necessitem do
fator volicional, como o TMR, são questionáveis. Depender não apenas da condição
física, fator bastante limitante na MG, mesmo analisado isoladamente, mas também do
estado emocional, possibilita atingir resultados extremamente controversos e distintos.
A disparidade no tipo de incentivo fornecido por cada examinador permite que os
resultados sejam facilmente manipulados na avaliação prévia, durante o TMR e na
análise posterior. Entretanto, os estudos que realizaram o TMR afirmam que os
resultados positivos são decorrentes de uma melhora verdadeira e não apenas um
fator motivacional54.
A falta de consenso sobre como deve ser realizado o TMR é outra limitação para
a expansão desta técnica. A seleção da carga, o tipo de instrumento, o número de
repetições e a duração do protocolo são apenas alguns fatores que necessitam de
pesquisas para possível definição e aplicação pelos profissionais, permitindo o efeito
máximo com segurança.
Um exemplo sobre a falta de consenso é o tempo de duração dos protocolos
aplicados principalmente na MG, visto a falta de pesquisas. Romer44 relatam que a
maioria dos experimentos tem duração de quatro a oito semanas, porém tem sido
verificado que os efeitos significativos da função muscular respiratória ocorrem até a
sexta semana. A explicação pode ser apenas a motivação dos sujeitos como a
existência de um platô fisiológico na capacidade de modificação da estrutura muscular
respiratória.
Alguns autores39,58,60 realizaram protocolos em que o treino é diário ou até mesmo
diversas vezes ao dia. Já Fregonezi53 descreve que a aplicação do treinamento
diariamente seria inapropriado para a fisiopatologia da MG. Os exercícios repetitivos
causariam diminuição de íons potássio necessários para contração muscular, que
aumentaria com o repouso.
A aplicação empírica e irresponsável, sem a utilização associada de critérios que
permitam garantir a segurança da vida do paciente também deve ser ressaltado. Nos
estudos presentes neste trabalho, não há relato sobre métodos utilizados para controlar
o limite máximo suportado pelo paciente, evitando a fadiga. Não foram citadas escalas,
apresentação clínica (cianose, ptose palpebral, alterações na voz entre outros) ou
qualquer forma de mensurar o estado de fraqueza e fadiga no miastênico e nas demais
DNM. Alguns protocolos eram mantidos até que o paciente não tolerasse o exercício e,
portanto, falhasse na execução da tarefa, promovendo riscos à saúde do paciente.
Para tanto, alguns estudos sugerem a utilização do TMR apenas em pacientes
miastênicos com pouco comprometimento, visto que estes apresentam maior tolerância
ao esforço. Contudo, sabendo-se que as dificuldades decorrentes do comprometimento
respiratório normalmente surgem em estágios mais avançados, o treino prévio teria a
função de prevenção e retardo da evolução dos déficits respiratórios38.
Poderíamos pensar ainda, se a melhora dos valores de PImáx e PEmáx
observada com o TMR são decorrentes da melhora da força da musculatura
respiratória ou se as mudanças dos volumes pulmonares também teriam influência
sobre esses valores. Ou ainda, se a melhora da força muscular respiratória levaria a
melhora dos volumes pulmonares e conseqüentemente dos valores medidos por meio
dos testes pulmonares. Sabe-se que se há melhora dos volumes pulmonares, o
indivíduo pode conseqüentemente, ter melhor desempenho nas medidas de função
respiratória. Entretanto, segundo Weiner54, apesar de haver a possibilidade do volume
residual diminuir após o TMR, a magnitude da melhora da musculatura respiratória é
muito alta para correlacionar apenas as mudanças dos volumes pulmonares com o
aumento dos valores de PImáx e Pemáx. No entanto, não há consenso se a melhora
encontrada nos pacientes que foram submetidos ao TMR está diretamente relacionada
com alterações nos volumes pulmonares.
A característica da reversibilidade no TMR é bastante discutida, porém pouco
comprovada nos artigos, uma vez que a maioria não realiza a avaliação do paciente a
longo prazo. Dentre os estudos em pacientes miastênicos, o período máximo de
avaliação dos efeitos foi de 12 meses. Porém descreve-se que a força e resistência
muscular respiratória tende a retornar ao valor inicial, após poucos meses do término
do treinamento, enquanto a melhora do nível de dispnéia permaneceria por maior
período.
O fato de ocorrer a reversibilidade em curto período gera dúvidas quanto à
vantagem real da utilização deste método, pois se trata de um tratamento cansativo e
desgastante ao paciente miastênico, que frequentemente não apresenta condições
físicas de realizar simples atividades de vida diária. Porém, nenhum estudo aplicado
nestes pacientes, evidenciou durante o período pós treinamento (até um ano) piora
além do patamar inicial, o que pode comprovar que o TMR manteve o paciente estável,
ou melhor, após meses durante e após o treinamento.
A ausência de estudos sobre este fator em miastênicos direciona a análise dos
resultados em indivíduos saudáveis. Romer44 submeteram 24 indivíduos saudáveis
divididos em quatro grupos, ao TMI. Cada grupo recebia durante seis dias na semana,
por nove semanas consecutivas o treino com uma resistência específica, sendo o
grupo A submetido à pressão elevada e fluxo baixo, B o inverso, C a pressão e fluxo
intermediário e D sem uso de carga. Visando analisar a manutenção do efeito pós
treinamento, a função pulmonar foi avaliada ao término do protocolo e após 18
semanas.
Foi verificado que após nove semanas, o grupo A melhorou os valores de
pressão, o B aumentou o fluxo, o C apresentou melhora de fluxo e pressão, enquanto o
D não obteve alteração nos valores. Após nove semanas foi observada pequena piora
da função dos músculos respiratórios, atingindo um platô até a 18ª semana, porém não
reduzindo além dos valores iniciais. Foi verificado ainda que a manutenção do treino
com dois terços da carga usada no protocolo foi capaz de estabilizar os ganhos obtidos
durante um mínimo de 18 semanas44.
Os estudos que associaram o TMR ao uso de medicamentos38,54 também devem
ser questionados quanto à credibilidade do TMI ou do TME sobre os benefícios
encontrados, uma vez que os medicamentos podem ter interferido na convergência dos
resultados, como a melhora da força dos músculos inspiratórios, valores de PImáx,
VEF1, CVF e no índice de dispnéia. A maioria dos pacientes tratados com
anticolinesterásicos apresentou melhora significante, entretanto, muitos pacientes com
MG podem permanecer com a performance respiratória comprometida. Além disso, a
superdosagem com anticolinesterásicos pode resultar na exacerbação do quadro de
fraqueza muscular. Os corticoesteróides também podem melhorar os sintomas dos
pacientes com MG, contudo, também existe o risco do aumento da fraqueza muscular
devido aos efeitos miopáticos produzidos pela droga54.
Durante o desenvolvimento deste trabalho, tornou-se evidente a urgência de mais
estudos abordando o TMR na MG, assim como em outras DNM. A literatura escassa
sobre a fisioterapia nestas doenças culmina na dificuldade cotidiana verificada por
estes profissionais durante o tratamento.
Desta forma, a reabilitação tende a atuar no empirismo, sem fundamentação
científica, provocando riscos à vida do paciente. O TMR utilizado incorretamente pode
ser ineficaz por subestimar a capacidade pulmonar do miastênico, ou levá-lo à fadiga e
possível insuficiência respiratória, quando ultrapassado o limite suportado pelos
músculos respiratórios.
6 CONCLUSÃO
O estudo sobre o efeito do TMR é uma importante ferramenta na tentativa de
otimizar a função respiratória na MG e consequentemente permitir a melhora da
qualidade de vida destes pacientes. Tendo em vista que o comprometimento pulmonar
na MG pode culminar na insuficiência respiratória e óbito, e que se trata de uma
doença incurável, o TMR pode se tornar um forte aliado como alternativa de
tratamento.
Com base nos resultados encontrados, o TMR principalmente em pacientes pouco
comprometidos, parece ser eficiente na melhora da força e resistência muscular
respiratória, assim como nos índices de dispnéia e qualidade de vida, porém a
correlação entre estes parâmetros e os índices espirométricos ainda não está
totalmente estabelecido.
A relevância do tema, contrastando com a escassez de estudos, denunciam a
necessidade de maior quantidade de publicações qualificadas, possibilitando a
utilização da técnica pelo fisioterapeuta de forma eficaz e segura.
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 Muñoz-Fdez C, Diez-Tejedor E, Frank A, Pino JM, Pérez C, Barreiro P. Maximal
respiratory pressures in myasthenia gravis–relation to single fiber electromyography.
Acta Neurol Scand. 2001; 103: 392-395.
2 Kothari MJ. Myasthenia gravis. JAOA. 2004; 104: 377-384.
3 Zulueta JJ, Fanburg BL. Respiratory dysfunction in myasthenia gravis. Clin Chest
Med. 1994; 15: 683-691.
4 Levy JA, Oliveira ASB. Reabilitação em Doenças Neurológicas: guia terapêutico
prático. São Paulo: Atheneu, 2003.
5 Kernich C. A.; Kaminski H.J. Myasthenia Gravis: Pathophysiology, Diagnosis and
Collaborative Care. J of Neuroscience Nursing. 1995; 27: 207-215.
6 Cunha FMB, Scola RH, Werneck LC. Miastenia Grave: avaliação clínica de 153
pacientes. Arq Neuro-Psiquiatr. 1999; 57: 457-464.
7 Thanvi BR, Lo TCN. Update on myasthenia gravis. Postgrad Med J. 2004; 80: 690700.
8 Assis JL. Miastenia Grave. São Paulo: Sarvier, 1990.
9 Panda S, Goyal Vinay, Behari M, Singh S, Srivastava T. Myasthenic crisis: A
retrospective study. Neurol India. 2004; 52: 453-456.
10 Lohi EL, Lindberg C, Andersen O. Physical training effects in myasthenia gravis.
Arch Phys Med Rehabil. 1993; 74: 1178-1180.
11 Mier-Jedrzejowicz AK, Brophy C, Green M. Respiratory muscle function in
myasthenia gravis. Am Rev Respir Dis. 1988; 138: 867-873.
12 Litchfield M, Noroian E. Changes in selected pulmonary functions in patients
diagnosed with myasthenia gravis. J Neurosc Nurs. 1989; 21: 375-381.
13 Rio FG et al. Breathing pattern and central ventilatory drive in mild and moderate
generalised myasthenia gravis. Thorax. 1994; 49: 703-706.
14 Hill M. The neuromuscular junction disorders. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003;
74; 32-37.
15 Skeie GO et al. Guidelines for treatment of autoimmune neuromuscular transmission
disorders. Eur J Neurol. 2006; 13: 691-699.
16 Gracey DR, Divertie MB, Howard FM. Mechanical ventilation for respiratory failure in
myasthenia gravis: two years experience with 22 patients. Mayo Clin Proc.1983; 58:
597-602.
17 Griggs RC, Donohoe KM, Utell MJ, Goldblatt D, Moxley RT. Evaluation of pulmonary
function in neuromuscular disease. Arch Neurol. 1981; 38: 9-12.
18 Mehta S. Neuromuscular disease causing acute respiratory failure. Respir Care.
2006; 51: 1016-1021.
19 Aggarwal AN, Gupta D, Behera D, Prabhakar S, Jindal SK. Intensive respiratory care
in patients with myasthenic crisis. Neurol India. 2002; 50: 348-51.
20 Keenan SP, Alexander D, Road JD, Ryan CF, Oger J, Wilcox PG. Ventilatory muscle
strength and endurance in myasthenia gravis. Eur Respir J. 1995; 8: 1130–1135.
21 Quera-Salva MA et al. Breathing disorders during sleep in myasthenia gravis. Annals
Neurol. 1992; 31: 86 -92.
22 De Troyer A, Borenstein S. Acute changes in respiratory mechanics after
pyridostigmine injection in patients with myasthenia gravis. Am Rev Respir Dis. 1980;
121: 629-638.
23 De Feo LG, SchottlenderJ, Martinelli NA, Molfino NA. Use of intravenous pulsed
cyclophosphamide in severe, generalized myasthenia gravis (2002) in Skeie GO et al.
Guidelines for treatment of autoimmune neuromuscular transmission disorders. Eur J
Neurol. 2006; 13: 691-699.
24 Tindall et al. Preliminary results of a double-blind, randomizes, placebo-controlled
trial of cyclosporine in myasthenia gravis (1987) in Skeie GO et al. Guidelines for
treatment of autoimmune neuromuscular transmission disorders. Eur J Neurol. 2006;
13: 691-699.
25 Palace J, Davis NJ e Lecky B. A randomized double-blind trial of prednisolone alone
or with azathioprine in myasthenia gravis (1998) in Skeie GO et al. Guidelines for
treatment of autoimmune neuromuscular transmission disorders. Eur J Neurol. 2006;
13: 691-699.
26 Bromberg et al. Randomized trial of azatioprine or prednisone for initial
immunosuppressive treatment of myasthenia gravis (1997) in Skeie GO et al.
Guidelines for treatment of autoimmune neuromuscular transmission disorders. Eur J
Neurol. 2006; 13: 691-699.
27 Buckingham JM et al. The value of thymectomy in myasthenia gravis: a computer
assisted matched study. Ann Surg. 1976; 184: 453-458.
28 Rochester DF, Esau SA. Assessment of ventilatory function in patients
neuromuscular disease. Clin Chest Med. 1994; 15: 751-763.
29 Heliopoulos I et al. Maximal voluntary ventilation in myasthenia gravis. Muscle
Nerve. 2003; 27: 715-719.
30 Reid WD, Dechmann G. Considerations when testing and training the respiratory
muscles. Phys Ther. 1995; 75:971-982.
31 McColl FD, Tzelepis GE. Inspiratory muscle training in the patient with
neuromuscular disease. Phys Ther. 1995; 75: 1006-1114.
32 Lynn DJ, Woda RP, Mendel JR. Respiratory dysfunction in muscular dystrophy and
other myopathies. Clin Chest Med. 1994; 15: 661-674.
33 Gozal D. Pulmonary manifestation of neuromuscular disease with special reference
to Duchene muscular dystrophy and spinal muscular atrophy. Pediatr pulmonol. 2000;
29:141-50.
34 Saraiva P. A. P, Assis J. L, Marchiori P. E. Evaluation of the respiratory function in
myastheina gravis: an important tool for clinical features and diagnosis if the disease.
Arq Neuropsiquiatr. 1996; 54: 601-607.
35 Kang Seong-Woong, Kang Yeoun-Seung, Sohn Hong-Seok, Park Jung-Hyun, Moon
Jae-Ho. Respiratory muscle strength and cough capacity in pacients with Duchenne
Muscular Distrophy. Younsei Medical Journal. 2006; 47 (2): 184-190.
36 Ringqvist I, Ringqvist T. Respiratory mechanics in untreated myasthenia gravis with
special reference to the respiratory forces (1971) in Mier-Jedrzejowicz AK, Brophy C,
Green M. Respiratory muscle function in myasthenia gravis. Am Rev Respir Dis. 1988;
138: 867-873.
37 Thieben MJ, Blacker DJ, Liu PY, Harper CM Wijdicks EFM. Pulmonary function tests
and blood gases in worsening myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2005; 32: 664-667.
38 Nunes LO. O efeito do treinamento muscular inspiratório associado ao uso da
oxandrolona na função muscular respiratória de indivíduos com doença neuromuscular
[tese]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2006.
39 Gozal D, Thiriet P. Respiratory muscle training in neuromuscular disease: long-term
effects on strength and load perception. Med Sci in Sports & Exercise. 1999; 31:15221527.
40 Lyall RA, Donaldson N, Polkey MI, Leigh PN, Moxham J. Respiratory muscle
strength and ventilatory failure in amyotrophic lateral sclerosis. Brain. 2001; 124 (10):
2000-2013.
41 Fitting et al. Sniff nasal pressure, a sensitive respiratory test to assess progression of
amyotrophic lateral sclerosis (1999) in Lyall RA, Donaldson N, Polkey MI, Leigh PN,
Moxham J. Respiratory muscle strength and ventilatory failure in amyotrophic lateral
sclerosis. Brain. 2001; 124 (10): 2000-2013.
42 Stefanutti D, Benoist MR, Scheinmann P, Chaussain M, Fitting JW. Usefulness of
Sniff Nasal Presure in Patients with Neuromuscular or Skeletal Disorders. Am J Respir
Crit Care Med. 2000; 162 (4): 1507-1511.
43 Tzelepis GE, Vega DL, Cohen ME, McCool FD. Lung volume specificity muscle
training. J Appl Physiol. 1994; 77: 789-794.
44 Romer LM, Mcconnell AK. Specificity and Reversibility of Inspiratory Muscle
Training. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2003; 35: 237-244.
45 Hill K et al. High-intensity inspiratory muscle training in COPD. Eur Respir J. 2006;
27: 1119-1128.
46 Gosselink R, Decramer M. Inspiratory Muscle Training: Where are we?. Eur Respir
J. 1994; 7: 2103-2105.
47 Reid WD, Samrai B. Respiratory muscle training for patients with chronic obstructive
pulmonary disease. Phys Ther; 1995; 75: 996-1005.
48 Bisschop, Ramirez e Decramer (1994) in Gosselink R, Decramer M. Inspiratory
Muscle Training: Where are we?. Eur Respir J. 1994; 7: 2103-2105.
49 Eastwood Peter R, Hillman David R, Morton Alan R, Finucane Kevin E. The effects
of learning on the ventilatory responses to inspiratory threshold loading. Am J Respir
Crit. Care Med. 1998; 158: 1190-1196.
50 Sonetti DA, Wetter TJ, Pegelow DF, Dempsey JA. Effects of respiratory muscle
training versus placebo on endurance exercise performance. Respir Physiol. 2001;
127: 185-199.
51 Winkler G et al. Dose-dependent effects of inspiratory muscle training in
neuromuscular disorders. Muscle Nerve. 2000; 23:1257-1260.
52 Eagle M. Report on the muscle dystrophy campaign workshop: exercise in
neuromuscular disease. Neuromuscul Disord. 2002; 12: 975-83.
53 Fregonezi GAF, Resqueti VR, Güell R, Pradas J, Casan P. Effects of 8-Week,
Interval-Bases Inspiratory Muscle Trainig and Breathing Retraining in Patients With
Generalized Myasthenia Gravis. Chest. 2005; 128: 1524-1530.
54 Weiner P et al. Respiratory muscle training in patients with moderate to severe
myasthenia gravis. Can J Neurol Sci. 1998; 25: 236-241.
55 Gross D, Meiner Z. The effect of ventilatory muscle training on respiratory function
and capacity in ambulatory and bed-ridden patients with neuromuscular diseases.
Monaldi Arch Chest Dis. 1993; 48: 322-326.
56 Riera HS et al. Inspiratory muscle training in patients with COPD-effects on dyspnea,
exercise performance, and quality of life. Chest. 2001; 120:748-756.
57 Budweiser S, Moertl M, Jõrres RA, Windisch W, Heinemann F, Pfeifer M.
Respiratory Muscle Training in Restrictive Thoracic Disease: a randomized controlled
trial. Phys Med Rehabil. 2006; 87: 1559-1565.
58 Koessler W, Wanke T, Winkler G, Nader A, Toifl K, Kurz H, Zwick H. 2 Years’
Experience With Inspiratory Muscle Traning In Patients With Neuromuscuar Disorders.
Chest. 2001; 120: 765-769.
59 Scherer TA, Spengler CM, Owassapian D, Imhof E, Boutellier U. Respiratory muscle
training in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2000.
162: 1709-1714.
60 Estrup C, Lyager S, Naeraa N, Olsen C. Effect of Respiratory Muscle Training in
Patients with Neuromuscular Disease and in Normals. Respiration. 1986; 50: 36-43.
61 Fèasson L, Camdessanché JP, Mhandi LE, Calmels P, Millet GY. Fadigue and
neuromuscular diseases. Ann Readapt Med Phys. 2006; 49: 375-384
62 Nield MA. Inspiratory muscle training protocol using a pressure threshold device:
effect on dyspnea in chronic obstrutive pulmonary disease. Arch Phys Med Rehabil.
1999; 80:100-102.
7 ANEXOS