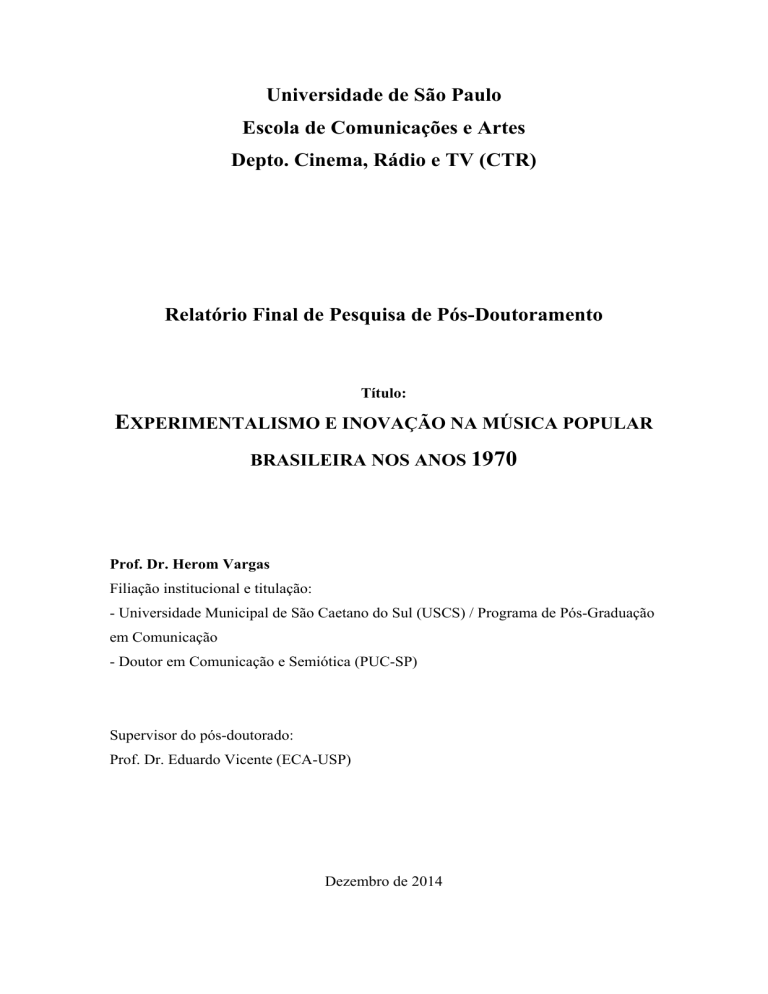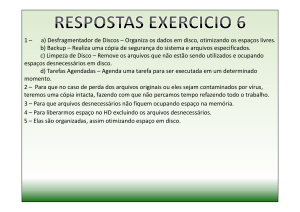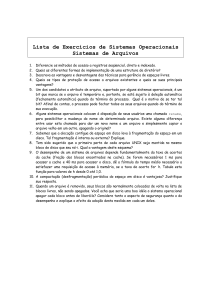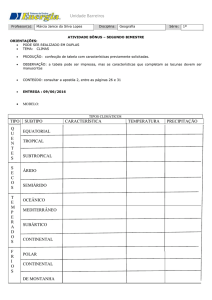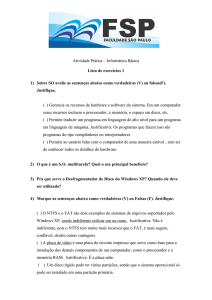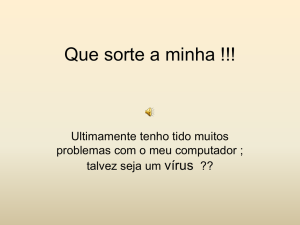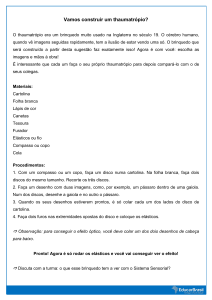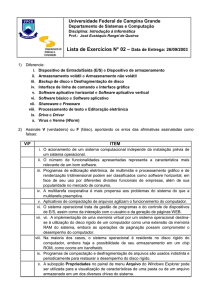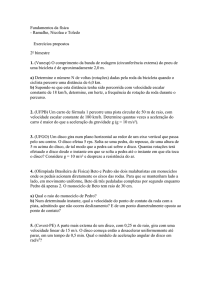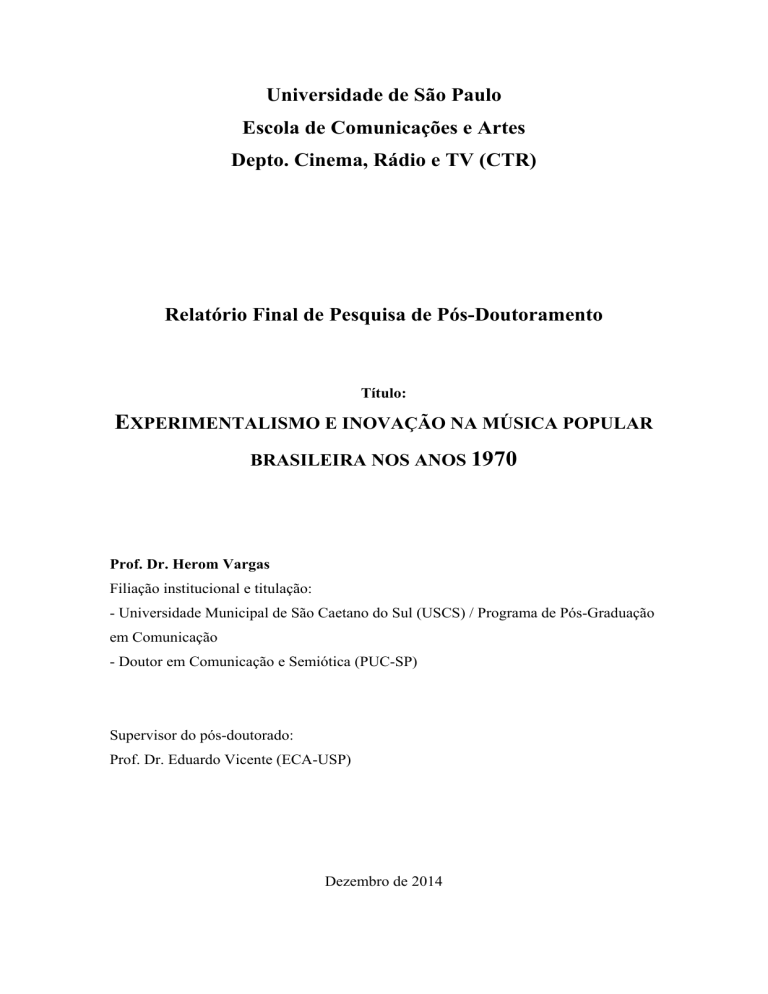
Universidade de São Paulo
Escola de Comunicações e Artes
Depto. Cinema, Rádio e TV (CTR)
Relatório Final de Pesquisa de Pós-Doutoramento
Título:
EXPERIMENTALISMO E INOVAÇÃO NA MÚSICA POPULAR
BRASILEIRA NOS ANOS 1970
Prof. Dr. Herom Vargas
Filiação institucional e titulação:
- Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) / Programa de Pós-Graduação
em Comunicação
- Doutor em Comunicação e Semiótica (PUC-SP)
Supervisor do pós-doutorado:
Prof. Dr. Eduardo Vicente (ECA-USP)
Dezembro de 2014
2
SUMÁRIO
RESUMO ......................................................................................................................... 03
PARTE 1 – O PROJETO DE PESQUISA E RESULTADOS PRELIMINARES ........................... 04
1. ENUNCIADO DO PROBLEMA ....................................................................................... 04
1.1. PROBLEMA PRINCIPAL ....................................................................................... 06
1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA ................................................................................... 07
2. RESULTADOS JÁ REALIZADOS ................................................................................... 08
3. CONTEXTO TEÓRICO DA PROBLEMÁTICA, MEIOS E MÉTODOS DA PESQUISA ........... 11
3.1. METODOLOGIA .................................................................................................. 14
3.2. CATEGORIAS DE ANÁLISE DE CANÇÕES E DISCOS ............................................. 19
4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES ............................................................................... 20
5. DISSEMINAÇÃO E AVALIAÇÃO ................................................................................... 20
6. APOIOS DE ORIENTANDOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MESTRADO ........................ 22
PARTE 2 – RESULTADOS DA PESQUISA DO PÓS-DOUTORADO ....................................... 23
7. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO ..................................................................... 23
7.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL ...................................................... 23
7.2. ENTREVISTAS E MEMÓRIAS ............................................................................... 26
7.3. ANÁLISE DAS OBRAS (CANÇÕES E DISCOS) ........................................................ 28
8. TRABALHOS PUBLICADOS NO PERÍODO DO PÓS-DOUTORADO .................................. 29
9. RESULTADOS DA PESQUISA CONFORME OS OBJETIVOS ............................................ 29
10. LIMITES DA PESQUISA E PROBLEMAS NA REALIZAÇÃO .......................................... 65
BIBLIOGRAFIA GERAL DA PESQUISA ............................................................................. 66
ANEXO – ÍNTEGRAS DAS ENTREVISTAS ......................................................................... 70
3
RESUMO
O projeto se propõe a identificar e analisar aspectos e características de
experimentação, criatividade e inovação na produção musical de alguns compositores e
grupos da música popular brasileira nos anos 1970, centrados no eixo Rio de Janeiro –
São Paulo, dentro de um específico contexto de expansão das indústrias midiáticas
(gravadoras e meios de comunicação – sobretudo a TV) e de exceção políticoinstitucional por conta da ditadura militar. Essa análise passará também pelo estudo das
condições culturais e midiáticas que possibilitaram a emergência desse tipo de produção
artística nessa época.
Será objeto de análise o trabalho de artistas que, na época, buscaram formas
radicais de criação no campo da música popular, evitando clichês e introduzindo novos
elementos na estrutura de linguagem da canção. Fazem parte do corpus da pesquisa os
seguintes artistas: Tom Zé (com 5 discos no período), Walter Franco (3 discos), os grupos
Novos Baianos (8 discos) e Secos & Molhados (2 discos). Todos eles gravaram todos ou
parte de seus discos na Continental, uma das principais gravadoras nacionais do período.
Os aspectos de inovação serão analisados em três frentes. Em primeiro lugar, na
linguagem da canção popular, entendida como objeto híbrido (letra, canto, música e
performance). Em segundo, nos LPs lançados, pensados não apenas como suporte de
gravação ou mercadoria cultural, mas também como obra organizada em função de um
projeto estético, incluindo informações visuais na capa e contracapa e outros dados
técnicos e textuais. Finalmente, em terceiro, nas relações desses artistas com as mídias
em geral vinculadas ao campo da canção massiva (meios de comunicação, gravadoras e
imprensa).
PARTE 1 – O PROJETO E A PESQUISA PRELIMINAR
4
1. ENUNCIADO DO PROBLEMA
O objetivo desta investigação é identificar as formas do experimentalismo na
música popular brasileira na década de 1970 a partir da obra de quatro artistas (os
compositores Walter Franco e Tom Zé e os grupos Secos & Molhados e Novos Baianos),
verificar como elas se processaram em 18 discos desses artistas no período e explicar
como essa produção musical ganhou destaque no contexto cultural e midiático
(gravadoras, emissoras de TV, imprensa) da época, marcado por intensa pressão da
ditadura militar e pela consolidação de setores importantes das indústrias midiáticas.
Essa proposta é parte de um projeto iniciado timidamente em 2009 no Programa
de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul
(USCS) voltado para alguns músicos, compositores e grupos de perfis considerados
experimentais na MPB da década de 1970. A investigação se desenvolveu com mais
solidez a partir de julho de 2010, com o apoio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de S. Paulo) por meio de um auxílio regular à pesquisa com duração de dois
anos (até junho de 2012). Nesse projeto, que se expandiu para este pós-doutorado, a
pesquisa tinha caráter exploratório e o corpus estava centrado nos quatro casos especiais
de artistas citados. O apoio foi importante por alguns trabalhos de pesquisa, como uma
estada no Rio de Janeiro em janeiro de 2011 para consultas na coleção do jornal O Globo,
na Biblioteca Nacional, realização de entrevistas com alguns personagens ligados à
pesquisa e participação em congressos, sempre úteis pelas discussões que promovem.
Ao longo desse período, tive a ajuda de três orientandos do Programa de Iniciação
Científica da Universidade Municipal de S. Caetano do Sul (USCS), dos cursos de
graduação em comunicação, e de uma orientanda do mestrado, que consultaram outros
acervos de material da imprensa dos anos 1970 e municiaram a investigação, a partir de
seus projetos, com novos documentos da imprensa da época.
A escolha recaiu sobre compositores e grupos que estabeleceram posturas de
inovação e definiram seus trabalhos por práticas experimentais, em contraposição aos
padrões notadamente comerciais da “canção de sucesso”1, mesmo atuando no campo de
produção e consumo da música popular massiva. Um deles é o grupo Secos & Molhados,
com grande sucesso de público, apesar do curto período de existência, e obra inovadora
nas composições de João Ricardo e na performance vocal e corporal do cantor Ney
1
A discussão conceitual sobre o termo “canção de sucesso” está no item 3.1 – “Metodologia”, mais à frente.
5
Matogrosso. Os outros casos são os cantores Walter Franco, taxado pela imprensa da
época com adjetivos como “marginal” e “maldito” devido às polêmicas causadas pelos
exercícios criativos em seus três LPs lançados na referida década, e Tom Zé que, egresso
do tropicalismo, aprofundou as práticas experimentais e contraculturais desse
movimento. O quarto caso é o grupo Novos Baianos, cujas composições buscaram aliar
o rock a gêneros musicais brasileiros, como samba, choro e frevo.
No projeto de pós-doutoramento, desdobrado desse inicial, o objetivo foi discutir
os trabalhos experimentais desses quatro artistas na estética da linguagem da canção e
pensados nas relações que travaram com o contexto midiático da época, com destaque
para a gravadora Continental, companhia que gravou todos ou parte dos discos desses
artistas no período. Neste segundo aspecto, ganharam importância as capas dos discos
lançados, suporte de distribuição da obra e objeto mercadológico por meio do qual a
canção é divulgada e consumida.
Os elementos de inovação foram observados em três aspectos. Em primeiro lugar,
principal ponto da pesquisa, na linguagem da canção popular, aqui entendida como
produto semiótico híbrido, mescla de letra, canto, música e performance. Em segundo,
nos LPs lançados por esses artistas, pensados não apenas como suporte de gravação ou
mercadoria cultural, mas também como obra organizada em função de um projeto estético
que inclui informações visuais de capa (desenho, cores, fotos, colagens etc.), informações
técnicas (de gravação, arranjos musicais, sequência das faixas etc.) e as relações criadas
entre as canções do disco e sua composição visual. Finalmente, em terceiro, nas relações
com as mídias em geral (meios de comunicação, gravadoras e imprensa), já que tais
artistas tiveram contatos diversificados com as estruturas midiáticas vinculadas à canção
massiva. O caso dos Secos & Molhados é curioso pelo fato de ter feito sucesso de público
e, ao mesmo tempo, ter produzido composições estruturadas criativamente, a partir do
uso de elementos poéticos, musicais e de performance que as distanciavam dos padrões
mais comerciais da música massiva. Os Novos Baianos estão numa situação
intermediária, pois algumas de suas canções chegaram às grandes mídias da época, mas
nunca foi um grupo de grande vendagem de discos, por exemplo. Em polo oposto estão
os outros dois compositores e cantores – Walter Franco e Tom Zé – que, posicionados
mais à margem do grande mercado fonográfico com vendagens numericamente bem
menores, promoviam aproximações com o grande público pela polêmica em
apresentações e festivais, ou por dialogarem com o perfil experimental desdobrado do
tropicalismo em suas criações num período de repressão política e rigorosa censura. Se,
6
por um lado, esses cerceamentos atingiram os músicos de forma geral, foram também
curiosos incentivos para novas formas de pensar a canção e seus elementos de linguagem.
Outro motivo para a escolha dos quatro artistas foi o fato de terem gravado seus
discos dos anos 1970 (todos ou em parte) na gravadora paulista Continental2, então uma
das principais gravadoras do país e que, junto de outras nacionais (RGE e Copacabana,
por exemplo), rivalizavam com as multinacionais que tentavam ampliar seu raio de ação
no setor no Brasil. A compreensão da situação da Continental – pouco estudada até agora
– teve o sentido de elucidar motivos para essa companhia ter gravado um tipo de trabalho
musical de pouca vendagem (exceto, obviamente, o caso dos Secos & Molhados) e
explicar sua situação dentro de um mercado que passava a se organizar em função das
grandes multinacionais.
Com esta investigação, esperou-se entender melhor não apenas como se deram os
experimentalismos nas composições de cada artista, mas também o tipo de relação desses
músicos com um contexto peculiar da indústria fonográfica nacional, da televisão e outras
condições culturais que lhes propiciaram espaços. Assim, penso que foi possível
contribuir com a ampliação do conhecimento sobre a década e sobre o pós-tropicalismo.
1.1. PROBLEMA PRINCIPAL
A pesquisa foi orientada pela seguinte questão: como entender e caracterizar uma
parte da produção musical popular brasileira nos anos 1970, gravada em discos, centrada
no eixo Rio de Janeiro – São Paulo e voltada para o experimentalismo estético e para o
exercício criativo e inovador dentro da linguagem da canção popular – concebida na sua
estrutura performática, verbal e sonora – e explicar sua inserção em um determinado
momento do mercado fonográfico e midiático em expansão, todos inseridos em um
momento de exceção política?
Para elucidar a questão geradora, cinco outras secundárias e parciais foram
colocadas para nortear a investigação:
1. Em que medida a década de 1970 teria continuado a efervescência criativa movida, em
parte, pelos festivais de TV da década anterior, sobretudo a partir do tropicalismo e
seus procedimentos antropofágicos e contraculturais?
2
Dos três discos de Walter Franco na década, dois saíram da Continental. Os dois álbuns dos Secos &
Molhados foram dessa gravadora. Quatro LPs de Tom Zé, dentre os cinco gravados na década, são da
Continental. E dois, dentre os oito discos dos Novos Baianos na época foram gravados nessa companhia.
7
2. Que atuações tiveram a indústria fonográfica (em especial, a gravadora paulista
Continental) e os meios de comunicação (televisão, por exemplo), para a divulgação
dos LPs desse rol de artistas mais experimentais?
3. Como explicar as relações entre esses músicos e as indústrias midiáticas (gravadoras,
principalmente) em expansão e ancoradas nas ações políticas e econômicas dos
governos militares (censura, concentração econômica, abertura às multinacionais)?
4. Em quais aspectos gráfico-visuais das capas dos álbuns (entendidos não apenas como
suporte físico de áudio ou mercadoria cultural) ficam claros os conceitos estéticos
esboçados nas canções?
5. Como é possível caracterizar as tendências estéticas de inovação presentes nas obras
em questão e como se davam os procedimentos criativos desses artistas, seja a partir
da relação com as tradições da música popular brasileira, seja na estrutura semiótica
da canção, seja nas mensagens veiculadas pela linguagem híbrida em questão e até
pela organização conceitual dos discos (capa, músicas, encarte etc.)?
1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA
A partir do estabelecimento das questões principal e secundárias, o objetivo
central foi apontar e analisar as características das obras experimentais de quatro artistas
da música popular brasileira – os grupos Secos & Molhados e Novos Baianos, e os
compositores e cantores Walter Franco e Tom Zé – nos anos 1970, fase peculiar pela
confluência entre crescimento das indústrias culturais ligadas ao campo da música
popular e as ações restritivas da ditadura militar.
Para dar conta deste objetivo principal, outros específicos orientaram a
investigação:
1. Mapear as produções desses músicos/ compositores na década: discos e canções.
2. Entender, a partir de pesquisa bibliográfica e entrevistas, como se organizava o
contexto midiático da época (sobretudo, gravadoras) e como ele proporcionou
condições para criação e divulgação de obras desse tipo no campo da música popular
brasileira.
3. Por meio de pesquisa bibliográfica, da análise das canções e de entrevistas, identificar
características e tendências dos experimentalismos dentro dos parâmetros da
linguagem da canção popular (letra, música e performance).
8
4. A partir de análise dos discos e de entrevistas, demonstrar como tais orientações
estético-musicais foram organizadas e apresentadas visualmente nos álbuns, segundo
os respectivos conceitos propostos.
5. Estabelecer as relações entre os exercícios experimentais desses compositores/
músicos e o que se definia como manifestações estéticas da contracultura no período,
em especial por retrabalharem aspectos importantes do tropicalismo da década
anterior.
2. RESULTADOS JÁ REALIZADOS
Como esta pesquisa vem de outra anterior, como um desdobramento ou
continuação, alguns resultados já existem. No campo analítico, a partir de observações
iniciais do trabalho desses músicos/compositores, foi possível levantar uma ideia geral
para explicar as características gerais dessas experimentações, hipótese que será melhor
observada na pesquisa do pós-doutorado.
Uma dessas características refere-se às formas de conjugação entre tradição e
novidade, perceptível, por exemplo, nas canções dos Novos Baianos. Muitas delas trazem
nos arranjos as mesclas de samba, frevo e choro com o rock. Noutras, músicas de
compositores tradicionais da música brasileira são recuperadas em arranjos instrumentais
diferenciados. Realizei parte dessa reflexão no paper Tinindo Trincando: contracultura
e rock no samba dos Novos Baianos, apresentado na edição de 2011 do congresso da
Intercom, no GT de Culturas Urbanas, republicado na revista Contemporânea (VARGAS,
2012b). Outro caso de destaque é o importante álbum de Tom Zé Estudando o samba, de
1976, em que o cantor utiliza elementos rítmicos e instrumentais do samba para tratá-los
de maneira inventiva.
Uma segunda tendência tem seu fundamento em processos de experimentação,
digamos, mais “puros” e que se aproximam de experiências laboratoriais, como indica
Umberto Eco (1970), ou seja, casos em que o trabalho do artista se define pela busca de
novas formas de canto, arranjos, letra e variáveis sintonias entre música e letra. É o caso
de Walter Franco, por exemplo, na canção Cabeça, com a qual ficou conhecido, e em
várias faixas do seu primeiro LP (Ou Não, de 1973). A análise dos trabalhos do
compositor foi realizada em um paper apresentado no congresso da IASPM-AL, em
Caracas (Venezuela), em 2010, e posteriormente publicado na revista Comunicação e
Sociedade (VARGAS, 2010b). Essa tendência experimental aparece também em algumas
obras de Tom Zé e em composições de João Ricardo, em especial naquelas em que adapta
9
poesias ao formato de letra de música, como em As andorinhas, poema de Cassiano
Ricardo, e Rondó do capitão, poema de Manuel Bandeira, ambas do primeiro disco dos
Secos & Molhados. Em todos esses casos, o desafio básico dos artistas é desvendar novas
possibilidades de construção da canção e de sua interpretação a partir do manuseio dos
materiais semióticos do compositor/músico, sejam eles poéticos, sonoros ou
performáticos.
A terceira linha de inovação inicialmente percebida está bastante ligada à obra dos
Secos & Molhados – sem lhes ser exclusiva – e vincula-se ao espetáculo e às relações do
artista com o próprio corpo. O caso de Ney Matogrosso tem sido discutido com mais
detalhes (ZAN, 2006; BAHIA, 2009; SILVA, 2007), sobretudo sua dança, o corpo à
mostra, a evidente androginia, mesclados à idiossincrasia de seu tom de voz. Além disso,
o uso de maquiagens pelos integrantes do grupo indica um componente cênico-visual
fundamental de identidade artística. Sobre os Secos & Molhados, escrevi um paper
apresentado no congresso da Compós, no Rio de Janeiro, em 2010, dentro do GT Mídia
e Entretenimento.
Essas linhas gerais de como se apresentam os experimentalismos desses artistas
serão observados também em seus discos, por meio das capas, da ficha técnica e de outras
informações dos álbuns que dialogam com os respectivos conceitos estéticos.
Outra questão conceitual com a qual tenho me debatido é quanto às categorias de
análise da produção musical pós-tropicalista. Alguns estudos que tenho pesquisado tratam
a canção pós-tropicalista muito a partir das letras e, por serem mais “conteudístas”,
acabam tendo como principal horizonte de análise o contexto de repressão e censura dos
governos militares do período. Cito aqui os casos do clássico estudo de Gilberto
Vasconcellos (1977) em que destaca a atitude dos compositores como uma ação pela
“fresta”, ou seja, pelos interstícios da censura: ao invés se contraporem claramente aos
censores, criavam canções cujos sentidos de difícil decodificação se distanciavam da
leitura fácil. As artimanhas do discurso contido na letra seria produto de alto labor criativo
visando confundir o entendimento por parte do censor e a consequente liberação da peça
musical. Outro trabalho escrito por Paulo Henriques Britto (2003) discute as temáticas
noturnas de algumas canções do início da década como fruto da situação de exceção
vivida pela sociedade e assim traduzida pelos compositores. Uma terceira abordagem, de
Roberto Bozzetti (2007), um pouco mais aberta quanto ao conceito de canção popular
tratado, discute o que ele define como “canções de esgar”, peças que beiram o non sense
como resposta desconstrutiva da própria obra às ameaças da ditadura.
10
Discuti tais categorias num paper apresentado no congresso da Compós, em Porto
Alegre, em 2011, e publicado posteriormente na revista Fronteiras (VARGAS, 2012a).
Nesse texto, mostrei que apesar dessas interpretações terem suas respectivas
importâncias, elas soam ainda parciais na medida em que não aprofundam a discussão na
abordagem sonora da canção, de seu discurso musical e suas intersemioses com relação
à letra, ao canto e à performance dos artistas. Elas acabam se limitando à análise do texto
da letra, sobretudo nos aspectos mais conteudísticos (mesmo na perda de sentido com o
esgar), e não abordam o texto semiótico da canção.
Além de conceber a canção como texto semiótico3, adotei inicialmente a categoria
“canção crítica”, desenvolvida por Santuza Cambraia Naves (2001 e 2010). Para a autora,
“canção crítica” é fruto de um processo de conscientização construído pelos compositores
para que na tessitura própria da canção estejam inscritas, em camadas profundas ou mais
superficiais, as reflexões críticas sobre ela própria e sobre seu entorno cultural e social.
Em outras palavras, é o trabalho
[…] de músicos que têm procurado, ao longo de sua trajetória, lidar
com um tipo de linguagem musical que, dentro do espírito da canção
popular, busca uma comunicação direta com o público sem deixar de
provocar a sensação de estranhamento tão cara aos “modernos”
(NAVES, 2001, p. 294).
Essa categoria põe em questão as capacidades de a canção ser criada e entendida
por meio do grau de interferência que opera no seu contexto, como comenta criticamente
os elementos que constituem sua estrutura para poder interferir na realidade. Tais relações
se dão no âmbito interno da canção, seus elementos de linguagem, e nos campos culturais
que contextualizam a obra.
No entanto, apesar de concordar com o conceito da autora, penso que o adjetivo
“crítico” pode ser pensado em quaisquer obras de quaisquer linguagens, ou seja, o mesmo
tom “crítico” da canção existe no filme, na peça de teatro, em um quadro etc. Isso não lhe
confere novidade em termos conceituais. Daí preferir a qualificação “experimental”, já
conhecida e amplamente utilizada. Ela também incorpora, além do aspecto “crítico”, os
procedimentos criativos que levam a obra a ser assim tratada. No entanto, acredito que a
reflexão teórica pode ser desenvolvida para melhor sustentação.
3
A partir do universo conceitual da semiótica da cultura, em especial Iuri M. Lotman (1996), “texto
semiótico” é um complexo dispositivo de sentido que conjuga, na materialidade de sua linguagem, traços
pessoais do autor, estratos culturais do contexto e traços da memória cultural.
11
Quanto aos produtos provenientes da pesquisa, alguns artigos e papers vêm sendo
produzidos. Minha preferência está na apresentação de partes do trabalho em congressos
e periódicos da área da comunicação e naqueles centrados nos estudos sobre música
popular.
3. CONTEXTO TEÓRICO DA PROBLEMÁTICA, MEIOS E MÉTODOS DA PESQUISA
As obras dos artistas mais experimentais na música popular brasileira dos anos
1970 têm sido pouco estudadas dentro do campo epistemológico das ciências da
comunicação. Um dos motivos dessa ausência, em boa medida, é o fato de tais artistas
estarem limitados, de um lado, pelos sucessos da era dos festivais das TVs Record e Globo
e do tropicalismo e, de outro, pelo estouro mercadológico da geração de grupos nacionais
de rock dos anos 1980, o chamado BRock (DAPIEVE, 1996). Tal situação construiu a
imagem da música popular da década como mero intervalo entre dois momentos de
grande importância estética e/ou midiática, reforçado pelo fato de vários compositores
estarem no exílio ou sob o manto da censura dos governos militares.
Outro entendimento quanto à ausência de interesse sobre a música popular dos
anos 1970 diz respeito à crescente organização da indústria fonográfica no período, que
acabou por privilegiar composições mais acessíveis ao grande público, vinculadas ao
sucesso no rádio e nas trilhas de telenovelas, sobretudo da TV Globo, então emissora líder
de audiência (DIAS, 2000), ou os sucessos da chamada “discoteca”, versão mais
divulgada da soul music e da funky music cujo forte presença no Brasil se deu em paralelo
à popularidade da telenovela Dancing Days, exibida pela TV Globo em 1978, e à abertura
de casas noturnas voltadas a esse tipo de música dançante.
A produção mais experimental não se consolidou de forma homogênea, nem como
uma espécie de “movimento” com relativa organização. Ao contrário, cada artista ao seu
modo e seguindo suas próprias intuições e formas de criação, percorreram caminhos
paralelos, porém, em determinadas sintonias com seu tempo e seus contemporâneos. O
cenário musical da década, segundo Napolitano (2005, p. 127), pode ser dividido em três
circuitos relativamente definidos: o circuito engajado herdeiro da proposta nacionalpopular da década de 1960; outro, mais alternativo e experimental, herdeiro das ações
tropicalistas; e, finalmente, o cultural “massificado”, marcado pelas músicas de maior
sucesso de público. Tais circuitos, apesar de conceitualmente demarcados pelo autor, não
são totalmente excludentes. Havia artistas que circulavam com desenvoltura pelos três,
ultrapassando limites e com obras que oscilavam entre um e outro. Um exemplo foi o
12
cantor e compositor Caetano Veloso, cujas criações na década variavam entre canções
inovadoras, algumas mais politizadas e outras de sucesso que frequentavam espaços de
consagração comercial da canção (trilhas de telenovelas e programações de rádio).
Certamente, o circuito da música popular que mais se estruturou foi aquele
vinculado às peças de sucesso massificado, embasado numa das principais características
da época: o crescimento, a profissionalização e a forte penetração das gravadoras no
âmbito da produção e divulgação da canção (ORTIZ, 1991; MORELLI, 2009; PAIANO,
1994; DIAS, 2000; VICENTE, 2002), chegando ao ponto de alterar vários critérios de
valoração da música popular. Se antes esses critérios se vinculavam fortemente, por
exemplo, às respostas do público nos festivais da TV Record (TATIT, 2005, p. 121-122),
a intensificação das relações entre emissoras de TV e rádio e gravadoras alteraram o eixo
do mercado. Tal mudança tem a ver também com alterações nas grades de programação
das emissoras de TV, com a ascensão da TV Globo e com ações dos governos militares
para arrefecer o ímpeto das esquerdas que, desde os festivais, utilizavam a produção
artística na luta política4.
Apesar das ações concentradoras das mídias (gravadoras e emissoras de TV), o
circuito musical experimental manteve-se com relativa estabilidade. Se alguns tiveram
razoável destaque (como Caetano e Gilberto Gil, herdeiros do tropicalismo, ou os grupos
Novos Baianos e Secos & Molhados, pelo sucesso na mídia), foram pouco conhecidos
compositores como Walter Franco, avesso ao “estrelismo” do circuito comercial. Sem
falar no descrédito em que caiu Tom Zé, alijado do mercado fonográfico nos anos 1980
até ser redescoberto pelo músico e produtor britânico David Byrne e ter suas canções
compiladas no álbum The Best of Tom Zé, em 1990.
No entanto, uma análise mais acurada dos discos lançados nessa década traz à luz
obras com perfis diferentes desse ligado ao consumo massivo mais imediato. Na verdade,
além das canções de sucesso de vários gêneros, muitas como trilhas de telenovelas, houve
criadores que, dentro dessas indústrias culturais, gravaram álbuns e sobreviveram a partir
de trabalhos pouco vinculados ao projeto comercial do mercado fonográfico e midiático
do período. Mesmo circulando numa estreita e periférica faixa do mercado, foram
outsiders que ocuparam espaço e tiveram consumo respaldado por um público específico
e interessado.
4
Sobre números de crescimento do mercado fonográfico e televisivo no país nos anos 1970, além dos dados
específicos apontados por Paiano (1994), Morelli (2009) e Vicente (2002), ver também os mais gerais
apresentados por Renato Ortiz (1991, p.127-130).
13
Outra razão para a MPB dos anos 1970 não ser muito tratada nos estudos em
comunicação tem a ver com a reiteração de determinados temas e objetos que giram em
torno de grandes linhas de pesquisa, tais como: ascensão da televisão e transformações
do rádio, políticas públicas para as telecomunicações, relações entre a ditadura militar e
o campo da comunicação de massa, questões de hegemonia e comunicação popular,
censura aos meios de comunicação, ações da imprensa alternativa e, por fim, o cinema e
sua postura ora marginal, ora em franco diálogo com o público. Exceto algum outro
assunto investigado, pouco foi tratado sobre a música popular dessa década, sobretudo
nas questões referentes à linguagem e às relações com as indústrias midiáticas.
Em comunicação, especificamente, duas obras merecem destaque ao tratarem o
assunto de forma mais consequente. São elas: a dissertação de Enor Paiano (1994) e a
tese de Eduardo Vicente (2002). Essas pesquisas abordam, uma em continuidade
temporal à outra, o espaço de tempo que cobre dos anos 1960 até os 1990 e tratam as
relações entre música popular, sua produção/distribuição pelas gravadoras e as
configurações da cultura midiática em cada época.
Em ciências sociais e história, há as importantes pesquisas de Rita Morelli (2009),
de Márcia T. Dias (2000) e de Marcos Napolitano (2002 e 2005). No entanto, apesar da
riqueza conceitual e documental proveniente desses aportes, eles não são voltados aos
escopos principais das ciências da comunicação, nem discutem questões vinculadas à
linguagem da canção popular ou ao álbum como produto estético, principais interesses da
investigação que proponho neste projeto.
Assim, a principal contribuição da pesquisa que venho realizando é trazer à luz
análises sobre a produção musical popular experimental que englobam, em primeiro
lugar, o entendimento das estruturas de produção da canção massiva numa fase específica
de reorganização das indústrias midiáticas (gravadoras), das mídias em geral e do
consumo, e, em segundo, de consolidação de formas de criação da música popular
baseadas na experimentação e na inovação, em parte, como legados do tropicalismo e da
contracultura. A importância do elenco selecionado para análise está não exatamente no
sucesso de público, mas, sobretudo, nas características de inovação que marcaram suas
composições e discos no período. Houve casos em que experimentação e sucesso
estiveram juntos; noutros, os artistas tiveram que usar espaços pouco explorados no
mercado fonográfico e musical para produzir e divulgar canções.
3.1. METODOLOGIA
14
Estabelecida a pergunta-problema (indicada no item 1.1. acima – “Problema
principal”), foi possível construir os passos da pesquisa proposta.
Em primeiro lugar, é importante uma breve delimitação conceitual do termo
“canção de sucesso” (ou “canção popular massiva”) para evitar posturas críticas e não
cair em soluções mais fáceis na definição do objeto da pesquisa. O conceito “canção de
sucesso” que utilizo se distancia das clássicas análises feitas por Theodor Adorno em seus
textos sobre a música popular dentro da indústria cultural. A idéia principal é a de que a
música popular não se desvincula dos meios de produção e de reprodução sonora. Desde
o início do século XX, a canção veio sendo moldada, influenciada e, ao mesmo tempo,
recriada em função das máquinas de fonofixação e fonoreprodução (VALENTE, 2003) e
também em função do mercado urbano de consumo simbólico que então se consolidava.
Tanto que tais estruturas midiáticas foram, em parte, responsáveis pela criação de ritmos
e gêneros, danças e coreografias, instrumentos, timbres e, inclusive, novas formas de
audição individual ou coletiva. Da mesma forma, o conceito “música popular massiva”,
utilizado por Janotti Jr. (2005), vincula-se à canção criada para ser divulgada pelos meios
de comunicação, com os quais constrói relações ora sendo influenciada pelos meios, ora
interferindo neles.
Assim, minha posição ao usar o termo “canção de sucesso” vincula-se mais aos
conceitos usados por Pierre Bourdieu (1996) quando discute a situação do campo literário
francês no século XIX, colocado entre as exigências do mercado e as práticas voltadas à
“arte pura”. Obviamente, no caso da música popular massiva, esses campos não estão tão
separados como o são na literatura, conforme indicado pelo autor. Na verdade, a canção
pode ser pensada nos aspectos especificamente mercantis e também em termos de criação
estética e linguagem. Há vários casos de compositores que se situam com muita
tranquilidade nesses espaços intermediários, utilizando dinâmicas de um e de outro quase
que indiscriminadamente.
Voltando ao ponto, o conceito “canção de sucesso” traz a possibilidade de
caracterizar esse tipo de música dentro de alguns parâmetros formais e temáticos que a
torna apreciada pelo grande público com mais facilidade, que ela seja decodificada de
maneira mais imediata e seja incorporada ao repertório cotidiano da vida citadina por
meio de uma atenção individual ou coletiva pouco concentrada. Trocando em miúdos,
por exemplo: se for para a dança, que tenha um ritmo contagiante; se for romântica, que
sua letra utilize sintagmas e sentidos reconhecidos pelo público e que os arranjos abusem
das melodias. Por conta dessa relação mais direta com o público, ela é objeto de maior
15
divulgação pelos meios de comunicação. Obviamente, tais configurações não têm
respostas mecânicas por parte dos ouvintes. Se tivessem, os artistas mais comerciais já
teriam achado o caminho mais lucrativo para o comércio musical. Essas características
não são, assim, óbvias, imediatas ou mecânicas. Mas podem ser agrupadas em torno de
alguns princípios. A ideia de Bourdieu sobre o “polo econômico” da produção literária
elucida mais o conceito:
No outro pólo, a lógica “econômica” das indústrias literárias e artísticas
que, fazendo do comércio dos bens culturais um comércio como os
outros, conferem prioridade à difusão, ao sucesso imediato e
temporário, medido, por exemplo, pela tiragem, e contentam-se em
ajustar-se à demanda preexistente da clientela […]. Um
empreendimento está mais próximo do pólo “comercial” quando os
produtos que oferece no mercado correspondem mais direta ou mais
completamente a uma demanda preexistente, e em formas
preestabelecidas (BOURDIEU, 1996, p. 163).
No campo da música popular, mais sincrético e complexo, as tendências
comerciais cruzam com as tendências voltadas para a criação estética e ambas se
complementam, com muita frequência, a ponto de determinados trabalhos poderem ser
estudados e analisados tanto sob a ótica mercadológica quanto pela observação puramente
artística5. O que propus como escopo principal desta pesquisa foi exatamente focar as
dinâmicas de criação estética fundadas em características experimentais frente aos
padrões mais conhecidos da chamada “canção de sucesso” na década de 1970 e, inclusive,
em diálogo com eles.
Em segundo lugar, o corpus de análise foi identificado a partir de um
levantamento preliminar de compositores, músicos e grupos dos anos 1970 com esse
perfil mais inovador e criativo, dentro do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, regiões onde
se estabeleceram grandes gravadoras e emissoras de rádio e TV no país e que,
historicamente, ajudaram a solidificar os principais gêneros e tendências da canção
popular massiva no Brasil. São os casos de artistas cujas composições levaram mais em
conta interesses estéticos e criativos do que os mais nitidamente comerciais. Tais
criadores foram consagrados pela crítica6 e tiveram definido um lugar na história da
5
Sobre o experimentalismo na música popular, ver Vargas (2009) e Vargas e Rossetti (2005).
Haja vista a polêmica com a canção Cabeça, de Walter Franco. O júri do Festival Internacional da Canção,
da TV Globo, de 1972, que queria a composição como vencedora, foi deposto pelos organizadores que não
aceitavam a vitória de uma obra estranha aos ouvidos do público. Sobre tal polêmica, ver Zuza Homem de
Melo (2003, p. 419 e seg.).
6
16
música popular brasileira. Para esta pesquisa, foram selecionados quatro casos em que
aparecem nítidos os exercícios experimentais e inovadores e determinadas relações com
as mídias, seja de sucesso ou marginalidade: os cantores/compositores Tom Zé (com 5
discos no período), Walter Franco (3 discos) e os grupos Novos Baianos (8 discos) e
Secos & Molhados (2 discos), sendo este último um exemplo de convivência entre
sucesso midiático, polêmica e criatividade.
Outro aspecto importante que delimitou a escolha foi o fato de terem gravado
discos (todos ou em parte) na gravadora paulista Continental, como já indicado, uma das
principais companhias fonográficas nacionais. Dos 18 LPs escolhidos para análise, dez
são da Continental, dois da RGE, dois da Som Livre, dois da Tapecar e dois da CBS,
única multinacional na relação.
Assim, exceto coletâneas, álbuns coletivos e ao vivo, serão analisados os discos:
Walter Franco: Walter Franco – Ou Não (Continental-1973), Revolver (Continental1975) e Respire Fundo (Epic/CBS-1978).
Secos & Molhados: Secos & Molhados (Continental-1973) e Secos & Molhados
(Continental-1974).
Tom Zé: Tom Zé (RGE-1970), Tom Zé – Se o Caso é Chorar (Continental-1972),
Todos os Olhos (Continental-1973), Estudando o Samba (Continental-1976) e Correio
da Estação o Brás (Continental-1978).
Novos Baianos: É Ferro na Boneca (RGE-1970), Acabou Chorare (Som Livre-1972),
Novos Baianos F.C. (Continental-1973), Novos Baianos (Continental-1974), Vamos
Pro Mundo (Som Livre-1974), Caia na Estrada e Perigas Ver (Tapecar-1976), Praga
de Baiano (Tapecar-1977) e Farol da Barra (CBS-1978).
Além de contemporâneos e, em parte, ligados a uma mesma gravadora, a escolha
desses artistas se deu por terem perfis representativos tanto em referência aos aspectos
experimentais de seus trabalhos, que os identifica, quanto aos níveis de sucesso comercial
de suas obras, critério que, em parte, os diferencia.
Para a análise estética das canções, tomou-se como passo inicial e básico
identificar os elementos criativos na poética das letras cantadas, nas relações entre letra e
música (não apenas a melodia), nas formas estritamente musicais (arranjo,
instrumentação, timbres, melodia/harmonia etc.) e na performance (canto, corpo, dança e
espetáculo) dentro da linguagem da canção. Ou seja, falo aqui do caráter intersemiótico
da canção formado, basicamente, por três textos: a letra (texto, poético ou não,
17
corporificado em forma de melodia com acompanhamento instrumental), o tecido sonoro
(conjunto de timbres, ruídos e sons de instrumentos arranjados para acompanhar o canto
– letra e melodia – e que traduz no som sentidos explícitos e/ou implícitos na letra) e a
performance (conjunto de ações corporais consubstanciadas tanto no desempenho do
músico e do cantor para a execução da música, quanto na cena construída para o
espetáculo – ao vivo ou para ser gravado). Nesta última categoria de análise, é importante
identificar os dados característicos do espetáculo dos artistas e de suas imagens (o corpo
do músico/cantor no espetáculo, cena e personagens nas apresentações ao vivo, aspectos
corporais da voz e da entonação etc.)7.
Outro item vinculado à imagem, mas fora do conceito de performance, é a
conformação da obra desses compositores nos discos lançados, daí a necessidade de
entendimento do álbum (capa, contracapa, textos escritos, ficha técnica etc.) como um
texto visual que corporifica e traduz em imagens a proposta estética trabalhada pelos
compositores/músicos.
Assim, além dos levantamentos bibliográfico e discográfico, a investigação
contou com dois tipos de análises documentais:
1. Análise das composições em seus aspectos criativos no âmbito da linguagem da
canção.
2. Análise das propostas conceituais de cada disco, pensado aqui especificamente como
obra organizada em função de um projeto estético.
Tais análises foram feitas sempre à luz da contextualização do artista e de sua
obra, nas relações com a mídia em geral (gravadoras, imprensa, emissoras de TV e rádio)
e dentro dos debates político-culturais que tomaram corpo na década em decorrência da
ditadura militar, das particularidades da indústria fonográfica, da ascensão da televisão e
com relação às manifestações da contracultura.
A análise do contexto midiático baseou-se em pesquisas já realizadas sobre as
gravadoras e as dinâmicas do mercado da música popular na década em questão (ORTIZ,
1991; MORELLI, 2009; PAIANO, 1994; DIAS, 2000; VICENTE, 2002). As entrevistas
com músicos, produtores e profissionais das gravadoras, foram outro instrumento
empírico para entendimento desse cenário. Tais entrevistas tiveram caráter qualitativo,
7
Por exemplo, uma análise da performance de Ney Matogrosso, principalmente em sua carreira-solo, está
em Sérgio G. Bahia (2009).
18
pois serviram para entender como tais empresas se interessaram por tais artistas com essas
características pouco ou nada explicitamente comerciais.
Todos gravados em áudio, esses depoimentos trouxeram versões parciais sobre
fatos e criações, por conta dos enfoques pessoais que elas encerram. Porém, foram
fundamentais por trazerem pontos de vista pouco trabalhados no entendimento dessa
produção cultural. Um levantamento inicial indicou 10 entrevistados em potencial:
1. Walter Franco: músico e compositor;
2. Rodolpho Grani Jr.: músico e diretor musical dos LPs Ou Não e Revolver, de Walter
Franco;
3. Pena Schmidt: produtor do disco Revolver, de Walter Franco;
4. Carlos Sion: produtor na Continental;
5. Claudio Prado: trabalhou na Continental diretamente com Alberto Jackson Byington
Neto, dono da companhia;
6. Tom Zé: músico e compositor;
7. Emilio Carrera: pianista que trabalhou com o Secos & Molhados;
8. João Ricardo: músico e compositor dos Secos & Molhados;
9. Pepeu Gomes: músico do grupo Novos Baianos;
10. Luiz Galvão: músico e compositor dos Novos Baianos.
Além desse tipo de fonte, parte das informações sobre o contexto de época e sobre
a obra desses artistas foi fundamentada em textos jornalísticos (críticas e reportagens) do
período. A leitura de jornais e revistas trouxe informações sobre lançamentos de discos,
apresentações, polêmicas surgidas, impressões e análise dos críticos, entre outros dados.
Esses periódicos foram consultados pela Internet (casos da revista Veja e dos jornais
Folha de S. Paulo), no Arquivo do Estado de São Paulo, nas hemerotecas de
universidades (instituições sediadas em São Paulo) e na Biblioteca Nacional (no Rio de
Janeiro – onde já foi consultada coleção de O Globo).
3.2. CATEGORIAS DE ANÁLISE DE CANÇÕES E DISCOS
Para a realização das análises, foram estabelecidas algumas categorias dentro do
universo da linguagem da canção, pensada aqui como um objeto híbrido8 dentro da
8
Sobre o conceito de hibridismo na música popular, ver Vargas (2007).
19
cultura midiática, formado pelas conjunções entre letra, canto, música e performance.
Sendo o hibridismo sua principal característica, esses três elementos da canção nunca
podem ser observados separadamente, mas, acima de tudo, em suas interfaces. A saber:
Letra: tema, léxico, metáforas, formas de estruturação, rimas, assonâncias etc.
Canto: relação entre texto e melodia, entoação, formas e características da voz.
Música: timbres, arranjos, ritmos, gêneros musicais, melodia/ harmonia.
Performance:
cena
do
espetáculo,
ação
dos
cantores
e
dos
músicos,
maquiagem/figurino, vozes etc.9
Os aspectos da performance foram observados a partir de imagens em jornais e
revistas, de relatos em críticas e reportagens na imprensa, de vídeos disponibilizados no
site You Tube (www.youtube.com) e de outras descrições em textos pesquisados.
O segundo material documental de análise, além das canções, foi composto pelos
discos. Para tanto, foi necessário observar neles as características que indicam uma
unidade de projeto ou proposta estética. É importante detectar que elementos do disco,
além dos ligados à canção, servem de suporte a esse conceito geral do trabalho
experimental do artista. Como ilustração, é possível indicar o disco Todos os Olhos, de
Tom Zé (1973), em cuja capa aparece uma bolinha de gude em primeiríssimo plano
posicionada entre os lábios de uma boca. No entanto, a capa gerou polêmica pela relação
entre a imagem, o título do disco e a semelhança com um ânus, como forma de rebeldia
política pouco ortodoxa em tempos de repressão.
Essa análise se fundamenta numa noção sobre o álbum musical pouco utilizada
em tempos de música digital. Não se pensou aqui o disco apenas como suporte de
gravação, nem apenas como mercadoria. Sem descartar esses aspectos determinantes que
devem ser considerados10, buscou-se tratar o conjunto disco-capa-encarte como texto
semiótico (de significado estético e conceitual) e comunicacional dentro do projeto
artístico do artista. Assim, a estrutura gráfico-visual, textos escritos, dados técnicos,
imagens, a sequência das faixas gravadas e a estrutura do encarte são informações que,
9
Sobre o conceito de performance, ver o balanço crítico de Marvin Carlson (2010) e as análises nos
aspectos culturais em Zumthor (1997), nos aspectos de linguagem em Cohen (1989) e nas relações com a
canção e as mídias em Valente (2003).
10
Por exemplo, o formato do LP trouxe um tamanho de capa e determinado manuseio que foram condições
para a criatividade no trabalho gráfico-visual dos álbuns, algo que não ocorria com os discos de 78 rpm e
nos compactos.
20
nestes casos, estão conjugadas à proposta composicional e ao projeto estético mais amplo
da obra do artista, dialogando ou revelando outros intentos de criação.
Estão no escopo de análise desse material documental as seguintes categorias:
Informações visuais da capa e da contracapa (desenho, cores, fotos, colagens etc.).
Informações técnicas de gravação e de arranjos musicais.
Relações pensadas entre as canções do disco e sua composição visual.
4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
O projeto de pós-doutorado teve previsão inicial de realização em 12 meses, a
partir de outubro/2012. Contou ainda com prorrogação de 6 meses, conforme cronograma
geral abaixo.
Atividades
Pesquisa discográfica e
bibliográfica
Visitas a arquivos e
bibliotecas
Elaboração da lista de
entrevistados
Realização das entrevistas
Transcrições das
entrevistas
Cópia de documentos
impressos
Gravação e análise de
músicas e discos
Elaboração de artigos e
relatórios parciais
Fechamento da pesquisa e
relatório final
10/12
2012
X
01/03
X
X
X
X
X
X
04/06 07/09
2013
X
10/12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
01/03 04/06
2014
X
X
X
X
5. DISSEMINAÇÃO E AVALIAÇÃO
Este projeto, tanto a fase inicial, com apoio Fapesp, como esta referente ao pósdoutorado, vem tendo como produtos artigos científicos e comunicações em congressos
da área da comunicação e de estudos sobre música popular. Como a investigação é parte
das pesquisas realizadas dentro do grupo de pesquisa “Música, Cultura e Linguagens da
Mídia” (sob registro no CNPq), sob minha liderança, no Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), as repercussões
21
da pesquisa nesses congressos e os artigos publicados estão ligados também às
repercussões do grupo. Por isso, os meios acadêmicos são os espaços de disseminação
por excelência deste trabalho.
Antes de iniciar o pós-doutorado, estes são os artigos publicados e papers
apresentados referentes à pesquisa:
Condições e contexto midiático do experimentalismo na MPB dos anos 1970. 32º
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom, Curitiba (PR), no GP
Rádio e Mídia Sonora, set/2009. Publicado como artigo na revista Intexto (UFRGS),
vol. 2, 2010.
O experimentalismo de Walter Franco. 9º Congresso da seção latino-americana da
International Association for the Study of Popular Music (IASPM-AL), Caracas
(Venezuela), jun/2010. Publicado como artigo com o nome A canção experimental de
Walter Franco na revista Comunicação e Sociedade (Umesp), vol. 32, 2010.
Secos & Molhados: experimentalismo, mídia e performance. 19º Encontro Anual da
Compós, Rio de Janeiro (RJ), jun/2010.
Categorias de análise do experimentalismo pós-tropicalista na MPB. 20º Encontro
Anual da Compós, Porto Alegre (RS), jun/2011. Publicado como artigo na revista
Fronteiras - Estudos Midiáticos (Unisinos), v. 14, 2012.
Tinindo Trincando: contracultura e rock no samba dos Novos Baianos. 34º Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação - Intercom, Recife (PE), no GP Culturas
Urbanas, set/2011. Artigo publicado posteriormente em Contemporânea, v. 9, 2011.
As inovações de Tom Zé na linguagem da canção popular nos anos 1970. Galáxia, v.
12, 2012.
Ney Matogrosso: performance na canção midiática. Interin, v. 14, 2012. (coautoria
com Vitória A. Silva)
Em 2012, apesar de ter dois papers aceitos sobre o trabalho de Tom Zé nos
congressos da Iaspm-AL, em Córdoba (Argentina), em abril, e da ALAIC, em
Montevidéu (Uruguai), em maio, não pude participar dos eventos por conta de um grave
problema de saúde.
6. APOIOS DE ORIENTANDOS DE EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE MESTRADO
Dentro do Programa de Iniciação Científica da Universidade Municipal de S.
Caetano do Sul (USCS), tive como orientandos os seguintes alunos:
22
Caio Araujo Silva (período de ago/2012 a jul/2013), com uma pesquisa sobre a
contracultura dos Novos Baianos.
O mesmo aluno finalizou em julho/2012 uma pesquisa sobre a obra de Tom Zé.
Rafael Boegli (de ago/2010 a jul/2011), cuja pesquisa foi sobre Jards Macalé.
Giuliana de Gragnani (de ago/2009 a jul/2010), cuja pesquisa foi sobre as críticas a
esses artistas experimentais na imprensa dos anos 1970, casos da revista Veja e jornal
Folha de S. Paulo.
No Programa de Pós-Graduação em Comunicação da USCS, no Mestrado, tive
sob minha orientação a aluna Vitória Angela Serdeira Honorato Silva, cuja pesquisa
tratou dos aspectos da performance de Ney Matogrosso em três momentos de sua carreira,
um deles ainda no Secos & Molhados.
Parte 2 – Resultados da pesquisa do pós-doutorado
7. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO
23
Dentre as atividades propriamente da pesquisa realizadas neste pós-doutoramento,
destaco três que encerram o processo empírico como um todo: a pesquisa bibliográfica e
documental, as entrevistas e as análises das obras dos quatro artistas, incluindo aqui as
canções, alguns vídeos na internet (ou descrições de espetáculos em textos) e os discos.
7.1. Pesquisa bibliográfica e documental
A pesquisa bibliográfica é atividade contínua da pesquisa. Como indicado na parte
1 deste relatório, fora feito um levantamento representativo de obras que balisam a
problematização e os passos da investigação. Ao longo do trabalho, outras fontes
bibliográficas foram acionadas. Segue abaixo a relação de fontes levantadas:
Artigos:
BAUGH, Bruce. Prolegômenos a uma estética do rock. Novos Estudos. São Paulo:
CEBRAP, n. 38, mar. 1994, p. 15-23.
BOZZETTI, Roberto. Uma tipologia da canção no imediato pós-tropicalismo. Letras.
n. 34, jan-jun. 2007, p. 133-146.
DURÃO, Fabio A.; FENERICK, J. Adriano. Tom Zé's unsong and the fate of the
tropicália movement. In: SILVERMAN, Renée M. (edit.) The popular avant-garde.
Amsterdã: Rodopi Press, 2010, p. 299-315.
FENERICK, J. A. Tom Zé: a crítica de canção popular e a canção popular crítica. Fênix
– Revista de História e Estudos Culturais, ano X, v. 10, n. 2, 2013.
FIGUEIREDO, L. A. Jards Macalé: música e mídia. Comunicação: Veredas. Ano 2, n.
2, nov. 2003, p. 357-369.
INGLIS, Ian. “Nothing you can see that isn’t shown”: the album covers of the Beatles.
Popular Music. Cambridge (UK), v. 20, n. 1, 2001, p. 83-97.
JONES, Steve; SORGER, Martin. Covering music: a brief history and analysis of album
cover design. Journal of Popular Music Studies. v. 11, n. 1, 1999, p. 68-102.
KEIGHTLEY, Keir. Long play: adult-oriented popular music and the temporal logics of
the post-war sound recording industry in the USA. Media, Culture & Society. v. 26, n.
3, 2004, p.375-391.
RODRIGUES, Jorge Luís Caê. Tinindo, Trincando: o design gráfico no tempo do
desbunde. Conexão - Comunicação e Cultura. Caxias do Sul (RS), v. 5, n. 10, jul-dez.
2006, p. 72-103.
ZAN, J. Roberto. Jards Macalé: desafinando coros em tempos sombrios. Revista USP.
n. 87, set-out-nov. 2010, p. 156-171.
Papers em congressos:
STESSUK, S. O silêncio em espirais: Walter Franco. In: 11º Congresso Internacional
da Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic), 2008, São Paulo.
24
ZAN, José Roberto. Secos & Molhados: o novo sentido da encenação da canção. In:
Atas do 7º Congresso da seção latino-americana da International Association for Study
of Popular Music (IASPM-AL), La Habana, junho/2006. Disponível em:
<http://www.hist.puc.cl/iaspm/lahabana/articulosPDF/JoseRobertoZan.pdf> Acesso em
jan/2009.
Livros e capítulos:
ALMEIDA, M. I. M.; NAVES, S. C. “Por que não?”- rupturas e continuidades da
contracultura. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007.
BAHIA, Sergio G. Ney Matogrosso: o ator da canção. Rio de Janeiro: Multifoco, 2009.
BRITTO, Paulo H. A temática noturna no rock pós-tropicalista. In: DUARTE, P. S.;
NAVES, S. C. Do samba-canção à tropicália. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2003,
p. 191-200.
BURGER, Peter. Teoria da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
CONRAD, Gerson. Meteórico fenômeno: memórias de um ex-Secos & Molhados. São
Paulo: Anadarco, 2013.
DIAS, Lucy. Anos 70: enquanto corria a barca. 2. ed. São Paulo: Senac, 2004.
DUARTE, Rogério. Rogério Duarte se textifica. In: COHN, Sergio (org). Rogério
Duarte. Rio de Janeiro: Azougue, 2009, p. 92-107.
DUNN, Chistopher. Tropicália, counterculture and the diasporic imagination in Brazil.
In: PERRONE, C.; DUNN, C. (eds.) Brazilian popular music and globalization. N.
York: Routledge, 2002, p. 72-95.
_______. Brutality garden: tropicália and the emergence of a brazilian counterculture.
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.
FRITH, Simon. The industrialization of popular music. In: LULL, James. (ed.) Popular
music and communication. 2. ed. Newbury Park (EUA): Sage, 1992, p. 49-74.
GALVÃO, Luiz. Anos 70: novos e baianos. São Paulo: Ed. 34, 1997.
GOFFMAN, Ken; JOY, Dan. Contracultura através dos tempos: do mito de
Prometeu à cultura digital. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.
MAGOU, Alexander B. The origins of the 45-rpm record at RCA Victor, 1939-1948.
In: BRAUN, Hans-Joachim. (ed.) Music and technology in the twentieth century.
2.ed. Baltimore e London: Johns Hopkins University Press, 2002, p.148-157.
MORARI, Antonio Carlos. Secos & Molhados. Rio de Janeiro: Nórdica, 1974.
MUKAROVSKY, J. Detail as the basic semantic unit in folk art. In: __________. The
word and the verbal art. New Haven: Yale University Press, 1977, p. 180-204.
ROSZAK, Theodore. A contracultura: reflexões sobre a sociedade tecnocrática e a
oposição juvenil. Petrópolis: Vozes, 1972.
VAZ, Denise P. Ney Matogrosso: um cara meio estranho. Rio de Janeiro: Rio Fundo
Ed., 1992.
VILLELA, Cesar G. A história visual da bossa nova. Rio de Janeiro: ADG Brasil/
UniverCidade, 2003.
25
ZÉ, Tom. Tropicalista lenta luta. 2. ed. São Paulo: Publifolha, 2009.
Dissertações e teses:
CAPELLARI, Marcos A. O discurso da contracultura no Brasil: o underground
através de Luiz Caalos Maciel. Tese de Doutorado em História. São Paulo.
Universidade de São Paulo, 2007.
FUOCO, Neuseli M. C. Tom Zé: a (re)invenção da música brasileira (1968-2000).
Dissertação de Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura. Universidade
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2003.
LIMA, Marcio S. B. de. O design entre o audível e o visível de Tom Zé. Dissertação
de Mestrado em Design. Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, 2010.
MAGALHÃES, Lilian C. Tom Zé: intelectual analfabeto. Dissertação de Mestrado em
Letras. Universidade Federal de Juiz de Fora, 2010.
MARRA, Pedro S. As paisagens sonoras do Brás: reapropriações da cultura popular
na linguagem musical. Dissertação de Mestrado em Comunicação. Universidade
Federal de Minas Gerais, 2007.
MIRANDA NETO, A.C. A guitarra cigana de Pepeu Gomes: um estudo estilístico.
Dissertação de Mestrado em Música. Rio de Janeiro: UniRio, 2006.
MOREIRA, M. Beatriz Cyrino. Fusões de gêneros e estilos na produção musical da
banda Som Imaginário. Dissertação de Mestrado em Música. Universidade Estadual
de Campinas, 2011.
SILVA, G. S. B. P. Tom Zé: o defeito como potência – a canção, o corpo, a mídia.
Dissertação de Mestrado em Comunicação e Semiótica. São Paulo: Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 2005.
SILVA, Vinícius R. B. O doce & o amargo do Secos & Molhados: poesia, estética e
política na música popular brasileira. Dissertação de Mestrado em Letras. Niterói:
Universidade Federal Fluminense (UFF), 2007.
Além do material bibliográfico, foram importantes na pesquisa as fontes
audiovisuais e, obviamente, discográficas, conforme abaixo:
Audiovisuais:
Fabricando Tom Zé. Dir. e rot.: Décio Matos Jr. Goiabada Productions. DVD, 89 min.,
2006.
Novos Baianos F.C. Dir. Solano Ribeiro, 1973. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=y4eePJ6Pcks>
Tom Zé, ou quem irá colocar uma dinamite na cabeça do século? Direção e roteiro:
Carla Gallo. Net Filmes/Quanta. DVD, 48 min, 2000.
Walter Franco Muito Tudo. Dir. Bel Bechara e Sandro Serpa, 2000. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=QTeXbjjlhI8>
26
Discos:
Novos Baianos. É ferro na boneca! RGE, 1970, LP.
Novos Baianos. Acabou chorare. Som Livre, 1972, LP.
Novos Baianos. Novos Baianos F.C. Continental, 1973, LP.
Novos Baianos. Novos Baianos. Continental, 1974, LP.
Novos Baianos. Vamos Pro Mundo. Som Livre, 1974, LP.
Novos Baianos. Caia na Estrada e Perigas Ver. Tapecar, 1976, LP.
Novos Baianos. Praga de baiano. Tapecar, 1977, LP.
Novos Baianos. Farol da Barra. CBS, 1978, LP.
Secos & Molhados. Secos & Molhados. Continental, 1973, LP.
Secos & Molhados. Secos & Molhados. Continental, 1974, LP.
Tom Zé. Tom Zé. RGE, 1970, LP.
Tom Zé. Se o caso é chorar. Continental, 1972, LP.
Tom Zé. Todos os olhos. Continental, 1973, LP.
Tom Zé. Estudando o samba. Continental, 1975, LP.
Tom Zé. Correio da Estação o Brás. Continental, 1978, LP.
Walter Franco. Ou Não. Continental. 1973, LP.
Walter Franco. Revolver. Continental, 1975, LP.
Walter Franco. Respire Fundo. Epic/CBS, 1978, LP.
7.2. Entrevistas e memórias
Um importante instrumento de investigação e construção documental foi a
entrevista. O objetivo em trabalhar com essa ferramenta foi obter as percepções de alguns
personagens que, de alguma forma, estiveram presentes e foram atuantes no contexto
estudado. Eminentemente de caráter qualitativo, as entrevistas possibilitaram entender,
em parte, três dados importantes:
1) como se construiu a obra de determinado artista: criação de arranjos e gravações;
2) como determinada gravadora se interessou por tais artistas com essas características
pouco explicitamente comerciais; e
3) como se estabeleceram as relações entre os artistas e os participantes do contexto
cultural e midiático considerado.
Obviamente, as respostas a essas três grandes questões, como será discutido nos
resultados, não estão somente nos depoimentos, pois as obras foram analisadas, o
contexto foi estudado e a gravadora Continental foi pesquisada. A motivação foi dar
27
outras possibilidades de construir, pela memória dos personagens, outras respostas às
questões colocadas pela pesquisa, com complementos pessoais sobre a obra dos artistas,
seus trabalhos na gravadora e sobre a percepção que tinham da época. Todos gravados
em áudio, transcritos e apresentados no anexo deste relatório, esses depoimentos
trouxeram versões sabidamente parciais, por conta dos enfoques pessoais que encerram.
Porém, foram fundamentais por trazerem pontos de vista ainda pouco trabalhados no
entendimento dessa produção cultural.
Algumas entrevistas que me foram enviadas foram realizadas pelo prof. Dr.
Eduardo Vicente, supervisor deste pós-doutorado. Foram os casos dos depoimentos de
Wilson Souto Jr. (set/2008), produtor que trabalhou na Continental, e de Kid Vinil (s/d),
músico e radialista que também passou por essa companhia.
Eu realizei pessoalmente cinco entrevistas, dentre os 10 personagens que havia
projetado inicialmente, todas em São Paulo, exceto a de Carlos Sion, que ocorreu no Rio
de Janeiro:
Rodolpho Grani Jr. (23/mai/2012), músico que acompanhou Walter Franco nos anos
1970;
Pena Schmidt (05/ago/2013), produtor musical que trabalhou na Continental;
Claudio Prado (30/ago/2013), profissional que trabalhou diretamente na gravadora
tentando lançar novos artistas da cena roqueira da época;
Emílio Carrera (30/ago/2013), pianista que gravou com o grupo Secos & Molhados,
entre outros;
Carlos Sion (16/out/2013), produtor que trabalhou nos discos de Walter Franco na
Continental.
Além dessas entrevistas, foi possível colher as falas alguns personagens em outras
situações. De Tom Zé, há suas intervenções em dois documentários (ver acima) e em seu
depoimento biográfico no livro Tropicalista lenta luta (ZÉ, 2009). De Ney Matogrosso,
há o trabalho de Denise Vaz (1992) com as impressões do cantor em depoimento. No
livro de Morari (1974), há entrevistas com os três músicos do Secos & Molhados no curto
período de vida do grupo. Da mesma forma, foi útil o livro de Gerson Conrad (2013) com
suas memórias. Dos Novos Baianos, o livro de memórias de Luiz Galvão (1997) foi
importante para esta pesquisa.
Os limites destas experiências e os problemas enfrentados estão discutidos no item
10 deste relatório, à frente.
28
7.3. Análise das obras (canções e discos)
A análise da obra desses quatro artistas nos anos 1970 foi o centro deste trabalho
e se materializou nos artigos publicados na primeira fase da pesquisa, sob financiamento
da Fapesp, e nos três textos produzidos neste pós-doutorado.
No geral, a análise se pautou pelo estudo da canção propriamente dita, pensada
como fenômeno híbrido de linguagem (letra-música-performance) e suas relações com
os contextos midiático e histórico-cultural na década. Foram observados, assim, tanto os
trabalhos individuais de cada artista, como as interfaces entre eles e a inserção de todos
no cenário cultural.
No que se refere à linguagem da canção, como já indicado, os pontos de análise
foram: letra (tema, léxico, metáforas, formas de estruturação, rimas, assonâncias etc.),
canto (relação entre texto e melodia, entoação, formas e características da voz), música
(timbres, arranjos, ritmos, gêneros musicais etc.) e performance (linguagem corporal,
ação dos cantores e dos músicos, maquiagem/ figurino, vozes etc.).
Este último ponto (performance) será discutido com base em alguns vídeos na
internet e com descrições colhidas em entrevistas, matérias jornalísticas e outros textos.
Não se trata de uma análise exclusivamente do corpo do músico, mas de como os
elementos corporais interferem no sentido da canção.
Em termos teóricos, a base conceitual advém da semiótica da cultura,
particularmente de Iuri Lotman (1996) e seu conceito de texto cultural. As canções foram
pensadas nas relações com o estágio da indústria cultural na época e na sua estrutura de
linguagem. Tendo em vista os objetivos, a principal intenção era discutir as inovações e
o caráter experimental das obras. Assim, nem todas as canções dos discos foram
exploradas, mas apenas aqueles exemplos nos quais o compositor e os músicos foram
capazes de trabalhar de maneira inovadora a linguagem da canção, sem perder de vista a
vinculação desses trabalhos com as peculiaridades de produção e consumo do período e
as particularidades do contexto histórico do país.
Por isso, foi importante a análise das capas dos discos, um dos principais
interesses desta pesquisa de pós-doutorado e materializada em um texto apresentado em
congresso e publicado em periódico. Tal análise buscou responder a essa inserção da
canção no mercado de bens simbólicos por meio da embalagem especialmente pensada e
preparada para tal produto cultural. Como o trabalho desses artistas era mais
experimental, buscou-se pensar como a mercadoria disco ajudava a viabilizar
29
esteticamente a canção inovadora. Tentou-se analisar até que ponto as capas dos discos,
especialmente as produzidas pela Continental, puderam traduzir a inovação cancionística
proposta ali. Logo, a capa deveria, em tese, recriar essa tradução visual da proposta do
artista.
As categorias de análise das capas foram:
informações visuais da capa e da contracapa (desenho, cores, fotos, colagens etc.);
informações técnicas de gravação e de arranjos musicais;
relações pensadas entre as canções do disco e sua composição visual.
Os detalhes dessa discussão estão nos resultados da pesquisa, item a seguir.
8. TRABALHOS PUBLICADOS NO PERÍODO DO PÓS-DOUTORADO
Três formas do experimentalismo na MPB da década de 1970. E-Compós, v. 15, p.
1-16, 2012.
Capas
de
disco
da
gravadora
Continental:
pós-tropicalismo,
MPB
e
experimentalismo. Anais do 22º Encontro Anual de Associação Nacional de
Programas de Pós-Graduação em Comunicação, 2013, Salvador (BA). Publicado
com o título Capas de disco da gravadora Continental nos anos 1970: música popular
e experimentalismo visual na revista FAMECOS, v. 20, 2013, p. 403-429.
Tropicalismo
e
pós-tropicalismo:
dois
contextos,
dois
hibridismos,
dois
experimentalismos. In: ROSSETTI, R.; VARGAS, H. (org.). Linguagens na mídia:
transposição e hibridização como procedimentos de inovação. Porto Alegre:
EDIPUCRS / USCS, 2013, p. 103-119.
9. RESULTADOS DA PESQUISA
Para relatar os resultados da pesquisa, retomarei os cinco objetivos iniciais
apontados na Parte 1 – “O projeto de pesquisa e resultados preliminares” deste relatório,
referente ao projeto de pesquisa.
Objetivo 1
O primeiro objetivo teve caráter mais operacional e serviu para definir o corpus
da investigação. Na realidade, ele já estava resolvido na primeira parte da pesquisa, antes
do pós-doutorado. Naquele momento, foi importante selecionar os trabalhos que seriam
objetos de análise e que respondessem plenamente e de forma consistente à problemática
30
colocada. Se pensarmos na produção mais experimental dos anos 1970 na MPB, vários
artistas poderiam entrar na seleção. Os nomes iniciais foram: Walter Franco, Tom Zé,
Jorge Mautner, Jards Macalé, Sergio Sampaio, Caetano Veloso, os grupos Secos &
Molhados, Novos Baianos e Som Imaginário. Não entraram nesse levantamento os vários
grupos de rock, por se distanciavam do conceito MPB, e os artistas da chamada
“vanguarda paulista”, por iniciarem suas carreiras no final da década e já apontarem para
outras problemáticas referentes à produção musical independente. Dessa lista inicial,
foram selecionados quatro que puderam ser mais representativos na discussão sobre o
experimentalismo na MPB aqui colocada e que envolve a contracultura, o póstropicalismo, os discos e a dinâmica da indústria fonográfica na década de 1970, com
destaque para a gravadora Continental.
Assim, optou-se por considerar os compositores Tom Zé e Walter Franco e os
grupos Novos Baianos e Secos & Molhados, pois, esses artistas gravaram todos ou parte
de seus trabalhos na década na Continental, em São Paulo. O sucesso comercial e popular
não foi um critério de exclusão ou inclusão.
Os artistas em questão não formaram um movimento e nem havia muitas
semelhanças estéticas em suas obras. A rigor, o que os vincula para esta pesquisa é o fato
de terem trabalhado a experimentação em algum grau e de alguma forma e, em segundo
lugar, terem trabalhado, pelo menos em parte, na gravadora paulista, tendo tomado parte
da produção cancionística e midiática do período.
Como já indicado, desses quatro artistas, excetuando coletâneas, álbuns coletivos
e ao vivo, foram analisados os LPs:
Walter Franco: Walter Franco – Ou Não (Continental-1973), Revolver (Continental1975) e Respire Fundo (Epic/CBS-1978).
Secos & Molhados: Secos & Molhados (Continental-1973) e Secos & Molhados
(Continental-1974).
Tom Zé: Tom Zé (RGE-1970), Tom Zé – Se o Caso é Chorar (Continental-1972),
Todos os Olhos (Continental-1973), Estudando o Samba (Continental-1976) e
Correio da Estação o Brás (Continental-1978).
Novos Baianos: É Ferro na Boneca (RGE-1970), Acabou Chorare (Som Livre-1972),
Novos Baianos F.C. (Continental-1973), Novos Baianos (Continental-1974), Vamos
Pro Mundo (Som Livre-1974), Caia na Estrada e Perigas Ver (Tapecar-1976), Praga
de Baiano (Tapecar-1977) e Farol da Barra (CBS-1978).
31
No entanto, a atenção maior ficou com os produzidos pela Continental, ou seja,
dois de Walter Franco, dois do Secos & Molhados, quatro de Tom Zé e dois do Novos
Baianos, um total de 10 discos.
Objetivo 2
O segundo objetivo, apesar de estar desde o início da investigação, vincula-se
diretamente à discussão nesta segunda fase da pesquisa, referente ao pós-doutorado. No
primeiro artigo publicado por mim sobre o tema (VARGAS, 2010a), alguns pontos já
estavam sendo mapeados: a situação da indústria fonográfica no início dos anos 1970, a
importância do formato long play (LP) para os discos e as relações entre a música popular
e a televisão. O pano de fundo histórico para esses pontos está no período de fechamento
institucional da ditadura militar com a decretação do AI-5 (pacote de leis de exceção
baixado pelo governo em dezembro de 1968) e na política econômica desses governos.
De um lado, havia censura, controle dos meios de comunicação e propaganda do regime,
de outro, os governos incrementaram investimentos em infraestrutura (transportes,
telecomunicações etc.), incentivam a abertura de setores do mercado para multinacionais,
ampliava créditos para que a economia, de forma geral, crescesse gerando o período
conhecido como “milagre econômico”.
Quanto à produção fonográfica, houve um crescimento substancioso, paralelo ao
crescimento nas vendas de discos no Brasil. Muitos dados comprovam esse movimento,
como indicam Ortiz (1991), Vicente (2002), Morelli (2009) e Paiano (1994). Embalada
pelo “milagre econômico”, a produção de bens de consumo teve aumento expressivo.
Segundo Enor Paiano (1994, p. 195), entre 1968 e 1971, a “indústria de material elétrico
(na qual se incluem rádios, toca-discos e toca-fitas) cresce 13,9% no período, (…) mais
que os ramos têxtil (7,7%), alimentos (7,5%) ou vestuário e calçados (6,8%)”. Isso indica
aquecimento no consumo de setores da classe média beneficiados pelo sistema de crédito
ao consumidor.
Movimento parecido se percebeu no mercado fonográfico:
O que chama a atenção imediatamente ao analisarmos os números do
mercado fonográfico nacional, de 1966 a 1976, é o crescimento
acumulado de 444,6% no período, para uma época em que o
crescimento acumulado do PIB foi de 152% (…). Os anos de 1967 e 68
apresentam crescimento percentual significativo, enquanto que 1969 e
70 vivem certa estagnação. A partir de 1971 os números crescem de
forma estável, à média de 20% ao ano – exceção para 1974 e 75 quando
32
a falta de vinil [devido à crise do petróleo] criou uma demanda
reprimida responsável também pela explosão de 1976, quando o
fornecimento de matéria-prima se normalizou. Para se ter um termo de
comparação com outras áreas similares, o mercado de livros cresceu
260% de 1966 a 1976, e as revistas 68,9% de 1965 a 1975 (PAIANO,
1994, p. 195-6).
Duas ideias podem ser tiradas desses números. De um lado, o dinamismo do setor
produtivo ligado à cultura musical se expandiu, ainda como reflexo dos sucessos dos
festivais de MPB da década anterior e dos programas musicais de TV. De outro, tal
expansão se alinhou a demandas de consumo cultural que cresciam em função do maior
acesso aos bens por setores da sociedade antes alijados desse consumo.
Mesmo que esse consumo estivesse voltado para os gêneros musicais mais
populares, é possível pensar que isso também impactaria o nicho de produção e consumo
de artistas mais experimentais: quanto mais aquecidos estivessem os mercados
consumidor e produtor, maiores eram as oportunidades de lançamento de novidades para
esse mercado. Tais interesses mercadológicos no início da década abriram as portas para
artistas com esse perfil diferenciado.
Quanto às gravadoras, Marcos Napolitano (2002) indica que, no mercado de bens
simbólicos, vale muito a imagem de legitimidade que determinado produto empresta a
seu fabricante. Assim, se as gravadoras estavam interessadas no lucro, havia também o
cuidado em apresentar um produto com certo perfil “refinado” que desse à empresa
fonográfica relativo status dentro de um nicho de consumo mais “sofisticado”, apesar da
baixa vendagem. Tal argumento é utilizado em diversos outros mercados culturais para
explicar a manutenção de determinados produtos com elevado grau de sofisticação
simbólica e vinculado a um consumo limitado, porém, específico e realizado por setores
da sociedade formadores de opinião.
Assim, se as gravadoras investiam no produto musical de sucesso mais imediato
e popular, também buscavam manter em catálogo uma gama de compositores e cantores
que alcançavam repercussão na crítica mais especializada e nos ouvintes de maior nível
de escolarização. Foi, por exemplo, o caso da gravadora Continental: na busca de
alternativas para conquistar público num mercado aquecido e disputado por grandes
empresas, a Continental, uma das maiores gravadoras de capital nacional, diversificava
seu catálogo dando espaço a novos grupos e compositores, mesmo que isso gerasse, num
curto prazo, algum prejuízo. O próprio presidente da Continental, Alberto Jackson
Byington Neto, nos anos 1970 deu a entender essa estratégia. A partir de seu depoimento,
33
uma pesquisa realizada pelo Idart em 1976, coordenada por D. Cozzella, indica que a
“(…) boa situação da Continental (…) permite que a empresa, a partir de resultados
financeiros conseguidos com discos que vendam com facilidade, produza discos de
artistas difíceis ou sofisticados – como Walter Franco, por exemplo” (IDART, 1980, p.
34).
Um investimento como esse não ocorreria caso estivessem em um momento de
recessão e, certamente, tais músicos não teriam o espaço que tiveram no início da década.
Tanto que, mais para o final dos anos 1970, quando o mercado fonográfico se restringe e
as grandes gravadoras se estabelecem com maior firmeza, muitos artistas já não
conseguem oportunidades para apresentação de trabalhos mais experimentais. Alguns
caíram no ostracismo (caso de Toma Zé), outros encamparam a dinâmica da música de
sucesso e houve ainda aqueles que optaram por uma produção à margem da indústria
fonográfica, fundando o que se chamou no início dos anos 1980 de produção alternativa,
a exemplo de Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção e o grupo Rumo que se lançaram às
próprias custas ou pelo selo alternativo Lira Paulistana.
Além do crescimento das vendas de disco no período, já ocorria há um tempo a
popularização do disco long-playing, ou LP. Mais largo que o antigo disco de 78 rpm e
girando mais devagar (com 33⅓ rpm), o LP continha mais tempo de gravação – cerca de
20 minutos em cada um dos lados ou um total de 12 faixas-padrão de três minutos em
média. A fixação e a consagração comercial do formato ocorreram entre o final dos anos
1960 e início dos 1970, como demonstram os números apresentados por Paiano (1994)11:
Em 1969, 57% dos discos vendidos eram em formato compacto
(simples e duplo); em 1976, só 36% serão compactos, com o
crescimento do formato álbum (LP e cassete). Usando uma conta da
própria indústria, que considera um LP equivalente a seis compactos
simples e três compactos duplos em valores, temos um crescimento
líquido para o mercado no período de 608,3% (…) (PAIANO, 1994,
p.197).
O LP tornou-se o principal produto fonográfico da indústria no Brasil e em outros
países. Com ele, foram possíveis algumas alterações no produto em si e na música. Uma
delas, e que vale mais para esta discussão, é o fato de o álbum possibilitar a corporificação
do conceito estético de um artista, diferente do que ocorria com o 78 rpm ou com o
11
Vale destacar que parte dessa vendagem era composta de discos com trilhas de telenovela, notadamente
da gravadora Som Livre, braço fonográfico da Globo.
34
compacto simples, que traziam duas músicas gravadas para serem divulgadas em
emissoras de rádio. Esses formatos menores funcionavam melhor para a venda de músicas
de sucesso, enquanto no LP se gravava um conjunto de canções organizadas em sequência
nos dois lados do disco acondicionado numa embalagem (capa) com determinadas
imagens e encarte com letras transcritas, ficha técnica (músicos e técnicos de gravação) e
quaisquer outras informações complementares. Enquanto o compacto servia ao consumo
imediato, o álbum dava a chance da criação de um produto cultural com maior
organicidade estética e mais sofisticado para um consumo específico.
Isso fez com o artista se tornasse o grande produto das gravadoras (ao invés desse
produto ser a canção de sucesso) e possibilitou a esse artista a elaboração de um trabalho
com maior consistência conceitual, aquilo que podemos chamar de “obra autoral”
(PAIANO, 1994, p. 206).
Essa mudança no conceito cultural do disco a partir do LP nos anos 1970 está
vinculada também aos discos de rock, sobretudo os de rock progressivo, como Yes,
Genesis, entre outros. A produção das capas se profissionalizou ao passarem a ser
realizadas por designers especializados cujo trabalho visual deveria traduzir os conceitos
explorados musicalmente no disco. Só assim é possível entendermos capas como a do
primeiro disco dos Secos & Molhados (as cabeças dos músicos colocadas em pratos ao
lado de outras comidas numa mesa), ou a capa branca com uma mosca no centro no disco
Ou não (1973), de Walter Franco, ou a bola de gude na capa de Todos os olhos (1973),
de Tom Zé, ou ainda a imagem de Caetano Veloso num espelho em Araçá azul (1972).
Algumas dessas condições possibilitaram, naquele momento, a abertura de espaço
para gravação e divulgação de uma música popular mais preocupada com a linguagem,
mais voltada à inovação e que buscava maior contato com um público (notadamente, os
universitários) interessado nesses exercícios criativos. O trabalho inovador nas capas de
discos desses artistas será tratado em um objetivo específico mais à frente e foi tema de
um artigo produzido nesta pesquisa.
Um terceiro polo das indústrias culturais do período a entrar na argumentação foi
a televisão. Sua popularização – também iniciada nos anos 1960, com o videoteipe e a
organização da grade de programação – aumenta na década de 1970 por conta da estrutura
em rede via satélite e pela imagem em cor.
Luiz Tatit (2005) observa uma sensível alteração no campo da música popular
entre as duas décadas em questão vinculando-a fortemente ao mercado de consumo e à
programação. Os sinais dessa transformação foram: a crise da TV Record e de seus
35
festivais e programas musicais a partir do final dos anos 1960; a ascensão da TV Globo
na década seguinte dando prioridade às telenovelas e aos contatos com as gravadoras para
definição da trilha sonora; e, por fim, as relações viciadas entre a indústria fonográfica e
as emissoras de rádio. O novo cenário, aos poucos, estreitou os acessos de compositores
e cantores a esses espaços de consagração artística recém criados e dominados pelo
sistema gravadora-televisão-rádio.12 Ao longo dos anos 1970, o mercado tenderá ao
estreitamento, que levará alguns músicos experimentais à produção independente, como
já indicado.
No entanto, o contexto da década não foi tão sombrio como pode parecer. Apesar
das condições aparentemente adversas, houve várias novidades, algumas com bastante
alarde midiático e outras de fama mais restrita. O novo perfil do mercado musical em
crescimento proporcionou outros canais para atingir o público. Mesmo a televisão tendo
se tornado o principal veículo de comunicação centralizando boa parte da produção
musical, as emissoras incorporaram interesses próximos ao das gravadoras de legitimar
seu catálogo de contratados frente ao público mais exigente. No caso das TVs, o objetivo
foi utilizar espaços em sua programação para veicular determinados artistas visando uma
audiência parecida. São exemplos disso os festivais universitários transmitidos pela TV
Tupi e o programa Som Livre Exportação, da TV Globo, que abriram campo para novos
artistas – os casos de Ivan Lins e Luiz Gonzaga Jr. são importantes, conforme relata Ana
Maria Bahiana (1980).
Outro aspecto ligado à TV tem a ver com uma nova estética somada à linguagem
da canção e que se desenvolve a partir da visualidade, seja da capa do disco mais
aprimorada em diálogo com o conceito do álbum, seja pelas inovadoras performances
dos artistas no palco. Nesse segundo quesito, o fenômeno mais representativo é o grupo
Secos & Molhados. Boa parte da criação e do sucesso do trio (Gerson Conrad, João
Ricardo e Ney Matogrosso) estava nas maquiagens usadas pelos músicos e na androginia
do cantor Ney Matogrosso nos palcos. Tal postura servia para levantar polêmicas nos
setores mais conservadores da sociedade repercutidas na imprensa e, ao mesmo tempo,
foi um dos principais exercícios experimentais e de estranhamento do grupo (SILVA,
2007; CONRAD, 2013; MORARI, 1974; VARGAS, 2010c).
Dentro da estrutura das indústrias culturais ligadas à canção popular brasileira nos
anos 1970, uma gravadora ganhou relativo destaque por ser a maior companhia nacional
12
A pesquisa do Idart (1980), realizada em 1976, evidencia essa alteração a partir de depoimentos de
profissionais da indústria fonográfica da época.
36
na época: a Continental. A empresa foi fundada em 1929 como Byington & Cia. para
representar a norte-americana Columbia, sob o nome Columbia do Brasil. Depois de
acabado o acordo, em 1943, mudou o nome oficial para Gravações Elétricas S.A. e adotou
o selo Continental para visibilidade da marca até ser vendida em 1993 para a Warner.
Chegou a ser a maior empresa nacional do setor, gravando artistas populares ligados ao
samba e aos gêneros regionais (VICENTE, 2002). No entanto, entre as décadas de 1960
e 1970, de um lado pela política econômica dos governos militares e, de outro, pela
expansão das empresas multinacionais, a Continental passou a enfrentar a concorrência
das companhias fonográficas estrangeiras que começaram a se estabelecer no país e, aos
poucos, deixaram de lançar e distribuir os discos da companhia brasileira. Na disputa
comercial e com o maior poder econômico das multinacionais (majors), os artistas que
demonstravam ser atrativos ao mercado, tanto em volume de vendas como em
consistência de consumo, passaram a ser contratados por essas empresas. As gravadoras
nacionais, por sua vez, se mantiveram na área dos gêneros mais populares, que ainda
tinham boa vendagem. No entanto, por vários de seus lançamentos terem preços menores
(“disco econômico”), ocupavam menor espaço no mercado e eram consumidos por um
público de menor poder aquisitivo (VICENTE, 2002, p. 74-75).
A Continental teve que bancar a luta por artistas que trouxessem algum tipo de apelo,
seja nas vendas, seja em termos de valor simbólico agregado à companhia, tentando construir
uma imagem não apenas vinculada aos artistas populares, mas também ligada a determinado
“bom gosto” musical.
Porém, nem sempre essa escolha tinha critérios tão específicos. Na prática, muitos
tipos de música e muitos artistas poderiam ser gravados, desde que trouxessem lucro à
companhia. Como a empresa controlava todo o processo de produção do disco, desde a
gravação até distribuição e venda, se havia algum mercado para determinado trabalho, ele era
gravado. Segundo depoimento do produtor Pena Schmidt (entrevista para este pesquisa)13:
[…] Você tem uma companhia vertical, nesse sentido de ser
industrialmente completa, autossuficiente.
[…] Ela distribuía. Ela fabricava a capa, fabricava o disco, ela gravava
dentro do estúdio dela, ela fazia todas as operações, masterização, corte do
disco, a parte técnica, ela tinha a editora que cuidava dos direitos autorais,
ela tinha o departamento de vendas, ela vendia, e vender, só isso aí é outra
história grande, porque era um mercado completamente diferente
[…] Tudo que cabe dentro de um disco fazia parte do negócio deles, tudo,
então ele não tinham especialização, não tinham nenhum tipo de
13
As íntegras das entrevistas estão no anexo deste relatório.
37
preconceito com relação a conteúdo. Então tinha poesia, tinha padre e
tinham bandas esquisitas urbanas de rock’n’roll de hoje, tinha tido humor
numa época um pouquinho anterior, tinha sertanejo, não, não era sertanejo
o nome... A gente fazia uma brincadeira que era assim: “o outro lado da
marginal”, que quer dizer pra lá Mato Grosso, Goiás, Acre, Roraima,
Rondônia, um pedaço pra cá já entra o Amazonas, um pouquinho pra lá já
é o Pará, aqui tem esse miolo todo que ainda era Goiás, aí tinha o Nordeste
que começava no Maranhão e ia se quebrando em pedaços, reinos
separados. O Maranhão não é o Ceará, que não é Alagoas, que não é
Sergipe, que não é o Pernambuco, que não é a Bahia. Tudo isso era muito
claro, tinha essa noção de “ó, você vai falar com o fulano, aqui no Ceará,
cuidado porque ele não é amigo do fulano aqui no Maranhão, entendeu?”
Essa territorialidade era domínio da companhia. E aí você descia para o
sul e tinha os alemães de Santa Catarina, que são diferentes dos alemães
do Paraná, que são diferentes do gaúcho da Costa, que é diferente do
gaúcho do meio, que é diferente do gaúcho do norte do estado, da fronteira
com o rio Paraná.
O que Pena Schmidt indica são as ações da Continental para criar um amplo
acervo de gravações e poder fazer frente às grandes companhias. A busca pelo artista de
sucesso para ampliar as vendas ou o interesse em gravar vários tipos de música para
ganhar público fez com a companhia recebesse muitos artistas em início de carreira ou
pouco conhecidos que levavam seus trabalhos para avaliação e possível contrato.
Isso justifica a criação da Sonhos, por Claudio Pardo14, uma pequena empresa (ou
uma divisão) dentro do grupo Gravações Elétricas S.A., do qual a Continental participava
também. A proposta dessa espécie de produtora era atrair grupos de rock nacional que
estavam interessados em gravar. Claudio Prado fazia essa ligação entre grupos e a
Continental, pois conhecia muitos artistas, tinha morado na Inglaterra entre final da
década de 1960 e início da seguinte. A Sonhos produzia shows, intermediava artistas e
indicava para gravações. Um dos principais contatos foi a vinda dos Novos Baianos para
a Continental. Conforme depoimento de Claudio Prado, ele e Byington foram ao sítio do
grupo em Jacarepaguá (RJ) para assinatura do contrato, do qual saíram dois discos.
Pelas informações conseguidas com Pena Schmidt (na entrevista), na pesquisa
bibliográfica e ao consultar discos da companhia, é possível identificar a variedade de
artistas e de gêneros musicais gravados na Continental. A estratégia da empresa era
diversificar o leque de produções para, consequentemente, traduzir isso em lucros e
projeção corporativa, já que ela não tinha um casting de artistas de sucesso de vendas e
de crítica, como eram Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, entre outros, na Philips.
14
Em entrevista para esta pesquisa, Claudio Prado cita o nome completo: Sonhos Criações Artísticas e
Ambulantes.
38
Muitos grupos de rock de São Paulo e de outros estados passaram pela Continental,
compositores como Walter Franco, Tom Zé e Sergio Sampaio e grupos inovadores como
Secos & Molhados e Novos Baianos, tudo isso paralelo à música regional, ao samba e
aos boleros que também preenchiam o catálogo da companhia.
A Continental, junto de outras nacionais, como RGE e Copacabana, lutavam por
maior espaço no mercado fonográfico brasileiro numa época em que a política econômica
abria o setor ao capital estrangeiro, como fruto das orientações dos governos militares.
Nessa concorrência com majors, como Philips/Phonogram (depois PolyGram), CBS,
EMI, entre outras, estas últimas acabaram se saindo melhor. E foram as estratégias de
diversificação estética, de busca por novos artistas e outras de caráter simbólico (como
veremos à frente com as capas de disco) que fizeram com que, dentro dessa disputa, os
espaços fossem abertos aos trabalhos de compositores mais experimentais na MPB.
Objetivo 3
Os aspectos experimentais e inovadores no campo da canção popular perceptíveis
no trabalho dos quatro artistas é a parte que se refere ao terceiro objetivo aqui proposto.
Em alguns artigos escritos na primeira fase da pesquisa (com apoio Fapesp), pude discutir
as características singulares em cada compositor e grupo que compões o corpus desta
pesquisa (VARGAS, 2010b, 2010c, 2012b, 2012c). A hipótese estabelecida ao final
dessas análises permitiu que, nesta fase da pesquisa, ela pudesse ser melhor testada.
Neste pós-doutorado, realizei uma análise geral das produções dos dois
compositores e dos dois grupos para estabelecer algumas linhas mestras pelas quais a
inovação na canção popular caminhou. Tal reflexão foi publicada em artigo (VARGAS
2012d) sob o título Três formas do experimentalismo na MPB da década de 1970. Já foi
aqui comentado o fato de que eles não formaram uma unidade estética a ponto de invocar
um movimento musical nos anos 1970. Suas idiossincrasias eram muito maiores do que
seus pontos em comum. Mesmo assim, as características de suas obras podem apontar
para determinados resultados referentes aos procedimentos e às relações com o entorno
histórico-cultural dos anos 1970 o que nos permite indicar esses aspectos gerais.
A hipótese levantada na parte inicial da pesquisa foi testada em novas análises que
demonstraram sua validade. Visando mapear as características do experimentalismo em
questão, projetaram-se três linhas gerais de suas práticas criativas:
1) a relação antropofágica entre tradição e modernidade, como herança tropicalista, mas
realizada em novo patamar;
39
2) a prática experimental especificamente dentro do material poético e musical que
demarca parte substancial da linguagem da canção, visando tanto à crítica política não
ortodoxa, como ao non sense ou como exercício criativo de suas estruturas;
3) o uso inovador do corpo e da performance como elementos produtores de sentido,
mais em sintonia com uma leitura local dos preceitos da contracultura.
O procedimento experimental pressupõe, em linhas gerais, um rompimento com
os processos e materiais até então conhecidos na elaboração estética. O manuseio
diferenciado de materiais e técnicas põe em cheque os processos usuais de criação e
coloca em pauta novos padrões baseados em tentativas e erros, às vezes lúdicos, noutras
vezes conflituosos e trágicos. O possível acerto – a inovação em si própria –, caso ocorra,
só aparecerá depois de várias ações em que o erro era muito mais constante. Tais ações
se assemelhavam à pesquisa científica, em que o cientista testa possibilidades que tem à
mão para conseguir seu intento questionando o rol de conhecimentos que se sabia até o
momento sobre determinado objeto de estudo. É o que Umberto Eco (1970, p. 235)
chamaria de “un acto de escepticismo metódico”, ou seja, a colocação em xeque de tudo
que se conhecia a respeito do objeto para criar outro método para desvendá-lo e conceituálo:
[…] en el momento en que empieza una obra, pone en duda todas las
nociones recibidas acerca del modo de hacer arte, y determina de qué
forma ha de actuar como si el mundo empezase con él o, al menos, como
si todos los que le han precedido fueran mixtificadores que es necesario
denunciar y poner en tela de juicio (ECO, 1970, p. 235).
Certamente, processos criativos em que se descarta tudo que se sabe até então não
se concretizam plenamente na prática criativa. Como Eco tenta construir o conceito a
partir da música erudita eletrônica de vanguarda, sua tendência é tratar a experimentação
como mero descarte da tradição já que esse tipo de música se utiliza de outro tipo de
materialidade acústica para se definir. A rigor, a proposta de destronar a tradição não
ocorre de maneira tão rasa, como o autor parece supor. Mesmo com a música eletrônica,
sabemos que seu material sonoro é completamente diferente da música tradicional, mas
isso não significa que o passado seja aniquilado pura e simplesmente.
O problema se torna complexo se pensamos que tal questionamento radical se
amplia numa relação densa que não se dá somente dentro do campo estritamente estético,
tal qual metodologia de criação e materiais artísticos usados, mas se encontra estabelecida
entre artista, obra e contexto em que o trabalho é produzido. Tais imbricações, cuja
40
observação segue as proposições da semiótica da cultura, em especial quanto ao conceito
de “texto semiótico da cultura” de I. Lotman (1996), revelam as articulações que a obra
de arte estabelece interna e externamente. Nesse ponto, Eco expande a discussão ao
indicar uma consequência importante do trabalho experimental, que é a atuação desse
artista e seu trabalho sobre o seu contexto: se ele atua sobre seu mundo a partir da sua
obra experimental, não são apenas criador e obra que se transformam, mas seu próprio
entorno e a visão de mundo que ambos carregam.
Como todo sistema comunicativo – a música é um deles (SEINCMAN, 2008) –,
a obra traz certas formas de pensar o mundo e a sociedade nos seus materiais e na sua
gramática construtiva. Caso algo nessa relação se transforme radicalmente, é sinal que a
percepção do contexto e sua tradução estética também se transformaram. Conforme Eco:
[…] la visión del mundo está ya de hecho cambiando en el ámbito de
una cultura y el artista se da cuenta de que no puede aferrar un mundo
de nuevo tipo con un sistema de relaciones formales que expresaba un
mundo de otro tipo y que, por conseguiente, si se empeñara en seguir
hablando en los viejos términos, llevaría a cabo un discurso ambíguo y
desonesto (ECO, 1970, p. 238).
Assim, se a prática experimental é por si só um trabalho com os materiais artísticos
e com os procedimentos ou métodos de composição, ela não pode ser pensada apenas por
um ponto de vista interno à obra de arte ou a seu criador, mas de forma aberta e relacional
vinculando o entendimento desses termos aos contatos estabelecidos com o entorno
sociocultural.
No caso específico da música popular, tais vínculos são mais do que claros pela
própria natureza midiática da canção. As formas de produção, a importância das várias
tecnologias de gravação, seus canais de divulgação, as formas de consumo que supõe (das
massivas e comerciais às alternativas e segmentadas) e as práticas simbólicas e os
imaginários postos em ação nesse consumo são aspectos claros e concretos que permeiam
cada elo das relações apontadas. Num primeiro momento, tal configuração ligada ao
mercado, à tecnologia e ao entorno cultural pode ser considerada um obstáculo à
experimentação criativa; no entanto, além de ser elemento fundante na própria definição
de música popular, pode ser tratada também como fonte de inovação para divulgação
dentro desse mesmo mercado sempre ávido por novidades.
Nos casos da MPB em observação nesta pesquisa, o contexto de ditadura militar
no início da década de 1970 é uma das principais referências para o entendimento de parte
41
da produção cancionística da época. Há um argumento que caracteriza algumas
composições como reação à censura e ao constante estado de vigilância: na
impossibilidade de falar certas coisas e na recusa em aceitar tais pressões, alguns
compositores lançaram mão de trabalhos que tendiam a se desconstruir, deixando de lado
aquela clara relação arrebatadora entre melodia e letra que define a canção. Roberto
Bozzetti (2007) mostra que a atitude desses compositores, inspirados na contracultura,
em desconstruir o discurso da canção era uma forma de manifestar o repúdio aos padrões
culturais, estéticos e políticos ditatoriais estabelecidos. Em outras palavras, diferente da
“gestualidade oral” do cancionista que busca a melhor forma de articular texto e melodia
na canção de maneira a combinar a fluência da fala cotidiana com o fluxo melódico15, as
“canções de esgar”, segundo o autor, tentam a desconstrução por meio do grito, dos
sentidos esgarçados, da aparente incoerência, do silêncio, como resposta às proibições
impostas aos artistas.
Mesmo que seja possível entender as “canções de esgar” (BOZZETTI, 2007)
como resultado da situação de exceção, é difícil pensar esse experimentalismo como mero
reflexo, como se tais compositores estivessem atuando apenas em função desse tipo de
crítica e menos com objetivos estéticos em que um rompimento radical fosse o ponto de
partida.
Outra categoria produtiva para a reflexão sobre o experimentalismo é a expressão
“canção crítica”, cunhada por Santuza C. Naves (2010): produto do processo de
conscientização construído pelos compositores para que na tessitura própria da canção
estejam inscritas, em camadas profundas ou mais superficiais, as reflexões críticas sobre
ela própria e sobre seu entorno cultural e social, mas sem perder a comunicação direta
com o público16. Seguindo as trilhas de Augusto de Campos, que valorizava o exercício
de inovação na bossa nova e na música tropicalista, a categoria “canção crítica” põe em
questão as capacidades de a canção ser criada e entendida por meio do grau de
interferência que opera no seu contexto, como ela comenta criticamente os elementos que
a constituem para poder interferir na realidade. Tais relações se dão tanto no âmbito
interno da canção, seus elementos de linguagem, quanto nos campos culturais que
contextualizam a obra. Conforme Naves, a “canção crítica” opera
15
16
Conforme Tatit (1996), também citado pelo autor.
Em artigo, J. A. Fenerick (2013) utiliza esse conceito para analisar a canção de Tom Zé.
42
[…] duplamente com o texto e o contexto, com os planos interno e
externo. Internamente, à maneira do artista moderno, o compositor
passou a atuar como crítico no próprio processo de composição;
externamente, a crítica se dirigiu às questões culturais e políticas do
país, fazendo com que os compositores articulassem arte e vida
(NAVES, 2010, p. 21).
Quando se torna um “crítico da cultura”, no sentido amplo, o compositor faz da
canção um instrumento de intervenção ao criar nela instâncias cujos sentidos ultrapassam
sua configuração mercantil ou de mero objeto de lazer. A “canção crítica”, cujo marco de
surgimento é a bossa nova (mas que existia antes em exemplos pontuais), é por excelência
a obra experimental dentro do espectro de produções que tomam lugar na música popular.
É produto da criação que visa a “informação estética”, ou seja, na busca de “alguma
ruptura com o código apriorístico do ouvinte, ou, pelo menos, um alargamento imprevisto
do repertório desse código” (CAMPOS, 1978, p. 181).
A rigor, o lado “crítico” da canção pouco acrescenta à discussão, pois ele é
passível de ser encontrado em qualquer outra linguagem cuja obra se proponha ao mesmo
exercício radical. Assim, podemos ter um filme crítico, uma peça teatral crítica, um
poema crítico, desde que seus autores busquem estabelecer relações de reflexão,
questionamento e de exercício dos limites consagrados objetivando a criação da novidade.
Daí minha opção pela noção de “canção experimental”, consagrada nas artes e na
comunicação, para dar conta desse objeto denso e complexo, que conjuga dados internos
e externos, visando à produção de determinada novidade.
Voltando à canção popular, essa produção é definida como experimental por ser
objeto de debates estéticos que dizem respeito ao artista, sua obra e a sociedade na qual
estão inseridos e com a qual se relacionam. A produção experimental na MPB dos anos
1970 é obra de intervenção sobre o próprio campo da música popular. Como meta-canção,
é obra que se repensa em função de sua dinâmica interna e das conexões estabelecidas
com o entorno. Por isso, a pesquisa estética que encerra pode voltar-se para seu próprio
tecido, seus materiais e sintaxes. Porém, como “texto semiótico”, tais configurações
estarão em relação dinâmica com o mundo e a visão que se tem dele.
A partir da análise dos trabalhos desses quatro músicos/compositores e grupos que
compõem o corpus desta pesquisa, demarquei três grandes linhas em seus
experimentalismos e inovações. Tal divisão não significa uma compartimentação
estanque, com nítidas linhas divisórias. A rigor, vários artistas usaram quase todas as três
linhas juntas, com destaque para uma ou outra conforme o caso e/ou a abordagem. O que
43
busco demonstrar são aspectos básicos desses procedimentos e a relação deles com
determinado contexto e determinadas formas da canção.
A primeira forma de experimentação veio da herança tropicalista e pode ser
pensada como a junção de elementos da tradição cultural e musical brasileira com outros
provenientes do que se pensava ser a modernidade internacional. No entanto, cabe uma
observação quanto às diferenças entre as duas misturas, a tropicalista e essa definida como
pós-tropicalista, como discuti no texto Tropicalismo e pós-tropicalismo: dois contextos,
dois hibridismos, dois experimentalismos (VARGAS, 2013). No primeiro caso, a
proposta antropofágica foi reeditada em função de específico momento político centrado
nos festivais de MPB da TV e da presença da canção de protesto, cujas consequências
para a canção popular apareciam como retrocesso, segundo os artistas tropicalistas do
chamado “grupo baiano”. A postura das esquerdas de produzirem um tipo de música
fundado no que pensavam ser a tradição nacional-popular no campo de disputas que se
tornaram os festivais de TV, durante a segunda metade dos anos 1960, levou artistas como
Geraldo Vandré, Edu Lobo e outros a construírem uma obra centrada nos ritmos
populares, nos instrumentos acústicos típicos e nas letras de caráter social e engajado.
Isso fez com que Caetano Veloso alertasse sobre o que definia como retrocesso e pedisse
a “retomada da linha evolutiva”17 a partir do que a bossa nova havia realizado.
Nesse cenário de lutas estético-políticas, ainda antes do fechamento total do
regime militar com o Ato Institucional nº 5 (AI-5), de dezembro de 1968, a mescla
tropicalista visava à modernização da canção brasileira pela presença do elemento
musical internacional em paralelo ao que ocorreu com a antropofagia do poeta modernista
Oswald de Andrade 40 anos antes. Se a canção engajada dos festivais caminhava, segundo
o entendimento tropicalista, para certa “folclorização” da cultura brasileira ou para uma
parcialidade estética nacionalista e social, a proposta desenhada por Caetano, Gilberto
Gil, Rogério Duprat, Tom Zé, Mutantes, entre outros, caminhava para a experimentação
por meio da incorporação do que se via no âmbito internacional, em especial, o rock, o
pop, as guitarras e a contracultura. Mas, dentro da cartilha antropofágica, tal incorporação
fora feita sem esquecer o melhor da tradição musical brasileira, como ritmos,
instrumentos e algumas temáticas do cancioneiro nacional, tudo utilizado para
desconstruir o discurso ufanista e nacionalista utilizado, de maneiras matizadas, tanto
pelo governo quanto pelas esquerdas.
17
A famosa frase fora proferida em um debate promovido pela Revista Civilização Brasileira e publicado
no nº 7, em 1966, conforme Favaretto (1996 , p. 34).
44
Nos anos 1970, o cenário e os embates eram outros. Os festivais foram aos poucos
sendo esvaziados e deixaram de ser espaços de nítida confrontação ideológica e estética.
De outro lado, o regime militar fechou-se mais ainda, após o AI-5, com perseguições,
censura e maior propaganda própria procurando calar ou amenizar as críticas. O debate
musical, da forma como era realizado até então, não tinha mais sentido. Porém, isso não
significou o fim das experiências musicais que ligavam a tradição nacional e a música
internacional. O flanco aberto pelo tropicalismo fez surgir artistas e compositores que
procuraram pensar a música brasileira de forma mais aberta, ao incorporarem elementos
distintos daqueles que pensavam ser da tradição nacional, e como forma de crítica menos
ortodoxa em relação ao que fora feito antes.
Uma dessas soluções na conjugação entre tradição e modernidade é perceptível,
por exemplo, nas canções dos Novos Baianos. Muitas delas trazem nos arranjos as
mesclas de gêneros, instrumentos e sonoridades, em especial os dados musicais do rock
mesclados aos ritmos nacionais, como samba, choro, baião e frevo. Desses elementos,
três são reconhecíveis: instrumentos elétricos e seus timbres (guitarra com som saturado
e/ou distorcido), escalas musicais usadas nos solos (pentatônica18, por exemplo) e a
performance (ações e trejeitos dos músicos). Mesmo que o tropicalismo já tivesse
construído essa relação desde 1967, os Novos Baianos a aprofundaram, sobretudo no caso
do guitarrista Pepeu Gomes19, as possibilidades dessas junções no campo estritamente
musical, mesclando os idiomas melódicos do choro, do frevo e do rock.
Músicas de compositores tradicionais também foram recuperadas em arranjos
instrumentais diferenciados, como são os casos das clássicas Brasil pandeiro, de Assis
Valente, ou Samba da minha terra, de Dorival Caymmi. Nesta, a cadência rítmica do
samba se mescla ao som distorcido e “roqueiro” da guitarra de Pepeu no riff principal da
música e no solo. A mescla de estilemas e parâmetros sonoros (síncope rítmica,
compassos, fraseados dos instrumentos e timbres) de ambos os gêneros ganham acento
inovador pela criatividade do exercício experimental.
Outro exemplo é o importante álbum de Tom Zé Estudando o samba (1976) em
que o compositor utiliza elementos rítmicos e instrumentais do samba para tratá-los de
maneira inventiva por meio de colagens (DURÃO; FENERICK, 2010). Uma das faixas
de destaque é Toc, peça instrumental em que uma corda de cavaquinho faz o papel de um
tamborim enquanto vários sons e ruídos se entrecruzam ao longo da música numa espécie
18
19
Como o nome indica, é uma escala de cinco notas muito utilizada no blues.
Sobre a guitarra de Pepeu Gomes, ver a dissertação de Affonso Miranda Neto (2006).
45
de assemblage sonora. Tom Zé foi categórico ao afirmar certa vez que não era compositor
experimental, mas que apenas reutilizava as invenções dos músicos das vanguardas
eruditas20. No entanto, o que não percebia era que seu experimentalismo estava
exatamente em trazer ao campo da canção parte daquelas invenções, fazendo-as dialogar
com o formato do disco, com o evento performático do espetáculo e com o público que
consumia música popular, pouco afeito às ousadias experimentais.
Uma segunda tendência tem seu fundamento em processos de experimentação
também centrados na linguagem, mas que, ao invés de enfatizarem a específica relação
indicada acima, buscam distintas articulações entre os códigos da canção e outras redes
de sentidos. A prática se aproxima dos experimentos laboratoriais em que se trabalha com
a materialidade dos códigos que perpassam a linguagem da canção – como novas formas
de canto, arranjos instrumentais, fonemas e palavras e as várias relações entre música e
letra – e a gama de sentidos passível de exploração. Não que a tendência anterior não
fizesse isso. A questão é que nela houve uma ênfase nas relações entre modernidade e
tradição, em diálogo com as marcas deixadas pelo tropicalismo, que não existe de maneira
tão clara nesta. Aqui, os compositores buscam uma prática que se abre para outras
formulações semióticas. Alguns desses sentidos intencionados foram a crítica política não
ortodoxa, o non sense – ou o “esgar”, conforme Bozzeti (2007) – como forma de
desconstrução da canção ou o livre exercício criativo na linguagem.
Um caso é o do cantor Walter Franco. Sua composição Cabeça, com a qual ficou
conhecido pela polêmica apresentação no 7º Festival Internacional da Canção (FIC),
organizado pela TV Globo em 1972, fora intensamente vaiada pelo público, apesar de ter
agradado ao júri. Gravada no disco Ou não (1973), era uma colagem aparentemente
caótica de frases e seus fragmentos cantados e pronunciados em meio a sons de
sintetizador que demonstrava a possibilidade inovadora em falar sobre o momento sem
lançar mão do discurso populista usado pelos compositores de esquerda engajados. Ao
falar/gritar a letra em pequenos e simultâneos trechos, enfatizava fragmentos de sentido
presentes nas palavras e expressões “cabeça”, “pode”, “ou não” ou “explodir”. Estas, por
sua vez, ao se entrelaçarem, alteravam constantemente seus significados. Se o caos era
constante, sem melodia e harmonia tradicionais, eram os flashes de ideias que
permaneciam na audição: de que algo pode ser feito, ou não, de que há algum perigo, ou
não, de que pode explodir a sua cabeça, ou não, de que algo há na sua cabeça, ou não...
20
Conforme depoimento para o documentário Tom Zé, ou quem irá colocar uma dinamite na cabeça do
século?, de Carla Gallo, de 2000.
46
Eternamente, gravada no disco seguinte (Revolver, de 1975), tem letra extremante
concisa e plena em sentidos. A palavra que nomeia a canção é dividida no canto em outras
palavras com as quais ela se forma: “Eternamente/ É ter na mente/ Ternamente/ Eterna
mente” (conforme encarte do disco). A letra se construiu pela decomposição de suas
partes em fragmentos, deixando entreaberto outro sentido pouco explícito: o éter,
substância que, quando inalada, provoca sensações de instabilidade motora e perceptiva.
Enriquecendo o trabalho com a canção, a metáfora do efeito do éter, que aparece
sutilmente na letra, é também provocada pela estrutura musical, nominalmente a rítmica,
fundada na repetição de um conjunto de compassos com pulsos diferenciados e
assimétricos: três compassos ternários, um de cinco tempos, outros três ternários e um
final com sete tempos. Essa alternância de pulsos e acentos leva estranhamento e
instabilidade à audição, pois não há como dançar ou acompanhar a música de maneira
simples.21
Tom Zé tem exemplos que caberiam nesse tipo de experimentação, como se vê na
faixa Todos os olhos, do disco homônimo de 1973. Depois da introdução com um
ostinato22, a letra revela a preocupação do compositor ao se perceber rodeado por olhos
que saem da escuridão esperando que ele seja herói. Nesse trecho, o acompanhamento é
de samba cadenciado com apenas um acorde, vozes, ruídos e gritos. A tensão criada se
resolve na resposta ingênua repetida pelo cantor: “Mas eu sou inocente!”. Ao cantar a
frase seguidamente, a tensão percebida antes se resolve numa cadência harmônica segura
cuja sequência de acordes cativa a audição e leva o ouvinte a reconhecer como correta a
postura do cantor frente às cobranças que lhe são feitas. Aqui, o texto sonoro reverbera
os sentidos trazidos pela letra. Tal estrutura – ostinato, ruídos, samba com acorde único
e samba com cadência de acordes – se repete com outras inquirições e respostas similares
até a frase final “Mas eu sou inocente!” dita pela última vez de maneira esgarçada e doída.
A dicção e os ruídos com vozes (gritos, latidos, grunhidos etc.) alargam os sentidos
políticos que emergem da estrutura de linguagem e demonstram a postura do compositor.
Outro exemplo que demonstra a experimentação laboratorial com o código da
canção popular aparece nas composições de João Ricardo, fundador e compositor do
grupo Secos & Molhados, em especial naquelas em que adapta poesias ao formato de
21
Sobre a concepção dos arranjos das canções de Walter Franco, parte importante no processo de
construção de sentido, Rodolpho Grani Jr., músico que acompanhou o cantor em dois discos na década,
comentou, na entrevista por mim realizada, a forma de suas criações. Segundo o músico, Walter chegava
com uma ideia bruta que era lapidada pelo grupo musical ao criar os arranjos antes das gravações.
22
Motivo ou frase melódico-rítmica tocada repetidamente e que compõe parte ou toda a canção.
47
letra de música, como em As andorinhas, poema de Cassiano Ricardo, e Rondó do
capitão, de Manuel Bandeira, ambas do primeiro disco, lançado em 1973.23
Em todos esses casos, o desafio básico dos artistas foi desvendar novas e, algumas
vezes, radicais possibilidades de construção da canção, de sua malha de sentidos e de sua
interpretação a partir do manuseio dos materiais poéticos e sonoros à mão do
compositor/músico.
A terceira linha de inovação percebida nesses artistas vincula-se a um âmbito
pouco observado na música popular, mas, contrariamente, pleno de importância por ser
elemento determinante na definição da rede de sentidos da canção. Bastante associado à
contracultura na época, o uso do corpo e da performance, sobretudo no momento do
espetáculo, mobilizou artistas visando novas formas de subjetivação. Um grupo que
utilizou bastante tal artifício, praticamente de forma pioneira na canção moderna, foi o
Secos & Molhados. Aqui, destaca-se o cantor Ney Matogrosso com sua dança, seu corpo
à mostra, sua evidente androginia, mesclados à idiossincrasia de seu tom agudo de
contratenor. Além disso, o uso de maquiagens por ele e pelos outros integrantes indica
um componente cênico-visual fundamental de identidade artística.
A performance criativa e provocativa foi utilizada também por Walter Franco na
apresentação de Cabeça no FIC de 1972, porém, noutro sentido. Enquanto a plateia o
vaiava intensamente, impedindo a audição de sua voz, o cantor simplesmente desligouse do barulho e continuou a cantar como se nada estivesse ocorrendo. Sua postura
aparentemente inerte, pacífica, adensava os sentidos caóticos dessa canção e,
conscientemente, devolvia às pessoas uma resposta distinta da esperada. Como disse em
depoimento à jornalista Ana Maria Bahiana, em 1976:
Foi um momento de grande violência. Eu sabia que estava confundindo
as pessoas lançando o sim e o não numa contagem muito rápida. As
pessoas reagiam jogando de volta uma carga negativa fortíssima,
23
Na entrevista realizada com o pianista Emílio Carrera para esta pesquisa, o músico comenta as
contribuições dos músicos nos arranjos, em especial do baixista Willy Verdaguer. João Ricardo era o
principal compositor, mas a concepção musical ficava bastante por conta dos músicos que os
acompanhavam nas gravações. Por exemplo: “E os arranjos, por nós termos na época já experiência dessa
linguagem, e por termos uma personalidade musical muito forte (éramos muito assumidos musicalmente,
em todos os sentidos, né?), corríamos riscos 24 horas e a gente sabia disso. Nós pegamos as musicas do
João Ricardo e naturalmente foi um casamento perfeito, porque o João não sabia como isso iria soar
grande. Então, a gente fez algumas adaptações, uma coisinha aqui e outra lá. Houve uma coisa muito forte
que juntou a fome com a vontade de comer. E especialmente digo até isso assim, com muito orgulho, que
não é nem uma coisa minha, mas o talento do Willy Verdaguer pras linhas de baixo, que definiu muito os
Secos e Molhados: ele é quem inventou isso e milhares de outras coisas. Várias, e é tudo dele... Então, o
João escutava e falava ‘Nossa! Que isso! Cresceu, tudo cresceu’.”
48
mesmo quando eu repetia uma palavra positiva como “irmão” (apud
BAHIANA, 1980, p. 177).
A performance, como elemento constitutivo do corpo semiótico da canção, passa
a ser utilizada de forma mais efetiva a partir desses artistas experimentais, apesar de, a
rigor, já ter sido usada pelo tropicalismo do final da década anterior. Seu potencial criativo
e polêmico não deixou de ser observado na época e buscou complementar as intenções
políticas e estéticas de cantores e músicos.
Objetivo 4
Comentei acima, dentro dos resultados do objetivo 3, a situação de concorrência
entre gravadoras nacionais e estrangeiras no Brasil no período em questão e, dentro desse
contexto, as posições da Continental (a maior companhia fonográfica nacional). Dentre
as majors estrangeiras, a Philips/PolyGram, dirigida por André Midani, se destacava por
ter em seu catálogo de discos os artistas que vinham da MPB dos festivais: Caetano
Veloso, Gal Costa, Chico Buarque, entre outros. Esses músicos tinham razoável
vendagem de discos e eram bem avaliados pela crítica, o que proporcionava tanto um
razoável sucesso de vendas (o campeão em vendas na época era Roberto Carlos) como
incrementava a imagem da empresa perante setores sociais mais cultos e determinavam
em boa medida a opinião pública.
Tal concorrência, assim, se dava tanto nos aspectos econômicos e mercadológicos
como também, para efeito de consumo, nos estéticos e simbólicos. Nesse ponto, ganham
destaque as capas de disco, não como meras embalagens, mas como ingrediente visível e
atrativo para traduzir a obra do artista ao seu público. Como desenvolvi no artigo Capas
de disco da gravadora Continental nos anos 1970: música popular e experimentalismo
visual (VARGAS, 2013), as capas dos LPs tornaram-se parte da luta simbólica, elementos
de mediação do gosto nos pontos de venda, nas análises dos críticos, nas conversas entre
fãs etc., espaços esses construídos e negociados no campo midiático da canção popular.
Como uma nova mídia capaz de traduzir gostos e intenções de consumo, a composição
visual do álbum passou a agregar novos valores estéticos à obra do artista e ajudou a
construir parte de sua imagem.
A rigor, esse tipo de embalagem ganhou um caráter especial com os artistas mais
experimentais da MPB nos anos 1970. Como toda embalagem, é sempre uma
apresentação mais agradável de determinado produto colocado em situação de consumo.
49
Porém, no caso do produto musical cultural que é envolvido, cujo consumo se dá entre
públicos mais sofisticados, parte da estratégia é apresentar um trabalho de design mais
criativo, muitas vezes de acordo com as opiniões do artista e que traduza visualmente a
proposta estética das gravações.
Comentei acima que o LP gravado se tornou nos anos 1960 e 1970, em alguns
casos, um objeto mercantil mais refinado e voltado para um consumo específico. Os
artistas mais populares tinham suas capas feitas sem muito custo ou produção, pois seus
discos se voltavam a um consumo massivo, no qual o trabalho criativo com o design da
capa pouco influenciava. Já alguns artistas, digamos, mais “autorais” faziam com que
suas gravadoras produzissem as capas de seus álbuns com mais criatividade e que
dialogassem com o sentido maior do conjunto de canções ali gravado. Essa diferenciação
e o uso de designs mais arrojados nas capas têm a ver com transformações na música
popular e no seu consumo entre essas duas décadas. O ponto de virada no âmbito
internacional foi o desenvolvimento do rock, dos movimentos juvenis e da contracultura
no final da década de 1960. Nas artes em geral, a contestação aos padrões formais mais
tradicionais crescia. Nas artes plásticas e na música – respectivamente com a pop art e o
rock – surgiam novos temas, materiais inusitados e enfoques diferenciados. As capas dos
discos, por sua vez, além de se tornarem novo espaço de prestígio para artistas gráficos e
plásticos que visavam públicos distintos e um novo suporte, ajudaram cantores e bandas
de rock a construir suas próprias identidades visuais.
Segundo Jones e Sorger (1999, p. 75-76), três elementos foram importantes para essa
guinada, podendo ser pensados também no caso brasileiro. O primeiro deles tem a ver com
um processo de negociação entre artistas e gravadoras para garantir maior autonomia daqueles
na definição do design. O caso mais representativo foi o dos Beatles. Com o sucesso, o grupo
passou a ter maior controle sobre a produção gráfica para que a capa fosse criada em função
dos seus interesses estéticos. Ian Inglis (2001) mostra como os Beatles alteraram o design de
seus álbuns a partir de Rubber soul (1965, Parlophone), que marca o início de um processo de
mudanças no trabalho da banda. De Rubber soul até seu último lançamento, o Let it be (1970,
Apple), os Beatles definiram os projetos visuais dos discos.
O segundo aspecto foi a relação que se estreitava entre jovens músicos de rock e jovens
artistas visuais, alguns colegas de escola. Esses artistas perceberam que seus trabalhos
ganhariam destaque no novo suporte e, de outro lado, conseguiriam traduzir melhor a proposta
dos músicos porque se interessavam por música, compreendiam as novas linguagens e
partilhavam a mesma geração (JONES; SORGER, 1999, p. 76). Esses vínculos foram fortes
50
para artistas da pop art que desenvolviam trabalhos em diálogo com o cotidiano e com o
público massivo. Daí a capa de disco surgir como suporte a ser explorado. De outro lado, os
discos de rock e o trabalho desses músicos jovens ganharam a credibilidade de artistas
plásticos, como Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Jim Dine e Richard Hamilton.
Aqui, é possível fazer um paralelo com o caso brasileiro. Se levarmos em conta que o
tropicalismo foi um amplo movimento cultural, não apenas musical, e que traduziu a
contracultura no cenário nacional (DUNN, 2001 e 2002), entenderemos por que as intenções
de experimentação e de inovação acabaram por surgir em várias áreas artísticas, incluindo as
artes plásticas e o design. Hélio Oiticica, importante nome do neoconcretismo, e Rogério
Duarte, designer e poeta baiano, foram exemplos de artistas que incorporaram o espaço
diferenciado da capa de disco e as novas relações com distintos públicos. Outro artista que
participou da aventura do novo suporte e novos públicos em meio ao período ditatorial foi
Oscar Ramos. Para ele,
[…] o que foi importante nas capas de disco é que elas foram […] um
veículo de alcance extraordinário. Todo mundo comprava disco. Era a
expansão do nosso próprio talento, ou seja, era procurar de que maneira
colocar o nosso talento no meio daqueles anos horrorosos. […] O
fundamental na capa de disco era a gente conseguir colocar a nossa
criatividade na coisa mais popular, mais manuseada, mais vista nas lojas,
nas vitrines... (apud RODRIGUES, 2006, p. 82).
Por fim, a psicodelia e a contracultura da década de 1960 trouxeram novos ares às artes
e, especificamente, ao design. Este ponto será retomado nos resultados do próximo objetivo.
Dentro do escopo desta pesquisa, duas gravadoras podem servir de exemplo na luta
simbólica, além da busca por artistas, que se travava no mercado fonográfico: a Continental,
principal companhia nacional, e a Philips/PolyGram, major que tinha os artistas de maior
sucesso da MPB. No quesito produção gráfica das capas, a multinacional saía na frente devido
à maior disponibilidade de verba e por poder contratar bons artistas (às vezes, amigos desses
compositores de sucesso) para confeccionar as capas de seus cantores: Hélio Oiticica, Rogério
Duarte, Luciano Figueiredo, Oscar Ramos, o poeta Wally Salomão e o designer Aldo Luiz
são exemplos. Eles foram responsáveis por peças marcantes na década de 1970. Como
exemplos, é possível citar álbuns de Gal Costa, como o duplo ao vivo Fa-tal - Gal a todo
vapor (1971, Philips), capa criada por Figueiredo e Ramos a partir do cenário do show
homônimo da cantota dirigido por Wally Salomão, ou o álbum Legal (1970, Philips), criado
por Oiticica.
51
Alguns trabalhos de Caetano Veloso também receberam capas representativas. O LP
Transa (1972, Philips), criação de Álvaro Guimarães e Aldo Luiz, trazia uma composição
visual forte: uma faixa preta no terço superior com a foto em preto e branco do cantor em alto
contraste, e os dois terços restantes em vermelho com os nomes do compositor e do disco. A
aparente simplicidade do design se contrapunha à agressão dos contrastes de cor. Além disso,
o álbum se abria em três formando um prisma coberto por uma aba triangular. Era uma capa
tridimensional de manuseio lúdico que proporcionava uma nova experiência além da simples
audição: um “discobjeto”, um artefato cultural manipulável.
Em 1972, Caetano lançou Araçá azul (Philips/PolyGram), o trabalho mais
experimental e polêmico de sua carreira. A capa, de Luciano Guimarães e Oscar Ramos, não
poderia deixar de acompanhar o projeto estético musical que embalava: trazia uma foto, feita
por Ivan Cardoso, do cantor apenas de sunga refletido num espelho sob uma folha de palmeira.
A foto foi tirada de cima para baixo, porém, o espelho, colocado em posição oposta, mostra
uma cena de baixo para cima, com o céu ao fundo. A sombra no rosto do compositor, o pedaço
de um pé no chão, o umbigo em primeiro plano e o corpo inclinado e recortado provocam a
sensação de estranhamento da imagem. As fragmentações, inclinações e inversões de ângulos
traduzem na imagem os procedimentos experimentais observados nas canções gravadas.
Na concorrência com a Philips/PolyGram, outras companhias tentavam se aproximar
de uma situação parecida, ocupando outras partes do mercado com outros gêneros e artistas
ou tentando reproduzir algum tipo de polêmica nos álbuns que lançavam. Foi o caso da
Continental que, paralelamente ao casting de música regional e samba, aventurava-se em
gravar novos grupos de rock progressivo e compositores experimentais que surgiam e não
conseguiam espaços nas outras gravadoras. Dentre eles, há os casos representativos de Tom
Zé, Walter Franco e dos grupos Secos & Molhados e Novos Baianos, que gravaram na
Continental. Desenvolvi a análise das capas no artigo já citado (VARGAS, 2013).
Tom Zé
Tom Zé, depois de dois LPs gravados na Rozemblit e na RGE, lançou quatro discos
pela Continental: Tom Zé – Se o caso é chorar (1972), Todos os olhos (1973), Estudando o
samba (1976) e Correio da Estação do Brás (1978). Desses, os de 1973 e de 1976 têm
relevância para o objetivo desta pesquisa.
A concepção da capa de Todos os olhos (Fig. 1) foi do poeta Décio Pignatari e a
produção foi de Marcos Pedro Ferreira e Francisco Eduardo de Andrade, com foto de Reinaldo
de Moraes. A capa traz a imagem de uma bolinha de gude em primeiríssimo plano apoiada,
52
em princípio, sobre os lábios de uma boca fechada. A ideia visual era reproduzir o formato de
um olho, elemento citado na canção homônima que abre o LP, cuja letra descreve um sujeito
perseguido por “olhos” na escuridão aos quais responde de forma angustiada: “Mas eu não sei
de nada”. Essa “perseguição” é passível de ser traduzida no poema visual de Augusto de
Campos Olho por olho, de 1964, que ilustra a capa interna (Fig. 2).
No entanto, há outro entendimento proveniente da relação com o contexto da ditadura:
se o sujeito da canção foge da perseguição, o “olho” simulado na imagem da capa não é
necessariamente um olho persecutório, mas uma reação desse sujeito à própria repressão,
reivindicando sua liberdade e mandando os militares para “outro lugar”. Em outras palavras,
se pensarmos na expressão popular “olho do cu”, a imagem pode se remeter ao xingamento
ao aparelho repressivo do governo, já que a boca se confunde visualmente com a entrada do
ânus, o que daria à composição uma força muito maior.
Fig. 1: capa de Todos os olhos
Fig. 2: à direita, o poema Olho por olho (A. Campos) dentro do álbum Todos os olhos
53
Apesar do debate sobre qual parte do corpo foi utilizada na foto dessa capa24, o que
nos interessa aqui é demonstrar como o design do álbum está vinculado à proposição poética
e musical do artista, especialmente à faixa homônima. E neste caso também, como a capa
dialoga com o contexto ao traduzir uma luta política por meio da musica e do design.
O disco Estudando o samba (1976) traz outra solução curiosa nas relações com o
trabalho musical do compositor. Tom Zé gravou canções em que trabalha criativamente as
possibilidades poético-musicais do samba. Os arranjos se situam no limite entre o
reconhecimento do gênero e sua alteração por meio de mudanças rítmicas, instrumentação
estranha à tradição do samba, temáticas inusitadas etc.
A imagem, criada por Walmir Teixeira, numa estrutura bastante simples, foi composta
por cordas e arames farpados de um lado a outro no quarto inferior da área da capa, sobre
fundo branco indicando, possivelmente, fronteiras estéticas a serem superadas e seus riscos
(Fig. 3). Dentre os riscos, segundo Fuoco (2003) e Lima (2010), há a prisão da tradição em
que o samba estava forçado a se manter sem transformação.
Fig. 3: capa de Estudando o samba
Walter Franco
Depois da polêmica apresentação no VII Festival Internacional da Canção, em 1972,
em que interpretou sua composição Cabeça, Walter Franco lançou seus dois primeiros discos
24
Recentemente, surgiu em blogs na internet uma polêmica entre os produtores da capa. O fotógrafo
Reinaldo Moraes sustenta a versão de que tirou a foto com a bolinha na boca de uma mulher, após tentativas
frustradas apoiando-a na entrada do ânus (ver em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/839944-acamera-stalinista-sao-paulo-1972.shtml>). Porém, Francisco Andrade, um dos criadores, diz em seu blog
que
a
bolinha
estava
mesmo
no
ânus
de
uma
mulher:
<http://chicoandrade.wordpress.com/2011/11/15/inedito-foto-original-da-capa-do-disco-detomze/#comment-331>
54
pela Continental: Ou não (1973) e Revolver (1975). Nesses LPs, destacava-se o perfil criativo
de sua obra e as capas acompanharam as surpresas proporcionadas por suas músicas.
Criada por Lígia Goulart, Ou não tem a frente inteira branca com uma pequena mosca
pousada bem no meio. Na contracapa, também branca e também no centro, está escrito “ou
não” (Fig. 4 e 5). O mistério da grande área branca do design e dos dois elementos – a mosca
e as duas palavras – é parte do convite à reflexão que o compositor fazia ao ouvinte. Uma
contradição fica latente: a capa parece afirmar a existência do inseto e, ao mesmo tempo, tenta
negá-la. Da mesma forma, a tensão se estabelece nas canções gravadas: se, de um lado, elas
são canções, pois há letra, voz e música, de outro lado, o cantor nega a estrutura, o formato e
a linguagem tradicionais da canção por meio de arranjos inusitados, letras construídas sob
outras lógicas, cantos sem melodias etc.
Fig. 4: capa de Ou não
Fig. 5: contracapa de Ou não
55
Pela radicalidade de sua experimentação e dificuldade de comunicação que estabelece,
a obra de Walter Franco se caracteriza pela implosão da linguagem. A capa, por sua vez,
também desconstrói a expectativa dos que esperam uma imagem tradicional.
No álbum seguinte, Revolver (Fig. 6), a foto da capa indica desequilíbrio da estrutura
visual, mostrando Walter Franco de roupas brancas andando num cenário urbano noturno com
um giro de 45º da imagem.25 O contraste entre claro e escuro e a inclinação da foto tentam
traduzir as instabilidades de suas canções. Da mesma forma, o encarte que traz as letras das
composições provoca o leitor por estarem escritas em várias direções, forçando o ouvinte a
girar a capa para conseguir ler (Fig. 7).
Fig. 6: capa de Revolver
Fig. 7: encarte de Revolver
Secos & Molhados
25
Sobre as noções de contraste e equilíbrio/desequilíbrio visual, refiro-me às análises feitas por Arnheim
(2000) e Dondis (1997), fundadas na gestalt.
56
O trio formado por João Ricardo, Gerson Conrad e Ney Matogrosso teve sucesso e
queda meteóricos no início da década de 1970. Com composições próprias, poesias de
expoentes da literatura musicadas, maquiagem e performances andróginas, o Secos &
Molhados atraiu as atenções de públicos variados: crianças, idosos, crítica especializada,
agências de publicidade e empresários. Lançaram dois discos pela Continental, mas o
primeiro, homônimo, é sua grande marca.
A capa (Fig. 8), com lay out de Décio Ambrósio, traz a foto feita por Antônio Carlos
Rodrigues com as cabeças dos quatro integrantes do grupo26 em bandejas sobre uma mesa
entre pães, cereais, linguiças e garrafas de vinho, como se estivessem servidos para serem
comidos pelo ouvinte-espectador. A imagem é equilibrada por conta da simetria bilateral; no
entanto, há uma tensão implícita na profundidade da cena, nas expressões tristes dos rostos e
na escuridão barroca do fundo. Ao mesmo tempo, o nome do grupo aparece no alto e na parte
interna do álbum (Fig. 9) em tom rosa, imitando neon. Essas mesclas aparentemente estranhas
entre elementos de androginia, antropofagia, barroquismo, rock e música brasileira revelam o
caráter pop do Secos & Molhados, traduzidos no trabalho gráfico do disco.
Fig. 8: capa de Secos & Molhados
Fig. 9: álbum Secos & Molhados aberto
26
O baterista argentino Marcelo Frias deixou o grupo depois de ter feito a foto da capa.
57
Novos Baianos
Os Novos Baianos gravaram dois trabalhos na Continental, respectivamente, o terceiro
e o quarto discos da carreira: Novos Baianos F.C. (1973) e Novos Baianos (1974). Antes,
haviam lançado pela Som Livre o famoso Acabou chorare (1972). Neste e nos dois da
Continental, as imagens que ilustram as capas vinculam a banda à sua forma de vida
comunitária e rural (ecos da contracultura e da postura hippie) e os laços que construíram entre
música e futebol, já que formaram um time amador que disputava partidas no sítio onde
moravam em Jacarepaguá (RJ)27.
No LP Novos Baianos F.C., esses elementos característicos aparecem claramente nas
montagens da capa, criação coletiva de Luiz Galvão (membro do grupo), Pedro de Moraes e
Simone Cavalcante (Fig. 10). A foto da capa mostra o time num jogo de futebol em frente à
trave do gol. Porém, a cena ocupa apenas o quarto inferior da imagem. No fundo erguem-se
bananeiras e uma enorme árvore, sobre as quais aparece o nome do disco em vermelho (cor
da camisa do time) e amarelo. O contraste de dimensões mostra a importância do cenário rural
aliado ao esporte.
Fig. 10: capa de Novos Baianos F.C.
Na contracapa, outro elemento da natureza: uma pomba marrom em primeiríssimo
plano ocupando quase todo o espaço da imagem (Fig. 11), em outro contraste de dimensões.
Ao abrir o álbum, há seis páginas com fotos de shows, jogos, cenas da comunidade, suas
mulheres e crianças e os músicos tocando (Fig. 12).
27
Como revela Galvão (1997), o futebol sempre foi presente, inclusive quando moravam num apartamento
em Botafogo (Rio de Janeiro).
58
Fig. 11: contracapa de Novos Baianos F.C.
Fig. 12: álbum Novos Baianos F.C. aberto
As observações sobre as capas desses artistas na Continental demonstram os
esforços da companhia em disputar o mercado fonográfico por meio da produção gráfica
dos álbuns. Além de outras estratégias de disputa mercadológica, a gravadora se propôs
a gravar artistas menos populares visando ganhar espaços em determinados nichos de
consumo mais “sofisticados” e que renderiam algum incremento à própria imagem da
empresa. Esses artistas, por sua vez, aproveitaram as ações da Continental para levar suas
obras ao público da maneira que consideravam ser a melhor, vinculando o álbum às
canções gravadas no disco num produto cultural completo. Na produção das capas, é
perceptível que sua concepção passava pelas ideias desses músicos e compositores.
Percebe-se também a maior importância do LP e do álbum, não somente como mera
embalagem, mas acima de tudo, como objeto estético e espaço heterodoxo de
experimentação visual e sonora na canção popular.
Objetivo 5
59
Outro dos objetivos desta pesquisa, dentro do escopo geral de análise da produção
experimental dos quatro artistas da MPB nos anos 1970, foi a vinculação desses
experimentalismos à leitura particular feita por eles da contracultura nesse período.
Apesar de seu surgimento estar vinculado à década anterior, a contracultura desenvolveuse a partir dos EUA e da Europa como um nome genérico dado a uma série de
manifestações que se contrapunham a várias posturas e conceitos dominantes na cultura
ocidental. Essas proposições, capitaneadas por jovens, intelectuais e artistas, buscavam
atingir as bases culturais da sociedade ocidental e se multiplicavam em amplos setores,
tais como:
a) movimentos de minorias sociais (feminista, de negros, homossexuais etc.) no intuito
de conquistar direitos sem distinção;
b) o rock como um tipo de música fundada no ruído e na performance, distante dos
padrões ocidentais;
c) uso de drogas vislumbrando a libertação da mente e da criatividade;
d) questionamentos ao padrão da família nuclear com o sexo e o amor livres, junto de
tentativas de libertação do corpo dos comportamentos tradicionais e dos figurinos
codificados socialmente;
e) aproximação das culturais orientais ou africanas (religião, comida, música, roupas e
filosofia);
f) lutas estudantis contra pedagogias consideradas antiquadas e contra os poderes
instituídos nas universidades.
A rigor, tratava-se de séries de posicionamentos contrários às formas instituídas –
o establishment – de organização política e social, de racionalidade do sistema capitalista,
de polaridade ideológica entre direita e esquerda e de “bom comportamento”.
Goffman e Joy (2007) indicam três características básicas para definir a
contracultura. Delas, além do anti-autoritarismo, duas são esclarecedoras para o propósito
desta reflexão. Em primeiro lugar, a contracultura se define pela “precedência da
individualidade acima de convenções sociais e restrições governamentais” (2007, p. 50).
Longe do simples individualismo burguês, trata-se de compreender o indivíduo como
fonte de ideias e expressão e que não poderia ser obstruído pelas estruturas legais e
burocráticas da sociedade. Sendo condição básica para a expressão, esse primado radical
da individualidade implica liberdade de opinião, direito ao uso pleno do próprio corpo,
livre manifestação do pensamento e de formas subjetivas de expressão religiosa e
artística.
60
Outra característica é a propensão desse humanismo antiautoritário à revolução
transformadora. Tal qual “movimentos de vanguarda transgressivos […], o apego
contracultural à mudança e à experimentação inevitavelmente leva à ampliação dos
limites da estética e das visões aceitas” (GOFFMAN; JOY, 2007, p. 54). Assim, as artes
experimentais acabaram por se tornar os principais campos de manifestação radical da
subjetividade, da imaginação livre e da construção de outras possibilidades de
organização e criação. Boa parte das produções artísticas da época, em praticamente todas
as linguagens, pautou-se pela busca por novas experiências estéticas, com materiais
inusitados, propostas inimagináveis até então e soluções criativas. Longe de
racionalidades, padrões e organizações prévias, arte e expressão lúdica foram válvulas de
escape para a criação de narrativas sobre o mundo sonhado pelos jovens.
Contraculturais foram a pop art e todos os movimentos que dela se desdobraram,
como o minimalismo, a arte conceitual, o happening, a body art, entre muitos outros. No
âmbito da música erudita, os trabalhos de John Cage e a música eletroacústica são os
principais exemplos. Na música popular, a contracultura se manifestou nas variantes do
rock: Jimi Hendrix e sua forma inusitada de manusear a guitarra, as criações laboratoriais
da fase final dos Beatles, as misturas com o som latino de Carlos Santana, o canto e a
postura livre de Janis Joplin e Jim Morrison, a androginia de David Bowie, a rebeldia dos
Rolling Stones e The Who, Jefferson Airplane e o som libertário da Califórnia.
No caso estrito da MPB, uma das primeiras traduções da contracultura se deu
ainda no final dos anos 1960 com o tropicalismo, movimento que colocou em xeque as
polaridades políticas da época (a ditadura e a esquerda nacionalista) e traduziu essa
polêmica na linguagem da canção. Para tanto, concretizou, de um lado, uma radical
apropriação da antropofagia oswaldiana e, de outro, adaptou várias proposições da
contracultura internacional ao contexto da música popular. Tais posturas foram a chave
para os desdobramentos da música popular no início dos anos 1970. Conforme
Christopher Dunn (2002, p. 77), os tropicalistas “(…) propuseram um discurso de
alteridade e marginalidade que estimulou as mais explícitas expressões de novas
subjetividades na cultura popular na década seguinte”.28
A atenção à linguagem da canção, a ênfase em novas subjetividades e a postura
marginal são dados relevantes da contracultura para se entender o experimentalismo na
MPB da década de 1970. No entanto, para tratar de contracultura no caso brasileiro, não
28
O autor desenvolve outras relações entre tropicália e contracultura no livro Brutality Garden (DUNN,
2001).
61
há como se distanciar da situação de radical exceção que o país vivia por conta da ditadura
militar. Apesar de haver autores que procuram afastar uma da outra29, as formas que tais
manifestações adquiriram na cultura nacional levaram em consideração, de maneira mais
ou menos direta, o cenário político. Isso é passível de ser visto na produção musical e na
postura marginal de alguns artistas. Heloisa Buarque de Hollanda, apesar de centrar sua
reflexão na poesia dos anos 1970, explica o perfil político das transgressões:
A marginalidade é tomada não como saída alternativa, mas no sentido
de ameaça ao sistema; ela é valorizada exatamente como opção de
violência, em suas possibilidades de agressão e transgressão. A
contestação é assumida conscientemente. O uso de tóxicos, a
bissexualidade, o comportamento descolonizado são vividos e sentidos
como gestos perigosos, ilegais e, portanto, assumidos como contestação
de caráter político (HOLLANDA, 1992, p. 68).
A contracultura não surgiu em função direta do cenário imposto pelos militares.
No entanto, as práticas marginais, experimentais e transgressoras em sentido amplo
tiveram um viés político, seja conscientemente ou mesmo a reboque das posturas
“desbundadas” (para usar uma expressão do período) visando à carnavalização geral de
comportamentos e conceitos políticos. Ser marginal ou se colocar como underground
revelava uma atitude de descompostura frente aos padrões estabelecidos, inclusive os
políticos. Daí também as posturas provocativas que geravam estranhamentos e reações
mais ou menos tempestivas. Podemos lembrar as provocações na letra de Gothan City, de
Jards Macalé, a canção Todos os olhos, de Tom Zé, a postura pacata (zen) de Walter
Franco frente a uma plateia que vaiava ruidosamente sua canção Cabeça, no Festival
Internacional da Canção, de 1972, a voz em falsete e os rebolados de Ney Matogrosso no
palco ou a polêmica vida em comunidade dos Novos Baianos. Tais posicionamentos
serviam para demonstrar, de alguma forma, certa insatisfação com o estado geral da arte
e da sociedade brasileira, mas não tinham aquele projeto geral de conscientização da
população para a tomada do poder conforme as esquerdas universitárias preconizavam
(alguns destes, inclusive, pegando em armas). As críticas eram para todos os lados, da
esquerda à direita do espectro ideológico da época.
29
É “(…) uma tolice afirmar, como muitos fizeram na época, que a contracultura foi um subproduto
alucinado do fechamento do horizonte político pela ditadura militar. A contracultura foi um movimento
internacional, que teve a sua ramificação brasileira. Mas, exatamente ao contrário do que se chegou a
proclamar, a contracultura se expandiu no Brasil não ‘por causa’, mas ‘apesar’ da ditadura” (RISÉRIO,
2005, p. 26).
62
O caso do grupo Novos Baianos é sintomático na década de 1970 e foi discutido
por mim no artigo Tinindo Trincando: contracultura e rock no samba dos Novos Baianos
(VARGAS, 2012b). A memória reconstruída por Luiz Galvão em seu livro Anos 70:
novos e baianos (1997) é cheia de citações sobre a vida do grupo no período, desde seu
surgimento, ainda no final dos anos 1960, até o desmanche em 1979. No texto, é possível
perceber vários índices da contracultura impregnados em comportamentos, pensamentos
e atitudes, em especial do próprio autor (espécie de mentor intelectual do grupo), mas
também como ele percebia tais características em todos os integrantes. Paralelo ao texto,
as imagens do filme Novos Baianos F.C., de Solano Ribeiro30, complementam e
esclarecem determinadas ideias e posturas.
Há citações de Galvão sobre os estilos peculiares de suas roupas, como em um
episódio em que, no Rio de Janeiro, entraram em um bar e todos os presentes os
aplaudiram por conta da produção dos figurinos. “Os artistas plásticos davam alguns
toques, mas todos, indistintamente, tinham um grau de originalidade predominante na
escolha pessoal do traje” (GALVÃO, 1997, p. 32). Se nesse exemplo, a individualidade
era a marca, noutra situação o desprendimento material deu a tônica. Na comunidade do
sítio em Jacarepaguá, as cenas do filme nos mostram a despreocupação com a aparência.
As imagens exibem as pessoas com roupas simples, crianças peladinhas, sem glamour
algum, típico da vida em uma comunidade hippie.
Algo parecido é possível dizer quanto à importância dada aos cabelos compridos.
Para homens e mulheres do grupo, a imagem do cabelo nos ombros era um dado de
identidade juvenil e marca de diferença para com o resto da sociedade. Os mais velhos e
conservadores tinham conceito oposto, como indicou o autor com relação à sociedade
baiana e às atitudes das autoridades em perseguir os cabeludos locais. Inclusive, esse foi
o motivo da reação histérica de Galvão (1997, p. 77-79) ao ter seu cabelo cortado à força
por policiais quando fora preso em Salvador.
Quanto à linguagem da canção, já citei no objetivo 3, o trabalho experimental do
grupo Novos Baianos nas misturas do rock com o choro, o frevo e o samba
Nessa produção musical popular experimental na década de 1970, outro campo em
que a contracultura foi marcante foi o das capas de disco. Já observei aqui a importância do
design da capa para traduzir a obra desses artistas. No que se refere à contracultura, o uso de
drogas, a proposta radical de liberdade, a crença no poder revolucionário da juventude e a
30
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=y4eePJ6Pcks>
63
proximidade entre artistas e público foram as bases para a criação de posters, logos e capas de
álbuns. Por conta disso, construiu-se uma estética, em parte derivada da art nouveau, cujas
características estão na tipografia cheia da fonte Homeward Bound (Hobo), no colorido
intenso, nos traços retirados dos quadrinhos, espirais, colagens, formas de cogumelos (JONES;
SORGER, 1999; RODRIGUES, 2006), a psicodelia e cenas fantásticas e alucinatórias. Os
álbuns e suas imagens eram elementos de mediação entre as novas utopias e a estética jovem
em um mundo em transformação. Nos anos 1960, as capas
[…] tornam-se extensões plásticas das músicas apresentadas nos discos que,
por sua vez, foi a forma mais afirmativa de impor a identidade que a
juventude encontrou para sua inserção na sociedade, e para tentar alcançar
suas utopias. Dessa forma, o design teria o papel de dar visibilidade a essas
utopias e ao designer configurar esses objetos de uso (RODRIGUES, 2006,
p. 86).
No Brasil, as imagens psicodélicas surgiram nos álbuns em relativo número na
tentativa de tornar visível essa utopia de um novo mundo. Um dos primeiros foi o disco
Caetano Veloso (1969, Philips), o segundo lançado pelo cantor, com capa de Rogério Duarte,
artista cujo trabalho era totalmente integrado ao do compositor. Na descrição do próprio
Duarte, destaca-se a mistura aparentemente caótica de imagens medievais, dragões, gravura
popular e muitas cores, reaproveitando imagens de outras fontes:
Era uma espécie de ready made porque aquela ilustração era um padrão,
como certos tipos de gravuras medievais com um dragão que vem de um
quadro de Rafael. Depois se torna gravura popular, daí vira um clichê e
muitos artistas trabalham com aquele desenho, aquele tema, como acontece
também na poesia. Na ocasião eu utilizava um trabalho já existente. Fazia
uma metalinguagem em cima disso, usando inclusive fotografia. Era uma
violência com aquela obra de arte, mas foi muito elogiada porque era mais
colorida e tinha uma produção um pouco mais desenvolvida do que o que
habitualmente se fazia para os artistas (DUARTE, 2009, p. 99).
Dois LPs dos Mutantes, Jardim elétrico (1971, Polydor) e Mutantes e seus Cometas
no país de Baurets (1972, Polydor) traziam nas capas desenhos coloridos com traços de HQ
do quadrinista Alain Voss. O primeiro trabalho da Rita Lee e o grupo Tutti Frutti, Atrás do
porto tem uma cidade (1974, PolyGram), tinha o desenho de uma “ilha” em meio a nuvens no
céu azul com navios transformados em aeronaves. Nele, capa e contracapa mostravam a cena
vista em dois ângulos opostos e em momentos diferentes: de dia e de noite. Já o grupo paulista
de rock progressivo Som Nosso de Cada Dia teve em seu primeiro disco, Snegs (1974,
Continental), um desenho com cogumelos e uma borboleta azul, inseto que reaparece na parte
64
interna do álbum com asas abertas nas quais se lê um texto cheio de passagens “cósmicas” e
metáforas místicas e da natureza sobre o percurso da banda.
As capas de álbuns dos quatro artistas do corpus desta pesquisa usaram pouco desses
elementos visuais característicos da estética indicada acima. Mesmo assim, estavam
envolvidas com a postura contracultural de experimentação e de exploração de espaços não
tradicionais para a produção artística. O design provocativo da cada do disco Todos os olhos,
de Tom Zé, a pequena mosca no centro do grande e intrigante branco de Ou não, de Walter
Franco, o barroquismo alucinado da capa do primeiro LP do Secos & Molhados ou as imagens
ligadas à natureza e à vida comunitária, nos álbuns do Novos Baianos são exemplos de uso
heterodoxo e experimental da capa de LPs na época. Ali se percebe que seus criadores
trabalharam formas inusitadas no design que, com a parceria dos compositores e músicos,
desdobram-se em suas composições. Essa tradução particular e criativa fundada na
intersemiose sonoro-visual foi uma das principais características da produção estética
midiática aqui analisada.
10. LIMITES DA PESQUISA E PROBLEMAS NA REALIZAÇÃO
O principal problema enfrentado nesta pesquisa foi com relação às entrevistas,
especialmente a dificuldade em marcá-las e realizá-las com determinados personagens
projetados previamente. Não foi possível conversar com Tom Zé, Pepeu Gomes, João
Ricardo e Walter Franco. Os dois primeiros, talvez por conta da agenda de trabalhos, não
retornaram os contatos. Os dois últimos, por algum outro motivo (provavelmente, pouco
interessados em tratar dos assuntos da pauta), também não responderam as tentativas de
conversa. Luiz Galvão estava na lista inicial, porém, como mora na Bahia e eu não tive a
possibilidade de ir a Salvador e nem ele pode estar em São Paulo, a entrevista não ocorreu.
No entanto, como já indicado, parte dessas perdas foi recuperada com as memórias
de alguns deles lançadas em livro, como nos casos de Luiz Galvão (1997), Gerson Conrad
(2013), Tom Zé (2009) e Ney Matogrosso (VAZ, 1992), entrevistas com os membros do
Secos & Molhados na época do sucesso (MORARI, 1974), outras esparsas em matérias
jornalísticas e depoimentos em alguns documentários.
As cinco entrevistas realizadas (gravadas e transcritas, com as íntegras no anexo)
deram conta de parte importante da investigação, tanto sobre as questões musicais e de
criação, quanto as referentes à gravadora Continental e ao cenário fonográfico da época.
Em três delas, com Pena Schmidt, Claudio Prado e Carlos Sion, produtores que
trabalharam na companhia, discutiu-se sobre a dinâmica da empresa, os ambientes de
65
gravação, os contatos com os artistas, etc. Nas outras duas, com os músicos Rodolpho
Grani Junior e Emílio Carrera, procurei tratar de temas mais ligados aos arranjos, à
produção, ao contato deles com os compositores e suas impressões sobre a época. As
entrevistas foram de caráter qualitativo, com perguntas abertas e em diálogo, e não com
perguntas fechadas para análises quantitativas.
Um depoimento de grande interesse é o do ex-presidente da Continental, Alberto
Jackson Byington Neto. No entanto, as várias tentativas, inclusive do supervisor desta
investigação, prof. Dr. Eduardo Vicente, resultaram infrutíferas.
Outro obstáculo foi a pouca quantidade de pesquisas sobre a indústria fonográfica
brasileira. Os trabalhos de maior fôlego são os de Eduardo Vicente (2002) e Marcia Tosta
Dias (2000), quantidade limitada para um tema de tanta importância para a música
popular brasileira. Um dos motivos para tal escassez é a dificuldade em acessar
documentos das companhias. Poucas são as gravadoras que abrem aos pesquisadores seus
acervos e que liberam a documentação de sua história. Também é difícil fazer com que
profissionais da área falem com desenvoltura sobre suas experiências nessas empresas.
Apesar de esta pesquisa tentar contribuir, a falta de cultura em pesquisa nessa área no
Brasil trouxe algumas limitações à proposta aqui desenhada.
Uma terceira limitação foi de ordem pessoal. Tive um problema de saúde que
dificultou o transcorrer dos trabalhos: uma cirurgia devido ao descolamento da retina em
abril de 2013, que me colocou em repouso absoluto por um mês e mais dois meses de
recuperação sob cuidados e privações.
BIBLIOGRAFIA GERAL DA PESQUISA
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2000.
BAHIA, Sergio G. Ney Matogrosso – o ator da canção. Rio de Janeiro: Multifoco,
2009.
BAHIANA, Ana Maria. Nada será como antes: MPB nos anos 70. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1980.
BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São
Paulo: Cia. das Letras, 1996.
BOZZETTI, Roberto. Uma tipologia da canção no imediato pós-tropicalismo. Letras.
n. 34, p. 133-146, jan-jun. 2007.
66
BRITTO, Paulo H. A temática noturna no rock pós-tropicalista. In: DUARTE, P. S.;
NAVES, S. C. Do samba-canção à tropicália. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2003,
p. 191-200.
CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. 3. ed. São Paulo:
Perspectiva, 1978.
CARLSON, Marvin. Performance: uma introdução crítica. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2010.
COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Perspectiva/Edusp, 1989.
CONRAD, Gerson. Meteórico fenômeno: memórias de um ex-Secos & Molhados. São
Paulo: Anadarco, 2013.
DAPIEVE, Arthur. BRock – o rock brasileiro dos anos 80. 2. ed. São Paulo: Ed. 34,
1996.
DIAS, Marcia Tosta. Os donos da voz: indústria fonográfica brasileira e mundialização
da cultura. São Paulo: Boitempo, 2000.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
DUARTE, Rogério. Rogério Duarte se textifica. In: COHN, Sergio (org). Rogério
Duarte. Rio de Janeiro: Azougue, 2009, p. 92-107.
DUNN, Chistopher. Tropicália, counterculture and the diasporic imagination in Brazil.
In: PERRONE, C.; DUNN, C. (eds.) Brazilian popular music and globalization. N.
York: Routledge, 2002, p. 72-95.
_______. Brutality garden: tropicália and the emergence of a brazilian counterculture.
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.
DURÃO, Fabio A.; FENERICK, J. Adriano. Tom Zé's unsong and the fate of the
tropicália movement. In: SILVERMAN, Renée M. (ed.) The popular avant-garde.
Amsterdã: Rodopi Press, 2010, p. 299-315.
ECO, Umberto. La definición del arte. Barcelona: Martínez Roca, 1970.
FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. 2. ed. São Paulo: Ateliê Editorial,
1996.
FENERICK, J. A. Tom Zé: a crítica de canção popular e a canção popular crítica. Fênix
– Revista de História e Estudos Culturais, ano X, v. 10, n. 2, 2013.
FRITH, Simon. Performing rites: on the value of popular music. Cambridge: Harvard
University Press, 1996.
FUOCO, Neuseli M. C. Tom Zé: a (re)invenção da música brasileira (1968-2000).
Dissertação de Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura. Universidade
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2003.
GALVÃO, Luiz. Anos 70: novos e baianos. São Paulo: Ed. 34, 1997.
GOFFMAN, Ken; JOY, Dan. Contracultura através dos tempos: do mito de
Prometeu à cultura digital. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.
HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e
desbunde – 1960/70. 3. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.
67
IDART (Departamento de Informação e Documentação Artísticas). Disco em São
Paulo. Damiano COZZELLA (coord.). São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura/
Centro de Pesquisa de Arte Brasileira, 1980.
INGLIS, Ian. “Nothing you can see that isn’t shown”: the album covers of the Beatles.
Popular Music. Cambridge (UK), v. 20, n. 1, 2001, p. 83-97.
JANOTTI JR., Jeder. Por uma abordagem mediática da canção popular massiva. Ecompós. n. 3, ago/2005.
JONES, Steve; SORGER, Martin. Covering music: a brief history and analysis of album
cover design. Journal of Popular Music Studies. v. 11, n. 1, 1999, p. 68-102.
LIMA, Marcio S. B. de. O design entre o audível e o visível de Tom Zé. Dissertação
de Mestrado em Design. Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, 2010.
LOPES, Paul D. Innovation and diversity in the popular music industry – 1969 to 1990.
American Sociological Review. v. 57, iss. 1, feb/1992, p. 56-71.
LOTMAN, Iuri M. La semiosfera 1: semiótica de la cultura y del texto. Madrid:
Ediciones Cátedra, 1996.
MACIEL, Luiz Carlos. Anos 60. Porto Alegre: L&PM, 1987.
MELLO, Zuza Homem de. A era dos festivais: uma parábola. São Paulo: Ed. 34,
2003.
MIRANDA NETO, A.C. A guitarra cigana de Pepeu Gomes: um estudo estilístico.
Dissertação de Mestrado em Música. Rio de Janeiro: UniRio, 2006.
MORARI, Antonio Carlos. Secos & Molhados. Rio de Janeiro: Nórdica, 1974.
MORELLI, R. C. L., Indústria fonográfica: um estudo antropológico. 2. ed.
Campinas: Ed. Unicamp, 2009.
NAPOLITANO, Marcos. A música popular brasileira (MPB) dos anos 70:
resistência política e consumo cultural. Anais do 4º Congresso da seção latinoamericana da International Association for Study of Popular Music (IASPM-AL),
México, abril/2002. Disponível em:
<http://www.hist.puc.cl/iaspm/mexico/articulos/Napolitano.pdf> Acesso em nov/2008.
___________________. MPB: totem-tabu da vida musical brasileira. In: Vários
Autores. Anos 70: trajetórias. São Paulo: Iluminuras/ Itaú Cultural, 2005, p. 125-129.
NAVES, Santuza C. A canção crítica. In: MATOS, C.N.; TRAVASSOS, E.;
MEDEIROS, F.T. (org.) Ao encontro da palavra cantada. Rio de Janeiro: 7Letras,
2001, p. 289-298.
_________________. Canção popular no Brasil: a canção crítica. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2010.
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.
PAIANO, Enor. O Berimbau e o som universal: lutas culturais e indústria fonográfica
nos anos 60. Dissertação de Mestrado em Comunicação. Universidade de São Paulo,
1994.
RISÉRIO, Antonio. Duas ou três coisas sobre a contracultura no Brasil. In: Vários
autores. Anos 70: trajetórias. São Paulo: Iluminuras/Itaú Cultural, 2005, p. 25-30.
68
RODRIGUES, Jorge Luís Caê. Tinindo, Trincando: o design gráfico no tempo do
desbunde. Conexão - Comunicação e Cultura. Caxias do Sul (RS), v. 5, n. 10, jul-dez.
2006, p. 72-103.
SEINCMAN, E. Estética da comunicação musical. São Paulo: Via Lettera, 2008.
SEVERIANO, Jairo; MELLO, Zuza Homem de. A canção no tempo: 85 anos de
música brasileira - v. 2 (1958-85) São Paulo: Ed. 34, 1997.
SILVA, Vinícius R. B. O doce & o amargo do Secos & Molhados: poesia, estética e
política na música popular brasileira. Dissertação de Mestrado em Letras. Universidade
Federal Fluminense (UFF), 2007.
TATIT, Luiz. A canção moderna. In: Vários autores. Anos 70: trajetórias. São Paulo:
Iluminuras/Itaú Cultural, 2005, p. 119-124.
_______. O cancionista – composição de canções no Brasil. São Paulo: Edusp, 1996.
VALENTE, Heloísa de Araújo Duarte. As vozes da canção na mídia. São Paulo: Via
Lettera/Fapesp, 2003.
VARGAS, Herom. “Essa é pra tocar no rádio”: redundância e experimentalismo na
canção de sucesso. In: SANTOS, R.E.; VARGAS, H.; CARDOSO J.B.F. (orgs).
Mutações da cultura midiática. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 169-204.
_______. Hibridismos musicais de Chico Science & Nação Zumbi. Cotia (SP): Ateliê
Editorial, 2007.
_______. Condições e contexto midiático do experimentalismo na MPB dos anos 1970.
Intexto, v. 2, 2010a, p. 86-102.
_______. A canção experimental de Walter Franco. Comunicação e Sociedade, v. 32,
2010b, p. 191-210.
_______. Secos & Molhados: experimentalismo, mídia e performance. Anais do 19º
Encontro Anual da Compós, Rio de Janeiro (RJ), jun/2010c.
_______. Categorias de análise do experimentalismo pós-tropicalista na MPB.
Fronteiras - Estudos Midiáticos, 2012a, p. 13-22.
_______. Tinindo Trincando: contracultura e rock no samba dos Novos Baianos.
Contemporânea, 2012b, p. 461-474.
_______. As inovações de Tom Zé na linguagem da canção popular nos anos 1970.
Galáxia, v. 12, 2012c, p. 278-291.
_______. Três formas do experimentalismo na MPB da década de 1970. E-Compós, v.
15, 2012d, p. 1-16.
_______. Capas de disco da gravadora Continental nos anos 1970: música popular e
experimentalismo visual. Revista FAMECOS, v. 20, 2013, p. 403-429.
_______. Tropicalismo e pós-tropicalismo: dois contextos, dois hibridismos, dois
experimentalismos. In: ROSSETTI, R.; VARGAS, H. (org.). Linguagens na mídia:
transposição e hibridização como procedimentos de inovação. Porto Alegre:
EDIPUCRS / USCS, 2013, p. 103-119.
VARGAS, H.; SILVA, Vitoria A. Ney Matogrosso: performance na canção midiática.
Interin, v. 14, 2012, p. 147-159.
69
VARGAS, H.; ROSSETTI, R. Música popular e inovação: o experimentalismo nas
canções do grupo de rock Titãs. Líbero. Ano VIII, n. 15/16, 2005, p. 76-84.
VASCONCELLOS, Gilberto. Música popular: de olho na fresta. Rio de Janeiro:
Edições do Graal, 1977.
VAZ, Denise P. Ney Matogrosso: um cara meio estranho. Rio de Janeiro: Rio Fundo
Ed., 1992.
VICENTE, Eduardo. Música e disco no Brasil: a trajetória da indústria nas décadas de
80 e 90. Tese de Doutorado em Comunicação. Universidade de São Paulo, 2002.
WISNIK, José Miguel. O minuto e o milênio ou, por favor, professor, uma década de
cada vez. In: BAHIANA, A. M. et al. Anos 70: música popular. Rio de Janeiro:
Europa, 1979-80. (p. 7-14).
ZAN, José Roberto. Secos & Molhados: o novo sentido da encenação da canção. In:
Atas do 7º Congresso da seção latino-americana da International Association for Study
of Popular Music (IASPM-AL), La Habana, junho/2006. Disponível em:
<http://www.hist.puc.cl/iaspm/lahabana/articulosPDF/JoseRobertoZan.pdf> Acesso em
jan/2009.
ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. São Paulo: Hucitec/Educ, 1997.
ANEXO – ÍNTEGRAS DAS ENTREVISTAS
Rodolpho Grani Jr.
Pena Schmidt
Claudio Prado
Emílio Carrera
Carlos Sion
70
Entrevista com Rodolpho Grani Jr
Cotia (SP), 23-05-2012
Realização: Herom Vargas
Herom - Conte um pouco da sua trajetória inicial, onde você nasceu, quando e a sua formação em música...
Rodolpho – Bom, eu nasci em 26 de dezembro de 1946, em São Paulo, ali na Bela Vista, Bexiga. Tive um
primário em que estudei na Caetano de Campos...
H – Tradicional escola...
R – Sim, muito legal, me deu uma estrutura muito boa. E daí eu vim tocando a vida. Na verdade, antes de
estudar no Caetano de Campos, eu cantava numa opereta. Mas era moleque, tinha 9 anos, daí fui pro Caetano
estudar química industrial. Na verdade eu até gostava de química industrial, mas sabia que não ia ser aquilo...
Não parei de tocar, não parei de cantar, pois sabia que uma hora dessas eu ia... Mas eu fiz o secundário e
tal... Cheguei até ali e fui para o Rio de Janeiro. Na verdade, ali eu já estava com o Bando. Os Beatles me
deram uma rasteira, eu vinha tocando, primeiro fazendo folclore, e tal... eu tinha um grupo de 5 vozes, já
ligado no baixo, no grave... Na verdade eu tinha dois e fazia os arranjos também. Eu tinha dois baixos
profundos, um tenor e um tenorino. Então eu fazia os arranjos de música folclórica, principalmente do Rio
Grande do Sul. Eu gostava, não sei por quê... Acabei gostando disso aí, e fui morar em Curitiba também. A
partir daí, chegou Beatles, e então aí minha cabeça mudou totalmente. Aì fui para o Rio de Janeiro, alias,
ainda voltei para São Paulo, montei o Bando, fizemos vários shows. É, foi uma banda considerada boa na
época, teve algum sucesso, e fomos para o Rio de Janeiro. Lá no Rio, eu fiz uma escola, era uma universidade
de música, Carlos Gomes, que acabou. E eu fiz uma parte dos estudos lá. Se você me perguntar, eu não vou
saber, mas eu tinha lá grandes professores. Foram dois anos que eu fiquei ali. E aprendi muita coisa de
música, porque até ali eu tinha sido autodidata. Nunca tinha estudado música mesmo, tinha aulas e tal. Daí,
na volta, acabei indo estudar na escola do pessoal, do Trio Zimbo, Clam. Fui estudar lá e depois disso, foi só
tocando mesmo. Aí, conheci... o primeiro quem foi mesmo? Acho que foi o Mautner... né, um dos dois... Mais
ou menos naquela época, a gente tinha feito alguns outros grupinhos, para tocar e tudo mais, e acabei
conhecendo o Mautner, e fiz uma banda pra ele. Na época, tinha o Alírio, baterista, e conhecemos o marido
da Rita, o Roberto Carvalho, que eu conheci no Rio e chamei pra tocar com a gente.
H – Por meio do Solano Ribeiro?
R – Não, nesse caso o Solano ainda não tinha aparecido. Aí, fiquei um tempo lá, no Rio de Janeiro, com a
banda e com o Mautner, ficamos uns dias com ele lá e fizemos...
H – Você participou do primeiro disco dele?
R - Do primeiro e do segundo.
H – 72, 74...
R – Isso.
H – Tocando?
R - Tocando e fazendo arranjos. Na verdade, eu sempre tive uma coisa meio de meter a cara naquilo que eu
gostava. Eu queria estar na mão, com a banda, junto com todo mundo. Sempre gostei de ter as pessoas
comigo. Não é uma coisa que eu fale “fui que fiz os arranjos totais”, não, pois também tinha participação, mas
eu era tipo um band-líder, eu centralizava porque foi me dado. Na época, foi me dada essa condição pelos
artistas e eu tocava nessa aí. E então, o Antonio Adolfo me chamou na época pra ficar com a banda dele,
porque ele ia para os Estados Unidos. E eu era amigo dele, tava morando no Rio quando ele me chamou, e
disse “fica aí com a banda pra mim”. Eu fiquei durante um tempo. Mas uma coisa de Rio de Janeiro que eu
não sei, eu não gosto muito... Eu fiquei lá durante um tempo, curti, foi ótimo, mas aquela sensação de “carioca”
eu não tenho em mim. Eu gosto de estar funcionando, gosto de estar fazendo, de buscar... e eles são... Bom,
é o jeitão deles, é que nem o baiano... Eles ficam meio “ah tá, veio a onda, eu to nessa”. Então, eu voltei pra
São Paulo. Aí, encontrei o Walter Franco, e fizemos vários shows pelo Brasil. Depois, ali não estava dando
muito certo, porque estava faltando grana na época, e em 77, minha filha estava nascendo, a primeira... Ai
eu pensei, “agora o negócio ficou complicado”. E eu fui fazer publicidade. Daí, eu fiz um estúdio chamado
Vapor, na época com mais outros caras, outros amigos, e fizemos publicidade. Foi uma coisa bem legal na
época. Depois, eu abri a minha própria empresa, a Imaginação Produções, e montei... fiz a minha roda, as
minhas coisinhas. Depois, com meu filho agora, eu tenho a Vapor Produções, ops, a Mango Jango Produções.
E a Imaginação continua do lado. Eu não fechei a firma, nem nada, mas a gente tá agora com a Mango,
fazendo publicidade. Eu devo ter esquecido alguma coisa, mas acho que é por aí...
H – Uma das ideias aqui é esse seu trabalho com o Jorge Mautner. Como é que era, se é possível contar, a
dinâmica de produção? Como vocês compunham, se tinha alguma dinâmica, como que era?
R – O Mautner, você vê que ele é um cara... É o caos... Eu sempre trabalhei com gente assim, mas eu não
sou esse tipo de cara. Na verdade, até sou um pouco, evidente, dá pra eu entender um pouco essa cabeça...
Então, se dá pra eu entender é porque, né?...
H – Você coloca uma ordem...
72
R – Isso, sim, exatamente isso... Você tocou no ponto. O Gil e o Caetano fizeram um comentário sobre isso,
eu não tenho esse comentário, mas eles falavam de mim exatamente nessa posição, de “organização mental”
ali da história. Porque porra, eles são muitos, excelentes artistas. Mas eles são meio sem... Tanto é que o
Mautner é um cara venerado por um monte de gente, mas não conseguiu fazer sucesso. Ele era muito louco.
E o Jacobina, o Nelson, é pior que ele, mas também uma puta de uma pérola. Então, muitas vezes no palco
eu era obrigado a dar cutucão, dar bronca no Nelson, porque ele desviava! Era essa a minha parte ali, porque
eu sentia o seguinte: eu sentia que dava pra fazer um puta som daquilo que ele tinha, porque era novo o que
ele falava, era muito moderno. Eu sabia que se eu colocasse a minha participação ali, de organizar, de fazer
arranjos, de tocar e tal, eu acho que a gente podia dar... E realmente demos. Teve realmente um momento
que a gente deu uma pulada pra frente. Agora, na questão de composição, era uma coisa que tinha que ser
do jeito dele, assim, relaxada.
H - Você fazia música e ele letra, ou era...
R – Exatamente isso... Então era assim, na verdade, eu fazia música, porque as minhas músicas também
são assim, bem elaboradas, têm musicalidade, têm fios musicais, têm harmonia, mas é toda quebrada
também. É toda diferente nesse ponto. E ele adorava isso, ele ficava me ouvindo cantar, e ficava escrevendo.
De repente, quando eu via, mas muito rápido isso, muito rápido, quando eu o via, ele vinha e falava: “ó, toca
aí”. Eu tocava e ele cantava em cima, mas já com letra e canto, principalmente a Ginga da Mandinga, que é
um bloco de primeira parte com uma ginga quebrada, diferente, um sincopado fora do sincopado normal, que
é difícil de colocar letra. Eu tentei e não consegui, porque eu também nunca fui muito ligado em letra.
H – Essa música tem uma introdução, uma primeira parte, em que o ritmo não aparece muito claramente,
mas a parte harmônica tem uns acordes muito sonantes, parece até meio atonal em alguns momentos. Esse
arranjo inicial é seu?
R – É meu.
H – E depois entra um samba...
R – É um samba, que tem uma acentuação diferente, mas é um samba, continua sendo um samba.
H – A parte inicial, você lembra os acordes, não?
R – É, se eu pegar pra tocar, eu até lembro...
H – Porque eu gostei dessa introdução. Não é introdução, é primeira parte, porque ele começa já cantando...
R – É, isso... “pam-pam-pam”.... Era um bloco disso aí.
H – O arranjo é seu então?
R – O arranjo é meu. E a segunda parte é uma coisa poética, que na hora eu fiz um acorde, fiz um outro
acorde, que ali ela dá uma caída, né? (canta a canção). Isso é Jorge Mautner! Isso aí é poesia pura. Quando
eu vi aquilo, eu falei “é isso aí”! Era uma coisa de troca, já que ele gostava também muito da minha música.
E a outra, ele tinha...
H – Aeroplanos?
R – Isso, Aeroplanos, que até a Vanderlea acabou gravando. Se eu não me engano, ele tinha um trecho do
começo da letra e eu comecei a tocar, passei em frente, toquei a música que estava me vindo ali. E aí, ele
também, rapidinho... Ele era muito sensitivo, ele sacava... As coisas caíam como luva. Pena que a gente ficou
pouco tempo fazendo parceria. Ele até foi um dos meus grandes parceiros. E eu considero também o Walter
(Franco) como um parceiro, pois era mais ou menos a mesma coisa: ele me mostrava algum toco de música,
como eu chamava, e eu falava: “Pô, mas isso dá com aquele, e tal” Mas eu não tenho esses créditos, que é
uma coisa que eu não acho muito legal. Mas enfim... é assim que é.
H – O Walter Franco chegava com uns pedaços de músicas?
R – Exato. “Ó, tem isso aqui... vamos fazer o que com isso aqui?” Ele me mostrava vários. Aí, eu pegava
esses pedaços, e falava “Bom, isso aqui tem uma música que chama “Bambu, olha o bamba do bambu
bambeiro”” que inclusive é uma roda de capoeira, e dai veio com outra coisa dele. Ele ia colocando pedaços
de música dentro pra fazer uma espiral com várias músicas dele. Aí, eu consegui pegar esse elo e botar num
arranjo, botar as pessoas entrando em alguns momentos, outros músicos, e foi assim nesse disco dele aqui.
O Revolver foi exatamente dessa forma.
H – Porque você fez a direção musical desse disco.
R – Fiz, fiz...
H – Qual era o seu trabalho, a sua função, até onde você ia nesse disco, o que você fez?
R – Na verdade, na parte musical, como eu tava muito ligado ao Walter, diariamente a gente tava fazendo
isso, e tínhamos uma liberdade grande de 300 horas dentro do Estúdio Eldorado, que era o melhor que tinha
na época. Nós resolvemos chamar o Peninha Smith também. Eu coordenava a parte de arranjo, de musical,
e chamei também o Diógenes, o Diógenes Burani, que acabou me ajudando muito nessa parte. O Peninha
fez a parte lá de cima do estúdio. Era um cara que a gente já tinha muito contato e eu falava pra ele “bicho,
eu quero passar o baixo dentro da câmara Leslie”. Ele me arrumava um jeito de passar. E tem várias músicas
assim, com o baixo dentro da câmara Leslie. “Eu quero o som da craviola”. Eu tinha uma craviola que eu
tocava, e nesse cd, o Américo Issa, que era outro cara da banda do Bando, também tocava craviola. Com a
participação e a ajuda dessas pessoas fizemos então esse disco, que é um dos que eu mais gosto, porque
sinto muito a minha participação nesse vinil. Dá pra ver que eu botei a colher. O do Mautner também, mas
73
principalmente neste, porque ali eu fui contratado pra fazer a direção musical, então eu tinha liberdade. Nós
chamamos, nesse caso aqui, o Flavio Venturini, por exemplo...
H – Que na época era d’ O Terço ainda.
R – Exatamente. Ele era amigão nosso, ficou muito mais amigo e falou “Ó, eu só faço isso porque é pra você,
porque senão eu não ia abrir” (porque ele tinha um domínio muito grande do sintis, dos sintetizadores. Na
época era o Moog, que ele pilotava como ninguém).
H – Era uma coisa recente na época, não havia muitos músicos que mexiam com isso.
R – Não havia... E ele veio fazer com participação, que aliás, eu nem sei se é uma das coisas que não tem,
né? Por exemplo, na cena maravilhosa, ele é o cara, porque ficou brincando dentro do arranjo. É um cara,
puta músico, toca pra caramba. Enfim, e teve outras participações, tipo flauta, com o Marcio Werneck, que
deram cor ao trabalho.
H – Então, quem te contratou foi a gravadora?
R – Foi, a Continental.
H – Quem era a pessoa?
R – Não vou lembrar... Na época, tinha o Manuel Barembein, será? Porque o Manuel foi meu sócio depois. E
eu me lembro que tinha uma ligação com o Manuel, que eu trabalhava lá também. Pode ser que tenha sido
ele. Na verdade, como artista, sendo contratado, eu fui a poucas reuniões desse disco. Pra você ver a
liberdade que a gente tinha... Tinha realmente uma liberdade excepcional.
H – Tinha liberdade, tinha hora de estudo...
R – Estudo, grana, tinha tudo pra fazer um disco experimental do Walter Franco. Então, pra mim foi muito
bom. Foi como “Olha, agora eu posso mostrar alguma coisa da minha participação.” Evidentemente com o
Walter na frente e com as criações dele, com as coisas que a gente conseguiu organizar.
H – Nesse disco, tem uma música que eu acho muito interessante, “Eternamente”. Ele subdivide a letra em
vários pedaços, Eter-na-mente, e tal... Mas a parte musical é curiosa, porque ela tem compassos que mudam
o número de tempos. Tem compassos de três ternários, e um de cinco. E ai, mais três de três, e um de sete.
Eu tava ouvindo, e isso é na música inteira, o que provoca uma sensação, em quem ouve, estranha. E a letra,
também tem a ver com essa maluquice toda. Isso já tava no Walter Franco ou foi...
R – Não. Tinha uma parte de quando ele cantava Eternamente, que ele cantava totalmente pra dentro, e ele
já cantava quebrado. Eu falei “se você quer cantar quebrado, então vamos quebrar mesmo”. Aí, então, eu
arranjei dessa forma, matematicamente, mas totalmente fora. É nessa música que o baixo vai dentro da caixa
Leslie. Ela vai misturada.
H – É que a gente ouvindo, eu tento decifrar, obviamente, de ouvido... E nem tudo a gente consegue. A gente
ouve, mas entender como foi feito... Por isso que eu to te perguntando. Nessa música, então, você gravou o
baixo na caixa Leslie.
R – Isso, e é o que fazia a espinha dorsal com a música dele, com o canto dele. Ela fica fazendo a tal espiral,
que é o que ele queria, é onde ele queria chegar. Então, teve o Flávio Venturini, que também entra nisso e
você quase nem percebe. Mas se você colocar num estéreo, aquilo é muito louco. O Peninha também deu
ajudas lá em cima, colocou as coisas dessa forma.
H – Bom, aqui tem várias canções. Tem aquela “Feito Gente”, que é bem pesada, né?
R – Pesadaça! Ali é a batera do Diógenes, que é barra pesada. E o Dudu Portes, fazia percussão, na época
era muito bom. A gente usou muito isso. E tem uma música nesse disco que eu quero até te lembrar, é uma
que no final a gente ri, meio que vira criança, todos, todo mundo vira criança no final. Eu to querendo lembrar
aqui, mas eu não... É muito, muito legal. Ela é totalmente simples, foi uma sacada que a gente teve lá...
Inclusive, não fui só eu. Eu falei da história, e o Walter achou: “é isso aí”. O Peninha falou: “então vamos fazer
isso”. O que ele fez: aumentou a velocidade da fita no final e a gente ficou rindo. Só que a gente ria pra valer,
a gente riu muito. Foi muito natural, muito interessante. Eu não tô lembrando aqui qual é...
H – Você aparece no final da música.
R – Isso. É muito interessante essa. Essas ideias de colocar as músicas todas...
H – Quem que teve essa ideia ai de colocar as letras todas... Foi o Walter, foi o cara da arte?
R – Foi o cara da arte. É, foi porque ele ficou pensando e vendo como iria se integrar nesse trabalho, que não
é uma coisa comum.
H – Não era comum acontecer essa sintonia entre músico, compositor, técnico de som, diretor de arte, o cara
da arte da capa e fazer um trabalho assim bastante coordenado, não é? E orgânico... Isso não era comum,
não é?
R – Não, não era. Na verdade, tinha alguma coisa com o Gil e o pessoal que fazia a capa dele, que eu to
esquecendo o nome...
H – Rogério Duarte.
R – O Rogério Duarte... Que eles tinham... Mas aí era com o pessoal da Bahia. O Duarte fazia aquilo e mais
ou menos era um trabalho dele, você via bem o Rogério Duarte em tudo que era lugar ali.
H – Mautner também, ele fez capa para o Mautner...
R – Fez, fez também. Fez aquela capa do Jorge Mautner. Enfim, mas tinha pouco, você tem razão, é isso
mesmo. Quando a gente conseguia isso tinha a certeza de que ia ter um trabalho especial, porque era difícil
mesmo. E havia uma integração, principalmente entre músicos. Na verdade, na época, como eu estava sendo
74
chamado para várias gravações e músicas, o pessoal já me tinha como (que eu nunca fui, porque eu não
estudei pra isso) maestro. Mas eles me chamavam para esse tipo de “maestria”: organizar e entender o artista.
Por isso que eu fiz algumas direções musicais, pra poder ser a ponte de ligação entre a gravadora e o que o
artista queria. Se bem que com o Walter, ele entrou lá e falou “quero fazer assim, se for pra fazer a gente faz,
senão não faz”.
H – Eu achei curioso porque seu contato não foi com ele, seu contato foi primeiro com a gravadora.
R – É, eu já tinha um contato com ele.
H – Ah, já tinha...
R – Já. Já tinha o contato e o pessoal da gravadora sabia qual era a minha função ali. Por isso é que eles me
convidaram e o Walter achou ótimo, aprovou claro, porque ele sabia que comigo ele podia, vamos dizer...
H – Você o conheceu quando, onde, você lembra?
R – Foi nos festivais. Fiz vários com o Bando, o Jorge, Jorge da Capadócia, o Jorge Ben, deu “Que Maravilha”
pra gente. Então a gente fez um arranjo.
H – Foi pro festival da Globo, o Internacional.
R – Isso. E ai eu conheci bastidores e falei “Meu, você tem umas coisas muito interessantes”. Gostava do
Cabeça, o Cabeça era uma loucura bem humorada, que eu sacava o que tava por trás daquilo. Era sei lá
quantos anos de escola teatral, tudo tava ali, entendeu? E o momento de fazer uma coisa nova, que ele sacou
ser muito moderno, enfim, é um cara que levava pra esse lado. Então, quando eu vi isso, fui eu mesmo falar
com ele, aí ficamos amigos. “Ah, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo”. Viajamos pra São Paulo e eu
comecei a frequentar a casa dele. Conheci a mãe dele. Conheci o pai, mas principalmente a mãe. E a gente
ia ensaiar no apartamento dela, dele, enfim... E aí, ficamos amigos, mais do que tudo. Quer dizer, amigos
musicais, essencialmente.
H - E lá na Continental? O que você acha de uma gravadora como a Continental, que mexia mais com música
regional, cantores do interior, sertanejo – não o sertanejo de hoje, mas é – e, de repente, começar a investir:
gravar Walter Franco, gravar Secos e Molhados, várias coisas que eram de rock ou uma MPB nova, que não
fazia público, que não vendia... Quem vendiam eram os mais populares.
R – Eles tinham lá, eles tinham disco, vendiam. Na época se vendia muito disco. E eles tinham essa garantia.
Então, eles estavam querendo ousar um pouco, porque a Philips tinha lá o pessoal do Gil, Caetano, era Philips
e Phonogram, Gal Costa, Chico, tinham os grandes nomes da MPB. E uma parte da revolução dos baianos.
Então, eu acho que foi uma política tentando fazer uma coisa sulista, pra integrar algum movimento que fosse.
Mas não, o único que fez alguma coisa que fosse, foi o Tom Zé aqui. Acabou cada um fazendo um trabalho
diferente, e com várias tendências, com pessoas buscando coisas alternativas, e o Walter surgiu daí. E a
vontade deles, eu acho que foi uma mudança interna da Continental, que eu senti na época, foi mais ou
menos isso. Teve uma mudança que infelizmente eu não vou saber te citar nomes, mas principalmente essa
pessoa que você acabou falando, Julio Nagib, eu acho que ele era um cara ligado. Eu tive pouco contato com
ele, mas saquei que no mínimo ele era um cara de visão. E eu acho que ele se cercou de pessoas, como o
próprio Peninha Smith, que estava nas produções musicais. Eu acho que foi uma consciência de momento,
que eles souberam aproveitar. Tinham dinheiro pra isso porque vendiam sertanejo,
H – O dono você não conheceu, não é? Não teve contato. O Byington.
R – O Byington. Sim, na verdade sim, eu tive uma vez um contato com ele, numa das reuniões, mas era
sempre uma coisa muito mais distante, eu não sei se porque eles queriam assim, ou enfim... Não sei muito,
mas nós tivemos contato sim. E depois eu voltei lá, mas aí já há 5, 6 anos, só pra saber como estavam as
coisas. Queria saber dos nossos trabalhos, como é que estavam lá nos arquivos. Mas já não tinha muito mais
gente que eu conhecesse, não.
H – Você falou agora a pouco do Tom Zé, você teve contato, você conheceu, trabalhou junto?
R – Sim, sim... Chegamos a ensaiar alguma coisa ali nas Perdizes, no apartamento dele. E nós fizemos dois
ou três programas de televisão, que eu toquei com ele, e shows, acho que fizemos um ou dois, se eu não me
engano. Foi pouca coisa.
H – Qual disco você não lembra, não é?
R – Não. Não cheguei a gravar, eu só participei da banda dele. E o Raul Seixas, né? O Raul, a gente ensaiava
na minha casa, mas foi do meio pro fim, então ele já tava complicado na cabeça dele.
H – Mas dessa época que a gente tá tratando é do primeiro disco dele, o “Krig-ha, Bandolo”. Mas aí você não
tinha contato...
R - Nós chegamos a ensaiar, eu não cheguei a gravar também, porque ele já não gravou mais, e eu peguei
essa parte dele já meio destroçado. Infelizmente, porque ele era um cara muito legal, uma pessoa muito boa.
Só que complicado. Complicadíssimo. E a mulher dele me adorava, porque eu conseguia chegar um pouco
mais dentro nele. Mas acabou andando, infelizmente. Logo veio a deixar a gente aí...
H – Outro cara importante nesse meio todo foi o Rogério Duprat, não é? Acho que ele circulava bem em vários
grupos, músicos, gravadoras, tevês... O que você me diz, o que você lembra dele?
R – Eu vou contar uma historinha muito engraçada. Ele vivia diariamente com a gente. Ele fez um show, uma
peça teatral, era tudo misturado, a gente era o grupo que tocava... Tinha o Grupo Oel, que fazia performances
muito loucas. A gente chegou a fazer uma foto-audionovela, isso tudo no Ruth Escobar, na montagem de
Romeu e Julieta. Era uma loucura aquilo lá... A gente mesmo pintou, saindo do centro, parecia um circo ao
75
contrário. Olha, era muito louco. Ninguém ia. Mas tinham algumas pessoas, umas três ou quatro velhinhas
que iam diariamente, velhinhas mesmo. E vinham, rolavam, ouviam a gente cantar, e gostavam, e “toca de
novo”, e quando acabava não queriam que acabasse. Foi uma delicia... foi a melhor coisa que aconteceu pra
gente lá. Teve a participação do Rogério, que fazia a direção, o Solano Ribeiro, o Julio Medaglia, e o Rogério
Sganzerla. E o filme, o Rogério Sganzerla tinha, e o Damiano Cozzella. Era essa turminha aí que fazia...
Então, tem uma história engraçada, porque nós fizemos uma aposta, que agora eu não vou lembrar... Foi
uma aposta que a gente fez que, quem perdesse, teria que pintar a bunda de vermelho, subir a escada e lá
no teto, carimbar o teto com a bunda. E quem perdeu foi o Rogério Duprat. E ele foi lá e fez. Ele era um cara
excelente.
H – O nome dele aparece aqui no disco da Mosca, do Walter Franco, na direção de gravação. Nesse disco
você só tocou ou fez arranjo também.
R – Fiz todos os arranjos junto com o pessoal e toquei vários!! Esse aí foi o que toquei mais instrumentos.
Toquei baixo, guitarra, craviola, eu não sei se tem aí...
H – Não, não aparecem os instrumentos.
R – Não aparece, né? Então, esse aí foi...
H – Você, o Diógenes, o Américo Issa e o Walter Franco.
R – Issa... Durante um bom tempo, antes de falecer, ele trabalhou na Globo como cenógrafo-chefe. Ele é um
cara artístico.
H – Mas ele é músico, né?
R – Sim, mas fazia carnaval no Rio de Janeiro, ele era um maluco muito legal, um grande amigo. Bem de
molequinho a gente vivia junto, e ele tocou nesse também. Tocava mais basicamente violão e craviola. E
ficava ali rondando pra fazer instrumentos diferentes, muito malucos, inventando coisas nesse disco.
H – E nesse disco tem cabeça, né?
R – Não, a cabeça foi incluído nesse cd. É que na verdade cabeça não tem instrumental, é só ele e coisas
gravadas, as vozes. E eu o conheci por causa da cabeça. Gostei demais, achei muito maluco, e ficamos
amigos.
H – Tem uma música aqui que é “Me deixe mudo”. Uma em que ele começa com o violão, tocando algumas
notas, umas sílabas, aí ele chega à letra, e no violão, na harmonia, nos acordes, ai ele vai saindo... Essa ideia
é dele?
R – Essa ideia de começar assim, sim. A adição de instrumentos, já foi a gente, colocando. Tanto essa como
a Bumbo do Mundo, que também não sei se tem aí.
H – É do outro disco, Bumbo do Mundo.
R – Isso, que a letra é do Chico Bezerra, um pedaço. Porque ele colocou um daqueles famosos pedaços, e
incluiu no Bumbo do Mundo. Ficou muito legal também.
H – Você era um pouco compositor também, né? Organizava a loucura...
R – Eu posso dizer que sim também. Se bem que nunca levei nenhum crédito nisso.
H – Até porque a ideia era dele, né?
R – Isso, a ideia era dele. Eu fazia uma coisa de arranjo musical, traduzindo aquilo que ele tinha. Essa era a
minha função.
H – E outro grupo que na época também fazia sucesso era o Secos e Molhados. Você chegou a conhecer?
Como que era a relação ali? Você chegou a conhecer como eles criavam, como que eles produziam?
R – Sim, conheci todos eles. Eu ia na parte dos ensaios, porque achava interessante. Conhecia todos os
músicos, conheci também o Ney, o pessoal, mas já existia uma pequena distância entre eles e com quem
vinha de fora, mas nada... Não é uma critica, mas existia.
H – Você conheceu um músico, não sei se era uruguaio, argentino, Willy Verdaguer.
R – Sim, o Verdaguer veio da Argentina, mas a gente se conheceu no Beco, do Abelardo Figueiredo, na
verdade era um restaurante dançante, que fazia shows diários, na rua Bela Cintra. Não existe mais, mas era
uma grande casa de shows. Abelardo Figueiredo sempre foi um excelente idealizador de espetáculos. Tinha
bailarina e tinha gente também. E tinha um grupo que eu acabei conhecendo, argentino, chamado de Beat
Boys, que tinha um cara que parecia Jesus Cristo tocando, tinha o baterista que era o Marcelo, e o Tony
Osanah. Tinha um guitarrista também, e um baixista que eu não vou lembrar o nome. Esse baixista teve que
sair pra casar, e chamaram o Willy. Então, eu fui o primeiro amigo brasileiro do Willy, que é meu amigo até
hoje. Um puta músico, que mora aqui ainda. Esse é maestro, esse conhece música como ninguém. Muito
legal ele. E tem as coisas escritas dele, porra... é uma doideira... eu sou fã dele. Então, tinha o Willy, tinha o
Emilio, que era meu amigo de infância, Emilio Carrera, nos Secos e Molhados. Tinha o John Flavin, que eu
era amigo por consequência... e tinha o Marcelo que tocava lá também, que chegou a tocar no começo e
depois saiu. Entrou outro baterista, que eu não lembro. Essa foi minha circunvizinhança com os Secos.
H – Você conheceu ou teve algum contato com os Novos Baianos?
R – Sim, mas também pouca coisa, porque quando eu fui pra Bahia, acabei conhecendo o Pepeu e a família
toda ali... Mas circunstancial mesmo, assim, era amigo músico, fazia parte dos amigos músicos. E o Tutty
Moreno, que não chegou a tocar com ele mesmo, mas era do circulo ali. Ele ficou muito meu amigo. Eu acabei
indo na casa dele quando, com a Joyce, foi morar em Nova York. Não fiquei em estadia lá não, mas fui visitálos varias vezes. Então, só esse era meu rol de amizade com o pessoal da Bahia. E Caetano e Gil... Eles
76
gostavam muito de mim, evidentemente gostam de mim até hoje, que acabou quase dando o nome do Piero.
Ele fez uma brincadeira que até hoje eu tenho aqui escrito. Eu perguntei: “dá um nome”, a mãe já estava
grávida. Ai ele falou “ta bom: Astrogildo!”. Tá escrito lá: “Para o Astrogildo”.
H – Ainda bem que não foi, né?
R – Não, imagina... Ele falou brincando também.
H – Lá na Continental, você conheceu o Walter Silva?
R – Sim, o Pica-Pau. Ele era uma das cabeças, você falando assim eu não vou lembrar...
H – Ah, claro. A sua memória é diferente da minha. A minha é de ler assim, a sua é de ver.
R – Então, o Walter era um cabeça, conhecia música, tinha uma sensibilidade musical.
H – Dizem que ele que levou o Walter Franco pra lá.
R – Exatamente. Pode ter sido.
H – E um outro empresário que circulava ali na época, tal de Moracy Duval...
R - Moracy Duval, ele teve ali no inicio também ali com o Walter, mas principalmente com os Secos e
Molhados. Quando o Secos e Molhados deu certo, ele não tinha mais espaço pra nada, e não ia ter mesmo,
porque eles eram procurados no Brasil e no mundo. Então, ele não tinha espaço de tempo nenhum pra mais
ninguém; foi uma coisa que pegou ele assim, de roldão e com a capacidade dele também, evidente... ele era
um cara que sabia onde botar a colher. Também foi um cara legal dessa época aí. E tinha também o cara que
fazia o pessoal da Gal, Gil, Caetano, o Guilherme Araújo, que esse também eu tive alguns contatos. Ele era
muito engraçado, uma figurinha. Mas também era um cara que sabia fazer as coisas. E tinha aqui em SP,
trabalhava com a TV Record, chegou a trabalhar com a gente, que eu não vou lembrar o nome aqui...
H – O Solano?
R – Não, o Solano é meu amigo até hoje. Mas era o Marcos... Marcos... Não vou lembrar o nome dele agora...
É um cara, um empresário aí famoso, que depois ficou um tempo com o Roberto Carlos. Mas esse também
foi um dos que empurraram a música, a MPB.
H – Só voltando no Mautner, você participou de disco dele? Você gravou disco dele? Qual?
R – Os dois... O “Jorge Mautner”, que inclusive a Bete, que é a mãe do Piero, minha ex-mulher, também
canta. Então, eu fiz vocal. São os dois, um é esse e o outro é “Bagdá, mil e uma noites”. Nós tocamos essas
músicas todas em shows, Tocava sempre. Mas acabou que na gravação de estúdio, essas foram as que eu
toquei, com o Jacobina fazendo... O Jacobina conhece umas harmonias bem legais. E a gente se deu bem
nesse lado, tinha uma afinidade musical. É que o Jorge é intuitivo... ele toca violino e bandolim. Mas ele é um
cara que é pouco versado na parte de harmônica... mas tem uma sensibilidade disso tudo que ele conhece.
Desse pouco que ele conhece ele faz isso que a gente sabe... é o cara mais querido aí de todos, é o guru de
todo mundo, né?
H – Ele é um pouco mais velho que esse pessoal aí, né?
R – Sim, ele é mais velho que todo mundo. Que todos nós, que o Gil, que o Caetano. Eu, ele é mais velho
seis, sete anos, acho. Ele tá com 70 e alguma coisa... E o Gil ta com 70 e pouco... Então, ele é o cara mais...
Na verdade ele é um escritor, que viu que fazia música também, e acabou fazendo essa carreira musical, que
também acabou que não foi muito até onde deveria. Mas o cara é um gênio. Deveria estar mais bem colocado.
Agora o Bial fez um filme, um documentário, que eu não fui ver ainda, mas deve ser muito legal. Enfim, foi um
cara que abriu muita cabeça de gente aí, tanto de diretores e porque ele veio com uma coisa bem hippie, ele
é, até hoje...
H – Ele escrevia sobre contracultura?
R – Sim, ele escreveu Kaos, né? O famoso Kaos com K. O que é uma doideira assim... E se você deixar cinco
minutos, ele fala de Nietzsche, de Marx e de todos esses caras que você pode imaginar assim. Por isso que
a gente passava noites... Eu ouvindo, e eles dois, Gil e Mautner, falando essas paradas que a gente tinha lá,
nas varandas do Abaeté. O Gil falando com planta e o Mautner falando de Kafka. Pra mim foi maravilhoso ter
esse contato, poder ter essa oportunidade, essas cabeças, né? E eles, eu acho que também gostam de
alguma parte, da parte que eu podia dar, que era musical. Na verdade, eu participava das conversas, mas de
longe. Eu não conhecia, nem conheço metade do que eles conhecem de cultura e contracultura. Mas me
interesso muito, sem dúvida.
Entrevista com Pena Schmidt
São Paulo, 05 de agosto de 2013
Realização: Herom Vargas
Herom – Me fala quando você nasceu e onde, só pra localizar.
Pena – Eu nasci em 1950, em Taubaté, Estado de São Paulo, Vale do Paraíba.
77
H – Me fala um pouco sobre o início da sua carreira, o que você estudou, onde você trabalhou, um breve
perfil...
P – Eu acho que o interesse pela música sempre esteve presente, desde criança. Eu tenho um pedacinho de
gen musical na família, pianistas clássicos, pianistas da noite, sanfoneiros. Tem assim, uma ancestralidade
na história. O interesse sempre se manifestou, mas acho que eu não tenho a “mão” do músico, tenho dedos
curtos e grossos, botei a culpa na mão. Não caprichei, não investi o suficiente, mas gastei um bom tempo da
juventude ouvindo. Eu fui estudar eletrônica em Santa Rita do Sapucaí, numa escola que ainda é excepcional,
em uma pequena cidade no sul de Minas. Uma herdeira milionária deixou sua fortuna para uma fundação
para que fosse criada uma escola do futuro, em 1960 (acho). Em 1960, o futuro era a eletrônica. Foi montada
uma escola que parecia um campus americano, uma coisa enorme, eu acho que tinha dois mil alunos, com
laboratórios alemães, foi montada não no nosso padrão. Eu tive a sorte assim de entrar nessa escola, passar
quatro anos lá dentro. Por ter um regime que permitia isso, eu estudei por conta própria sobre áudio, sobre
som, sobre a história da gravação da música. Lá tinha uma biblioteca muito grande, muito extensa e muito
velha, inclusive. Eles herdaram coleções de livros de engenheiros. Eu tive a oportunidade de estudar livros
falando da indústria fonográfica dos anos 30. A competição dos formatos, sabe, foi muito formador pra eu
entender onde a gente estava nos anos 70. A disputa do cilindro com o LP, a disputa dos vários formatos de
LP até se fixar nisso, as vantagens e as desvantagens de um e outro. Quando a minha turma se formava,
tinha uma cerimônia nos últimos dois meses, que era assim: os contratadores de técnicos de eletrônica iam
à escola vender o seu peixe para ver quem queria trabalhar com eles. Eles eram a IBM, a Burroughs, a
Siemens, a Philips, as grandes empresas do Brasil que tinham a eletrônica como sua atividade, iam buscar
essa mão de obra na época em que se formavam 30 alunos por ano. Entravam cem em cada turma e dos
cem, sobrava um terço no final. Eu tive propostas de todos, era bom aluno, bem qualificado, bem referenciado
dentro da escola, mas eu saí de lá e fui trabalhar na Giannini. Fui me inscrever pra trabalhar na Giannini pra
fazer Amplificadores
Tremendão, porque eu queria continuar a estudar uma coisa que eu comecei dentro
da escola, que é mexer com áudio. Tinha uma possibilidade de ir pra Gradiente na época, mas eu falei que
não, tem mais a ver com música. Quero ficar perto do.... nós estamos falando de 1972, 71. Ai, eu comecei na
Giannini, não trabalhei um ano, porque assim, era regime industrial de entrar às 7h da manhã e terminar às
5h, né? Regime de indústria mesmo, cartão de ponto às 7h. Aí você ia sair de lá e ia correr à noite para ver
os lugares de São Paulo. Eu era jovem, cheio de energia.
H – A Giannini aqui em São Paulo, né?
P – É, a Giannini na Lapa, Vila Leopoldina. E teve alguns shows que eu comecei a me apresentar ou chegar
antes mais cedo e começar a montar. Não tinha esse negócio de mesa de som. Não era assim, era só ligar,
fazer funcionar, e tal. E teve uma história assim, que eu vou encurtar ela, que é durante meus anos de estudo.
Eu comprava revistas da banca da rodoviária. Eu pegava ônibus para ir pra Minas. A família era de Santos,
então tinha uma viagem que era Santos-SP/SP-Minas, trocava de ônibus na rodoviária. E aí tinha uma banca
que era como uma banca do aeroporto, com muita revista, e tinha as revistas que eram especializadas em
áudio, gravação, e aí você pega essas revistas e começa a destrinchar elas, e no meio tinha uns anúncios
pequenos, no final da revista. Aí você via coisas interessantes e você escrevia uma cartinha pro cara e dizia
“me mande o seu catálogo”. Isso era a famosa internet à lenha, né? Então assim, eram fornecedores
especializados, pequenos, de nicho, mas que iam me dando essa formação de instrumentos de medição,
acabamentos acústicos, técnicas de construção de estúdio, pequenos serviços que eram vendidos e você
recebia um catálogo. Ao vender o peixe, ele já te educava. Um dia, eu comecei a pesquisar sobre
sintetizadores, em 67, 68, bem logo quando eu entrei na escola. Eu entrei em contato através desse canal,
com três caras que eram, não os principais, mas talvez os mais visíveis, que eram o Mr. Buchla, que fez os
sintetizadores Buchla, que depois desapareceram; eram sintetizadores de laboratório, na época, de música
eletrônica que tinham nas universidades, dentro da cadeira de pesquisa de novos meios. Isso era uma frente
que as universidades investiam muito nisso, nessa união da eletrônica, do instrumental, da eletrônica, com a
música fora da partitura. Da música experimental, aventureira. Mr Buchla, Mr. Moog... Robert Moog, a gente
se correspondeu, ele me mandou livros que ele tinha em cima da mesa dele e dizia “já li”, ele punha na caixa
de sapatos e mandava pra mim. E uma fábrica chamada Arp, que não tenho certeza, tem que dar uma
checada, mas era em Boston, algo assim, do lado de cá. E acho que o Moog estava mudando da Califórnia
para Nova York, ou ao contrário, a gente tava se falando e eu lembro dele falar “Eu tô montando a minha
fábrica, deixei de ser laboratório e agora vou fabricar instrumentos”, os primeiros minimoogs. E o Seo Arp
fazia um negocio que era assim, era um conceito mais avançado, que era questão de pequenos módulos
encaixados num móvel e um sistema de interligação entre as peças, que eram umas chavinhas que corriam,
uma coisa meio estranha, mas que era esse conceito de você conseguir juntar módulos fisicamente e fazer
um som construído a partir de um gerador, um controlador, um modulador e com teclado que controlava isso
tudo. O Moog investiu nisso de uma forma invisível, ele só expôs as combinações que já estavam testadas e
funcionavam. Eram menos botões.
H - E era mais compacto também.
P - Sim, era mais compacto. Se bem que ele tinha um que era grande que usava fio ainda, assim, plug aqui,
plug ali... o Seo Arp estava diminuindo os fios e fazendo uma chavinha que ligava esse aqui com esse aqui.
E ele me mandou o que era um manual do usuário, que era um livrinho que destrinchava cada módulo, que
78
fazia cada botãozinho, cada parâmetro, o que acontecia quando esse módulo se ligava com esse, com esse
e com esse. Então ele fez o que seria a teoria da máquina dele num livro. E eu decorei esse livro. Era
engraçado, porque eu ficava ouvindo os termos formante, timbre, as formas de ondas, e tentando fazer
sentido como soa isso... Depois eu comecei a ir para o laboratório de eletrônica e simular um gerador de onda
triangular. Estou em São Paulo, andando por aí e vendo as coisas, empregado numa fábrica de instrumentos
musicais e aí, um dia, alguém falou pra mim: “Ó, tem um sintetizador Arp no estúdio do Seo Scatena” “Oh,
que demais, eu conheço” “Quer ir lá ver?” “Vamos”. Ele foi vendido pra RGE ou ele vendeu o velho estúdio
dele pra RGE na Dona Veridiana. Ele vendeu um estúdio velho, grande, que ele tinha, e depois montou uma
coisa moderna, pequenininha, na Avenida Paulista, aqui na Joaquim Eugênio de Lima, pra atender aos
publicitários que eram todos aqui no cruzamento da Brigadeiro com a Paulista. As agências ficavam nos
prédios aqui. Então ele correu pro mercado. E o Seo Scatena era um cara muito esperto, um empreendedor.
Tinha viajado pros Estados Unidos, tinha visto numa feira de eletrônica lá, e comprou o que era a ultima
novidade tecnológica. E tava no estúdio dele, e alguém me convidou pra ver. Quando a gente entrou (eu não
lembro quem é que tava me apresentando, mas me apresentaram pro filho do Seo Sctatena, que já era um
cara como eu, 20 e tantos anos, e falou: “Ah, você vai mexer no sintetizador? Tá lá. Ninguém conseguiu ligar.
Se você conseguir fazer ele falar, pode levar que é seu.” Tipo assim, “aquele trambolho lá”. Era um troço
desse tamanho assim, um piano em pé, cheio de botão, mais um teclado. Aí tinha um pano, tiramos o pano,
eu falei “aqui atrás tem um fio”. Ele perguntou “Como assim?”. Eu disse: “Tem um fio. Puxa o fio aqui atrás,
onde eu ligo na tomada?” “Ah, acharam um fio da tomada, tava ali atrás”. Ligou, acendeu as luzinhas, e eu já
fiz o que eu sabia, já tava ensaiado na minha cabeça: este modulo com este módulo e abre aqui o volume e
sai som. Aí eu ganhei um emprego de operador de sintetizador, que eu não fiquei nem um ano, mas fiquei
um período da minha vida com os dois prepostos, até que assim, eu acho que me dei bem no estúdio que me
ofereceram uma grana e tal, e eu saí da fábrica. Eu fui ser um playboy na Avenida Paulista: de operário para
publicitário.
H - E aí, do estúdio para a gravadora, como é que foi?
P - Basicamente é isso: eu fui ver um espetáculo, que se chamava “Encontro de Todas as Tribos”, no Tuca,
que tinha meia dúzia de bandas de rock’n’roll extremamente underground, mais do que nicho, sabe?
Desconhecidas, eram trabalhos de pesquisa caseiros, que iam se apresentar juntos como se fosse um
pequeno festival. Eu fui ver, as bandas eram sensacionais, e eu conheci um cara que era um pouco mais
velho, o organizador. E a gente começou a conversar “Pô, eu gostei muito” “Que bacana”. Ele tinha acabado
de chegar de Londres. Tinha acabado de colocar Caetano e Gil no festival de Glastonbury. Ele passou uma
temporada em Londres estudando antropologia e mergulhado na contracultura. E ele tava voltando pro Brasil,
fazendo a mesma coisa que fazia lá, aqui: concertos, procurando onde estavam os artistas, onde a vanguarda
se manifesta, onde é a frente da onda. O nome dele é Cláudio Prado, da família Prado. Lá da Dona Veridiana.
E ele, por algum canal que eu não sei aqui agora, meses depois, faz um contato com o Seo Alberto Byington
Neto, que era dono da Continental e vende um peixe: o mundo tá mudando, os jovens, a contracultura, os
discos, a música, e tem que fazer alguma coisa. Acho que o Byington já tinha uma visão para a qual isso já
fazia muito sentido. Era muito normal e orgânico. E recebeu o jovem antropólogo com formação no
underground inglês dos anos 60 para os 70. E abriu-se uma frente de trabalho para bandas de rock’n’roll
esquisitas, não-comerciais que fossem alinhadas com esse pensamento underground, que hoje a gente
identificaria como primos do progressivo, primos do que teria sido o movimento negro de vanguarda
americano, paralelo à Motown, né? Mas não a Motown, o black-exportation que hoje a gente conhece, os
caras que estavam fazendo swing negro, mas experimentando talvez com o jazzístico em cima do pop, antes
do Miles Davis. Tinham umas bandas brasileiras que olhavam pra isso.
H- Você lembra de algum nome dessas bandas?
P - Ah, acho que o Som Nosso de Cada Dia passava muito por isso, sabe? Era uma praia que tinha que ter
um swing assim, que ninguém sabe de onde saía. Era negro, mas não era Motown, mas não era rock inglês,
mas que hoje você identifica com coisas que são de swing americano com um grau instrumental menos pop.
Mais vanguarda, Orquestra, Pharoah Sanders, que eram jazzistas que estavam indo buscar uma vertente de
groove. Jazz não gostava de groove, né? O groove era uma coisa pra não aparecer dentro do jazz, era um
subtexto, o cara fazia o possível para esconder onde tava o groove dentro de uma levada de jazz, fazia parte
da dificuldade para o ouvinte. E aí tinha os caras que queriam explicitar isso, que queriam achar o... Mas
enfim, só pra voltar um pouco aqui...
H - Você quer dizer que esse Prado, que insinuou para o Byington esses grupos, esses sons...
P - Foi uma abertura: “Vamos fazer alguma coisa por aqui?” “Vamos”. “Você vai ser como se fosse, assim, o
gerente desse selo”, o Prado. E o Prado me chamou. “Então, vamos fazer juntos?” O nome era Sonhos.
H - Como se fosse um selo?
P - Isso, como se fosse um selo. Mas a gente nem usava essa palavra selo. Era produtora de shows. E tinha
uma coisa que era assim: o Prado me apresenta pro Byington, e o Byington puxa uma conversa comigo que
é diferente da conversa com o Cláudio. Ele percebeu que eu tinha outra utilidade pra ele. Ele foi lendo as
minhas características e foi percebendo que o Cláudio vinha de um lado e eu vinha de outro. Eu e o Claudio
a gente funcionava, mas eu também funcionaria pra ele em outras áreas. E num certo momento, ele fala
assim pra mim: “Tudo bem, vamos começar a fazer essas experiências aí, mas pode trazer as bandas que
79
você queira.” Então, eu também levo bandas que não passam pela minha associação com o Cláudio. O Som
Nosso acabou indo direto pra night com o Modo Perpétuo. E aí tem um negocio que dentro da Continental
também... ficou um pouco difuso (fazem só 40 anos), também havia – é muito natural isso – ofertas de artistas
querendo gravar. A Continental tinha muitas portas de entrada. Muitas pessoas que andavam na rua diziam
“Ah, eu conheço, vou te apresentar lá para alguém” Produtores, disk jóqueis... A indústria sempre teve essa
coisa. Mais que olheiros, são portas de entrada, que não necessariamente estão olhando ou procurando
alguma coisa, se veem alguma coisa interessante, eles sabem apresentar pra alguém dentro da companhia.
E dentro da companhia, às vezes você tem quatro ou cinco pessoas, funcionários que não sabem o que fazer
com certas recomendações, que não se enquadram nas gavetas normais. E aí eu comecei a descobrir que
tinham algumas coisas lá dentro que eles não sabiam pra quem encaminhar o processo de produção. “Não
era sertanejo, não era romântico, não era brega... era o quê? Não sei. Mas o Pena acho que se mete nisso
aí. Ele é meio dessa idade, dessa praia aí.”. E foi um pouco assim.
H - A Continental gravava muito regional e samba, não é isso? Romântico, música romântica...
P - Olha, eu passo um período de dez anos na Continental – dos 70 até o comecinho dos 80. E eu tive várias
atribuições lá dentro. Eu fiquei amigo da casa, conheci o dono, prestei alguns serviços relevantes, e eu tive
certa liberdade de meio que entrar e sair, cansava, ia fazer outra coisa, voltava... Então, eu tive vários
momentos lá dentro. Então, eu acho que tenho uma visão muito boa, ao mesmo tempo horizontal e vertical
dentro da companhia. Porque eu passei por muitos departamentos, fui gerente de estúdio, num certo
momento eu sou encarregado de reformar o estúdio deles pra modernizar o estúdio, então eu passei uma
temporada cuidando de pessoal velho, técnicos com quarenta anos de serviço, lidando com pessoal, com
folha de pagamento, essas coisas, bem dentro da estrutura. E ao mesmo tempo comprando equipamento,
trazendo gente pra desenhar um novo estúdio aqui, vendendo esse peixe dentro da empresa, quem são esses
clientes dentro da gravadora, o que eles querem, então, você vai estudando a companhia, cada vez mais
aprendendo. Era uma companhia muito rica, ampla, uma companhia muito vertical, porque ela tinha o
processo praticamente inteiro, só não tinha o balcão de vendas de disco. Ela tinha todas as etapas anteriores
ao balcão da loja, vendia até o caminhão de entrega. E dali pra frente ela já não... Mas atrás disso, todos os
processos industriais eram internos, ela não terceirizava.
H - Ela não distribuía?
P - Ela distribuía. Ela fabricava a capa, fabricava o disco, ela gravava dentro do estúdio dela, ela fazia todas
as operações, masterização, corte do disco, a parte técnica, ela tinha a editora que cuidava dos direitos
autorais, ela tinha o departamento de vendas, ela vendia, e vender, só isso aí é outra história grande, porque
era um mercado completamente diferente. Nessa época tinha cinco ou seis mil compradores da Continental,
pequenas lojas dentro de uma garagem, numa cidade do interior, entendeu? O cara tinha uma estante cheia
de discos, e era uma loja de discos.
H - Sem falar de grandes lojas, né? Bruno Blois...
P - Que na época nem eram grandes, eram só famosas, tinham um pouco mais de estoque. Museu do Disco,
Bruno Blois, mas existiam muito poucas cadeias de lojas, nesse período do começo dos anos 70. Não existiam
magazines que vendiam discos, isso era uma mercadoria vendida em loja de disco. E era muito pulverizado
no Brasil inteiro. Só pra ter uma ideia, eu me lembro desses seis mil, porque uma das coisas que eu passei
uma época na Continental foi fuçando no departamento de informática, que era umas das primeiras
instalações de computador comercial no Brasil. Tinha uma enorme sala refrigerada a 15 graus, era uma
geladeira que você tinha que por um jaleco branco pra entrar e que só tinha engenheiro maluco lá dentro
trabalhando com fitas e cartão perfurado. Eles já estavam automatizando esse controle de vendas, da
distribuição. E eu meio que chegava perto, e ficava conversando, e via esses seis mil cadastros. A gente
ficava discutindo o que mais ia poder vender pro mesmo comprador. Na época esse era um dos conceitos de
aperfeiçoar a coisa... “Quem compra disco, pode comprar mais o quê? Cartão de presente? Dar o disco com
o cartão junto? Vamos vender livros de música dentro da loja de música, pra aproveitar o canal de
distribuição?” Esses seis mil compradores, 10 anos depois eu tô na Warner, no começo dos anos 80, e esses
seis mil já tinham virado quatro mil, mas eu diria que não levou nem 10 anos. Entre 85 e 90, cinco anos, talvez
92, esses quatro mil se transformam em 400. O livro da Márcia Dias fala sobre isso, esse momento da
transição que é crucial pra gente entender por que 20 anos depois a gente tá desse jeito que tá hoje. Ninguém
tem culpa, foi a própria indústria que mergulhou nessa direção. Mas vamos voltar aqui pra Continental. Você
tem uma companhia vertical, nesse sentido de ser industrialmente completa, autossuficiente, fazendo
pesquisa de material, tendo que comprar coisas do mundo inteiro e se relacionar com essa indústria no mundo
todo. Tinha um gerente na fábrica, e eu fiz uma viagem com esse gerente, pois eu já tinha ido morar na
Inglaterra (isso em 78, mais ou menos). Ficamos 40 dias fora do Brasil, a gente visitou vinte países. Foi uma
coisa meio doente, vendo fábricas de disco pelo mundo todo, pra entender como é que os caras estavam se
modernizando, em que direção estava indo. A gente foi assim, da Noruega, Dinamarca, lá em cima, até o
Canadá, Estados Unidos, da Europa do Norte, a Europa Latina toda, fomos para os EUA e Canadá, e a gente
ia fazer a América Latina, mas aí aconteceu uma coisa que a gente teve que vir correndo, teve uma grande
cagada, talvez o plano cruzado, sei lá. Assim, tipo, cagou, fodeu, estragou uma coisa grande no Brasil e a
gente tinha que voltar no meio da viagem. Mas isso era pesquisa. Era uma forma de se planejar onde é que
vai investir, o que vai acontecer com fábrica de disco, pra que lado a gente vai. Não se falava do CD, era vinil
80
mesmo. O lado vertical e o lado horizontal eram assim, tudo que cabe dentro de um disco fazia parte do
negócio deles, tudo, então ele não tinham especialização, não tinham nenhum tipo de preconceito com
relação a conteúdo. Então tinha poesia, tinha padre e tinham bandas esquisitas urbanas de rock’n’roll de hoje,
tinha tido humor numa época um pouquinho anterior, tinha sertanejo, não, não era sertanejo o nome... A gente
fazia uma brincadeira que era assim: “o outro lado da marginal”, que quer dizer pra lá Mato Grosso, Goiás,
Acre, Roraima, Rondônia, um pedaço pra cá já entra o Amazonas, um pouquinho pra lá já é o Pará, aqui tem
esse miolo todo que ainda era Goiás, aí tinha o Nordeste que começava no Maranhão e ia se quebrando em
pedaços, reinos separados. O Maranhão não é o Ceará, que não é Alagoas, que não é Sergipe, que não é o
Pernambuco, que não é a Bahia. Tudo isso era muito claro, tinha essa noção de “ó, você vai falar com o
fulano, aqui no Ceará, cuidado porque ele não é amigo do fulano aqui no Maranhão, entendeu?” Essa
territorialidade era domínio da companhia. E aí você descia para o sul e tinha os alemães de Santa Catarina,
que são diferentes dos alemães do Paraná, que são diferentes do gaúcho da Costa, que é diferente do gaúcho
do meio, que é diferente do gaúcho do norte do estado, da fronteira com o rio Paraná. Aí tinha os caras que
eram especialistas em chamamé. Eu conheço, viajei de barco, conheci o Paraguai, o Pantanal, as margens
do rio Paraná, prum lado e pro outro. E a viagem dos caras é assim: o rio Paraná começa aqui em São Paulo.
Os caras tinham isso como tradição oral... Não era isso, mas como folclore dentro da companhia. Porque
depois você vê que não deixa de ser histórico isso. O desbravador entrava na canoa aqui em São Paulo e ia
sair no Rio da Prata em Buenos Aires, que era mais perto de São Paulo pelo rio que pelo mar porque tinha
que descer a serra. Os caras tinham lá dentro essa noção que tem um tipo de música que anda pelo rio e que
tem a ver com as margens do rio aqui em São Paulo, lá perto de Assis, fronteira com Mato Grosso, uma
música que influencia a cidade de São Paulo pra cá, e que influencia Mato Grosso pra lá. Você vai andando,
e aí pega uma beiradinha do Paraná, uma beiradinha do... entendeu? É o chamamé. Tinha gente com esse
nível de conhecimento aí em território, e esse tipo de música se fizesse sucesso aqui em Assis... Tem um
cara aqui em Assis fazendo esse tipo de música, esse tipo de música vai vender lá embaixo no Rio Grande
do Sul, porque é da mesma freguesia musical, à margem do rio Paraná. E aí, quando você fala assim, só o
Rio Grande do Sul já é uma puta aventura, porque no Rio Grande do Sul tinha fábrica de disco, tinha estúdio
de gravação, tinha uma cultura regional autóctone, que queria passar do estado para o mundo. Não queria
cruzar a fronteira com Santa Catarina, com Paraná, não queria nada, queria ficar lá dentro mesmo. E a
companhia ia lá disputar gaucho com os gaúchos, de ter um diplomata comercial que era uma pessoa...
H - A Continental tava um tanto quanto arrojada comercialmente?
P - A Continental tinha 60 anos de gravadora, nessa época, desde 1910. Sabe a Casa Edison? No dia seguinte
abriu a Continental, que se chamava Byington Companhia, se eu não me engano, ou outro nome. Eles
adquiriram uma licença americana para... Não, não é Weston o nome, era um nome assim, eu não vou saber
direito... Tipo era um nome do fabricante da máquina de cortar e como quem compra a primeira máquina,
meio que assim, eu não sei a origem deles antes disso. O Alberto Byington Neto é uma pessoa que não deu
uma entrevista, ele se recusa a falar do assunto. Mas eu acho que, pela história, ele deve estar com 80, 85
talvez... Ele tem vinte anos a mais que eu. Ele deve ter 15 no máximo. 78, ele deve estar quase nos 80, por
aí. Ele deve estar muito lúcido, mas recluso, é uma pessoa que não circula, não tem vida social, mas essa
história, acho que só ele sabe, viu? Então, o que a gente tá falando é de uma companhia que tem 60 anos de
vida. Dentro dessa companhia tinha, posso falar até três pessoas aqui, que quando eu conheci tinham 40, 50
anos de vida profissional na indústria do disco. Gente que gravou Noel Rosa e produziu Noel Rosa. Eles falam
do Villa-Lobos no estúdio como eu posso falar do Roger do Ultraje. Essas pessoas eu não tive tempo de ouvir
o tempo todo, mas tenho certo contágio pela presença. Uma história aqui e outra ali, você consegue entender
essa noção de profundidade, da extensão da história. Tinha o advogado da empresa, o Dr. Brás, que era isso,
40, 50 anos... Ele se aposentou com 80 anos. Esse sabia tudo e era o cara dos contratos, das granas, ele
sabia tudo... Esse gostava de falar. Tinha o Seo Hernani, que tinha sido gerente comercial e industrial, um
dos primórdios. Ele montou a primeira fábrica da Continental.
H - O nome completo você não lembra, né?
P - Não. Mas a gente pode achar pessoas que de repente, né? Isso é um caso bacana. E tinha o Alberto
Calçada, por exemplo, que era um técnico de gravação do estúdio, que tinha também seus 40 anos de
profissional. E ele, num certo momento da vida, virou sanfoneiro. Ele não era, ele trabalhava em alguma outra
coisa e aí aprendeu a tocar uma sanfona muito simples minha e gravou 50 discos. Todos os discos venderam
muito porque aquele disco que pega música de sucesso ele fazia uma melodiazinha na sanfona, nota por
nota...
H - O que boliviano faz hoje?
P – Isso. Ele viveu como artista e ganhou muito dinheiro, perdeu tudo, jogou em cavalo, mulher, e aí foi
trabalhar no fim da vida como técnico de estúdio super-respeitado. Ele se aposentou comigo lá no estúdio,
mandei ele pra casa. Eu acho importante isso porque essa raiz, essa dimensão no passado, a gente não tem
ela hoje. Ela não existe no que a gente conversa, no que a gente fala. Faz vinte anos que a gente pergunta:
“Fala sobre o futuro da música”. Mas não fala sobre o passado, não se apura essa informação, não se escreve.
No máximo, um ou outro artista vai ter uma caixa relançada e se fala alguma coisa dele. Uma carreira de
artista, um momento da carreira de um artista. Mas a indústria em si, a história da arte, o que aconteceu nesse
percurso, desapareceu. A Continental tinha uns discos que eu cheguei a ver meio metro de prateleira, dentro
81
devia ter não mais que 150 discos. Eram capas do Caribé, do Portinari, todas essas pessoas que depois
compuseram o modernismo brasileiro nos anos 30, 40, com jovens artistas iniciantes. Eles iam fazer capa na
Continental. E a Continental não jogava fora isso, ela fazia discos que tinham uma qualidade que era diferente
do disco popular. Então eram discos de capa dupla de 10 polegadas, era um tamanho menorzinho que tinha
uma capa dupla, uma arte na capa, uma arte na contracapa e uma história do artista dentro. Então tinha Aracy
de Almeida cantando Noel Rosa, seis gravações que o Noel Rosa fez com o Pixinguinha tocando... Já havia
esse olhar curatorial.
H - Um produto diferenciado...
P - Não, de arte. Alguém lá dentro já tinha essa cultura, fundamentos...
H - Parece que era uma empresa, como você falou, que produzia muito, não tinha preconceito... Tanto o mais
popular quanto o mais refinado, mais sofisticado, um preço maior também...
P - Com certeza. Vamos dizer assim, todas as aventuras, todas as veredas comerciais já tinham sido
exploradas lá dentro... Tudo isso fazia parte do metiê, entendeu? Quando chegava alguma coisa que era
nova, não era nova, era só mais uma coisa que era pra ser colocada na categoria dos esquisitos, uma
categoria que sempre tinha existido antes. Ou era comercial, ou era romântico, ou era cultura urbana, ou
cultura do interior ou eram as culturas regionais. A gente tá falando de um tempo anterior à Globo, e não tem
essa noção. A Globo nos transformou nos anos 80. Nos anos 70 ela tava tentando ainda. Nos anos 80, o que
a Globo denominava de sucesso era sucesso no Brasil inteiro. A rede já tinha sido montada, a mecânica da
rede da distribuição, a grade, a novela, os musicais. Antes disso, o Ceará era um país autócto, independente,
com cultura própria, e Pernambuco tinha sua vida que também não dependia do Ceará e não dependia da
Bahia, 100km abaixo. E isso tudo tinha essa raiz, essa força da localidade...
H - No caso, Pernambuco tinha Rozenblit lá, né?
P - Rozenblit era uma fábrica que fabricava para o norte todo e para o nordeste. Rosenblit tem coisas que
depois eu descobri, viajando, que tinha influencias no Amapá. É uma história linda, não faz parte da nossa
conversa... mas faz. Fomos parar no Amapá, na cidade Macapá, do lado de lá do Rio Amazonas. Você vê o
sol nascer em cima do Rio Amazonas. E aí, as pessoas que mexiam com música na cidade... Era um evento
de mapeamento do Itaú Cultural, do Projeto Rumos, onde a gente viajou pelo Brasil inteiro para conversar
com as pessoas da música de cada cidade. Quem organiza a música, quem que tem algum papel aqui não
só musical, músico, mas de organizador da música. No Macapá, as pessoas souberam que a gente tava lá e
um senhorzinho muito simples foi nos procurar no hotel, com um disco. Você olhava o disco, um vinil, um LP,
dos anos 50. A capa você já fala: isso aqui foi feito em 1950. “Então, eu queria dar um disco desses pra vocês
aqui porque eu não queria que essa história ficasse perdida, esse disco é muito importante pra nos aqui na
cidade”. Então, nos anos 40, talvez 30 ou 40 anos antes, tinha acontecido uma história: formou-se a primeira
orquestra de Macapá no concerto da Tabajara. Essa coisa de música orquestral, de vez em quando aparecia
um filme no cinema, as influências eram as mesmas... Os caras formaram uma orquestra com os médicos e
doutores da cidade. Os amadores se juntaram para tocar numa orquestra. Um dia eles resolveram gravar um
disco, apareceu alguém que tava viajando e tinha um gravadorzinho de rolo e eles se juntaram na sala de
uma casa e gravaram um disco. Essa fita foi pra Rozenblit com a encomenda de mandar fabricar os discos.
Esse cara voltou pra Macapá e disse: “Roubaram minha mala no hotel e perdi a fita”. Não tinha mais como
gravar, perdeu-se a fita. Aí, passam-se alguns anos, meia dúzia, dez anos, aparece essa fita, porque alguém
entra em um sebo, algum dos músicos, olha a fita e diz: “Essa fita é a nossa”. Isso era nos 50. Aí, ele foi à
fábrica novamente e fez o disco tantos anos depois na Rosenblit, que depois foi alagada e perdeu-se todas
as masters, os layouts de capa. Perdeu-se tudo, foi na beira do rio, em Recife.
H - Vem cá, a gente tava falando do Cláudio Prado e você na Continental... E vocês abriram um flanco de
produção desses grupos mais estranhos que não iam fazer sucesso assim...
P - A gente tinha passado por uma jovem-guarda, só vou lembrar um pouco de circunstâncias da época pra
localizar. Então, a gente já sabia o que era rock’n’roll, a gente já sabia o que era música pop, a gente já tinha
essa formação da coisa da banda, né? De juntar quatro ou cinco e tocar, ensaiar em casa e tal. Mas aí tem
um fenômeno, em 1968, que toda essa cultura popular foi eliminada, estrangulada, cortada, editada. Todas
as pessoas que praticavam a música popular foram mandadas embora. Praticava no sentido de que você
tinha cinco dias por semana na TV Record, no horário nobre, um programa de duas horas de música, então
era uma coisa assim tão importante quanto a novela. Era o Roberto Carlos num dia, era a Elis Regina e o Jair
Rodrigues no outro dia, era a Tropicália no outro dia, o que tocava bandolim, o Jacob com a Elizete Cardoso
no outro dia, era um panorama assim... Um leque. Os caras estavam muito bem, já fazia alguns anos que
tinham todos esse vigor e, em alguns meses, isso desapareceu. Acabou, não temos mais música popular na
Record, não temos mais artista. Os mais locais foram mandados embora, Gil, Caetano, né? Tantos foram
tentar a vida em outros lugares, e nós estamos em 72... A gente tá falando de cinco anos depois disso. Ainda
estávamos no escuro, literalmente, entendeu? Eu nem acho que o (jornal) Estado de São Paulo publicava
receita ainda, era simplesmente eliminada a notícia. A resistência começou quando falaram “Você vai cortar
isso aqui, corta, mas vai botar uma receita no lugar.” Então, isso não era underground por opção estética ou
em referência ao mercado. Qualquer manifestação cultural nesse momento, sem cor nem cheiro, era
underground. Não tinha espaço. A rádio só tocava romântico, só tocava artistas sem aresta nenhuma. De
repente, você tem uma molecada fazendo coisas esquisitas. Bastava ser esquisito para ser incômodo. Mas
82
como não era uma coisa que tinha intenção política explícita, não faz parte do repertório, entendeu? Não tinha
ninguém de esquerda, de formação na esquerda, ninguém propondo, não era isso. Era assim: vivemos num
universo que era esteticamente esquisito. Eu tinha 22 anos, e tinha vivido com esse silêncio nos últimos cinco
anos. Eu parei de receber informação mais instigante com 17, 18 anos. Essa foi uma época extremamente
informativa. Se você não recebe nada, então você também não faz parte de nada. Eu percebi movimentação
política com 16 anos, no grêmio da escola, onde se falava alguma coisa assim. A gente ouvia que fulano, que
era mais velho que a gente, entrou no movimento e foi para não sei onde... Que “não sei quem” desapareceu.
Ou você tinha um comunista na família e participava, que era um processo de transmissão de uma pessoa
para a outra, ou não havia essa comunicação com a política. Você ainda tava no escuro, no silêncio, durante
cinco anos. Então por que a gente não tinha essa discussão? Eu sempre me perguntei por que não fazia
parte do que a gente tava... tentando fazer ali? Por causa disso, entendeu? Porque não recebeu essa
informação. Não digo que ela não existisse, mas digo que não estava em contato com ela. E aí, acho que
essas bandas todas têm uma característica que é serem apolíticas. A política delas é diferente, se manifesta
pela estética, um discurso não dito o tempo todo.
H - Você falou no Som Nosso de Cada Dia, Moto Perpétuo, você lembra alguma outra, ou não?
P - Tinha...
H - Ave Sangria?
P - Foi pra lá, foi de Recife...
H - Não sei se eles gravaram na Continental...
P - Não, veio pronta, veio gravada de lá. Eu acho que me lembro de estar conversando com pessoas e
achando legal, e dizendo que tinha a ver, ou qualquer coisa assim. Tem mais... Abaporu, num disco que se
chama Abaporu. Eu acho que, se esse disco não saiu pela Continental, saiu pela Chantecler... Tem um quase,
que é disco duplo... Tem um que morreu há pouco tempo, que era um poeta, talvez parceiro do Fagner, do
Ednardo, do Fagner, o Pavão Misterioso...
H - Sérgio Sampaio?
P - Sérgio Sampaio é do rio.
H - Você lembra de um grupo chamado Humahuaca?
P - Humahuaca, aqui de São Paulo, uma experiência quase andina. Humahuaca tinha o Willy, que tinha
aparecido na cena tocando em 1967 com Caetano Veloso e os Beat Boys. Então, do Beat Boys sobraram,
que é toda uma formação, foram poucos como eles, mas que eles são influenciadores,os que passaram por
Buenos Aires e Santiago, né? Acho que o Tony Osanah era de Buenos Aires. O Willy, eu não tenho certeza
se ele era de Buenos Aires ou se era chileno.
H – Eu estou pra conversar com ele, pra ver como ele estava...
P - Ele tem um ponto de vista interessante. O que ele fez entre 68 e 72?
H - O Beat Boys?
P - Que se extingue logo em seguida.
H - Com o Secos e Molhados?
P - Que é de 72 pra frente...
H - 73,74...
H - Humahuaca, o que aconteceu com ele? Vou conversar com ele. Mas escuta, e a relação da Continental
com as multinacionais no período?
P - Eu hoje tenho uma posição que defendo já faz alguns anos. Eu tenho uma leitura muito crítica das
multinacionais. Trabalhei com eles, fui feliz lá dentro, mas a Continental me ajudou a entender o aspecto
nefasto. Essa transformação que eu acho que é toda deletéria, toda a destruição de um ecossistema, foi
exclusivamente causada pela forma de trabalhar das multinacionais. O que já não é lá muito saudável ficou
exacerbado nos anos 85/90 quando Margaret Thatcher mandou liberar o dinheiro. O dinheiro faz o que ele
quiser... E começaram a comprar, sem medo de ser feliz. A centralização, a consolidação do mercado... Aí,
eles passaram a comprar todas as companhias de disco do mundo inteiro, ao mesmo tempo. E compraram
todas no Brasil também. Eles, que foram os quatro que sobraram lá e agora são três, e vão ser dois amanhã
de manhã. O Byington tinha um discurso na época muito sólido, cheio de argumentos, um discurso de uma
pessoa que era 15 anos mais velha que eu, que tinha um cunhado que era governador do Estado, o Egydio,
Paulo Egydio Martins, casado com a irmã dele. Então assim, é um ambiente politizado naquela visão da
política pelas elites. Não a política do socialismo ou a política da academia. Não, era a política exercida pelas
famílias da elite que têm o acesso ao poder. Ele circulava no ambiente onde tinha um banco que não era o
BNDES de hoje, mas que era o banco de financiamento industrial, onde os industrialistas brasileiros iam
buscar seus recursos no Estado. Nessa época, era uma coisa muito fechada, restrita e manipulada. E ele,
mesmo sendo da elite, se queixava muito de que não fazia parte da elite e não tinha acesso a esse dinheiro.
Ele sabia que isso existia, fazia com que a gente fizesse trabalhos de planejar, de projetar, de desenhar o que
seria uma fábrica nova, para a evolução do mercado, isso e aquilo, mas que isso não andava pra frente. Ele
fazia a movimentação dele, mas não conseguia o dinheiro, o financiamento, o capital para progredir. Se você
lembrar que ele faz parte de três gerações de donos, ele é o terceiro dono da companhia, tem o nome do avô
dele e os três, o avô, o pai e ele, passaram a vida gerindo esse negocio. Então, eu acho que ele tinha assim
um extremo conhecimento. Tanto do mercado quanto dos mecanismos de financiamento, de sustentação da
83
indústria, né? E ele nesse ponto se queixava demais dessa questão do jogo desleal, das multinacionais.
Desleal porque eles conseguiam o financiamento na matriz. Os governos das suas matrizes forneciam os
recursos para as companhias se expandirem.
H - Os governos das matrizes?
P - Era dinheiro subsidiado, ele dizia sempre isso. Eles trabalham com dinheiro que não custa nada para eles.
Não era dinheiro de mercado, era dinheiro emprestado para crescer lá, conquistar território. E teve várias
situações assim, onde ele manifesta que não chega a ser concorrência desleal nesse sentido, mas é um jogo
desleal. Um jogo deles se juntarem para gerar movimentos que impedissem a Continental de ocupar no
espaço um território; a EMI vendendo a fábrica e se recusando a vender pra ele; situações assim. Não consigo
trazer situações que sejam bem concretas. Mas só me lembro muito disso.
H - Ele comentando a respeito...
P - Isso. O tempo todo. Tem um lado que começa...
H - Desculpa te interromper, mas você ficou de 70 e...
P - Dois
H - Dois... Até comecinho de 80?
P - Até o comecinho de 80. A minha relação com a Continental meio que se desmancha aí por uma porção
de circunstâncias e, de repente, eu retomo a indústria começando com os compactos da Warner. 82, 83,84...
Quando deu 85/86, eu acho que esse meu ciclo de produtor está terminando na Warner. Não, acho que foi
mais até, foi nos 90... Já foi dentro dos 90... A Warner compra a Continental. Começo dos 90.
H - A data não lembra exatamente?
P - E aí foi um negocio pra mim tão chocante, cara. Nós estamos falando de um prédio de três andares na
Avenida do Estado, carga, fábrica, depósito, toda a estrutura... De repente, dentro da Warner está a
Continental. Um armário com 80 mil dias de rotulo. Dia de rótulo é um papel, da folha de papel, que tem todas
as informações que se referem ao conteúdo do disco. Informações de propriedade intelectual, onde você
comprova a certidão de nascimento do disco, a ordem das faixas, o tempo das músicas, a editora de cada
música, maestro, produtor, todas as questões onde você deveria de alguma forma um dia pagar alguma coisa
a alguém, tinha que estar tudo registrado ali, se tinha porcentagem do produtor, se tinha mais alguém,
entendeu? Esta página ia pro ECAD para inscrever o disco lá e ganhava um número, era o tal do GRA. Enfim,
essa folha refletia o instrumento de registro da propriedade do disco. E quando a Warner compra a
Continental, a Continental se restringe a um armário com 80 mil folhas de papel. E as masters? Ah, tão por
aí. Ah, foram empacotadas e levadas para um depósito. Um dia a gente vê. Quanto que a Warner aproveitou
da Continental? Eu também não sei dizer. Pode ter relançado os sertanejos mais importantes, comerciais,
pode ter ido buscar esse catálogo de prestígio tipo Fagner...
H - Charles Gavin tem feito isso?
P - Ah, uns e outros, né? E o Charles tem um trabalho que é minúsculo comparado ao que a Continental
gravou. Mais uma reserva de mercado, propriamente dito, do que você dizer pra mim que isso aqui é um
instrumento de produção. Eu comprei uma fábrica e vou manter a porcentagem do mercado? Zap, deleta.
Desaparece com toda essa ocupação de mercado, e você entra preenchendo vácuo, entendeu? Você passa
a ser dono dessa porcentagem de mercado que deixou de existir. Talvez esse seja o processo de trabalho da
consolidação. E eu acho que fez parte do... Pode não ter sido ideologicamente concebível, tem uma ideologia
atrás disso. Eu acho que foi um método de trabalho. Ao você eliminar a Continental, toda sua influência, por
existir no mapa, você abre caminho para uma coisa que não tem mais mapa embaixo. Que é a Madonna, que
é o Phill Colins, que é o Michael Jackson, que entra e ocupa o mesmo espaço. E o que acontecia com todas
essas outras culturas regionais? Tão sobrevivendo hoje como oralidade, como cultura oral, colecionadores
de disco que passam entre si, como alguém que estuda um pouquinho 25 discos da mesma história e assume
aquilo como sua formação. É uma despersonalização: deixa de ser uma cultura baseada em pessoas pra ser
uma cultura do mercado, apenas do mercado. Bem no fundo, se pensar bem, há uma ideologia que libera
esse grupo de ação, que avaliza, que... É engraçado isso. vendendo muito é melhor que muito artista
vendendo pouco?
H - E será que vão te explicar?
P - Mas foi isso que se transformou a...
H - Não foi simplesmente pouco artista vendendo muito, poucos artistas que são gravados por eles, por essas
gravadoras, vendendo muito.
P - Eu diria que a meta do gestor é alcançar isso de qualquer forma mais rapidamente possível. Essa á cabeça
que se implanta em 1985/90.
H - Isso não tá também só no mercado da música, isso tá também no...
P - É o neoliberalismo, né?
H - Neoliberalismo... Isso tá no processo de crescimento forte do capitalismo,
P - Quem foi o filha da puta?
H – É, um filho da puta (risos). Pena, vou ser mais pontual. Você participou das gravações do disco do Walter
Franco? Você tem alguma memória, porque naquele disco Revolver, você tá de ação de gravação e assistente
de produção segundo o disco, né? Que memória você tem desse trabalho?
P - Que tinha o Roberto Sion, né?
84
H - Isso tá no disco.
P - Eles não tinham o conceito de produtor nessa época, né?
H - Imaginando essas tarefas, delimitando...
P - A gente tinha o burocrata, que era o Sion, que não era um, mas fazia o papel de burocrata que negociava
o orçamento. E isso transformava em horas de estúdio, em quanto de dinheiro pra alugar e contratar coisas.
Ele prestava contas disso do lado de lá. E a minha tarefa era, junto com os músicos, ter ideias pra registrar
histórias. De vez em quando a gente precisava de alguma coisa, eu ia e o Sion tratava de resolver o lado
financeiro. Por isso que eu sou então assistente de produção, porque produção era isso. Era falar assim:
“então hoje a gente vai usar um órgão Hammond, eu tenho que alugar um”. Mas a gestão do estúdio era
minha.
H - O disco era de 75 né?
P - Talvez tenha sido o primeiro disco complexo que eu tive autonomia. Eu não sei se Novos Baianos era
depois ou antes disso... Sabe, o Alunte dos Novos Baianos. 74... Anterior...
H - Novos Baianos Futebol Clube, 73...
P - Que é mais simplesinho, um disco mais simples. E aí tem o Alunte, que já é uma coisa mais elaborada.
Mas a gente fez no mesmo estúdio, também tem isso. Tem o estúdio aqui? Não. É num estúdio de oito
canais...
H - Essa capa não tinha muitas informações...
P - Pelo menos pela internet tem essas coisas assim. São ciclos de quem toma conta, acha quem é importante
ou não é. Aqui o seo Julio...
H - Aqui não aparece.
P - Esse cara aqui foi embora, se aposentou. Esse aqui era um que tinha 60 anos de carreira, ainda cuidava
com certa... Saiu o cara, não fica ninguém no lugar. Então, quem faz a capa era o menino das artes. E como
eu era bagunçado, mais técnico e menos burocrata da companhia, eu não sabia que tinha que trazer todas
as informações para dentro da capa. Isso é típico do que acontecia.
H - Mas enfim, o que você me fala do Walter Franco, que acho que você participou, e depois você me fala do
Alunte.
P - Bem, bem, isso aqui é o caminhão pra mim. É daqui pra cá, tem uma evolução aqui ó... Novos Baianos é
um disco que...
H - Futebol Clube, né?
P - Sim. O Cláudio... Eu acho que assim... Alguém do Rio de Janeiro, na companhia, falou para o dono da
empresa que Novos Baianos era uma coisa bacana. Eles tinham acabado de fazer um disco, e que eles eram
bacanas e que não sei o quê. O Claudio, perto do dono da empresa, falou “isso é bacana”. Nesse disco aqui
eu não tenho voz, mas então tá, vamos, é bacana, é legal. O Claudio e o dono da empresa, a lenda era assim:
o Byington pegou um teco-teco dele, foi pra Jacarepaguá, tinha um aeroporto lá daquelas coisas de roça e
vai visitar os Novos Baianos no sitio lá em Jacarepaguá. E ficou amigo de todo mundo, e...
H - E isso é verdade mesmo?
P - Eu acho que é sim. Sim, sim, certeza. Tomou café com os caras lá, só não fumou a maconha, mas na
roça o Byington, a família, não era só a gravadora. Tinham fazendas no Paraná, foram colonizadores do
Paraná, aquela coisa de fazer cidades, né? Então, ele tinha uma coisa de roça assim... A família tinha outras
propriedades. Mas ele foi lá e voltou com o contrato dos Novos Baianos. De repente foi assim e teve que fazer
um disco logo. E eu era o cara que tava perto que poderia topar essa história e então a gente entrou no
estúdio e fizemos o Futebol Clube que, na época, já era uma coisa que a gente chama hoje de 360 graus.
Era a tal da Sonhos que ia fazer o disco dentro da Continental, e a Sonhos ia cuidar da carreira, ia fazer a
banda circular pelo Brasil.
H - Essa Sonhos não tem uma existência formal, né? Tá registrada ou não?
P - Não. Tem um logotipo, só um logotipo. Não passou disso. E chegou a ter uma na (Avenida) Estados
Unidos, Nove de Julho (...) tinha uma travessinha. Só pra você localizar: e aí tem uma travessinha que chama
Rua Urano, sem saída, onde tem hoje um Carrefour, na Nove de Julho. E lá tinha um galpão enorme que era
um deposito do leite Itambé, que tinha garrafinhas com papel alumínio em cima e isso era da família. Ia para
o depósito o que vinha da fazenda e aí saía pra entregar...
H - Leite Itambé.
P - É. Entregava casa a casa. Botava as garrafinhas na porta de casa. Então lá era o deposito. A Sonhos
ganhou de presente esse deposito. “Vocês podem ficar lá”. Aí a gente se juntou lá, começou a comprar um
equipamento de luz e uma coisa de som. Era só um grande galpão, uma grande loucura. Mas a gente gravou
esse disco correndo. Rapidamente terminou o disco e foi fazer uma excursão pelo Brasil que... você tem que
falar com o Claudio Prado, viu? Porque também nessa hora ele vai te ajudar nesse retrato aí.
Resumindo, era assim: tinha um voo que se chamava Boomerang, de Caravelle (pode ser a Cruzeiro do Sul
a companhia). Saía de Porto Alegre de manhã cedo, e ia pousando em todas as capitais do Brasil, do litoral
até Belém do Pará. Chegava a Belém do Pará no fim da noite. Aí, de lá, voltava no dia seguinte. Então, era
dia sim, dia não. Ele ia e no outro dia voltava. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A gente comprou
uma passagem pra Belém do Pará. Quatorze, quinze pessoas. E aí foi desdobrando essa passagem e todo
dia ia pra um lugar. Passava dois, três dias e nos fizemos a excursão de promoção do disco com os Novos
85
Baianos. Mais três ou quatro pessoas foram e jogavam futebol, inclusive um cara que não tinha um braço
jogava na segunda divisão do Rio de Janeiro, no Olaria. Era um time que eram os meninos dos Novos Baianos
mais esses caras. Em todos os lugares a gente fazia um jogo de futebol toda noite.
H - Você jogava também?
P – Não, imagina... E aí, assim, a gente tinha que levar um par de caixa acústica e algumas lâmpadas, porque
lá em cima não se sabia o que ia encontrar. E o Caravelle era um avião igual a esses Embraer, dos menores.
Duas poltronas de cada lado sabe? Um aviãozinho estreitinho, comprido, com dois motores atrás. Tinha uma
porta de uma entrada de mala, que as nossas caixas ficavam se esfregando, e aí, quando pra cima de
Salvador os aeroportos não tinham gente suficiente pra por mala no avião, era um cara que jogava as malas
de uma em uma. Quando chegou a hora de botar as caixas de som pesadas, não tinha. Aí, o avião ficava
parado na pista, e alguém correndo atrás dos caras, de chinelo, pra vir carregar e o avião saía com uma hora
de atraso todos os dias. E quando deu na terceira, já começava a ter gente esperando no aeroporto. Foi muito
legal. Fomos até Belém do Pará e voltamos. Aí, logo já fica a época de fazer o outro. Esses dois discos foram
feitos juntos e tem umas coisas assim: os Novos Baianos eram extremamente criativos, e não paravam de vir
ideias na hora de gravar a música, o arranjo. Tinha arranjo sendo feito na hora... Pepeu e os meninos “Pô,
aqui vamos botar um bongozinho”, mas não tinha mais canal. Foi a primeira vez que os caras do estúdio
fizeram isso, pois não era praxe mesmo. Inventou ali. No canal que tinha o solo de bandolim lá na hora do
solo da música, antes ele ficava em silencio, você não gravava nada e esperava a hora, o solo entrava. Esse
era o canal do solo de bandolim. “Pô, vamos botar os ‘bongo’ aqui, antes do solo de bandolim. Bora o bongô
então”.
H - Tudo num mesmo canal?
P - Num mesmo canal tinha bongô, coro, solo de bandolim e mais a segunda voz e mais não sei o quê.
H - Sucessivas?
P - Não.
H - não ao mesmo tempo?
P - Não. Agora, na hora de mixar, de juntar isso tudo, é assim: esse canal, na hora do bandolim, ele tem que
ir pra frente. Aí, na hora do bongô, ele tem que vir pra trás. Depois na hora de não sei o que, não sei o que...
Então ficava assim, oito pessoas em volta da mesa e cheio de marquinhas... passava uma fita crepe, botava
marquinha, então vai, começa música, então vai. Bongô sobe, agora o outro canal vai também, agora o outro,
cada um pegava uma mão e colocava tudo. Tem uma foto dessas em algum lugar. Cada um segurando um
e regendo, e, se um errava, voltava tudo de novo. Mas o resultado é muito bom. E isso aqui que me ajudou
nessa coisa de domesticar o que seria uma linguagem mais refinada, mais sofisticada, mais fora dos padrões
de gravação.
H - Digamos que eles eram assim meio anárquicos...
P - Experimentais.
H – Sim.
P - É que o anárquico aí indica muitas vezes um sentido... Não, a música não era anárquica. A música era
extremamente bem arquitetada. Entendeu?
H - Entendi. O que eu quis dizer é assim... Acho que você vem com essa coisa de organizar cada instrumento,
em cada lugar... Prolixo...
P - Isso, isso. Isso não nascia na forma tradicional que a música nasce, que alguém que tem essas noções
arquitetônicas da música, a gramática da música, vai, organiza uma pauta e tem uma sequência, e você faz
primeiro o baixo, depois a harmonia... Não, tudo vinha ao mesmo tempo.
H - Por que era a vivência deles no sitio, música, futebol...
P - Não, eles vinham de uma vivência nova que era assim: eles estavam se ouvindo e agora a gente vai tocar
em cima daquilo que a gente já tá ouvindo. É tocar a segunda vez, acrescentar camadas, nascendo essa
capacidade ali, naquele instante. Era assim “Ah, tive uma ideia” Sabe? “Parece alguma coisa que ia...” “Faz
aí” “Pô, ficou bom”... Então é um processo que hoje a gente chama de cocriação, essa coisa que nasce.
H - E o Walter Franco?
P - O Walter era assim...
H - Como é que foi esse disco? O primeiro você não participou...
P - Não
H - Diretamente não.
P - Não.
H – Só do segundo.
P - O Walter, era assim: eu morava numa apartamento, tinha essa história bacana, uma pequena quitinete na
(Rua) Marquês de Itu, ali perto da Santa Casa, modesto. Aí, um dia eu to em casa, toca a campainha, eu abro
a porta, e lá está Walter Franco. Eu não tinha vida social, não fazia parte da sociedade paulistana, e o que
veio fazer Walter Franco - que já era uma estrela? Ele já tinha feito, já tinha sido reconhecido, então ele era
o mais famoso dos concretistas. Ele era o concretista pop. Tinha passado pela Rede Globo já. Então o Walter
veio vestido de artista na minha casa, tinha um terno branco, uma coisa, uma roupa... E me pergunta, ele com
aquele jeito de Walter Franco, e hoje eu sei que ele é um excelente ator que não aproveitou suas
oportunidades. No cinema ele teria sido perfeito, né? Perguntou se eu tinha o ouvido ou não. Eu falei que
86
não... “Vamos ouvir? Você tem uma vitrola?” “Tenho, vamos ouvir”. Botamos o disco lá e ouvimos. Não era
um disco normal. Não era um disco de canções, era um livro de poemas com uma moldura musical e uma
interpretação extremamente dramática de linguagem dramática, de sussurros e gritos e articulação vocal,
tudo muito a sangue frio, premeditado. Não é um disco emocional, é um disco totalmente cerebral. Eu tinha
uma leitura... o meu repertório de música eletrônica, música de vanguarda, música de pesquisa que eu já
tinha ouvido antes, me deixou digerir aquilo tudo ali e tentar quase que qualificar, classificar.
“Eu sei do que você está falando, eu sei que método você tá usando, eu sei de que influências isso tudo aqui
nasceu. O que você quer de mim? Eu estou entendendo a sua forma de trabalhar.”
“Legal, é isso que queria saber, se você tinha noção do que eu tava fazendo aqui. Eu quero fazer outro disco,
mas que não tem nada a ver com este. Qual que é o outro lado dessa história?“
“Ah, é uma banda.”
“Ok, você vai continuar a fazer, então vamos fazer uma banda”.
“Legal, é exatamente isso, vamos fazer?”
“Vamos”.
H - Ele já tinha os nomes lá?
P - Ele já tinha uma relação. Ele foi lá meio que checar se eu seria o produtor. O Walter já tinha conversado
com meu amigo, o Sion. O Sion seria o equivalente ao Cláudio Prado no Rio de Janeiro. O Rick conhecia as
modas, conhecia a juventude, conhecia o pedaço, e a Continental tinha muita naturalidade em se ligar com
essas pessoas. “Você trabalha com conteúdo de disco? Traga-me.”
H - E o Walter Silva e o Duprat?
P - Idem, idem, a mesma coisa.
H - O Walter Silva era de rádio, inclusive...
P - O colega do Walter Silva, que trouxe os Secos e Molhados, era o Moacir Durval, colega de radio dele.
Fazia a mesma coisa que ele.
H - Falecido já, né?
P - Acho que sim.
H - Colega do Walter Silva?
P - Radialista. Pessoas que tinham seu contato lá dentro e que sabiam que se achassem um artista podia
levar pra dentro da história. O Sion não era o cara do Walter Franco. Ele é o cara da Continental que, de
repente, lá dentro da companhia... “Você quer fazer esse disco do Walter Franco?” Alguém levou o Walter
Franco pra lá e o Sion falou “Deixa que eu produzo”. Sobra pra ele. E o Walter vai me buscar dentro da
Continental.
H - Quem será que levou o Walter Franco pra Continental? Walter Silva?
P - Vamos ver se tem aqui alguém...
H - Foi o primeiro disco, aqui... Quer dizer, ele apareceu no festival...
P - Pode ser, pode ser... Porque esses caras... Qual era a gravadora?
H - Continental também.
P - É da Continental?
H - Sim, da Continental.
P - Então, possivelmente é isso. Mas assim, por algum motivo, essas coisas eram muito divertidas na época,
porque o Walter Silva não tá nesse disco aqui. Não sei, mas brigou com alguém, este cara aqui tirou ele do
circuito, foi lá e falou pro Walter que ele era muito careta e veio falar comigo.
H - Por quê?
P - Eu sei, quer dizer, o Walter vai me buscar, alguém me referenciou lá dentro, ele vai me buscar e a gente
vai fazer um disco. Agora também já não vou saber, mas acho que fiz lá o “A e o Z”, dos Mutantes. Lá, eu
acho que é anterior a isso, quase que certeza. Acho que é de 73. Tem um disco dos Mutantes que saiu vinte
anos depois, que a gente gravou lá. Esse é meu batismo, trabalhar com esse disco dos Mutantes. Eu vinha
de construir equipamento e eles começaram a fazer o disco, eu fazia parte do instrumental, era hold deles,
mas era técnico também no estúdio, cuidava dos instrumentos, fui para o estúdio Eldorado e enfim, acabei
fazendo papel de produtor. É o cara que fica na cabine, entendeu? Eles estão aqui embaixo e eles lá em cima
eu falava se ficou bom ou não ficou bom, se ficou bom. Esse disco aqui é o primeiro da Continental na época
não era como a gente ia para o estúdio Eldorado,
H - Esse do Walter Franco, Revolver?
P - Esse é 16 canais, do Eldorado também. E então eu já tinha que ter toda essa noção de arrumação dos
canais, de negociar...
H - Esse aqui já era 16 canais...
P - É. O Eldorado inaugurou o estúdio com 16 canais. Era do Estadão, né? Bons tempos esses, né?
H - Cheguei a ir nesse estúdio uma vez... E o Tom Zé? Você não chegou a trabalhar com o Tom Zé?
P - Não. Peraí...
H - Tom Zé gravou na Continental em 72, 73, 75 e 78.
P - Não... Quem é que tem o nome aqui? Quem que era chefe da produção? Deixa ver aqui se tem mais
alguém... o Milton José era um produtor de sertanejo, do norte. Então assim, o Tom Zé entra aqui no que era
uma regionalidade, entendeu?
87
H - É porque toca um coelho aqui, o Heraldo do Monte, o próprio Grupo Capote.
P – E, era regional. É, então ele não é o Tom Zé, ele é um cara da cultura de lá que veio...
H - Estudando samba... O Heraldo do Monte, produção. Téo da Cuíca, coordenador de produção. Briamonte
fez os arranjos.
P - Isso aqui era o que na época “Meu amigo Téo da Cuíca vai lá e produz”. Entendeu quem era o chefe aqui?
H - Na verdade, se monta uma equipe para gravar um disco.
P - É, era um pouco isso.
H - Muita gente nem tinha contato com a gravadora ali.
P - O Heraldo é, porque era do norte. É engraçado que nessas coisas aqui não têm na estrutura quem é que
era o responsável pela...
H - Isso eu peguei da capa...
P - Aqui começa, ó: já tem diretor artístico, aqui não tinha né? Aqui já começa a ter...
H - Já é final dos anos 70, né?
P - 78.
H - É um disco mais... Não é tão experimental como esses anteriores.
P - É, isso... Exatamente. Esse maestro aqui era um super maestro, comercial, que escrevia um arranjo por
dia, todo dia, trabalhava oito horas. Em duas horas ele escrevia o arranjo, em três horas ele fazia gravação.
Todo dia ele entregava uma música assim, industrial. Normal, isso era o emprego de maestro, de maestro
arranjador.
H - Otávio Bastos.
P - Crédito, mixagem, também não existia isso. Isso porque era um italiano que veio e já trouxe conceitos
europeus na história, começa a mudar.
H - E o Secos & Molhados, você acompanhou?
P - Eu tava lá perto, eu participei de gravação... Esse menino aqui foi meu colega de escola, Aloísio de Paula.
Aloísio Sales Jr era técnico de gravação onde eu tinha sido operador de sintetizador. Eu o apresentei, ele
vinha procurar emprego aqui e falei “ó, meu amigo”. Aí ele trabalhou lá meses, não deve ter sido um ano, mas
gravou esse e saiu da indústria do disco. E passou o resto da vida falando que gravou Secos & Molhados.
Era um troféu...
H - Durval, Willy... Willy toca aqui.
P - É… eu vi essa sessão do Zé, eu via algumas coisas assim, eu participei de...
H - Esse eu queria muito ter entrevistado...
P - Mas já foi, infelizmente. Mas o Emilio tá aí.
H - É, eu queria conversar com o Emilio e com o Willy. O Willy eu tenho contato, porque eu entrevistei, está
vendo marcado de verde? O Rodolpho, o Grani,
P - O rude.
H - Foi bem legal e o Willy mora perto lá, ele é amigo...
P - O Rodolpho é um grande maestro desse disco do revolver, né?
H - É, ele comentou isso.
P - Não é escrever, mas é o que dá.
H - Ele usou a seguinte expressão: o Walter Franco era um cara muito cheio, como os Novos Baianos, mas
num nível individual, muito cheio de ideias.
P - Intuitivo total.
H – É. E sem muito controle. Ia falando, fazendo... E o Rodolpho era o que organizava isso, numa harmonia,
numa melodia, mais ou menos isso.
P - Eu acho que hoje, talvez, a gente até estranhe um pouco isso, porque o artista já faz parte do repertório
dele se expressar nessa linguagem da fonografia. Mas na época, uma pessoa como o Walter, que é a
formação (eu acho que é ator, e acho que estudou letras, alguma coisa assim... ele fez uma faculdade que é
de humanas... alguma coisa como teatro... enfim, ele é um cara de formação de humanas).
H - De artes.
P - Né? E que a música pra ele, é um ruído instrumental.
H - Um elemento a mais.
P - É, isso, e sobre o qual ele não tem noção. Aí você imagina como era a conversa do Walter dentro do
estúdio, com a banda montada, com todos os instrumentos, captado, microfonado, a banda já suando...
“Vamos gravar uma pra ver?” Toca uma vez, vai lá, ouve, desce um disco... Aí ele bota o ouvido aqui me
falando assim:
“Mas falta uma espiral, não tô ouvindo uma espiral, não estou ouvindo uma espiral que deveria ter aí.”.
“O que é uma espiral?”
“É uma banda que tá tocando e seguindo... entendeu? O Grani tá falando em ré maior, o baterista, Diógenes,
entende exatamente o que é 4x1 ou 6x4, sabe o compasso, sabe exatamente como realizar, entendeu?”
Mas o que é uma espiral? Como você define que não está liquido o suficiente?
H - Esse espiral, ele usou esse termo?
P – É você tentar se transpor, dar abstração...
H - Ah tá, pensei que ele tivesse usado essa expressão.
88
P - Pode até ter usado, viu? Mas era muito difícil, extremamente difícil... “É por aqui? Não. É por aqui? Não
já foi melhor...” Entendeu?
H - Escuta, sobre a arte do disco, a capa do disco, você tinha alguma participação nesse processo?
P – Não.
H - Sobre tudo a capa branca, com a música atrás.
P - Não, isso eu vi pronto. O Revolver eu me lembro de ter participado de discussões, mas é a mesma coisa,
entendeu? É o Walter acrescentando conceitos o tempo todo, é uma pessoa de criação gráfica que trabalha
com limites de orçamento, de pratica, porque se eu fizer isso pra ele vou ter que fazer pra todo mundo. E o
Walter falou: “Não, precisa ter uma janela. Não, não dá, tem que ter uma janela... O disco sai com você assim
dentro das pessoas numa janela não, e precisa ter alto-relevo.” E aí, até conseguir o alto-relevo, e aí, vai fazer
o quê? Um dia o Walter aparece com a solução mágica que é um braile, que tá escrito ou não. Ou sim. Não,
é sim, é a palavra sim.
H - Ou não.
P - Não, é sim, eu acho que é sim. Acho que isso é volver... Tem um braile, tem dois brailes na frente e no
verso que eram diferentes. Pode ser sim ou não. Mas eu acho que me lembro do sim. Isso era na hora logística
das coisas, entendeu... E se esse disco vender? Um disco desses leva cinco vezes o tempo que um disco
normal leva dentro da máquina de produção, da maquina de corte e impressão. Mas era um artista que
conseguia.
H - Vou te fazer uma pergunta, curta e grossa: como que esses caras gravaram isso na Continental?
P - Eu tô tentando te explicar o tempo todo que tudo isso era muito natural. Essa riqueza, essa variedade,
essa diversidade, esse mundo de possibilidades que a gente tá aqui chamando de esquisitas, elas eram a
normalidade de uma companhia.
H - Vocês olhavam lá atrás com o olho de hoje.
P - Eu tenho uma etapa de...
H - Isso com qualquer gravadora? Chantecler, Copacabana...
P - Não. Eu falo pela Continental, acho que nem todas tinham o lastro que tinha dentro da Continental. O
lastro de presidente de terceira geração que viu tudo. Viu o mundo mudar muitas vezes dentro de casa, de
pessoas com 40, 50 anos de carreira fonográfica que passaram por Orlando Dias, que na época era
extremamente esquisito. E era popular, se jogava na multidão pra ter a roupa rasgada. E Aracy de Almeida,
que era sexualmente explicita, em 1930. E tirava foto com charuto, e não tava nem aí, porque tinha uma
companhia que recebia, que absorvia isso e toda essa música. Depois o Hermano Viana explicou bem, a hora
que se junta Villa-Lobos com Pixinguinha. Eles se juntaram e foram tomar um café na Continental. Esse era
o modus vivendi da companhia. Fazia parte, era da natureza do trabalho.
H - Você acha que isso é uma idiossincrasia da Continental?
P - Não se você for olhar as companhias que têm assim semelhante, o que não é impossível, se localiza a
Columbia nos EUA, só pra falar uma imediatamente; na Inglaterra tem a companhia que virou EMI depois,
que são companhias que têm esse tipo de trajeto histórico. Isso faz parte do que foi a história da arte,
entendeu? A Columbia tinha selos especializados em esquisitices. E várias, diferentes umas das outras. Tinha
selo só de música eletrônica feita em laboratório, tinha selo só de música experimental, de orquestral
experimental, e pra você criar todo esse ecossistema, isso sim em volta de uma idiossincrasia musical, era
um disco atrás do outro, e todos os pares do estilo, isso era normal, era parte do que era a riqueza. Era uma
lei que fazia parte da constituição da indústria fonográfica: nunca se sabe o que vai dar certo. Todo mundo
sabia isso... Um fuscão preto nasce de onde? Do meio da coisa mais longe de tudo possível, alguém faz a
música certa para o carro. Na época onde todo mundo tava instigado pelo carro, um caipira que sai de um
lugar fora de qualquer referencia, e dali brota o que é que vai refletir o desejo. . O Walter Franco poderia ter
sido pop.
H - Ele até fez um disco depois...
P - Sim, até hoje em dia ele é pop. A molecada adora ele, por causa do Canalha.
H - Virou cult
P - É isso, ele fez show. É isso, ele não tem cartas marcadas e nessa época a indústria sabia disso. Vale a
pena, pode fazer... Eram considerações econômicas, com cinco mil compradores de disco, quando você faz
um disco e vende um pra cada um, e sai vendendo cinco mil, quase que qualquer produção saía paga porque
levava uma semana de estúdio. Os recursos não eram...
H - Cinco mil discos pagava o...
P - Você fechava como hoje se paga. Dali pra frente não era muito... O risco não era tão grande. Dissolvia-se
nessa grande base. Se você só tem 300 compradores, então você só tem que fazer o que vende. E por que
300? Porque dá muito trabalho vender para quatro mil. Vender tudo pra 300 é melhor do que vender pra
quatro mil. Custa muito menos o processo de venda. Só que a indústria perdeu exatamente isso, essa
capacidade de beberem todas as raízes ao mesmo tempo. Desradicalizou.
H - Saiu da raiz, de deixar a raiz.
P - É. Eu deixei uma coisa pra trás aqui que você me perguntou que era... Não era Walter Franco, era...
Tem um negócio que não sai no discurso agora... Bom, então, eu tive um período na Continental onde eu
89
trabalhei um ano e meio, dois. O titulo era gerente de produção. Porque eu já tinha passado pelo estúdio, já
tinha produzido banda,
H - Final de 70, talvez...
P - É... E ai assim, eu ganhei uma sala, ganhei uma assistente, e trabalhava num ponto nevrálgico dentro da
indústria, toda a produção passava por mim. Eu fazia um trabalho de checar toda a produção antes do disco
entrar na fábrica e ser transformado em objeto. Então, eu tinha que ver todas as autorizações, todas as
licenças do direito autoral, todas as informações que compunham a tal da guia de rótulo. A ficha técnica, tudo
o que deveria ser escrito dentro do disco, todas as informações, todos os autores do rótulo do disco, se o
disco tava dentro do combinado no orçamento dele, ou se tinha sobrado ou faltado horas de estúdio. Bom,
era o controle final antes de o disco sair. Eu carimbava a guia de rótulo e o disco seguia pra fábrica. Todos
os papeis, todas as assinaturas de organização de cada música, checava a capa, fazia essa última
consolidação de toda a informação. Eu cuidava de 50, 60 discos, todo mês. Isso era uma produção normal
pra Continental.
H - Quantos?
P - 50/60 discos por mês.
H - Dois por dia.
P - Às vezes eram 10 no mesmo dia... Porque acumulava, mas enfim, um disco desses você cuida ao longo
de dois meses, ele finaliza naquele instante antes de ir juntar a papelada toda e seguir pra frente. Mas, 50
discos por mês, se 5% disso for fora da curva comercial, você já tem sua cota de ”esquisito” todo mês. Você
já tem dois ou três discos por mês fora da curva. E esse “fora da curva”, porra, cara, é inacreditavelmente
grande esse perímetro da normalidade. Quando você fala assim, o que acontece na Lagoa do Descampado,
o que o que acontece lá no nordeste, estado por estado, cada província dessas tem um mapa dentro da
normalidade, Mato Grosso, Maranhão, o norte e o Pará, Amazonas, os alemães... Porque tem alemão que
faz música de beber cerveja e tem o alemão que faz música de igreja.
H - Tudo isso tava na Continental.
P - Tudo isso! Fazia parte do mapa.
H - O mapa virava disco.
P - O mapa virava disco. As bandas de alemão tinham volume 23! Fazia 23 anos que aquela bandinha tocando
música de beber cerveja gravava seu disco, religiosamente. E como ela, eram muitos, são os pontos no mapa.
Era só mais um dentro dos 50. Mas o que era um cara fora da curva? Era um cara que sentava na sua frente
e falava assim: “Eu já tenho as músicas, vou cantar todas as músicas do meu disco e quero que você me dê
a sua orquestra lá do estúdio. E eu já tenho a foto da capa aqui.” Ai o cara puxa uma carteira e uma fotinho
daquelas de Kodak, 10x8, toda enrugada, com dois caras se abraçando. Barranco em volta. Então, o cara é
um garimpeiro em Serra Pelada, que gravou o seu disco num cassete. As musiquinhas, alguém falou pra ele
isso é bonito, é bacana, então chega na Continental falando: “Eu vim fazer meu disco aqui. Eu vou cantar
minhas músicas, quero os seus músicos”, e abre a mala e põe um saco de ouro em cima da mesa. Pepitas
de ouro. Não tá na curva.
H - Mas você fala assim, é folclore, ou...
P - Não, é verdade. Isso aconteceu comigo na minha frente... É, sim ou não, né? Aí você chama o cara, passa
no corredor... um desses nomes de produção, Seo Milton, tem 40 anos e conhece o norte e nordeste. “Seo
Milton, o senhor não quer dar uma olhada numa música aqui?” Aí, ele entra na sala e tem um cassete que o
cara acabou de gravar ali. Vinte segundos depois ele fala: “É legal! Eu topo.” “Obrigado”. E aí o cara fala: “Eu
quero levar 10 mil discos pros meus amigos. Com esse dinheiro aqui dá?” E aí, você tem que chamar outro
cara que vai fazer a conta de ouro que não sei o quê... Dali a dois meses esse disco estava pronto e foi
entregue pro cara. Ele foi pro estúdio, passou três dias gravando as músicas dele, a banda com o maestro
“não sei das quantas”, canta aí. Fazia o arranjo na hora: uma guarânia, ré menor, solo de trompete pra ficar
bonito. Ia para o estúdio, gravava umas 12 dessas.
H - O arranjo cheio de clichês...
P - Um processo porque a música era toda cheia de clichezinho e parecia com um pouco de tudo. Mas é
assim. E fora todas as etnias: disco de música grega feito por brasileiro, de todas as religiões possíveis, de
pontos, de umbanda, tudo isso cabe dentro do saco. Quando chega um artista dizendo “Eu inventei a
América”, faz favor, “você pode, fique a vontade”. Era natural. Aí tinha umas horas que você tinha esse
conceito curatorial, que depois de dez anos nesse ambiente (...) “Pô, mas eu gosto mais de certas coisas que
de outras, eu acho que a gente podia fazer outras aventuras”, e aí eu faço uns três ou quatro discos no meu
penúltimo momento na Continental, que é Osvaldinho gravando forró, Beethoven em forró, Almir Sater
tocando viola progressiva. Você não conhece esses discos.
H - Almir Sater sim.
P - O disco do Almir Sater, porque eu tava dentro do lugar onde gravava Tião Carreiro e esses cobras da viola
(...). Aí, quando eu vejo o menino tocando viola, eu falo, “ele tá inventando”, e vem gravar, não era tradicional,
parecia uma coisa experimental, mas era viola. E ele conheceu o Tião Carreiro e os dois se amaram, porque
o cara falou “Você toca pra caramba”; “Não, você é quem toca, você é meu mestre”. Aí, apareceu o Papete,
que era percussionista, fazendo boi. Boi era uma linguagem que a gente não tinha lá. Ele fez um boi com
90
certa sofisticação, então eu fiz três ou quatro discos lá que eu trazia pra dentro do circuito, mas propondo
certa aventura estética. Osvaldinho, Papete, Almir Sater e falta mais...
H - Deixa eu te fazer uma pergunta: aquela frase que vinha no disco, “Disco é cultura”, aquilo não era só uma
frase, né?
P - Aquilo tem uma origem.
H - Aquilo tem a ver com imposto, o que é isso, você pode me dizer?
P - Em 1973 foi aprovada uma isenção de imposto que era basicamente o seguinte: você poderia usar uma
parte do seu ICM (Imposto de Circulação de Mercadoria) quando vendesse o disco, uma parte você podia
aplicar na gravação de discos brasileiros. Teoricamente isso era justificado assim: “Ah, então, quando a gente
vender música importada, essa música vai ajudar a pagar a gravação de música brasileira”. Houve distorções
fantásticas, uma delas é história do campo de futebol do Chico que foi pago com esse tipo de isenção, né? O
Chico renovou o contrato com a Polygram e foi dado pra ele um dinheiro pra comprar o campo de futebol, e
isso foi transformado em outra despesa de gravação. Mas se maquiava... Eu digo que é esse dinheiro, talvez
tenha sido ele a causa de nós termos o catálogo que a gente teve de música brasileira nos anos 70 e 80, que
eu diria que é o file mignon da música. Esse imposto sustentou Caetano Veloso, posso estar errado, 12 discos
no prejuízo. Porque que uma companhia sustentava uma artista década e meia não tendo lucro com ele
porque ela tinha esse recurso.
H - O disco saia mais barato.
P - Não, a carreira dele era financiada pelo imposto abatido.
H - Mas Caetano Veloso vendia.
P - Vendia, mas nunca vendeu o suficiente pra pagar o que ele custava, que sempre foi muito mais. Ele não
fazia um disco normal, ele tinha surtos de dois meses dentro do estúdio, gravou coisas que ele mandou
apagar, enfim, ele não era um artista industrial. O primeiro disco de ouro dele cantando boleros, nos anos
88/90.
H - Fina Estampa?
P - Não sei se foi, mas foi o primeiro disco que ele cantou bolero, com um diretor comercial, diretor artístico,
que falou “é isso ou você tá na rua”. Deu uma encarada nele e empurrou pra uma direção que precisaria ser
comercial, ai ele abraçou o bolero porque pra ele parecia fazer parte da... Era abraçável. Mas Walter Franco
faz parte do que é isso? Com certeza. Os discos que eu estou falando que eram instrumentais e têm uma
curadoria que não é exatamente a comercial; isso se conseguia fazer porque havia recursos lá dentro, que
precisavam ser gastos em gravação de disco.
H - E essa lei vigorou até... Você não vai saber disso... Uns 80, acho que já não tem mais...
P - Não me lembro dos 80 a gente ainda falando disso, mas tá terminando...
H - Foi uma marca dos 70.
P - Comecinho ainda dos 80, talvez... Tenho certeza que isso tá dentro da...
H - É uma lei, eu preciso achar essa lei, onde é que eu procuraria isso?
P – ABPD.
H – ABPD?
P - Na ABPD
pode ter... Eu, quando estava na EMI, já não se usava mais. Na verdade, o que a gente dizia
era que nós, independentes, não conseguíamos usar essa lei.
H - Eu vou atrás
P - Acho que ainda tá em vigor se você quer saber, viu?
Entrevista com Cláudio Prado
São Paulo – 30 de agosto de 2013
Realização: Herom Vargas
Herom - Primeiro, uma informação sua: quando que você nasceu e onde, só pra me localizar.
Cláudio - Eu nasci em 1943, faço 70 este ano.
H - E você nasceu em São Paulo mesmo?
C - Nasci em São Paulo, no Pró-Matre da Avenida Paulista.
H - Queria que você comentasse um pouco da sua formação, antes de você chegar na Continental. Você
começou a trabalhar lá no começo dos anos 70, né?
C - Isso. Eu sou hippie, eu escapei da ‘deformação’. Eu, como bom hippie, escapei de todas as universidades
que fui fazer, e tentei várias. Na Suíça, na Inglaterra e no Brasil. Eu pulei fora de todas, porque achei que...
Hoje eu entendo muito bem o “pular fora”: primeiro porque eu sempre fui um curioso, interessado nas coisas
que estavam à minha volta e a universidade me obrigava a trilhar uma rota que não era a minha, era a deles.
Era da Universidade, o curso tinha um propósito: me formar. Educare vem de castrare: me enfiar numa rota.
E eu fui pulando fora de todas elas porque eu queria ir na minha. Então, eu sou hippie! Quando me perguntam
minha formação eu digo: “eu sou hippie, eu escapei da deformação”. Não é que eu fui hippie, não. Eu sou
hippie.
91
H - E você morava onde nessa época, aqui em São Paulo?
C - Nessa época, eu tinha acabado de chegar da Inglaterra, onde morei seis anos, de 65 a 71. Eu tinha
acabado de voltar de Londres, onde tinha feito um monte de coisas na contracultura lá, envolvido com as
rádios piratas, com o Gil e com o Caetano. Lá, convivi com eles muito intimamente, durante anos, e a turma
que tava lá, o Mautner, o Macalé, o Péricles Cavalcante... Tinha a turma toda.
H - Quando foi seu contato com a contracultura? Como você...
C - Eu morei em Londres de 65 a 71. Eu mergulhei nisso lá.
H - Antes não?
C - Aqui? Não, aqui não. Quando eu saí daqui, fui estudar pedagogia com o Piaget em Genebra. Estudei com
ele um ano. Achei muito ruim o ângulo que estava sendo abordado. Tudo o que ele falava na aula lá estava
escrito, eu não precisava ir lá ouvir o cara, estava tudo escrito. O lado psicológico do aprendizado, da
educação, me interessava menos, eu queria me interessar pela questão social. Que, aliás, aí, é o assunto
que tá por acaso na mesa. Então, eu me desencantei com esse curso do Piaget e fui parar na Inglaterra.
E na Inglaterra eu descobri a contracultura, descobri o mundo underground, os porões do rock. O
mundo estava acontecendo. Foi ali que eu comecei a... Na verdade foi o renascimento, foi o lugar onde eu
nasci. As minhas inquietações começaram a fazer a sentido nessa coisa da contracultura lá. E tem muito a
ver também com o fato de eu ter tomado LSD lá. O LSD foi a porta de um processo de autoconhecimento, de
me entender como gente e com o mundo também. Foi isso que me abriu as portas. E aí eu me envolvi nos
festivais de rock ingleses de um jeito muito profundo. A primeira experiência é uma experiência maluca, se
eu começar a contar, vou ficar duas horas contando, mas levei Gil, Caetano, Gal, eu juntava as pessoas lá
para ir aos festivais de rock. Era uma ação política. Os festivais eram um território de liberdade, territórios de
discussão política, profundamente política. Eram lugares, territórios liberados. Num festival de rock ninguém
te enchia o saco por você estar fumando, se você quisesse fumar e tal, ou você estar vestido ou pelado ou
sei lá o quê, você podia andar. Então eram territórios, conquistas libertárias. Eu organizava a ida das pessoas
que queriam ir para os festivais, fazia uma vaquinha de quem queria ir, alugava van, arrumava barraca,
colocava as turmas no festival. E na Ilha de Wight, além de ter levado um bando de gente, nesse bando tava
o Gil, tava o Caetano, tava a Gal, tava os meninos d’A Bolha. A Bolha não gravou na Continental?
H - Acho que não.
C - Não, A Bolha tocava com a Gal. E na época eles estavam lá com a Gal passando e acabaram indo pro
festival.
H - É um grupo do Rio de Janeiro, né?
C - É um grupo do Rio. E no meio, depois de ter arrumado tudo, eu fui para o alto do morro, tomei meu ácido,
e o LSD na época, isso é importante, as pessoas às vezes têm medo de colocar isso quando publicam, mas
eu não tenho medo nenhum de falar. Ao contrário, porque sem isso não se entende direito o que aconteceu.
Era um ácido. O LSD não era comercial; até existiu LSD comercial, era ideológico, pra mudar o mundo, era
uma coisa revolucionária, um processo de um complô de pessoas que queriam olhar para o planeta, para o
processo civilizatório de outra forma, do que da forma careta. E no careta, implica a universidade que
encaminhava as pessoas para se encaixarem na lógica do sistema. Então, isso acontecia de uma forma
profunda nos festivais, e aí eu fui pra cima do morro e tomei meu ácido. E no meio da minha viagem de ácido,
eu decidi que nós tínhamos que tocar no Festival. Nós eram Gil, Caetano, Gal, A Bolha, mais uma turma, um
pessoal que estava com a gente de lá... Tinham umas 30 pessoas...
H - Você é músico?
C - Não. Brinco de percussão, mas não músico. E até então, nunca tinha tocado em um palco. No meio dessa
loucura, que me baixou no meio de uma viagem de ácido, eu tava de cueca vermelha e desci do morro com
essa ideia na cabeça. Era mais que uma ideia na cabeça, era uma coisa que para mim não tinha nenhuma
dúvida. Foi uma das vezes em que o LSD fez um sentido político muito interessante pra mim, mudou minha
vida essa história. Porque eu propunha naquele momento, de uma forma muito orgânica em relação ao que
eu tinha que fazer, pegar um bando de gente que tinha ido assistir ao festival e botá-los no palco do maior
festival do mundo, porque o Ilha de Wight foi o maior festival do mundo. Woodstock foi um acidente de
percurso, foi uma coisa gigantesca que não se repetiu, e não tinha sido pensado pra ser aquilo que foi. A Ilha
de Wight não, a Ilha de Wight era o sistemão botando o mundo do rock’n’roll, as grandes estrelas do rock’n’roll
lá e já era o terceiro ou quarto ano que acontecia esse Festival da Ilha de Wight. Era o maior espetáculo de
música do planeta naquela época. Mesmo. E eu de cueca, tentando botar a turma pra tocar no palco. A turma
tava se juntando pra fazer um som na barraca, eu liguei um gravador cassete, que era um tijolão “desse
tamanho”, tecnologia de ponta da época, e gravei o que a gente tocou ali dentro. Botei aquilo debaixo do
braço e fui pro palco. Não falei com ninguém que eu ia fazer isso, mas eu saí com o gravador embaixo do
braço e de cueca, nem pensei em me vestir. Pra encurtar a história, eu consigo entrar no palco e falar com
as pessoas lá, que me autorizam a levar as pessoas ao palco. Como eu fiz isso é uma mágica que eu não
consigo reproduzir. Careta, digamos assim, mas eu fiz. Como é uma história de mentiroso tem que checar
com as pessoas que foram pro palco, várias delas ainda estão vivas (risos). Na verdade, essa história é mais
louca porque eu tive que sair de lá com a autorização de botar 15 pessoas no palco e eu tinha pedido 30,
porque eu queria botar todo mundo. Aí eu descobri que tinha duas portas: coloquei 15 por uma porta, 15 pela
outra. Botei 30 pessoas no palco no dia seguinte, mas eu tive de convencer essas pessoas de ir ao palco,
92
além de ter convencido o maior palco do mundo de aceitar. Mas o que aconteceu pra eles aceitarem foi que
havia uma cisão política no Festival da Ilha de Wight, que era a turma que achava que tinha de ser tudo de
graça, que tinha que derrubar as paredes, que não tinha que ser comercial. Já era a briga com as majors.
Então, quando eu entro nesse negócio, entro exatamente na briga que hoje produz um resultado concreto.
Ali, na minha compreensão, eu tava no olho do furacão da briga que derruba as majors, numa época em que
elas eram majors mesmo. Não tinha o digital, o digital veio depois, mas a discussão sobre a coisa nefasta das
gravadoras, das majors, não sei se começa ali, mas pra mim, obviamente começou ali. Eu não conhecia nada
disso antes. E não me lembro de ter lido nada que tivesse alguma crítica mais profunda em relação à questão
das majors olharem para a música como uma indústria econômica e não alguma coisa da música. E ali,
obviamente meu olhar tocou todo mundo. De Jimi Hendrix a Emerson, Lake & Palmer, que fizeram seu
primeiro show lá. Foi a estreia deles lá. The Who tocou lá, Richie Havens, Joan Baez...
H - Isso era 69,70?
C - 70. Festival da Ilha de Wight em 70. Enfim, nesse processo eu me descobri produtor tendo começado, eu
nunca tinha produzido... E tem mais, eu toquei no palco, fiz o discurso como se eu fosse o crooner. Eu descobri
ano passado que isso foi filmado. Um pedacinho disso tá no filme Tropicália: a gente botando isso no palco,
estou lá eu e a turma toda no palco. Mas o trecho desse filme...
H – Tropicália, que saiu recente?
C - Tropicália que saiu recente tem um pedacinho do palco de Londres e, aliás, quando eu fui ver, achei
curioso que eu tava de calça. Eu sempre contei que eu estava só de cueca, mas no meio da minha fala no
microfone eu pego. Isso não tá no filme, mas está no trecho que eles não botaram. No filme só tem um
pedacinho: eu tiro as calças na frente do público para contar a eles que eu tinha chegado ao palco de cueca.
Foi muito louco, mas muito engraçado. Nesse processo eu entro e tem muito a ver com meu começo na
Continental, por isso estou te contando. Eu entro nessa briga e consigo encontrar algumas pessoas que
estavam com essa mesma reflexão, de que temos que fazer um festival de graça, e a gente se reúne ali com
essa ideia utópica na cabeça. Saímos de lá com essa ideia utópica na cabeça. Nos reencontramos num
concerto dos Rolling Stones em Hyde Park algumas semanas depois em Londres, e resolvemos que vamos
ter que fazer um festival de graça. Eu saio com eles à procura de uma fazenda. Descubro com eles uma
fazenda alguns meses depois, em Glastonbury. E eu fui, junto com eles, o fundador do Festival de
Glastonbury, o primeiro, de 71, que foi um festival absolutamente gratuito. Louco, completamente louco. O
primeiro festival completamente maluco, de graça de A a Z.
H - Como é que vocês arrumaram recurso para isso?
C - Foi tudo descolado exatamente do mesmo jeito que exatamente hoje o Fora do Eixo tá fazendo as coisas:
não há recurso, há outro jeito. É tudo descolado, é tudo arrumado, tudo conseguido. Foi construindo. Tinha
doze pessoas, depois tinha 25, depois 40, depois tinha não sei quantos, daqui a pouco tinha uma empresa
que doou isso aqui, o outro que conseguiu não sei o quê lá, um dinheiro que arrumou e blá blá blá. Mas não
tinha, digamos assim, finalidade econômica. Foi a primeira grande manifestação da cultura free - que depois,
no digital, constrói a economia da gratuidade, que é um negocio que está ai. E minha biblioteca é construída
em torno disso tudo aí, exatamente essa manifestação. O festival foi uma coisa incrível, Gil e Caetano foram,
tocaram, uma coisa fantástica, foi louco, porque neste festival metade das pessoas estavam nuas. Tinha
aeroporto pra UFO aterrissar, e era proibido atravessar a pista. Tinha que dar a volta, pois tinha cara cuidando.
Era a fina flor da maluquice, do delírio revolucionário de um mundo melhor hippie, de uma coisa onde o
microfone dizia: “Não comprem droga, tem droga de graça aqui na cantina e de boa qualidade, tem gente
vendendo droga de má qualidade”. E cheio de policia do exército. Nós tínhamos trazido a polícia e o exército
para fazer um treinamento de como é que se colocam 20 mil pessoas num caso de emergência, como é que
se cuida de 20 mil pessoas acampadas. Então, eles cuidavam do sistema de saneamento, de comunicação
etc. Eles estavam treinando e as pessoas no microfone falando as coisas... Foi um festival absolutamente
voltado para a cultura livre. Uma coisa que começa. Obviamente, o Festival de Glastonbury guina pra outro
lado. Hoje é uma coisa monstruosamente grande e extremamente comercial. Glastonbury é o maior do
mundo, até hoje, tem oito palcos, é uma coisa assim, monstruosamente grande. É o maior festival do mundo,
de longe.
H - Esses músicos que tocaram na Ilha de Wight e em Glastonbury eram de gravadoras?
C - Eram sim, mas em Glastonbury tinha gente de todo o tipo. Tinha gente de gravadora, mas tinha gente
também desconhecida, né? Mas Ilha de Wight era absolutamente gravadora. E aí, em 71 eu volto. Logo
depois disso eu volto para o Brasil.
H - Por que você voltou?
C - Na verdade, eu voltei pra me organizar aqui e me arrumar, porque eu tinha contatos com as rádios piratas
de Londres. As rádios piratas de Londres eram uma coisa fantástica. O nome “pirata”, inclusive, é confuso
pra muita gente. O nome foi dado porque na Inglaterra havia o monopólio do Estado. Não existia rádio
particular. Só tinha rádio do Estado, era a BBC e mais nada. E a briga ali era pra ter rádio privada, comercial.
A brecha que eles encontraram pra construir essa rádio foi ter colocado a rádio em alto-mar, em território com
transmissor potente, num navio em território livre, e transmitiam pra Inglaterra, onde ninguém podia ir lá. É
por isso que chama “pirata”, porque tava num navio. Não tem nada a ver com aquilo que se pensa hoje, né?
Mas eles tinham coisas muito interessantes. Algumas rádios se instalaram em Londres e, transmitindo a partir
93
de vans, com transmissor, andando. Eles tinham um sistema de detectar e era mais parecido com a ideia de
rádio pirata nossa aqui. Eu tinha um contato muito grande com esse pessoal, e resolvi vir pro Brasil arrumar
uma grana de patrocínio pra eu poder começar a produzir, a fazer um negócio, um programa de rádio lá com
algumas coisas. Aí sim, piratear coisas que estavam acontecendo e arrumar um jeito de um patrocinador
pagar isso aqui, botar na rádio o material que a gente tinha, que é material da fina flor das maluquices que
estavam acontecendo em Londres naquela época. Então eu vim para voltar pra lá. E acabei ficando, porque
não rolou. Acabei me envolvendo com o trabalho com Os Mutantes e foi isso que acabou me levando para a
Continental. Então, a minha rota agora é direta pra isso que você faz, eu me envolvo com Os Mutantes, que
eu tinha conhecido em Londres. O Peninha vem num show que eu fiz aqui que se chamava Rock no Infinito,
que eu fiz no Tuca.
H - Quando isso?
C - Isso foi no fim de 71. Minha mulher estava grávida do meu filho que nasceu em 72, portanto, fim de 71.
Eu faço um show que tinha o Néctar, que era uma banda que tinha o Bartô, um menino que se suicidou. Era
uma coisa fantástica, uma banda que tocou comigo... O menino se matou e a banda obviamente sumiu. E
tinha o Urubu Roxo, que era o pessoal do Zé Celso, do Oficina, tinha uma banda da África do Sul que apareceu
aqui não sei porquê e tinha Os Mutantes. Ah, não, além de Os Mutantes tinha a banda do 2222 do Gil, sem o
Gil, que era o Lani. O Lani eu conheço desde menino. Eu fui monitor de colônia de férias do Lani quando ele
tinha 10 anos.
H - Excelente musico.
C – É, eu conheço o Lani, toda a historia, acompanhei tudo, até a piração dele que, de novo, foi uma paixão
pela Rita Lee. Isso não é legal botar não, mas a Rita Lee destrói o Lani e destrói o Arnaldo. Ela destrói os
dois, há culpas nisso, mas os dois, apaixonados por ela, piram. E ela casa com um cara que a espanca (risos).
H - Nesse trabalho você faz esse show no Tuca com?
C - Eu faço o show com essa banda toda, e esse show foi organizado. Eu estava, nessa época, ligado ao
Bondinho, você conhece o Bondinho?
H - Uma revista? Alternativa?
C - É. Inclusive sai uma matéria no Bondinho, tem um livro, tá até aqui, ó: você conhece esse livro aqui? São
matérias do Bondinho.
H - Conheço, conheço...
C - Tem uma d’Os Mutantes que tem uma fala minha.
H - Ah, vou ver, vou ver! Eu não tenho o livro, mas na biblioteca tem. Eu já li um texto do Tom Zé...
C - Então, tem entrevista com todo mundo aqui, e tem uma com Os Mutantes exatamente dessa época, eu
propondo eles saírem pela estrada, porque não existia... A gente monta com Os Mutantes uma banda, On
The Road, a primeira, com uma equipe de roadies. O Peninha já tinha vindo trabalhar comigo. A nossa
empresa chamava-se “Sonhos Criações” - isso foi logo depois, antes de Sonhos, deixa só... Aí, o que
acontece: essa revista, esse show, era o braço de eventos da Revista Rolling Stones no Brasil. A Revista
Rolling Stones fez... um inglês conseguiu os direitos da Rolling Stones no Brasil. Saíram alguns números, e
a minha proposta era eu, que estava grudado com esse pessoal do Bondinho, junto com a Rolling Stones,
que era no Rio de Janeiro, começar a fazer uma série de shows como braço, digamos assim, desse
movimento underground no Brasil. E esse show é então uma colaboração com a Revista Rolling Stones
brasileira. Foi uma coisa antológica, muito louca, porque nunca tinha se montado um P.A, num palco, a
primeira vez que alguém viu uma mesa de 24 canais foi nesse dia. As pessoas viram aquilo lá, o Peninha
tava sentado na plateia assistindo o show, e veio me procurar depois. Foi um show que tinha várias bandas,
tinha a máquina de cheiro, tinham coisas acontecendo... Foi no Tuca, uma coisa completamente louca. Eu
tinha acabado de chegar de Londres e tava com isso tudo vivo. E no meio dessa aventura toda, com esse
show da Rolling Stones, a gente resolveu trazer o Yes pro Brasil. Foi o auge do Yes. E o baterista do Yes, o
Alan White, era amigo nosso, a gente tomava ácido juntos. Era amigo do Gil. Lembro dele sentado no chão
ouvindo discos brasileiros de música, pirando, conversando... ele tocou com o John Lennon. Como eu tinha
uma ponte com ele, o Alan White, e era uma ponte com o Brasil, porque ele tinha pirado com a gente, andamos
juntos durante um bom tempo. Eu procurei o Alan White pra propor a ele... a história é a seguinte: eu ligo para
o Alan White - foi complicado porque na época, pra fazer uma ligação internacional, era uma encrenca
fenomenal. As pessoas saudosistas dos anos 60 falavam: “Anos 60, que maravilha!” Era uma bosta! Tudo
era muito, muito, muito difícil, era uma merda total. Eu vivo falando isso pra molecada: “Hoje aí com tudo na
mão vocês ficam aí olhando pros anos 60 como se fosse uma coisa maravilhosa!” Hoje as facilidades todas
estão na mão. O maravilhoso é hoje, não é naquela época não. Bom, aí eu consigo fazer uma ligação, acho
o cara, porque achar o telefone dele... não tinha mais contato assim, não tinha celular, né? Não tinha internet,
tinha que achar o cara sabe lá onde, e acabo achando ele nos Estados Unidos. Ligo pra gravadora, pra todo
lado, e acabo conseguindo o telefone dele no meio dos Estados Unidos. Falo com ele, e ele me diz o seguinte:
“Cara, minha vida tá uma loucura, minha vida tá doida. Nós tocamos com três equipamentos: hoje eu toco
com o equipamento A, saio daqui, entro num avião ou no ônibus ou sei lá o quê, amanhã eu toco com o
equipamento B, o equipamento A desmonta, vai pro lugar D, e depois de amanhã eu toco no lugar C, com o
equipamento C e eu tenho que escrever num papelzinho em que cidade que eu estou porque, se eu acordo
de manhã, eu não sei mais onde eu estou. Minha vida tá uma loucura e o louco é que daqui a algum tempo
94
eu vou ter que produzir um outro disco que não sei como vai ser, eu não sei de onde tirar, porque eu não
tenho mais tempo pra porra nenhuma, estou nessa loucura”.
H - E ai você não consegue trazer o Yes?
C - Não, perai... E aí, eu digo para ele: “Não, eu tenho a solução pra você, cara: vem aqui pro Brasil, faz um
show de graça pra gente no meio das montanhas, eu te boto aqui em contato com uma porrada de coisas,
você sai inspirado pra caralho pra fazer um outro disco, que de repente vai se chamar Brazil, e você faz um
outro disco!”. E ele ficou doido: ”Vam’bora fazer!”. Eu falei: “Então tá, então vam’bora! Você conversa com teu
povo aí, porque a gente não vai fazer isso através dos canais normais de gravadora, temos que fazer isso a
partir do tesão de você fazer. Se você inflama tua gravadora e eu inflamo as possibilidades aqui, a gente faz
acontecer...” Eu tava, na verdade, tendo colocado Gil e Caetano no festival da Ilha de Wight, naquela época,
para mim o impossível já não existia mais. O que eu consegui descobrir na vida é que o impossível é possível
de acontecer. Pra mim, o limite já não existia mais porra nenhuma, porque essa história não existe. Como é
que você põe um cara que ninguém sabe quem é, num palco daquele tamanho lá? Porque ninguém sabia
quem era Gil ou Caetano, eles não estavam ligados à gravadora nenhuma, não tinha porra nenhuma, não era
nada. E eu, imbuído com esse negócio, aqui estava muito mais fácil do que botar eles na Ilha de Wight. Era
muito mais fácil fazer. E ai, eu junto as pessoas e comecei a prestar a atenção em onde é que eu ia fazer
isso. A Continental era distribuidora da Warner. A Warner no Brasil era a Continental. E aí, eu vou atrás do
Byington para trazer o Yes pro Brasil. Esta é como que eu chego no Byington.
H - Você não conhecia o Byington?
C - Não, nada! Eu vou lá dizendo assim: eu quero trazer o Yes pra cá. E aí o Byington não topa... O Byington
tá vivo?
H - Posso fazer um parêntese?
C – Pode.
H - Ele tá vivo.
C - Ele tá bem?
H - Eu não sei. Eu sei que ele reluta muito em falar sobre isso. Tem um colega professor da USP que faz um
trabalho junto comigo que já tentou entrevistar o Byington e ele reluta em falar. Eu falei com o Pena, falei
“Pena, vamos tentar sei lá, outro canal, outro jeito de tentar chegar nele”. Então, eu estou tentando falar com
ele. Gostaria muito, muito. Mas que lembrança você tem do Byington? Como ele era? Como ele levava a
gravadora? Você saberia dizer?
C - Eu sei te dizer isso porque foi uma coisa umbilical essa história. Eu perguntei se ele está vivo porque eu
tenho uma visão assim: o Byington não foi até onde ele podia ter ido com essa história. Ele segurou... Ele foi
um cara que, ao mesmo tempo em que acreditava, brecava. Ele não gozou com esse namoro que ele
construiu lá. Poderia ter sido uma coisa fenomenal e aí entra, por exemplo, o que aconteceu com o Secos e
Molhados, que foi um acidente de percurso. Eu fui aos estúdios, eu vi, assisti a gravação no estúdio aqui no
Scatena, onde eles gravaram. Ali, se vendesse 20 mil discos, era champanhe para tudo quanto é lado. 20 mil
discos era uma expectativa.
H - Vendeu muito mais!
C – Vendeu um milhão e ele não soube segurar a onda, nem o Byington, nem eles. Aquilo os desmonta
mesmo, porque não tinha eco pra este tipo de coisa. Mas no meu processo de construir com o Byington a
possibilidade de vir... Olha, eu digo o seguinte: esse processo do Yes vir pro Brasil, eu trabalhei muito grudado
n’Os Mutantes, ia ter Mutantes na história. Eu não fui, mas tinha lugar, hora marcada pra começar e tudo
mais. Isso, obviamente, meses antes desmontou. Era lá perto de São Thomé das Letras, um lugar aqui
distante de Rio, São Paulo ou Belo Horizonte. Era pra juntar a fina flor da contracultura pra ver o Yes de graça.
Neste dia, chega lá um bando de gente, teve um evento lá. Porque isso foi sendo espalhado de boca. E
funcionou, e foi lá, deu um... Acho que o Arnaldo foi. Eu não sei se o Sérgio foi, mas o Arnaldo eu lembro que
foi. Talvez o Sergio tenha ido, e eles fizeram lá, teve uma festa nesse momento. Mas o Byington transforma
esse meu tesão num negócio: vamos abrir uma empresa. A “Sonhos” era dele. Era uma coisa dentro da
gravadora. Ai, ele abre a Sonhos. Eu não sei se você viu o logotipo da Sonhos...
H – Não.
C - O logotipo da Sonhos foi feito pelo Claudio Ferlauto, um artista gráfico que eu fui colocar pra ele. Fui lá
um dia conversar com ele: “Olha tenho um negócio pra você”. E trouxe a palavra sonhos escrita nas mesmas
cores e letras do papel Colomy, que era a seda de enrolar baseado. E então, a Sonhos era aquilo... e virou a
marca. Obviamente, o Byington nunca soube que isso era isso. E a gente...
H - O Byington não era da contracultura, não era hippie...
C - Mas deixa eu te contar... Ele era um cara mais sério, mas nunca entendeu o que ele tinha na mão. Eu
acho curioso. Talvez ele tenha consciência do que não foi feito, não sei. Mas eu vejo que houve uma
conspiração aquariana naquele momento, eu acredito nas coincidências. Só acredito nisso. E trouxe pra
Continental o que poderia ter sido uma coisa extraordinária, e eu tava no olho do furacão nesse momento.
Ele quando propõe ações, ele diz que “tem uns caras vindo pra cá, eu quero que você cuide desses caras”.
Foram justamente Os Novos Baianos. Aí que eu entro na história d’ Os Novos Baianos. Foi aí que eu ia
colocar o Yes. “Ah, o Yes não vai dar, que não sei o quê”. Ele jogou um balde de água fria no Yes, mas me
propõe construir um negócio e eu tava partindo pra ideia de botar por detrás disso tudo um mundo, de construir
95
uma realidade rock’n’roll no Brasil, porque a gente tinha acabado nesse momento de passar pelo episódio
Mutantes. Tinha acabado de começar a banda, de começar a primeira equipe de roadies, a primeira equipe
de técnico de som, que era do Peninha, que justamente tinha uma equipe de road, que botava a caixa de som
dentro de uma Kombi e que andava por aí afora para tocar em lugares que não tinha lugar pra tocar. A gente
fez um negócio em Guararema que era justamente o que...
H - Guararema teve festival?
C - Festival nada, foi um show que eu fiz com ele lá, foi...
H - Não chamava Festival de Guararema?
C - Porra nenhuma... Foi um show d’Os Mutantes, eles tocaram sete horas sem parar, doidos de ácido, na
praça, uma coisa completamente louca. Eu estive em Guararema, as pessoas se lembram, foi uma coisa
mítica. O prefeito escreve uma carta e foi em plena época da ditadura. A carta do prefeito tá reproduzida aqui.
H - Vou rever esse livro...
C - Isso aqui é importante. O prefeito disse: “Só quem tem pacto com Deus pode trazer tanta alegria pra uma
cidade”. A carta dele está aqui, está reproduzida nessa matéria. E assinada pelo prefeito. E foi na época da
ditadura, estava todo mundo louco de ácido. Foi a primeira vez que o Sergio toma, ele nunca mais tomou
nada, o Sergio é um... Mas foi uma coisa memorável... Aquilo estava muito vivo nesse processo quando
entram os Novos Baianos. E aí, Novos Baianos estavam vindo pra São Paulo. Eles não quiseram assinar com
a Globo, com a Som Livre, o segundo disco, porque queriam se libertar daquela coisa, que não sei o quê. Eu
não participei da vinda deles pra cá, mas quando chegam aqui o Byington joga Novos Baianos no meu colo.
H - Como eles chegaram na Continental você não sabe, né?
C - Não. Não tenho a menor ideia.
H - O Byington chegou com eles lá... Por que tem uma historia de que o Byington pega um helicóptero e vai
lá no sitio...
C - Não, não é helicóptero. É avião, eu tava junto.
H – Desculpa. É avião, tem razão, eu falei helicóptero.
C - Isso, mas isso depois que já tava...
H - Ah, foi depois? Eu pensei que fosse para trazê-los.
C - Não, não, não... Eu tava no avião, eu tava com ele no avião... Era eu e ele e mais ninguém. A gente desce
no aeroporto de Jacarepaguá, vai ao sítio deles. O Byington pilotando, porque ele era piloto, era ele pilotando
o avião dele. E aí a gente faz uma reunião. Era todo mundo sentado no chão, tinha uma pilha de maconha
“desse tamanho” do lado de cada um. Para os Novos Baianos, o limite mínimo de maconha era dois quilos.
Quando baixava de dois quilos,... (pausa)
A ideia que o Byington tinha era fazer uma excursão, botar Os Novos Baianos andando pelo Brasil e a gente
faz essa excursão... O Pena deve ter falado dessa excursão. Mas o caminho que chega na excursão é esse.
É nessa a viagem de avião com o Byington pilotando que isso se fecha. E aí, eles vêm pra são Paulo. Vêm
morar aqui e eu tinha acabado de mudar pro meu sítio. Eu tava saindo de uma casa no Brooklin, que eu
empresto pra eles. Eles destruíram a casa, que foi a maior encrenca pra mim... Na hora de entregar a casa,
eu tive que gastar uma puta grana porque eles destruíram a casa. Eles mesmos têm uma... eu não sei se
você falou com eles...
H - Ainda não... É difícil, não consigo contato. Eu li o livro do Galvão, ele conta um pouco algumas coisas.
C - Eles, de uma forma geral, não gostam do que aconteceu nesse momento. Mas quem tem uma visão um
pouco mais interessante é o Paulinho Boca de Cantor. Ele tem uma visão mais... O Moraes rejeita, mas o
Moraes, ao mesmo tempo ele rejeita os Novos Baianos... Ele tem uma relação curiosa. Mas assim, voltando
pra esse momento... Nesse momento dos Novos Baianos, nós fizemos algumas coisas que foram, no meu
entender, fenomenais, mas não chegaram a ser o que poderia ter sido, também porque havia uma... o
Byington nunca soube direito o que ele queria. Ele tinha um imóvel, gigantesco, ali onde a gravadora tava
enfiada. Era um negócio ao lado do Parque Dom Pedro, ali na Avenida do Estado. Eu me lembro de que era
onde tinha inclusive a gráfica, onde tinha a impressora dos discos. Lá era um negócio gigantesco, e o Byington
na verdade, passou anos tentando construir uma coisa que ele não sabia o que era. Ele não tinha uma visão
daquilo que queria. Do ponto de vista daquilo que eu vi acontecendo lá dentro, ele não soube lidar com o que
tinha na mão.
H - Ele era um empresário, estava mais ligado nos números e tinha pouca sensibilidade para tratar com
produção musical, ou tô errado? O que você acha?
C - Ele tinha uma vontade de ser, de fazer algo que ia além daquilo das gravadoras, mas quando chegava no
meio do caminho, ele ficava com medo e brecava.
H - Aquilo era do pai dele, né?
C - Aquilo era da família dele. Ele era irmão do Paulo Egydio, que foi Governador de São Paulo. Desculpe,
irmão não, era casado com a irmã dele...
H - Cunhado.
C – Sim, era cunhado do Paulo Egydio. E tinha uma família por trás... Eles tinham terras enormes ali, entre a
Anhanguera. Inclusive faziam vizinho (vizinhança) com terras da minha família, coincidentemente. E ele... Ele
teve na mão uma coisa com a qual não soube lidar. E eu fiquei na fronteira disso, porque teve o... quando eu
me desencantei com essa história, que vi que esse negócio não tava indo pra onde eu queria, eu fiz como
96
sempre fiz na minha vida: eu fui arrumar outra turma, mas continuou acontecendo uma série de coisas lá.
Teve a ligação e essas duas coisas fui eu que ajudei a colocar lá dentro. Teve a época do Wilson Souto, sabe
quem é?
H – Sei.
C - O gordo...
H - Tô tentando falar com ele, mas ainda não deu certo.
C - O Wilson, eu também tava grudado neles aqui, no Lira Paulistana. Participei diretamente no Lira
Paulistana, direto nessa história toda lá. Ele é um cara muito estranho porque era ligado ao Calim Eid, que
era o cara que era grudado ao Maluf. E ele foi o braço, digamos assim, depois, ligado ao Maluf, que é uma
coisa completamente louca na vida desse cara. Mas o Lira Paulistana foi um momento também bem louco,
de coisas que aconteceram ali...
H - Mas isso foi depois, né?
C - Mas eles foram parar na Continental também, mais tarde, mas ele também passou pela Continental. E o
Pena antes e ele depois.
H - O que você fazia na Continental?
C - O que eu estava fazendo lá era montando um braço de shows, de operação de shows, para lidar com o
mundo do rock. Isso era a Sonhos...
H - Então passou por você O Som Nosso de Cada Dia?
C - Claro, eu fiz show com O Som Nosso de Cada Dia...
H - O Ponto Perpétuo...
C - O Ponto Perpétuo... Águas Claras... Eu fui diretor de palco do Águas Claras e foi o Peninha que operava
o som.
H - Foi em 76?
C - Mas eu quero te mostrar uma coisa que fiz antes... Não, não, logo depois, fiz em 78... Acabaram de botar
um clipe disso, no meu sitio, onde o Emilio tocou.
H - Vou falar com ele agora à tarde...
C - O Emilio virou meu amigo anos depois, eu não conhecia o Emilio na época... É um grande amigo, uma
figura interessante. O cara que produziu o disco dele lá era um critico, o Moracy Duval, ele não tinha nada a
ver com nada disso.
H - Quem era o Moracy Duval, o que ele fazia?
(pausa)
C - A ideia ali era começar, era dar chão, dar território para esse mundo rock’n’roll que estava nascendo, lidar
com isso de outro jeito. Isso era o que estava na minha cabeça, e eu não consigo emplacar isso e não ter
lucidez naquele momento, naquela época, e nem determinação suficiente para convencer o Byington de partir
para uma coisa radical com outra lógica. Sobretudo porque o Byington queria grana, queria botar a
Continental, fazer dela uma coisa rentável, funcionando, dando certo, e ele, entre o que eu tava tentando
fazer e o que ele tava tentando fazer, existia uma coisa comum, mas nunca houve um entendimento mais
profundo de como isso poderia ser radical. E ele então quer construir uma gravadora do século 20 e eu já
tava querendo desconstruir a ideia da gravadora. O digital ainda não existia e na verdade foi por conta dessas
coisas todas que me aconteceram que eu mergulho no digital, porque quando o Gil virou ministro, eu cuidei
das políticas digitais. Enfim, mais ou menos esse é...
H - E você sabe dizer de quando a quando você ficou na Continental? 71?
C - Acho que foi um ano, um ano e pouco, não foi muito tempo não. Mas o Peninha fica, né?
H - Mas o Peninha fica, acho, que uns 10 anos...
C - Depois ele fica, essa é a tirada do Peninha na história. Ele entrou comigo, acho que muito no esquema
de “o Cláudio é muito louco, vem cá, vamos tentar botar uma coisa mais realista”. O Peninha herda essa
maluquice toda, e ele tenta botar ordem na casa, mas o começo da história é essa. A gente teve um galpão
na Rua Ouro, que era uma coisa do Byington, onde a gente se instalou. Era fora da Continental, onde a gente
começou.
H - Em Pinheiros, né?
C - Não, era uma travessa da Estados Unidos, numa ruazinha sem saída que dava atrás do Carrefour, da
Pamplona... Ouro Fino, Ouro Branco, não sei...
H - O Pena acho que falou isso aí... Vocês focavam ali, ali era o escritório da Sonhos.
C - Sonhos Criações Artísticas e Ambulantes. O Byington falou pra mim: “Não, sem Ambulantes”, e eu disse:
“Não, sem Ambulantes eu não topo” (risos). Sonhos Criações Artísticas e Ambulantes. E ele topou.
H - Faz muito tempo que você não o encontra?
C - Ah, eu nunca mais vi o Byington. Nunca mais estive com ele.
H - E você falou do Secos e Molhados, que você viu as gravações... Que memória você tem deles, como é
que era o grupo?
C - Eu não tive nenhum espetáculo com eles a não ser assistir umas duas vezes porque eu estava no estúdio
- eu nem lembro o porquê, mas fui lá ver o Secos e Molhados. Fui ver aquela história. Eu me lembro do
Moracy Duval, meio cochilando, meio dormindo no meio de uma gravação que eu fui. Para mim foi uma
surpresa como foi pra todo mundo o que aconteceu com o Secos e Molhados. É interessante, você vai ter um
97
ponto de vista obviamente muito mais denso disso com o Emilio, né, que no final das contas viveu isso tudo
e tem uma relação muito boa com o Ney até hoje. Eu inclusive o ajudei nessa última gravação que ele fez.
Eu fiz a aproximação com o Gil, eles gravaram o “Se eu Quiser Falar com Deus”, recentemente, com o Emilio
no piano e o Ney cantando. Tem ainda outro episódio que eu não falei. Nessa época de Novos Baianos, da
excursão, que seria, digamos assim, se tivesse isso dado resultado, financeiro, teria sido o começo de uma
Sonhos mais pragmática, mais realizadora. Mas eu me lembro que o que aconteceu foi que quem fechou o
show foi alguém que eu não sei nem que é. Na verdade, o que tava errado na Sonhos foi não ter dado
autonomia pra Sonhos reinventar o que estava acontecendo. Eu tinha feito esse show do Rock no Infinito no
Tuca, algum tempo antes disso, que lotou o Tuca, transbordou o Tuca até a última... Tinha a porta aberta,
gente no meio da rua assistindo, e não tinha nenhum veículo pra divulgar, não tinha um tostão pra divulgar,
não tinha porra nenhuma, foi só o boca-a-boca. Teve um moleque no dia, pra mim essa história é antológica
dos primórdios do rock brasileiro, isso tudo é primórdio do rock brasileiro: eu chego de manhã pra montar o
show no Tuca, e tem um moleque de mochila sentado nos degraus do Tuca, às sete da manhã do dia do
show, perguntando se era o show dos Rolling Stones. Eu falei: “É, é o show dos Rolling Stones, é aqui”. “Tem
lugar, tem ingresso?” Eu falei “Tem, tem ingresso”. O ingresso ainda nem tinha chegado, não tinha vendido
ainda nenhum. Não tinha nem ingresso na bilheteria, não tinha nem aberto anda. Eu falei: “Não, tem sim”. Ele
falou “Nossa, que legal, mas onde é?” Eu falei: “Não, não, perai... ainda não abriu aí”. E aí eu comecei a achar
estranho e acabo descobrindo que o moleque, que tinha 15, 16 anos, fugiu de casa, no Rio de Janeiro, para
ver os Rolling Stones, o Mick Jagger, aqui em São Paulo. Era isso que tinha chegado lá na orelha dele. Show
dos Rolling Stones! O cara foge de casa, pra vir ver o Mick Jagger em São Paulo, no Tuca, em 1971, imagina!
Isso era, na verdade, um poder que esse negócio tinha, que essa questão tinha: a possibilidade que se
continha era muito forte. E não se realiza. Eu tenho hoje a convicção de que tudo isso que se começa e não
começa no mundo do rock, não só no Brasil, porque o rock existiu pesado em outros lugares, mas esta visão
contracultural do rock como trilha sonora de outro mundo possível, o sonho hippie de mudança política e
cultural do planeta, começa a se realizar agora, com a possibilidade da comunicação digital transcender o
poder da mídia careta. Fica mais pesado que isso. E hoje, não por acaso, estou completamente envolvido
com os Ninjas. Ajudei a inventar esse negócio da Mídia Ninja. Isso pra mim é o resultado de todas aquelas
coisas que a gente começou a tentar a fazer ali e acabou não dando certo, porque no fundo, a comunicação
de boa, que era possível naquela época... Hoje tem um vento que leva isso muito mais longe e que se chama
internet. Tem um vento que propaga essa forma horizontal de fazer as coisas que não tinha na época, mas
foi o suficiente para lotar o Tuca. O cartaz era feito pra ser roubado, porque era feito para ser recortado, fazer
uma caixinha dele e botar um algodão dentro. Você abria a caixinha e era um céu e uma nuvem. E o cartaz
era roubado, roubado, a gente punha o cartaz lá de novo e o cartaz era roubado... E se espalha o cartaz que
era feito pra ser roubado. A gente cola e as pessoas tiram porque era divertido, era pra ser recortado.
H - Voltando à Continental, você teve contato com o Tom Zé lá?
C - Não.
H - E com o Walter Franco?
C - Eu tive contato com o Walter, mas muito pouco, eu não tive contato direto com ele, não.
H - O Emilio chegou a tocar com ele né?
C - Sim, teve uma gravação lá.
H - Você conheceu um músico chamado Rodolpho Grani?
C - Sim, era baixista.
H - Tocou com o Walter Franco...
C - Sim, conheci.
H - E eu tenho aqui uma relação de nomes, que eu peguei dos discos desses artistas da Continental. Você
quer dar uma olhada pra ver se você lembra de alguém, se você tem contato?
C - Bom, o Emilio, com certeza.
H – É, o Emilio...
C - César Benvenuti, esse era um técnico, que era amigo meu; o Rogério Duprat, éramos amigos, inclusive
coincidentemente morávamos perto do Brooklin e eu comprei um sítio em Itapecerica e ele comprou também.
Quando eu fui contar pra ele que eu tinha comprado um sítio em Itapecerica, ele falou “eu comprei também”.
Quando fomos ver, éramos vizinhos aqui e viramos vizinhos lá.
H - Infelizmente falecido, né?
C – É. O Sion é meu amigo.
H - O Sion eu devo conversar com ele no Rio de Janeiro. Eu estou pra ir pro Rio para um trabalho, e quero
ver se eu consigo falar com ele. Eu já falei por e-mail com ele. Você falou do Paulinho Boca de Cantor?
C - Ele tá na Bahia. Ele mora no interior, não vejo ele há muito tempo, mas o Paulinho é porque na verdade,
quando você olha para os Novos Baianos, a história dele no Novos Baianos é toda muito louca. O Moraes...
H - Que faz sucesso e tal...
C - O Moraes, que tem vocação, digamos assim, de gravadora, detesta o que acontece com a Sonhos, porque
a Sonhos puxava pra uma pós-gravadora, na verdade, no sentido de criar uma outra coisa. Como ele... Mas
o Paulinho, que era um cara que se mantém em Novos Baianos, me parece, até hoje com o que seria o Novos
Baianos...
98
H - Ele não veio pra São Paulo, né?
C - Não sei, os filhos dele andavam por aqui há uns meses. Eu não sei, eu não tenho mais contato com eles
assim. Dessa turma toda, assim eu não sei a cabeça dele como é que tá. O Dadi era um cara que sempre
gostei muito. Mas acho muito louco o que aconteceu com a Baby... A Baby virou uma... É muito louca essa
coisa da Baby. Eu acho assim, eu vejo assim: sempre as pessoas não preparadas para o que chegam num
determinado lugar e depois não conseguem avançar numa linha, aí acontecem essas maluquices. Lobão pra
mim é isso, Baby, de outro jeito, é a mesma coisa que o Lobão. Vejo vários deles, o próprio Mano Brown
chega num momento de vida, um cara importantíssimo para romper com a forma absurda de se lidar com as
periferias, hoje ele tá no conflito. Ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa de não sei o quê, ele não sabe se
vai ser artista pra ele ganhar. Como é que ele faz agora que ele já ta com 40 anos, que ele precisa de não sei
o quê blá blá blá? Eu vejo que é muito recorrente na música brasileira pessoas que não conseguem... Algumas
exceções, né? O Gil, obviamente, que vira ministro e faz e muda a cara da cultura, do Ministério da Cultura e
da Cultura da Vara Brasileira. Da percepção do que é lidar politicamente com a cultura brasileira de uma
forma extraordinária no Ministério. E eu fiz parte desse trabalho todo, mas vejo muito dessa o que poderia ter
sido uma potência na Continental, em torno daquela coisa toda. Eu me lembro de uma conversa de um cara
que era presidente... Como é que chamava a outra gravadora deles lá? A Continental tinha duas gravadoras,
tinha a Continental e tinha a...
H - RGE?
C - Não. Que eles compraram na época, a...
H - Copacabana? É, a Continental comprou outra... Não foi a RGE?
C - Não, não foi a RGE não.
H - Eu tenho essa...
C - Era um espanhol que presidia lá e eu tive umas conversas com ele. Eu lembro que ele olhava pra mim
como se eu fosse o cara de quem eles tinham que se livrar, porque eu estava, na verdade, fuçando e
buscando um outro caminho. Eu já entendi naquela época que aquele caminho de gravadora era um caminho
furado. Eu não tinha a clareza que eu tenho hoje, claro, mas engenharia reversa é uma coisa fácil de fazer.
Eu não tinha os caminhos, mas já percebia aquilo. E isso produziu muita confusão na cabeça de muita gente.
As confusões estão colocadas aí e existe hoje um renascimento dos caminhos da música, acontecendo agora
de uma forma que pra mim parece muito interessante. É fruto de toda essa inquietação desse momento. Mas
não tinha maturidade de lado nenhum naquele momento pra dar continuidade a uma coisa que um embrião...
ali foi uma espécie de aborto, né? Houve uma gravidez na Continental que não resultou num parto.
H - Deixa eu te perguntar, já finalizando. A Continental depois foi vendida, no começo de 90, se eu não me
engano, uma coisa assim. Porque você acha que a Continental não foi pra frente? Teria assim uma avaliação,
uma ideia?
C - Eu acho que o Byington não era um administrador de gravadora tradicional, embora acho que ele gostaria
de ter feito isso, de ter sido. O que a Continental tinha na época era assim, me deixa falar isso de outro modo...
A Warner, por exemplo, no Brasil, com toda a potência dela, não consegue se estabelecer. Parece um selo,
não parece uma gravadora. Eles não tinham distribuição, eles gravam. Eles tinham um selo, eles tinham uma
coisa... A Continental tinha um parque industrial inteiro a sua disposição. Fabricavam os discos, e eles
prensavam, eles tinham gráfica, eles tinham a máquina que produzia a capa do LP.
H - Rolava o processo de ponta a ponta.
C - Controlavam o processo de ponta a ponta. E poderia ter sido uma potência. O Byington gostaria de ter
sido um grande empresário. Acho que a relutância do Byington em falar é porque ele não conseguiu. Ele
enxerga aquilo como... Eu acho que ele é uma espécie de ovelha negra da família, tenta juntar tudo e não
consegue. Ele não consegue fazer acontecer, e enfim, não acho que... A minha sensação é essa, ele ficou
no meio do caminho entre uma gravadora tradicional que ele não consegue fazer, e que poderia ter tudo, um
departamento, um pedaço dessa gravadora voltada pra um negócio que estava nascendo que era o rock’n’roll
brasileiro, a contracultura brasileira.
H - Uma outra curiosidade sobre a Continental é que era uma gravadora com muitos artistas de música
regional, sertaneja, samba e tal... E o que vocês fizeram foi apenas um nicho de música, um tipo de música,
nicho de gosto... Você não trabalhou com os outros, com essas outras?
C – Não.
H - Você só tentava abrir esse caminho na Sonhos pra esses músicos?
C - Não, eu não tava dentro da gravadora. Eu estava abrindo uma coisa nova na Continental, que acabou
como todas as outras coisas que eu acho que eles fizeram, começou a derrapar no mesmo caminho.
H - Mas os discos não tinham muita venda, muita saída? Os discos com os quais você trabalhou, por exemplo,
sei lá, Novos Baianos?
C - Então, mas é isso que eu digo, eu não estava ligado ao disco, eu estava ligado ao show... Era isso que a
Sonhos se propunha a fazer. Eventualmente, gravar com os artistas que a gente estava lidando também era
um caminho, mas isso acabou não... A minha época foi só o começo de uma coisa que depois degringola. Eu
acho que o pretexto que você precisa era só a gênese dessa história. Eu tava lá, mas era...
H - Pra mim é fantástico.
99
C - Não é uma coisa que resultou, então depois que eu saio, aí obviamente tem mil coisas que acontecem lá,
mas esse primeiro momento é interessante, essa viagem de avião, o Byington dirigindo, chegando lá aquele
monte de maconha, aquele bando de gente sentado lá, aquilo foi uma coisa fantástica.
H - Pra você talvez não, mas pro Byington talvez tivesse sido um susto, sei lá.
C - Ele tava tranquilo lá. Ele ficou tranquilo lá... Eles quiseram exibir aquela quantidade de maconha ali. Aquilo
teve uma coisa cênica, né? Acontecendo lá, aquilo foi cênico, e é curioso porque eu vejo hoje em muitas
coisas que derivam dessa época, desse momento.
H - Mas enfim, acho que é isso, né? Pô, Claudio, acho que já foi o principal.
Entrevista com Emilio Carrera
São Paulo, 30 de agosto de 2013
Realização: Herom Vargas
Herom – Só para início, me conta um pouco da sua história: quando é que você nasceu, onde você nasceu?
Emilio – Bom, eu sou paulista, tenho formação clássica erudita de piano, estudei 13 anos praticamente
consecutivos, e em seguida...
H – Em que ano você nasceu?
E - Eu nasci em 48. Em seguida surgiram os Beatles, quando eu era bem jovenzinho, e a partir daí eu já
guinei para a música. Já estava com ela, claro, estudando, e tinha, porque minha mãe era pianista. Ela era
concertista. Ela era considerada a primeira concertista de música clássica espanhola no Brasil, porque minha
família é espanhola. Então, eu tinha toda essa coisa com a música desde que nasci. Comecei a tocar e
quando eu tinha acho que 14, 15 anos, e surgiram os Beatles. Foi uma bomba na minha vida. E a partir daí
eu comecei a tocar. E comecei já a me deparar com toda a realidade do país naquele momento, que era a
ditadura, eram aquelas dificuldades que a gente tinha para se expressar. Existia uma diferença violenta entre
o que era, em termos de musica, de hábitos, de costumes, pra aquilo que nós passamos a representar, que
era uma coisa bem autêntica, bem genuína, apesar de haver as influências internacionais, que funcionavam
pra gente mais como uma injeção de força, de determinação, que a gente tinha meio... nós éramos bem
tinhosos. Eu digo uma faixa de músicos da época atuantes, que eram bem jovens e tinham uma força
transgressora muito grande. E a gente se deparava com a ditadura e aquilo, em vez de intimidar, dava mais
força. E a gente saía por aí tocando e pregando liberdade de verdade. Então foi mais ou menos assim que
eu comecei.
H - Nos festivais da Record, 66, 67...
E - Isso, os festivais eu não só assistia como participei de alguns. Não da Record especificamente, mas
participei da Tupi, que veio em seguida com os festivais dela, que chamavam, se eu não me engano, Feira
Popular de Música Popular Brasileira. Inclusive, eu tive a honra de fazer o lançamento e defender uma musica
100
do Jorge Ben, que ele fez especialmente pra aquela época, para aquele conjunto que se dizia antigamente,
que eu tinha, inclusive com o Rodolpho Grani. Era “Que Maravilha”. “Lá fora está chovendo (...)” ele fez pra
gente e a gente lançou cheios de história, com um visual diferente. Tínhamos duas baterias, então eram várias
coisas que saíam do padrão. Então, peguei de certa forma os festivais, e principalmente os Festivais
Internacionais da Canção, com o Augusto Masagão na direção, que era da Globo. E aí, nós defendemos
musicas do Danilo Caymmi, dando uma roupagem também na época, “jovem”. E as pessoas procuravam
muito a gente porque a gente tinha essa linguagem.
H - Você saberia definir o que é essa linguagem do jovem nessa época?
E - Sim, consigo.
H - Em 70...
E - Foi isso, início de 70. É assim: primeiro não era uma atitude melancólica, uma atitude romântica. Não era
uma atitude de dor de cotovelo, com aquele amor sofrido que tinham nos sambas-canções da época. Nada
contra, era uma expressão, mas era muito aquilo. Então, existia uma tristeza no ar. E a gente queria colorir o
mundo. E isso era, principalmente, a coisa mais forte da época da nossa musica, que era uma coisa colorida
em cima daquele cinza que existia. Existia uma tristeza e na medida em que você enfrentava isso, você era
condenado, porque as pessoas tinham medo da mudança. Eu acho que foi praticamente isso e,
principalmente, em termos musicais, foi uma pegada mais forte, mais assumida. Como a gente diz e eu digo
até hoje: a gente não apalpava, a gente se expunha. Então, quando a gente errava, todo mundo via. Era essa
coisa muito autêntica, era uma atitude mesmo de se colocar de verdade.
H - E você falou que estudou música... Em alguma escola?
E - Eu fiz um pouco no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, mas era uma coisa que me enchia
muito, porque era muito tradicional, e você não tinha acesso. E era aquela coisa, era também muito triste, a
verdade era essa. Desde pequeno eu sentia uma atração pela música, nem por ter escolhido, mas era uma
coisa que já veio comigo. Nem escolhi: “vou ser músico”. Foi indo. Até postei recentemente no Facebook, que
eu recebi de um amigo, um filme que eu vi com minha mãe. Quando eu comecei a querer estudar, minha
mãe, por ser pianista, eu sempre falava com ela e falei que queria estudar acordeom. Porque naquela época
tinha os regionais, e os regionais tinham alguns que tinham acordeom. Depois, veio até o Caçulinha. E minha
mãe falou: “Você quer mesmo estudar acordeom?” Eu falei: “Eu quero”. “Então vamos ver um filme comigo”.
E nós fomos ver À Noite Sonhamos, que era a vida de Chopin. E eu recebi esse filme semana passada de
um amigo, e foi um presentão, porque nesse filme é que eu saí do cinema com a minha mãe chorando no
final porque o Chopin morreu de tuberculose. Tinha todo um drama no filme, que era uma golfada de sangue
em cima do teclado enquanto ele tocava Polonaise, que ele tinha feito para a Polônia e a Polônia não queria
que ele voltasse, não aceitava mais ele por problemas políticos. E eu fiquei todo emocionado. Era menino,
tinha oito, nove anos, e a partir daí decidi tocar piano. Então, comecei a estudar com ela, fui um pouquinho
para o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e depois, como eu digo, caí na vida total.
H - Seu pai também era músico?
E - Não, meu pai não.
H - E quando você “caiu na vida”, você tocou onde?
E - De cara, fui tocar na noite e num lugar muito legal, que era o Beco, o Beco antigo, que era na Bela Cintra.
Era uma das casas mais bacanas de São Paulo.
H - Muito músico passou por lá.
E – É, muitos bons músicos passaram por lá. E nós ficamos lá um ano, um ano e pouco, praticamente toda
noite tocando, com carteira profissional assinada, ganhando bem e descobrindo o prato do momento, que era
demais. Eu comia toda noite aquilo, que era o estrogonofe. O famoso estrogonofe! Foi lá que eu conheci e
que de repente entrou em São Paulo o prato estrogonofe.
H - Hoje é carne de vaca.
E - Hoje é, literalmente... (risos). Mas foi no Beco.
H - Interessante isso, né? As pessoas não falam muito, mas os músicos, sobretudo na sua época, ou até um
pouco antes, circulavam por vários bares em São Paulo, restaurantes, tocando, e ali se formaram gerações
de músicos.
E - É, o pessoal da bossa nova...
H - Aquele pianista que faleceu...
E - Moacir Peixoto?
H - Não...
E - Bem, todos passaram por lá. Cesar Mariano, Hamilton Godói, todos os pianistas.
H - Essa história pode ser contada também, né? Isso aí não tá contado por aí, né?
E - Não.
H - Que coisa... Vê como há brechas pra você contar algumas histórias que as pessoas quase não sabem?
Hoje não é espaço de um músico novo trabalhar e crescer. Difícil, né?
E – É, hoje não é.
H - Então, quer dizer, é uma história boa pra ser contada e não está contada.
101
E - É, e tinha um drama aí. Tinha um alto drama, que eu não só vivenciei isso como também presenciei várias
cenas que eram de um preconceito muito grande entre os músicos: os músicos de jazz e bossa nova de um
lado e os músicos dos jovens, da guitarra, do iê-iê-iê, do outro. Eles não nos aceitavam.
H - Você assistiu?
E - Assisti e vivi isso. O Simonal, por exemplo, me pôs em cheque pra saber se eu sabia as harmonias, se eu
sabia tocar outra coisa. Porque aquilo, entre aspas, “não era muito música”. Porque não era só musica, a
música vinha com uma bagagem atrás, de representação, né? Existia muita representação. Política, social,
de cultura, costumes, hábitos. Então a coisa chocava um pouco. Já começava pela roupa e pelo cabelo: eu
tinha o cabelo na cintura. Minha mãe saía correndo atrás de mim pra cortar e eu escapava! Orgulhosamente
escapava!
H - É, mas era aquela coisa da época, né?
E - É.
H - E como você chegou aos Secos e Molhados, como que foi?
E - Bom, aí eu já tinha um grupo. Comecei, como disse, tocando num conjunto que passou por alguns nomes.
Inicialmente, eram Os Malucos, (já começa pelos nomes), que é legal, né? Eu tenho o maior orgulho porque
já é uma coisa transgressora pra aquela época: Os Malucos, nós éramos Malucos. De maluco não tinha muita
coisa, mas tínhamos uma posição de enfrentamento. Depois virou Grupo Sete, depois virou O Bando. Com
O Bando ele teve mais visibilidade, que foi com o Rodolpho Grani.
H - É, o Rodolpho me falou d’O Bando.
E - É, Diógenes Burani, Dudu Portes, Marisa Fossa, Paulinho Paul de Castro, e Américo Issa. E nós fizemos
coisas interessantes pra época.
H - Paul de Castro tocava com Os Mutantes uma época...
E – Isso! Tocou no Veludo Elétrico no Rio de Janeiro, ficou muito tempo com o Lulu Santos, depois passou a
tocar violino, tocava bem, com uma atitude mais pop, de mais pegada e tal. E então, tínhamos esse conjunto,
O Bando, e ele acabou se desfazendo naturalmente. Cada um foi seguindo sua linha.
H - Desculpe, os integrantes eram você, Rodolpho, Diógenes Burani...
E - Dudu Portes, que tocou com a Elis, entre outras coisas, e toca hoje com o Renato Teixeira. Eram duas
baterias. Dois excelentes bateristas. No vocal, a Marisa Fossa, que morava no Rio e infelizmente sofreu um
acidente há dois anos em que acabou falecendo, foi atropelada na calçada, uma coisa absurda, mas ela era
uma excelente cantora. Cantava no Rio de Janeiro com Chico Buarque, fazia muitas gravações...
H - Fossa com dois esses?
E - Sim, dois esses. Tinha o Américo Issa, que acabou entrando no Dzi Croquettes; a filha dele, que eu sou
padrinho dela, Tatiana Issa, foi criada nos bastidores do Dzi Croquettes, por isso que ela fez esse
documentário, ela dirigiu.
H - Eu assisti esse documentário, tem depoimento dela...
E - O pai dela era o Américo Issa, que era o guitarrista do Bando. Você vê que todo mundo teve um caminho
interessante.
H - Mas no Dzi Croquettes ele fazia a iluminação...
E - Ele fazia cenografia e iluminação, e acabou sendo praticamente um dos diretores porque tinha uma veia
artística muito forte. Você imagina que ele foi contratado pela Globo para fazer efeitos especiais em novelas...
E ficou muito tempo na Globo, porque ele tinha essa coisa manual, visual e era cantor, tocava guitarra
também. Só que no Dzi Croquettes ele funcionava mais assim.
H - Com vocês, guitarrista?
E - Guitarrista e cantor. O Bando tinha sete vozes cantando e a gente se espelhava muito na época em
(The)Mammas&(The)Papas, aquele estilo vocal que era muito bonito. Enfim, aí era O Bando, e d’O Bando
naturalmente as coisas foram tomando outro rumo, as pessoas, e eu fui também, naturalmente, pra um outro
lado que eram os Beat Boys. Os Beat Boys eram uma banda maravilhosa de rapazes argentinos de Buenos
Aires que vieram pro Brasil com a promessa de que aqui era melhor que lá. E eles eram excelentes músicos.
E eram uma banda, um conjunto pop argentino e que deixou muita gente aqui maluca, inclusive o próprio
Caetano chamou os Beat Boys para acompanhar ele no Alegria Alegria. Você deve saber dessa história. E
eu acabei ficando com eles, porque eles gostavam muito de mim e eu também deles. A gente acabou fazendo
vários trabalhos de música. Tocávamos muito à noite, com a postura de fazer uma música bem de vanguarda
mesmo. A gente começava a tocar e não sabia o que ia tocar; alguém propunha alguma coisa musical e nós
ficávamos tocando meia hora, quarenta minutos sem parar, e indo, vendo o que dava. Que é uma coisa que
hoje em dia não se faz, né? Naquela época, se fazia muito isso e com excelentes resultados, porque era
bastante experimental. E, além disso, tocamos em vários musicais, como Hoje é Dia de Rock e A Viagem,
que era no Teatro Ruth Escobar. Um dos figurantes da peça, que tinha um elenco de 72 pessoas...
H - Ruth Escobar?
E - É, naquela Rua dos Ingleses. Aquele que você desce a escada e vai descendo, descendo lá embaixo e
aí você sai num tubo enorme, grande, e tinha uma nave transparente, que subia e descia no meio. E lá foi
que a gente conheceu o Ney. O Ney era um dos figurantes. Ele falaram que eles tinham um trio e se a gente
queria tocar com eles, já que eles não conheciam direito, não tinham experiência da música e nós já éramos
músicos. E aí começou o Secos e Molhados. Eu tinha 20 anos.
102
H - E como é que foi essa experiência de tocar com o Secos e Molhados? Foi um grupo que eu não me lembro
na época algo do gênero: uma pessoa como Ney Matogrosso, uns caras pintados, rebolando, uma coisa
assim... Como é que você via a reação nos shows ou até da imprensa, como que era essa recepção?
E - Eu acho que vale dizer que, do aspecto pessoal, foi muito significativo e reforçou tudo aquilo que eu
achava. Porque o Secos e Molhados acabou solidificando tudo aquilo que eu tinha feito anteriormente, só que
de uma maneira underground. Lá a coisa se tornou pop, vendável, sucesso no Brasil inteiro, é tido até hoje
como um dos maiores sucessos da música popular brasileira. Então foi fantástico, foi maravilhoso... Foi curto,
né? Foi um ano e alguns meses, e nesse tempo nós experimentamos um sucesso absurdo. Por exemplo,
antes, nós éramos perseguidos pela polícia. No Secos e Molhados, os policiais nos levavam até o hotel (risos).
Era ótimo! Um olhava para a cara do outro e falava: “Tá vendo?” Por quê? Porque antes, nós ficávamos de
madrugada andando por São Paulo, a maconha tava chegando e a maconha vinha com essa visão diferente...
H - Mas o receio da polícia era esse?
E - Sim, porque maconha, num primeiro momento, era político. A gente representava um perigo pra eles. Na
época dos Secos e Molhados, eles tiveram que nos aceitar, porque inicialmente nós fomos perseguidos. Aí,
o próprio Ney foi preso, e quando perceberam que era ele, tiveram que soltar. Se naquele momento ele não
fosse um sucesso, eles teriam sumido com o Ney, porque ele, além de tudo, era uma figura que transmitia
liberdade sexual violenta, assumida. Sexualmente assumido e bissexual. E ele tornava isso público. Era muito
perigoso do ponto de vista de militares. Então, quando eles viram que não tinha jeito, eles tiveram que nos
aceitar. Juntando todas essas coisas, eles pegavam a gente no aeroporto e nos levavam até os hotéis...
H - Que situação! E como foi a parte de criação musical com o grupo? As composições, uma parte era do
João Ricardo, né? A outra, parceria... com o Conrad, com os poetas, que o João Ricardo pegava a letra, o
poema. E na parte de criação do arranjo, entravam vocês, obviamente. Era você, o Willy Verdaguer...
E - Marcelo Frias, que era dos Beat Boys, e ele tá em Florianópolis hoje; o Gripa, que era um flautista do Rio
de Janeiro; e John Flavin, guitarrista. Éramos nós. O Marcelo, baterista, era dos Beat Boys; o Willy Verdaguer,
dos Beat Boys, os argentinos que acabei de dizer; eu era, vamos dizer, pós-Bando; e o John Flavin vinha do
Patrulha do Espaço, que era uma banda do Arnaldo Baptista. O Gripa era um músico do Rio de Janeiro, tinha
um trabalho lá, não era assim tão, tão, começando lá... Era bem musical. E aí tinha o Secos e Molhados, que
essa banda era desse musical, do Teatro Ruth Escobar. E os arranjos, por nós termos na época já experiência
dessa linguagem, e por ter uma personalidade musical muito forte (éramos muito assumidos musicalmente,
em todos os sentidos, né?), corríamos riscos 24 horas e a gente sabia disso. Nós pegamos as musicas do
João Ricardo e naturalmente foi um casamento perfeito, porque o João não sabia como isso iria soar grande.
Então, a gente teve algumas adaptações, uma coisinha aqui e outra lá, mas houve uma coisa muito forte que
se juntou a fome com a vontade de comer. E especialmente digo até isso assim, com muito orgulho, que não
é nem uma coisa minha, mas o talento do Willy Verdaguer pras linhas de baixo, que definiu muito os Secos e
Molhados: ele é quem inventou isso e milhares de outras coisas. Várias, e é tudo dele... Então, o João
escutava e falava “Nossa! Que isso! Cresceu, tudo cresceu”.
H - Você acha que o Willy, em termos musicais, era uma cabeça central na parte de arranjos e construção da
música?
E - Sem dúvida!
H - Só fazendo uma comparação: conversando com o Rodolpho Grani, ele falou do Walter Franco, que vou
te perguntar também. O Walter Franco era um cara (é, até hoje), que não sabe música como vocês. Então
ele trazia uma ideia crua. E eram os músicos que davam uma roupa musical pra isso aí. E o Rodolpho era
um cara importante, ele fazia a direção musical. Acho que o primeiro disco, se eu não me engano, a direção
musical é dele. O segundo você participa, né? O Revolver...
E - Sim, o Revolver.
H - Então, o Rodolpho comentou isso: “O cara só chegava e mostrava o negocinho no violão, um pedacinho
da letra e a gente tinha que construir”.
E - É bem, isso...
H - É o lado da música que às vezes as pessoas não percebem, mas essa parte não é do Walter Franco,
essa parte é dos músicos. É mais ou menos o que aconteceu com os Secos e Molhados...
E - Mais ou menos, mais ou menos.
H - O João Ricardo já vinha com uma coisa.
E - Eles tinham, por exemplo, um vocal definido e aquela estética do vocal já veio de antes. Do João, do
Gérson e do Ney. O que eles não tinham era a amplitude daquilo, era tímido, era uma coisa tímida, e a gente
se despejava tocando, porque como eu te disse, a gente tocava 40, 50 minutos sem parar lá no Rio de Janeiro,
no Circo Voador, com Cazuza menininho olhando a gente e apaixonado por aquilo... Muita gente pegou esse
trem naquela época. Então, nós fizemos isso pros Secos com as musicas do João Ricardo. Eu me lembro,
por exemplo, que o Ney não sabia que uma música tinha duas partes porque ele não era cantor, ele era um
artista plástico.
H - E ator também...
E - E ator. Foi várias coisas antes de se tornar um cantor. E ele não sabia. Nem o pé dele ele mostrava. Ele
tinha vergonha do pé dele, ele achava o pé dele feio. E aí, na coxia lá do teatro, lá na Concha Acústica, em
São Bernardo, foi um dos shows que a gente fez lá no começo e ele tinha aquela saia de feno, de palha, e
103
ele parecia um bicho. Ansioso pra entrar em cena e o teatro lotado, o Castro Alves, ele olhou pra mim e falou:
“Você acha meu pé feio?” Eu falei: “Não”. E o pé dele era bonito, era pé de homem, era legal... E ele falou:
“Nunca mostrei meu pé pra ninguém”. E quem diria, né?
H - Que estranho, né? Quer dizer que tá descalço no palco...
E - Ah, isso foi em 72. Depois ele falou lá: “Ah, então gostaram do meu pé? Agora vocês vão ver tudo.” (risos)
H - Aí ele desencanou de vez...
E - Aí ele desencanou de vez. Eu fiz agora o Inclassificáveis com ele, e ele tava lá no palco, com 70 anos.
Ele é uma pessoa muito especial.
H - Eu tive uma aluna que fez mestrado com a gente, que fez a dissertação sobre o Ney Matogrosso e ela
usou cenas desse show, pra discutir a estética da cena, da apresentação teatral...
E - Eu fiz a direção musical e toquei.
H - Ahhh, que legal!
E - Foram dois anos e meio aí viajando o Brasil inteiro. Um sucesso!
H - É bom trabalhar com ele, né?
E - Ah, ele é meu amigo. Ele é excelente, muito profissional, muito correto, sou fã dele e amigo. Muito amigo.
A gente tinha uma coisa em comum que era muito engraçada, o que a gente faz dá certo. Aí eu falei pra ele:
vamos gravar um clipe comigo? Piano e voz, pra comemorar todos esses Inclassificáveis que ficou aí com
esse sucesso absurdo? E ele também foi me buscar num momento difícil da minha vida. Quando ele me
convidou pra tocar no Inclassificáveis, eu tava mais dedicado à propaganda, tinha deixado os palcos, e ele
falou: “Vem”. Eu fui pro palco, fiz a direção musical e foi maravilhoso. Melhor não daria pra ser. E aí, pra
comemorar isso, eu queria gravar uma coisa com ele. E acabei gravando o “Se eu quiser falar com Deus”,
piano e voz. Se você tiver oportunidade, vê no Youtube. Emilio Carrera e Ney Matogrosso, dá uma olhada.
Se tiver um tempinho, vê o making off.
H - Vou ver sim, eu gosto muito dessa música...
E - Piano e voz, mais nada. Foi muito legal.
H - Eu acho que o Ney gosta de fazer uma coisa assim, porque ele fez com o Rafael Rabelo e ficou também
maravilhoso, só ele e o instrumento.
E – Isso, isso. Que mostra as qualidades de cantor, porque lá não tem nada nem ninguém, fica uma coisa
nua e crua.
H - A menina fez uma comparação entre esses dois shows, ele sozinho, com instrumento, com o Rafael e o
Inclassificáveis, que é um grupo que tem uma produção cênica diferenciada. E o segundo disco do Secos e
Molhados? Ali a coisa começou a desandar, né?
E - Na questão do relacionamento sim.
H - Mas na parte musical?
E - Na parte musical estava intacta. Até mais madura.
H - Era o mesmo grupo?
E - Era. Eu até comentei, acho que foi ontem, com um amigo que estava falando sobre o Flores Astrais. Eu o
vi falando do piano, que aquele piano era importante e tal e falei pra ele que nós tínhamos feito aquilo meia
hora antes de começar a gravação. E o disco foi praticamente assim, na hora fazendo os arranjos. Muito
intuitivo. E musicalmente foi tranquilo, foi bacana, foi prazeroso, só que as relações já estavam complicadas.
H - O que você me fala do Moracy Duval? Você chegou a ter contato?
E - Sim, claro... Eu particularmente não vi mais o Moracy. Mas tenho um carinho muito grande por ele, porque
ele sempre foi uma pessoa que nos incentivou muito a valorizar a liberdade que a gente tinha e nos dava
muita liberdade musical. Sempre pronto para resolver todas as questões que a gente apresentava. Ele, na
verdade, era o elo que nos ligava à Continental.
H - Mas ele era o quê? Qual era a atividade dele, o que ele fazia?
E - Ele era empresário... Claro que dentro daqueles moldes... Quando a gente fala “empresário”, a gente
imagina aquele empresário de hoje, mas muitos contratos foram fechados no bar do lado da entrada da
gravadora, na Rua Aurora.
H - Na gravadora?
E - No estúdio, que era lá. Mas ele era empresário.
H - Ele tinha outros artistas?
E - Não, ele era um jornalista e conheceu o João Ricardo. Eles se conheceram nas redações aí. O João
também era jornalista e de lá nasceu essa relação profissional. E o Moracy Duval, até onde eu sei, não tinha
nenhum artista, porque era uma coisa mais que a música, era, para aquele momento, talvez uma saída
daquela situação cultural que a gente estava tendo aqui, então tinha muita gente que se atirava naquela ideia,
defensores mesmo. O Moracy era um deles, apesar de ter passado a ter seus ganhos e tal. Ele fez uma coisa
muito importante, que foi o primeiro show em grandes ginásios com uma atração só, no Maracanazinho, só
com o Secos. E nessa noite aconteceu uma coisa inacreditável, porque nós voltamos duas vezes ao
Maracanazinho, consecutivamente, na mesma noite. Nós estávamos entrando para fazer o primeiro show. A
gente olhava pela janelinha lá em cima de onde a gente estava e via outro tanto na rua pra entrar. E lá se
decidiu por fazer o segundo show. Acabou o primeiro show, o Maracanazinho esvaziou, entrou outra leva e
lotou de novo. Isso, que eu saiba, nunca aconteceu. E o Moracy foi o idealizador disso.
104
H - E depois do Secos ele continuou?
E - Ele foi produtor daquele Menino da Porteira, aquele filme, mas eu não sei mais dele. Gostaria até de
encontrá-lo.
H - E lá na Continental, o que você recorda do trabalho, das relações que vocês tiveram com a gravadora?
E - É como eu te falei, Herom, o meu contato com a gravadora foi por intermédio do Moracy, todos os acertos
de cachês e tudo mais era feito pelo Moracy e era tudo muito amador.
H - Mas isso, você fala do ponto de vista atual ou já na época?
E - Não, do ponto de vista atual. E acho que até, de certa forma, até naquela época, porque nós tínhamos
gravadoras. Eu não posso afirmar isso porque não dá pra saber, eu era muito jovem e a Continental tinha
uma postura de vanguarda, tanto é que fazia esses trabalhos todos. Será que toda infra era a mesma coisa?
H - Então, eu tenho uma dúvida, a gente discute, não sei se tem a ver ou não... A Continental gravava muita
música regional, samba...
E - Era outra ala dela, né?
H - Então... O Pena falou que tinham muitas entradas. Gravava-se muita coisa diferente na Continental. Hoje,
conversando com o Cláudio, ele me falou que ele foi lá pra levar os grupos de rock, tanto é que ele não sabe
desses outros artistas aí, de música sertaneja.
E - Noite Ilustrada!
H - Noite Ilustrada, imagina, era cantor de samba, samba-canção. Então, o Cláudio não sabe disso porque
ele levava os grupos de rock e fazia os shows também.
E - Caco Velho, cantores da época.
H - Caco Velho é o nome de um cantor?
E - É o nome de um sambista. “Vesti um camisa listrada e saí por aí”.
H - Essa musica é antiga!
E - Se não me engano era um sucesso do Caco Velho. Do Noite Ilustrada: “Chorei, não procurei
esconder/muitos viram, fingiram/pena de mim não precisava/ali onde chorei qualquer um chorava/dar a volta
por cima quero ver quem dava”. Noite Ilustrada era da Continental.
H - A Continental acabava ficando parece que sem uma cara, não é? E de repente, um grupo como o Secos
e Molhados, um cantor como Walter Franco, que a gente vai falar...
E - Não sei te dizer, mas era uma coisa muito solta. O que era muito bom. Mas em relação à estrutura
burocrática, administrativa, eu não sei te dizer não.
H - Você conheceu o Byington, o dono?
E - Não, pessoalmente não.
H - E você trabalhou também com o Walter Franco, né? No segundo disco. O que você se recorda, o que
você diz do trabalho?
E - Se a gente for fazer um paralelo entre o Secos e Molhados e o Walter Franco, eu diria pra você que o
Walter Franco foi muito mais experimental que o Secos e Molhados. Muito mais.
H - Por quê?
E - Primeiro, pelo Pena. Ele foi o produtor. Ele nos deu, assinou embaixo uma condição de trabalho que pouca
gente teve, porque nós entrávamos para gravar uma musica exatamente como o Rodolpho falou: nós
entrávamos pra gravar uma música e não tinha arranjo, nada se sabia, nós íamos ter contato com ela naquele
momento e de lá nós começávamos a criar. E era uma coisa experimental, onde nós usávamos objetos que
não eram instrumentos musicais para tirar som, fazendo experimentação de vocal: “o sorriso do cachorro tá
no rabo/o sorriso do cachorro tá no rabo” e aquele vocal que era um mantra “que há indo, que há indo, que
há indo, que há indo”. E a gente fazia aquilo com o taxímetro rodando, porque se pagava o estúdio. E o Pena
bancando aquele bando de loucos, né? Que começava pelo Walter. A cabeça explode, meu irmão. (risos)
H - E ele é assim mesmo...
E - Sem dúvida.
H - Tem contato ainda hoje ou não?
E - Tenho. Não tenho muito, mas tenho. Eternamente.
H - Mas era fácil ou era difícil?
E - O difícil era gostoso. Era muito gostoso. E ouvindo o disco hoje, eu vejo que ele tem uma qualidade muito
boa.
H - Eu sou fã. Apesar de querer estudar, eu sou fã acima de tudo.
E - Eu tenho orgulho desse trabalho.
H - Às vezes eu mostro para os alunos, tem uma música que vira e mexe... Aliás, Eternamente. E ela tem um
compasso em sete, em cinco...
E - Mas ele não tinha a menor ideia.
H - Ele não... Eu perguntei isso pro Rodolpho... Ele falou que ele não sabe nada. A gente chegou lá e traduziu
a ideia dele musicalmente, vamos dizer assim. E você tava nessa parada.
E - Aquela música “Veja a gotinha que cai em cima de uma pétala de rosa”... Um negócio tão delicado, que a
gente parava tudo pra fazer aquilo... Era uma coisa muito bonita, cena maravilhosa. Eu fiz um piano que tinha
acabado de ver e ficado encantado. Quer dizer, uma sonoridade, né? Que era do Tom Jobim, que tocava no
agudo, nas notas agudas e ele punha o assobio junto. E então eu usei como se fossem gotinhas de água
105
caindo, e não pensei em nada disso, não tinha nada, foi tudo na hora. Foi uma coisa bem interessante. E a
Continental atrás, dando respaldo pra tudo isso. No Secos nós já éramos mais músicos.
H - O Walter foi depois? Ou foi antes? Deixa eu ver... Walter Franco, 73,75, você participa. Emilio Carrera,
75, Revolver. Foi depois dos Secos e Molhados, em 74. 73 e 74. Você teve contato com o Tom Zé? O Tom
Zé passou mais ou menos nessa época também, 75,73,72, ele tava gravando lá. Parece que era um núcleo
diferente, estúdios diferentes, produtores diferentes...
E - Eram núcleos diferentes, apesar de caminhar mais ou menos pela mesma direção, né?
H - E com os Novos Baianos?
E - Da mesma forma.
H - Também passaram por lá nessa época, 74.
E - Se quiser falar sobre os Novos Baianos, o Solano Ribeiro é um cara importante. Posso passar os contatos.
H - Ele fez um filme pra uma emissora alemã, que é o que tá no Youtube.
E - Ele foi empresário d’O Bando.
H - Ah, o Solano Ribeiro?
E - Ele era diretor do Festival da Record e aí, como o Festival acabou e essa coisa se esgotou, ele queria dar
mais andamento a essa história toda e conheceu a gente. O Bando foi voltando àquela história com o
Rodolpho. Ele simplesmente saiu da Record pra ser nosso empresário. Então, ele também teve uma
participação importante nessa história toda com O Bando, nos abriu o caminho para trabalhar com o Julio
Medaglia, com o Rogério Duprat, o Damiano Cozzella. Fizemos um musical chamado Plug, que era a coisa
mais absurda que existia.
H - Aqui em São Paulo?
E - Aqui em São Paulo. No Teatro Ruth Escobar. Era um absurdo.
H - Quando foi isso, Emilio?
E - 1969.
H - 69?
E – É. Um ano antes de 1970, e era uma loucura... Tinha uma música que era só de palavrões. Você imagina?
69, já tinha rolado o AI-5, a coisa tava começando a ficar muito pesada. Nós fomos convidados para tocar e
cantar no programa da Hebe Camargo, que era domingo, às 8 horas da noite.
H - Globo ou Record?
E - Record. E nós fomos lá. Chegamos lá e seguimos a nossa linha. Era tudo inesperado, tudo do contra.
Tudo o que ela perguntava, a gente respondia ao contrário, tirava sarro dela e ela, invés de se incomodar, ela
entrou na nossa. Então, foi uma entrevista e tanto. Nós fizemos quatro vezes. Naquele tempo dava pra fazer
isso. E aí já tinha o vídeo tape que ia ser passada essa entrevista. Era exatamente no momento em que ia
ter a nossa apresentação lá no Teatro Ruth Escobar. A gente não teve duvidas. Levamos umas três ou quatro
televisões, porque era um picadeiro, né? Pusemos e convidamos toda a plateia que tava lá para ver o
programa da Hebe com a gente. E vimos o programa da Hebe. Essa foi a noite do Plug.
H - Que coisa interessante!
E - 69. Claro que tiveram alguns que saíram xingando. E a gente morria de rir.
H - E censura, problemas com a polícia, não?
E - Até então não. Mas foi por pouco tempo. Carlos Lima: “eu queria ser um verdureiro/ter um saco de dinheiro
pra poder gastar/ eu queria ser um verdureiro/ter um saco de dinheiro pra poder gastar”... E era assim, um
minuto e meio, dois. (risos).
H - Nessa época teve vários eventos de rap? É rap, provocações, era a ordem do dia... Os artistas de forma
geral, né?
E - A turma da bossa nova não gostava.
H - Ah é?
E - É isso que eu te digo, eles queriam a música bem tocada. Claro, é maravilhoso. Mas eles não aceitavam
essa vinda de outras coisas agregadas à música. Tanto é que teve a tal da passeata contra a guitarra.
H - Um pouco antes, em 66, acho...
E - É, não sei, acho... 67.
H - Que teve uma reverberação no Festival de 67, que é quando surgiu o Caetano, os Beat Boys, Os Mutantes.
Era um festival muito tumultuado. E você acha que o Solano Ribeiro...
E - É uma pessoa importantíssima nessa história toda.
H - Eu não pensei nele... Conheço, tenho até o livro dele de memórias, mas não sei se...
E - Se você quiser eu passo o contato.
H - Porque assim, a ligação que ele teve com os Novos Baianos além desse filme...
E - Eu acho que foi o filme, eu não sei, acho que mais o filme.
H - Nesse filme ele ficou ali com uns caras, no Youtube tem. Ele liga a câmera e deixa lá, aí o pessoal passa
e...
E - É, mas não foi bem assim. Ele tava bem porque era um cara já tarimbado, ele era um alto profissional da
Record.
H - Ele não roteirizou isso assim...
106
E - Ah, eu acho que sim. Mas ele já tinha todo um roteiro na cabeça... Ele conduziu, eu acho, a coisa para
que tivesse aquele resultado. Ele era uma pessoa muito competente. É ainda, né? Mas ele foi importantíssimo
na história toda, de festival. Mas também as coisas foram todas acontecendo, pipocava em tudo que era lugar
talentos. Chico, Gil, Edu Lobo, Momento Quatro...
H - Você trabalhou com vários desses caras?
E - Sim. Acabei trabalhando...
H - Então vamos supor... Quando você sai do Secos e Molhados...
E - Fizemos Humahuaca, que foi uma banda excelente. Adorei fazer, trabalhamos com a Elis Regina. Elis
ficou louca com a gente. Tem um vídeo no Youtube, Humahuaca e Elis.
H - Ah, vou ver...
E - Veja! É importante, e som na caixa... Você vai ver o Willy, eu, o John, Humahuaca e Elis Regina.
H - Então, eu nunca ouvi Humahuaca, vou ouvir agora.
E - Que já veio nessa esteira aí de coisa pesada, uma linguagem mais...
H - Quê mais, além da Elis, depois...
E - Acompanhei, gravei muito no Rio de Janeiro. Teve uma época no Rio de Janeiro, isso antes do Secos, foi
nessa época que eu trabalhei com muita gente. Trabalhei com Erasmo Carlos. Eu acabei sendo considerado
um dos melhores organistas do Rio de Janeiro, só que eu nunca tive órgão na vida, eu tocava piano... E eu
nunca me considerei um organista, e muito menos um excelente organista.
H - Porque é outra coisa, né?
E - Mas eu tinha certa manha... Eu era meio malandrinho. E como eu tinha uma pegada, isso eu sempre tive,
que é aquela coisa de pegar de verdade, os caras adoravam isso, me chamavam muito e eu passei uns
apertos. E quando não era isso, eu não estava me dando tão bem. Mas foi, gravei com muita gente. Eu fiz,
por exemplo, a primeira gravação do Antonio Carlos e Jocafi. Fiz várias coisas, nem me lembro mais direito...
Cantor, Marcus Pitter. Aí gravei, fiz Humahuaca, e depois entrei na propaganda. E aí fiquei um bom tempo lá.
E acabei fazendo um trabalho lá bem legal. Ganhei muitos prêmios internacionais, acabei tendo assim,
orgulho de ser, talvez, nessa área, o cara mais premiado do Brasil. Premiação internacional. Ganhei o Gran
Prix Internacional de Rádio, Festival Internacional de Nova York, uma peça. Com essa bagagem toda que eu
adquiri, levei isso tudo pra propaganda e acabou dando certo. Eu trabalhei com grandes nomes da
propaganda, como Washington Olivetto, Petit e Zaragoza, os tops.
H - Você ainda trabalha com...
E - Faço alguma coisa... Mas não como fazia antes. Então é mais ou menos isso.
H - O Tom Zé você não teve contato...
E - Só em terapia. Eu fiz terapia de grupo com ele. Mas coincidência. Com ele e com a Maria Alcina. (risos)
H - Vocês saíram bem?
E - Não sei, até hoje eu me questiono (risos).
H - Não sei qual é o mais complicado, acho que você é o mais tranquilo... Porque com esses dois... (risos).
Com o Rogério Duprat, você tem bastante contato?
E - Sim, trabalhei muito com ele, com o Rogério. Fiz também muita propaganda com o Rogério Duprat.
H - Ele mexia muito com TV, não é? Ele falava muito em TV.
E - E fiz com Humahuaca um trabalho maravilhoso, com o Macunaíma, que era - é ainda, escola de teatro.
Mas na época era um centro efervescente cultural em São Paulo. É lá que saiu o Falso Brilhante, da Elis
Regina, em que ela tava querendo alguma coisa diferente, e eles se enfiaram todos.
H - Era uma coisa mais teatral, né?
E - Eram todos lá, ficaram um ano fazendo terapia... E de lá nasceu o Falso Brilhante, que é o resultado de
todos aqueles, da banda inteira. Tanto é que a banda inteira se apresentava cada uma de um jeito: um era o
super-homem, outro era o espantalho. Eles ficavam num andar, era um sobrado, inclusive o Mário de Andrade
morava lá. Eles revitalizaram a casa e eu fiquei com Humahuaca numa outra sala, com o Roberto Freire,
fazendo o mesmo trabalho que fazia com o Falso Brilhante. E a gente fez um trabalho muito consistente, fazia
terapia voltada à criatividade. Saíam muitas músicas voltadas, de composição conjunta. Inclusive, uma delas
é essa que a Elis canta nesse vídeo aí, com o Humahuaca.
H - Eu vou assistir, com certeza. Escuta, tem um cara que já apareceu algumas vezes aqui, que fez as capas
dos discos do Walter Franco, o Revolver, por exemplo. Você teve contato? Oscar Paolilo?
E - Não.
H - Não, né? Acho que era outra área. É que andei observando nas capas também de alguns desses grupos
se tinha um perfil diferenciado em termos de design. Quer dizer, esse experimental não tava só na música,
estava no ambiente artístico de uma forma geral. E o nome desse cara aparece bastante.
E - A capa dos Secos e Molhados, né?
H - A capa dos Secos e Molhados também, daquele primeiro disco, né? Então, esse Oscar Paolilo faz a arte
final dessa capa.
E - Mas ele não foi o fotógrafo?
H - Antonio Carlos Rodrigues.
E – Exatamente.
H - Eu já vi depoimento dele
107
E - Ele era um fotógrafo de jornal, amigo do João Ricardo Vilar.
H - É, tem o nome dele aqui. E aquela capa do Tom Zé, Todos os Olhos?
E - Sim, considerada a melhor.
H - É uma capa polêmica também, né?
E - E muito, como tudo dessa época.
H - Ah, Emílio, acho que é isso, viu? Você me deu boas ideias também, viu? Muito legal! Quanto ao Solano
eu não sei...
E - Isso aconteceu antes do Secos e Molhados...
H - A Philips? Esse negócio de gravar na Philips?
E - É, me deixa pensar... Não, eu digo a Philips, esse grande momento foi antes do Secos e Molhados.
H - Foi antes, é... Final de 60.
E - Foi antes, com todos os grandes nomes. Depois os festivais, Rogério Duprat, Mutantes, Gil, Chico. Todos,
né? Eram todos da Philips por conta do André Midani. A Continental veio depois disso, tentando comer pelas
beiradas. Aquilo que sobrava, caía lá.
Entrevista com Carlos Sion
Rio de Janeiro, 16/out/2013
Realização: Herom Vargas
Herom – Para contextualizar, seu nascimento, lugar, data.
Carlos Sion – Depois da Copa do Mundo, carioca do Rio de Janeiro, 1950.
H – Como é que foi a sua formação musical? Como você começou?
C – Minha formação musical é DNA, vem da família que já gostava de música. Dois grandes
músicos na família, Cláudio Roditi e Roberto Sion. Roberto dirigiu orquestras, trabalhou com Jobim, Vinícius
e Toquinho nos anos 1970 e aí dirigiu a Orquestra Jovem Tom Jobim em São Paulo, atual. O Cláudio Roditi,
considerado um dos maiores trompetistas e flugelhorn do mundo, mora nos Estados Unidos, saiu na época
da bossa nova, e mora nos Estados Unidos há quase uns 40 anos. Trabalhou com Chet Baker, Paquito
D’Rivera, Dizzy Gillespie, entre outros. Tem o grupo dele lá, trabalha lá, mora lá, é um grande músico.
Minha relação com eles... O Roberto morava em São Paulo e a família do meu pai é de Santos e a família
da minha mãe é do Rio, e o Claudio, a família é metade do Rio, metade de Minas Gerais, de Varginha. Eu
era pequeno, a gente tinha uma diferença de idade. Eu falo DNA porque meu pai gostava muito de música.
Ele era músico leigo, que gostava, curtia, e eu me interessei por música. Mas sou de formação universitária,
tenho mestrado em comunicação. Sou da época em que precisava ter diploma, fazia universidade, porque
teve uma época que o governo exigiu que os músicos tivessem que ter diploma, né?
H – Você fez jornalismo, então?
C – É, é porque jornalismo tinha as cadeiras que me interessavam mais que publicidade e
propaganda. Meus colegas eram Ancelmo Góis, Artur Xexéo, Leda Nagle... Todo mundo saía com diploma
e todo mundo se divertia muito.
- Eu imagino.
- É, mas eu fui pra faculdade porque meu pai me deu uma boa dica, que eu precisava ter um
instrumental para poder até argumentar num país da idade da pedra, e a gente ainda é da idade da pedra,
por incrível que pareça em muitas coisas. E aí é o seguinte: eu já gostava, tinha um grupinho de música,
mas nada profissional. Aí eu fiz uma faculdade, fiz outra faculdade... Quando eu decidi fazer essa faculdade
de comunicação, eu já começava a organizar shows aqui no Rio, e o primeiro artista que eu ofereci para a
companhia foi O Terço. O primeiro disco deles lá fui eu que produzi. Então, nesse período também, eu tinha
uma relação com o braço da família Byington que morava no Rio de Janeiro. A família Byington, eles são
cariocas e uma parte mora em São Paulo, porque o patriarca casou com a dona Pérola Byington, que tem
um grande hospital em São Paulo, casaram, e ele decidiu ficar em São Paulo, o Alberto Byington. Alberto
108
Byington Neto, que o pai dele era o Alberto Byington. E ele foi o cara que montou a estrutura da Continental,
a partir da rádio que o pai construiu. E a Continental, se pensar bem, foi uma empresa que gravou Mário
Reis, Lupicínio Rodrigues, Dircinha Batista... Tem uma história anterior toda a essa... Era uma grande
empresa, top, concorrendo com as multinacionais. Bom, pela relação com a família, fui amigo de infância da
Elisa, que é a mais velha do Carlos Byington, que é um dos maiores jornalistas do planeta, e da Olivia. A
Olivia Byington, que é cantora, gravou discos nessa época lá.
H – Olivia Byington é filha do...
C – Do Carlos Byington. Que gravou o primeiro disco com a participação da Barca do Sol. Depois
ela saiu pra carreira solo. E elas gostavam muito das minhas ideias. Essa época eu fui pra companhia
porque o Alberto gostava das minhas ideias pra tomar conta da área internacional da companhia que eles, a
Warner Music, eles que distribuíam no Brasil. Então, eu lancei grandes projetos na Warner: lancei o
Emerson, Lake & Palmer, lancei o King Crimson, lancei uma série de artistas de alto nível, lancei toda a
nova safra do Black Music da época. Era um bom nível que não tinha, como a Areta Franklin, pra
diversificar.
H – Você foi pra lá quando?
C – Quando eu fui pra São Paulo. Minha condição era eu trabalhar no escritório do Rio de Janeiro.
Eu queria terminar a faculdade, queria morar aqui, não queria ir pra São Paulo.
H – Era novo... O que, uns 20 anos?
C – Eu era novo, talvez uns 22 anos, 23, eu não lembro, eu não sei te precisar... Eu queria ficar
aqui, me divertir, era final dos anos 1970, queria então trabalhar com meu meio musical. Aí, o que
aconteceu foi o seguinte...
H – Você tocava na noite, alguma coisa assim, ou...
C – Não, não... Nada disso. Toquei em um grupo, mas na época eu tinha 15 anos de idade e foi só
um ano, e passou... Mas continuei, gostava, colecionava discos, ia ao concerto, recebia muita gente de fora.
Tinha feito alguns amigos que estavam na escola americana aqui, e que mandavam pessoas pra cá: “Ah,
procura o Carlos, procura o Carlos”, e uma coisa leva à outra e eu acabava conhecendo gente de fora,
alguns músicos recomendados. Então, basicamente, isso. Mas aí, o próximo passo foi o seguinte: eu fiz o
disco do Terço, e chamei a Bolha pra gravar lá também. Eram dois grupos de rock-pop importantes do Rio.
Eles tinham uma importância maior do que eles pensavam. O Terço não, porque O Terço depois fez
carreira, mas o Bolha...
- Mas foi em São Paulo?
- Não, O Terço foi em São Paulo muito tempo depois, por conta do Sá e Guarabira, porque nós
éramos amigos aqui e eles foram pra São Paulo e montaram uma empresa de jingle com o Rogério Duprat.
Aí os meninos foram pra São Paulo, o Sérgio e o Magrão, não deu certo e depois acabaram voltando e
remontaram o grupo. Não sei exatamente como é que foi a trajetória depois. Mas nesse período em que eu
fiquei como uma espécie de label manager aqui no Rio de Janeiro, eu fui algumas vezes a São Paulo,
porque alguns artistas vinham pra cá e eu fazia o lançamento. O Patrick Moraes tava no Yes...
H - Morou aqui, né?
C – É, aí eu o levei pra São Paulo. Ele veio de férias primeiro e aí eu levei ele pra São Paulo.
Organizei, tinha evento marcado. Era muito amigo do Ezequiel Neves, que escrevia pro Jornal da Tarde, e
ele morava metade do mês aqui, metade do mês em São Paulo, então já conhecia alguns músicos de São
Paulo: conhecia o Manito, que tocava nos Incríveis, eu conheci outro e acabou que a gente ficou próximo e,
nesse momento, eu tinha um amigo em comum em São Paulo que me levou pra alguns shows e tal. Eu
estava observando que tinha um artista muito importante em SP que estava marginalizado, que estava sem
um projeto de disco, que era o Walter Franco. E era meio que uma incógnita porque, como você sabe, eu
estava acabando de falar com um diretor do Canal Brasil. A gente saiu da idade da pedra. O computador,
as universidades não tinham. Ainda não têm. Agora tem alguns cursos na área de music business, desculpe
a palavra, mas é essa mesmo: o negócio da indústria, tanto pra música, quanto pro cinema, quanto pra
cultura, né? Disco é cultura, né? Filme é cultura, TV é cultura... E aí eu fui conversar com ele. Ele, todo zen,
começamos a conversar e, em meia hora, ele disse: “Só faço o disco se você for o produtor”. Mas assim,
“Eu não vou me mudar pra São Paulo”. É porque o projeto vai levar um tempo, é um disco artesanal. Porque
ele tava com um conceito todo... era muito à frente. O que ele queria fazer? Ele queria fazer uma música
pop, com sotaque rock, mas com uma linguagem concreta em nível de poesia. E então... (nós vamos tomar
uma água, um café?). Bom, em relação ao Walter, a gente fez umas duas ou três longas reuniões. Eu já
conhecia o Peninha, porque o Peninha tinha sido técnico da Rita Lee e técnico de alguns concertos de rock
que a gente fez. Houve um evento em São Paulo em que eu levei alguns artistas daqui e sugeria alguns
artistas de lá, chamada Banana Eufórica, era um produtor de SP, então a gente juntou as ideias. Eu levei
três ou quatro artistas do Rio para o Teatro Bandeirante, foi um evento espetacular em São Paulo. Eu queria
até os cassetes dessa época. Nunca saiu disco.
H – Você não lembra quando, né?
C – Não... Foi em 1974, 1975, se eu não me engano. Mas aí eu chamei o Peninha pra conversar e
falei pra ele: “É o seguinte, eu vou trabalhar o conceito artístico do disco e você vai pro estúdio com o
Walter. Eu vou a São Paulo de vez em quando, quando tiver algum problema, para trocar as informações
109
necessárias, para que o projeto possa avançar”. Não tinha limite, porque o Walter era um ícone da música.
Um disco dele acho que levou quatro meses pra ser gravado, três meses, não sei. Levou um tempo já que
era muito artesanal. Os estúdios ainda eram de dezesseis canais. Então, você ainda gravava um disco com
uma bateria, pra fazer o efeito que ele queria (...). O Peninha é um técnico de som que não fez escola de
engenharia de áudio. Ele virou um engenheiro real, um grande técnico, que aprendeu na prática. Na
Continental, mais precisamente, eu fui para levar o meu know-how da área de música e comunicação para
agregar a eles. Na Continental, o Peninha tava trabalhando como técnico nesse disco do Walter Franco.
Depois, o Peninha foi produzindo um ou dois discos e foi participar de um grupo com outras pessoas em
São Paulo, no qual essas pessoas eram de classe média alta em São Paulo, que ficaram amigos do seo
Byington, e o seo Byington os chamou para ajudar num pensamento. Eles renderam uma história de
trabalho com os Novos Baianos no futuro. Essas pessoas eram o Cláudio Prado e outros que eu não me
lembro dos nomes. Obviamente eu os conhecia, porque eu os conheci em Londres, mas não tinha uma
relação formal, nada a ver com o meu trabalho, não tínhamos nenhuma participação. Eu deixei a parte
internacional da Continental naquele período. Fiz o disco do Fagner, que foi realizado antes do Walter
Franco. Eu pulei um pouquinho a história... O Fagner vinha de uma situação sem gravadora. Ele tinha saído
da Polygram, da Philips, quando ele fez aquele “Manera Fru Fru”. Eu tinha já feito um disco do Terço. Nós
nos conhecíamos, ele veio morar em Copacabana, vizinho próximo, e eu fui assistir a um show porque tinha
dois músicos amigos próximos que tocavam com ele. Naná Vasconcelos e Bruce Henry. Era um trio
espetacular. Mas aí, nos encontramos aqui e ele me falou: “Estou indo pra Paris, vou ficar um tempo lá. Se
você conseguir um projeto, eu volto pra gravar”. Aí, a Continental tinha um departamento aqui no Rio de
Janeiro. Tinha uma divisão aqui no Rio onde se gravava muito. O Jamelão era artista da Continental. Eu fiz
uma caixa com toda a obra do Jamelão, fiz um projeto chamado “Jamelão canta Lupicínio Rodrigues”. Bom,
isso foi depois, eu fui recuperando-os assim, relancei uma serie enorme.
H – Onde era aqui no Rio a Continental?
C - Era um escritório na Rua México, no centro da cidade. Perto do Teatro Municipal. Em São Paulo
era uma fábrica. São Paulo tinha um estúdio e no Rio eles alugavam os estúdios para gravar. Um diretor
artístico ficava aqui. Então, esse diretor artístico aqui eu fiz O Terço, e fiz o Fagner aqui. Depois do disco do
Fagner, Ave Noturna, esse disco alavancou a carreira dele. Aí, o vice-diretor saiu da companhia, e o
Byington me chamou pra ver algumas coisas. Eu propus fazer esse disco do Walter Franco lá. A gente
começou a fazer e aí eu também produzi um disco de uma banda muito importante. Fiz ao mesmo tempo
duas operações. Eu trouxe o Almôndegas para gravar no Rio num estúdio de dezesseis canais. Eles tinham
gravado um disco de quatro canais em Porto Alegre, tinham vendido na época mais de 25 mil cópias, foi um
sucesso. Então, eu propus a eles e à companhia dar visibilidade ao artista regional, que é uma linguagem
nacional, já que eles eram músicos que não eram músicos regionais. Eram por acaso artistas gaúchos. Eles
entenderam que o Byington era um cara visionário, acharam maravilhoso, e inauguramos um estúdio que
pertencia à TV Globo. A TV Globo ficou sócia. Então, lá eu gravei disco do Almôndegas como diretor de
produção, o disco Aqui. Um sucesso. Não tinha cordas, era um disco bem produzido. Antes eles fizeram um
disco que chamavam “Cinco Jovens Universitários”. Está na contracapa do disco, o primeiro disco. Então foi
dada essa estrutura e o disco veio pronto, apenas fiz o suporte pra eles, meio que de logística. E nesse
meio tempo eu fui pro estúdio gravar o disco de outra banda muito famosa no sul, que era uma banda de
pop rock, chamada O Bicho da Seda. No mesmo período, em três meses eu fui pro estúdio e gravei o
famoso compacto Ney Matogrosso e Fagner. Então, esses foram meus projetos: Revolver, do Walter
Franco, Ave Noturna, O Terço, Bicho da Seda, Ney e Fagner e o suporte coproduzindo o Aqui, dos
Almôndegas. Minha passagem foi essa na relação com a Continental.
H – E sempre aqui no Rio?
C – Sempre aqui no Rio.
H – E de vez em quando ia pra São Paulo...
C – De vez em quando.
H – Você não acompanhou a gravação do Revolver lá em São Paulo?
C – Umas três ou quatro sessões só. O Walter montou uma banda com o Peninha, era um disco de
estúdio.
H – Eu entrevistei um cara desse grupo, o Rodolpho Grani, que era o baixista.
C – Eu me lembro do nome dele...
H – Mas você não tem contato, né?
C – Não, não. Eu não tenho contato com ninguém. Tem um deles, o Egídio...
H – Egídio Conte?
C – É! Eu tive contato porque ele teve alguns anos atrás o primeiro ótimo caminhão de áudio pra
gravação de externa em São Paulo, e tinha um só na época. Isso há uns dez anos atrás. A gente se
encontrou numa gravação. Foi uma farra, super agradável, muito bacana.
H – Ele gravou na Continental com um grupo que era liderado, digamos assim, pelo Guilherme
Arantes, o Moto Perpétuo. E foi gravado na Continental também.
C – Tem uma canção chamada V de Vertente, que é a primeira canção ecológica. Eu falo isso pro
Guilherme e ele: “Pô, mas você lembra?!” “Claro, eu ia à rádio, eu gostava de disco, pô!”. Infelizmente, a
110
indústria é uma porcaria. Nós temos um problema sério no Brasil. Você tá vendo a luta política toda aqui dos
artistas sobre biografia não autorizada, sobre direitos autorais... Até agora, o Ecad, ninguém falou nada. Os
petistas não falaram nada. O Ecad jogou uma pá de cal na indústria porque ela aprovou a fusão da BMG no
Brasil com a Sony. Foram mais de mil postos de emprego perdidos, foram duas fábricas de disco que
fecharam, e uma empresa só. Agora, aprovaram a fusão da Universal com a EMI. O que significa isso?
Menos uma empresa. Os artistas tinham seis empresas para oferecer disco, agora têm três. O mercado
alternativo independente não existe. Você não pode privilegiar isso porque você não tem uma indústria
forte, uma distribuidora forte de discos no Brasil. Você não tem várias fábricas de disco de grande porte no
Brasil. Você pode ver, nos Estados Unidos e na Europa, em que o cara prensa em qualquer lugar e tem
redistribuição. Então, ser independente é igual a você ser uma multinacional: você tem que ter um selo, não
tem problema nenhum.
H – A distribuição depende da indústria.
C – Depende. Então, tem duas distribuidoras, a Tratore, tem a Sony não sei das quantas, que não é
da Sony... Então você fica na mão dessas pessoas. Você não encontra disco em nenhum lugar. “Ah, disco
acabou, por quê?” Acabou teoricamente. Você vai à Europa e não tem cara que vende dez milhões de
discos. Você tem dez que vendem um milhão de discos. Então é um problema econômico. É do Ministério
da Indústria e Comércio, não é um problema do Ministério da Cultura. E as pessoas que fazem cultura no
Brasil não são pessoas de cultura. E nem o Ministro da Cultura, que era um artista, conseguiu dar jeito
nisso. 90% da verba do Ministério era para pagar funcionário. Você pode se dar ao luxo de... Infelizmente
você é rico pra poder assumir um cargo público desse. Ninguém vai te acusar de corrupção. Você tem uma
carreira.
H – Escuta, só retomando... O que você me diz sobre a Continental naquela época dos anos 1970?
Em que situação ela estava, em termos de concorrência?
C – Olha, na Continental a situação era muito boa porque a música regional e sertaneja (e um certo
nível de samba) faziam a companhia virar o tempo todo no positivo. A companhia era altamente rentável. A
companhia tinha uma visão espetacular. A companhia gravou todo o movimento importante da Bahia:
Araketu, Ilêaiê, Olodum, Chiclete com Banana, todos os primeiros discos lá. Uma gravadora que era
Romário Reis, Lupicínio Rodrigues, Emilinha Borba, Marlene, Radamés Inhata... A história não se resume a
Novos Baianos, a dois discos que eles fizeram. Isso é muito pouco. Foi numa época em que a companhia já
começou a adernar, entendeu? Porque teve uma crise do vinil muito forte, começou a ter crise da indústria.
Os grandes artistas começaram a precisar de uma verba porque os artistas regionais praticamente corriam
por fora. Tinham as rádios regionais, um mercado que era muito regional, como é agora. Mas ele passou
vinte ou trinta anos muito polarizado. Você não via essas músicas sertanejas no rádio. Isso aqui é
romântico! Sertanejo mais ou menos, né? Sertanejo nasceu de plantador de tomate, então o cara era
sertanejo porque era sertanejo. Mas hoje ele não é sertanejo nenhum. Ele tem uma BMW, ele tem um jato,
ele não é sertanejo. Ele é um cantor romântico de segunda categoria. A maior parte, né, claro... Excelentes
artistas, aliás. Eles gravaram os antológicos discos de Pena Branca e Xavantinho, gravaram discos com
Renato Correia, Renato Andrade... a Continental tem coisas fabulosas. Os arquivos se perderam, uma parte
se perdeu na enchente. Eles fizeram toda, o mais importante acervo de música infantil, a memória, tinha
que estar lá o Braguinha... A companhia era a companhia de uma família e o único que gostava do
brinquedo era o Dr. Alberto Byington. Tinha as fazendas, tinha os negócios, mas chegou uma hora e ele
não quis mais brincar. Os filhos não se interessaram. As sobrinhas estavam aqui, uma é filosofa, a outra é
cantora, a outra é oncologista. Ninguém queria morar em São Paulo, até o Dr. Alberto, que tinha ali as
fazendas, já ia embora. E a irmã, que foi casada com o Paulo Egydio, e tal, mas basicamente não tinha...
Esse negócio a família não tem.
H – E o que você se lembra dele? Quem era esse cara, o que ele fazia?
C - Esse cara é um cara espetacular. Ele tinha um escritório dele lá que funcionava na companhia.
Adorava música, gostava, vivia aquilo, era um business man, e aquilo era uma história da família. Os caras
fizeram uma rádio, a primeira grande rádio em São Paulo. Fizeram a gravadora, que era um ícone. Eu não
sei com quantos anos ele está, deve estar talvez com uns 80 agora, talvez até um pouco mais, né?
H – Você não tem contato com ele, né?
C – Não... Eu tive um contato com ele há dez anos, com um produtor que teve aqui no Rio. “Ah,
garotão, vamos se encontrar”. E a gente se encontrou e ele me chamou lá, tentou fazer um negócio também
depois do furacão. Ele levou nos anos 1990 a Velas, do Ivan Lins, pra lá, pra retomar. Eles queriam fazer
um negócio, mas, (...........) Você sabe, esses assuntos são polêmicos, né?
H – Ah, não esquenta a cabeça, fica a vontade, tá?
C – Eu fui a São Paulo encontrar com o Michael, porque eu queria propor a ele... Até o Vitor me
conhecia, por causa do Ivan, depois o Ivan saiu da sociedade. O Vitor me conhecia e falou: “Pô, queria
receber o Carlos Sion, cara que tem um trabalho espetacular, só que ele tem que estar junto”, e ai eu fui lá
conversar. Ele falou: “Quer montar um selo e traz pra cá, pra distribuir e vender?”. “Ah, eu não quero, não
tenho investidor, preciso de investidor”. Porque depois que eu parei de produzir para a Continental, eu
continuei produzindo shows. Continuei produzindo outras coisas. Fiz o Fagner na CBS, levei o Fagner pra
lá, fiz o Zé Ramalho, fiz a Elba Ramalho, fiz o Pepeu Gomes, fiz o Bendengó, fiz o Walter Franco na CBS.
111
H - Em 80, 1980?
C - É, em 79.
H – Como é que foi esse disco? Você acompanhou?
C - Esse disco eu produzi tudo, tudo.
H - Porque esse disco é menos cerebral...
C - É um disco solar. Falei: “Agora vamos fazer um disco solar. Vamos?”.
H - Me diz sobre esse disco.
C - Este disco tem um clássico da música brasileira, chamado “Mente quieta, espinha ereta”. Não...
“Coração Tranquilo”! Foi gravado em menos de seis minutos, com o Sivuca no estúdio. É um clássico da
música brasileira. Foi regravado depois pela Leila Pinheiro, em outra linguagem. Foi um disco que tinha
tudo, mas acontece que houve um problema logístico naquele período. O Walter tava em São Paulo e o
disco demorou muito para ser gravado. Tinha um orçamento determinado e o orçamento estourou duas
vezes. A multinacional começou a mexer na estrutura da gravadora aqui no Rio de Janeiro. Eles trouxeram
um executivo aqui pra querer dar uma linha para a companhia de discos. Foi quando eu passei a não
interessar enquanto produtor pra eles porque, na realidade, é o seguinte: eu era o produtor, mas eu tinha
sete artistas estourados na gravadora. Então eu era mais que um diretor artístico. Você imagina: ligava o
rádio, era Elba Ramalho, Zé Ramalho, Amelinha, Walter Franco, Geraldo Azevedo e o Pepeu Gomes. Eu fiz
um disco solo do Pepeu Gomes. Veja só: o disco Gerações de Som eu fiz na Continental. E fiz na CBS. Aí
aconteceu o seguinte: quando assumiu o executivo, todo mundo quis ir embora da companhia. Começou a
ter problema. O Geraldo Azevedo foi pra Ariola, o Pepeu a Warner comprou o tape da CBS, do Gerações e
depois regravou lá, e aí começou essa coisa e aí fomos dar aquele tempo de produzir disco, eu fui parar. Eu
fiz um disco de um artista muito interessante, chamado Bebeto Alves Gaúcho. Eu fiz o primeiro disco lá na
CBS, um disco todo com a linguagem moderna, um disco semiacústico, um disco com cordas, percussão.
Ele é de Uruguaiana, tava na fronteira, tinha toda uma...
H - E esse disco do Walter Franco foi então sucesso...
C - Foi um disco bom, ele foi um disco que teve uma boa repercussão. Ele não teve uma maior
repercussão como ele deveria porque não teve um investimento em publicidade, em rádio e em acordos
comerciais com rádio porque o disco estourou os orçamentos todos e foi no meio da transição. O cara que
assumiu não entendia nada de disco, era um homem de administração. O cara ficou seis meses e depois
veio o Tomás Munhoz, que era presidente da Espanha e depois veio pro Brasil. Então, ele trouxe uma
equipe toda, e a equipe que ele trouxe era o Light Reflections. Era um grupo de cover em São Paulo. Então
você já viu qual era a mentalidade da companhia, o que virou.
H - Um desse grupo é professor da área de comunicação, o André Barbosa.
C - Era? Tinha o Marcos Maynard, o Cláudio Condé e o Sérgio Lopes. Os três que foram executivos
das gravadoras.
H - Então, esse outro aí, o André Barbosa, virou professor, é colega nosso, trabalhou na Metodista.
Cantava nesse Light Reflections.
C - E cada um desses três aí tem uma história maravilhosa.
H - E com o Walter Franco você não tem contato também, né?
C - Tenho! Eu tentei trazer o Walter Franco pra fazer um show aqui no Rio de Janeiro, num SESC
aqui que é um espaço moderno. Ele não tem nada a ver com os outros SESCs do Rio, é mais próximo com
o SESC/SP, já que o SESC/SP é o verdadeiro Ministério da Cultura, né?
H - Tô tentando falar com ele, mas é difícil, viu?
C – Por quê?
H - Ah, não sei. Eu não consigo alguém que chegue e explique, que fale, e ele se disponha a falar.
C - Você ligou pra ele?
H - Não.
C - Então você vai ligar pra ele. Eu te dou o telefone e você vai ligar. Ele tá no celular.
H - Legal! Eu tentei falar com o filho dele, como chama, é... Davi... Não, não é Davi, é...
C - Diogo.
H - Diogo Franco!
C - É um bom compositor...
H – É, então! Mas aí não teve resposta, e tal...
C – É porque o Walter é um dos vice-presidentes da Abramus, que é a sociedade... Então, talvez o
período em que você quisesse falar com ele, era nesse período em que tava toda essa situação de direito
autoral, as discussões entre os grupos Procure Saber e o grupo Já saber...
H - Eu fiquei pensando que a pessoa não quer falar sobre isso...
C - Não, é só você dizer que quer falar sobre a Continental, ele vai te dizer tudo. Metade dos
cabelos brancos do Peninha é a Continental e a outra metade é o Walter.
H - Então eu vou pedir pra você esse meio de campo aí.
C – Te dou o e-mail direto dele. Escreve um e-mail pra ele e fala assim...
H - Pode ser. Então a gente combina. E então, os Novos Baianos, você teve contato? Não lá, né?
112
C - Os Novos Baianos eu tive contato lá, da seguinte maneira: o Dadi é meu amigo, sou um pouco
mais velho que ele, somos amigos de praia. Ele era o único carioca da banda, foi morar com eles. Foi morar
com eles aqui, né? Antes da Ponte do Sol, era aqui meio período, né? E aí, ele me chamava e eu gostei
muito do trabalho. E eu tenho um amigo que é diretor de cinema, um conhecido cantor, o Carlos Fontoura. E
o Fontoura sempre queria fazer show comigo: “Ah, quero que você produza show comigo”. Eu conheço uns
meninos que tinha feito um curta com ele. Eu falei que estava ótimo e produzi um show que foi antológico
aqui no Rio de Janeiro, no disco que tem Preta Pretinha. Foi no teatro João Caetano. Lotou aqui. Show com
tudo que você possa imaginar. Cenário do Ângelo de Aquino, falecido artista plástico. Tem até a
retrospectiva agora na galeria. A iluminação foi do Edson Santos, que era um grande diretor de fotografia,
televisão e cinema. Foi muito bacana. Um showzaço. E então, tinha essa relação assim.
H - E quando o Byington veio aqui contratá-los? Você não tomou parte disso daí? O Prado, o
Claudio Prado, segundo a conversa que a gente teve, e que eu gravei também, falou que ele veio com o
Byington pra cá. Parece que o Byington veio no avião dele. Achei engraçado isso. E vieram contratar os
Novos Baianos aqui no sítio. Você não sabe... você não participou disso?
C - Pode, pode ser, o Byington tinha avião...
H - É, eu achei curioso isso aí, diz que ele veio dirigindo, pilotando...
C – É possível, ele tinha fazendas e tudo, já estamos falando do final dos anos 70... Tinha fazenda e
muita gente tinha avião pequeno.
H - E você não participou disso.
C - Não.
H - Tom Zé. Você teve contato lá?
C - Nenhum contato com o Tom Zé. Aliás, na companhia tem também um disco espetacular do
Jarbas Marins, que é o braço direito do Tom Zé até hoje, com o Lula Côrtes, falecido Lula Côrtes, que fez o
clássico disco Paebiru com o Zé Ramalho, e eles têm um disco Sativa, gravado na Continental. É muito
interessante esse disco. Tentei relançar pela Warner, tentei fazer uma caixa com a obra toda, fiz muitos
produtos estratégicos. Fiz a obra do Chico Buarque, toda, da Philips, fui eu que produzi a primeira saída do
Baden, da Elis e do Caymmi. Eu faço projetos de recuperação, fiz muito isso, né? Porque eu achava
importante esses projetos estarem já digitalizados pro futuro, né? E fiquei fazendo isso pra Warner até
pouco tempo atrás. Com a Continental, fiz tudo de choro, duas caixas com choro. Agora eles alegam que
não têm dinheiro que não conseguem vender disco e querem te dar um percentual de nada, né? Se não
vendem disco, “Ah, te dou 3% sobre a venda”, “Ah, e quanto é que você vai vender?” “Ah, 500 discos...”
Cem discos por trimestre, você vai ter 200 reais daqui a um ano. Tem umas ideias, né? Mas é isso...
H - E o Ave Sangria, você chegou a conhecer? Do Recife?
C - Conheci, mas não estava próximo na época. Assim também como no disco de Alceu Valença, lá
também não. É um disco que ele fez com o Sérgio Ricardo, Noite de Espantalho. Ele gravou com o Geraldo
Azevedo e acho que foi lá que esse disco foi feito. E o cara do Ave Sangria foi gravar muitos anos depois
um disco na Warner. Era o Ivinho. Depois nunca mais se ouviu falar dele. A companhia teve discos
interessantes, teve o Terreno Baldio, teve o Odair Cabeça de Poeta... Nem sei essas pessoas tão no
mercado, se existem ou tão vivas ainda. Foi esse o núcleo da companhia, foi o núcleo que existia, era muita
proteção assim. Ah, o Wilson Souto era um cara que você tinha que falar.
H - Já me falaram dele, viu?
C - Não, ele é o cara com quem você tem que falar! É o cara que produziu os sertanejos todos pro
Byington. É o cara que fez da gravadora atração. É o cara que ia pra...
H - Ele participou do Lira Paulistana também?
C - Pode ser.
H - São Paulo, anos 1980.
C – É.
H - E outra coisa que eu ia te perguntar: o Pena comentou uma vez e usou uma metáfora
interessante, que a Continental tinha várias entradas. Muita gente ia lá gravar coisas. Muita gente. E
chegava, gravava e ia embora, levava o disco, alguma coisa assim. Daí a Continental ter esse leque muito
grande de gêneros, de artistas... Queria saber se você tem essa visão.
C - Existia o seguinte: o lojista de Taguatinga dizia: “Ó, eu tenho um violeiro aqui espetacular”. Eles
ouviam e gravavam o cara. Ninguém gravava isso. Fora a RCA no Brasil, poucas gravadoras gravavam
artista, e a Copacabana um tempo também. Então, talvez seja essa a menção que ele tenha comentado
com você. Tinha um núcleo de produtores, tinha o Rodrigues Pozo, que não sei se é vivo ainda, que era o
diretor comercial por anos da companhia. Ele era o cara que buscava todo o... através do contato com os
lojistas formava isso. E em São Paulo tinha aquele polo que vinham todas as migrações, de todo o Brasil.
Então não era Mato Grosso ou Goiás, tinha uma oferta de fronteira que o Rio de Janeiro não tinha. Então
tinha mais oportunidade de trabalho que o Rio de Janeiro poderia oferecer. Essa pode ser a referência de
muitas entradas. Tinha um quadro de produtores, fixos na companhia, que produziam pra eles e tinham
esses projetos que eventualmente o lojista falava. O representante comercial da gravadora via o cara e
falava: “Olha, tá arrebentando aqui na Bahia, grava tudo...” A companhia tinha discos de todos os gêneros
possíveis. Os kardecistas gravavam, os umbandistas gravavam, tinha dez discos de umbanda gravados...
113
Ninguém tinha isso, e eles tinham. O cara tinha visão. Tinha que registrar isso. Agora, contrato, se tem não
tem, não acha o contrato... hoje em dia tá virado de pernas pro ar... Eu tô com uma tentativa de receber
direitos e não querem me pagar.
H - E esse acervo tá na Warner.
C - Tá. Tá tudo na Warner. E tudo na Warner que a Warner não tem. Porque se perdeu metade num
incêndio. As companhias transferiram para umas empresas que documentam acervo, então a companhia
não tem outro escritório físico, então ela tem as empresas de acervo. Tem que achar a tal da “Recall” lá em
São Paulo. […] Veja que já tem colecionador de disco que passa uma cópia, remasteriza, é difícil encontrar,
não existe. A Continental é ainda na época de um quarto, tudo mixado, não tinha dezesseis polegadas. Era
fita de quatro, no máximo. Tinha pouca coisa de dezesseis canais. Tanto que foi quando houve a
transmissão pra Warner, a Warner tem 30 anos, eu acho, no Brasil. E eu posso te falar que tem... O
Byington deve ter vendido a Continental pra Warner acho que tem vinte anos.
H - Acho que foi nos anos 90.
C - Não lembro a data exata.
H - Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Tem aqui uma ficha técnica dos discos que tão me
interessando e tem vários nomes. Não sei se você conhece algum, se você tem algum contato com algum...
É, eu fui pegando a ficha técnica dos discos, né? Do Tom Zé...
C – O Márcio ficou aqui no Rio de Janeiro, porque teoricamente a pessoa que estava aqui mais
importante já morreu, que era o Ramalho Neto. Foi diretor da RCA e veio tomar conta do escritório como
diretor artístico quando eu fiz o disco do Fagner e do Ney Matogrosso e O Terço. O Ramalho Neto era o
diretor. Não é vivo. E o Márcio vinha, ficou uma época aqui. O Márcio, quando veio pegar o disco, morou
uma época no Rio de Janeiro. O Ramalho o chamou para trabalhar porque já o conhecia de São Paulo.
Ramalho era paulista, mas morava no Rio.
H - O Tom Zé você falou que não trabalhou com ele. O Heraldo Do Monte era uma pessoa que
talvez eu pudesse conversar sobre o Walter Franco.
C - O Oscar fazia as capas de São Paulo, nunca tive contato com ele. Ah, conhecia de “Oi, tudo
bem, tudo bom, tudo certinho?” Dava ideia da capa, a capa ia pra São Paulo, aí saía uma catástrofe, porque
a fábrica era horrível, não tinham as provas de cor direito, o papel era ruim, era tudo meio complicado.
H - Esse Júlio Nagib já é falecido...
C – É. Olha o Ramalho Neto aqui...
H – É, o Ramalho Neto, exatamente.
C - Olha, você tem que indagar, porque muitas pessoas, em algumas situações, aparecem como
produtor musical nos discos. Olha aqui, aqui, e às vezes a pessoa não era produtor musical do disco. Tinha
o cargo, eventualmente, porque você tem que colocar em alguma coisa para citar os produtores. Tinha um
executivo que tinha trinta mil, quarenta mil reais, cruzeiros, para gravar o disco, e controlava tudo. O cara ia
ao estúdio pra ver, mas tinha o produtor dentro do disco. O cara que era produtor do artista. Eram “N”
situações, não tô dizendo que era o caso especifico aqui, não. Eu sei que o Márcio produziu vários discos
pra companhia. Eu vi o Marcio aqui, mas não sei quais foram.
H - Você só aparece atrás no Revolver, né?
C - Não, apareço no Terço, apareço no Fagner.
H - Aqui, é que não tá aqui, não tá nessa lista.
C - Você quer que eu faça a lista pra você? Se quiser... Tá aqui, tá gravado.
H – Tá gravado, não tem problema. E você mandou também uma relação de trabalhos seus. Eu dei
uma olhada ali na... É bem mais do que tem aqui, né?
C – Na Continental foi só isso. Eu queria ter feito mais, mas não...
H - Do Terço qual disco que foi?
C - É o primeiro. Na Continental. É o disco que tem “Lagoas das...”. O disco é com o Vinícius
Cantuária, Sérgio Hinds e Cezar de Mercês, que tem uma música que o Ezequiel Neves fez com eles. É
uma balada lenta, é uma brincadeira que deu certo.
H - Com Os Mutantes você não trabalhou?
C - Não. Em disco não. Eu ajudei a remontar Os Mutantes com meus amigos de Minas Gerais, que
era o Túlio Mourão, e fui trabalhar com eles. Fiz show dos Mutantes no Rio e fiz show da Rita Lee com Os
Mutantes. Eu produzi também.
H - E você morou em Londres, não?
C - Não. Eu conheci...
H - O Cláudio?
C – Incrível! Foi uma história engraçada. Aquele período em que os Baianos que estavam lá eu não
sei exatamente qual era a relação do Cláudio com os Baianos na época.
H - Também não sei, mas o Cláudio tava lá.
C - Foi o seguinte: é porque o Cláudio é da família dos quatro quatrocentões, então talvez por isso
tivesse alguma ligação com os irmãos Campos, ou com o... não sei, pudesse ter algum contato... Ou
também, pra ter um papo meio intelectual, cultural, numa cidade que não tinha tantos brasileiros na época,
nos anos 70. Eu estava caminhando na rua, encontrei e comecei a conversar. Conheci o Cláudio ali, a
114
gente conversou, bateu papo na rua e acabou que ele estava indo visitar Gil e Caetano. Eles eram muito
amigos. Eu fui lá, mas acabou que eu cheguei, e acho que só tava o Gil, e eu não me lembro muito bem a
história qual foi, mas foi muito rápido e eu fui embora. Eles me convidaram pra um show, mas eu tinha um
compromisso fora de Londres, era em Paris, com o irmão do meu pai, que morava na França. Ele era
francês naturalizado. Eu tinha um compromisso de família, acabei indo e não fui a esse show. Mas eu me
lembro dessa passagem. Muitos anos depois fomos nos reencontrar. Ele estava nessa época com o
Byington, estavam montando um núcleo para convencer o Byington a transformar aquilo em uma indústria
mais alternativa, mais contemporânea do mercado. Estavam antenados nas tendências mundiais, que
seriam a modernidade, as propostas, tudo. O piloto eram os Novos Baianos. Só que o piloto enlouqueceu,
né?
H - Chamava Sonhos?
C - Era um selo...
H - Um selo...
C - Uma coisa assim. Dentro da própria gravadora.
H - O Cláudio contou essa história. Acho que por isso que ele veio pra cá, contratar, junto com o
Byington e os Novos Baianos, sei lá...
C - Ele contratou e levou pra São Paulo, resolveu a vida dos Novos Baianos... Eles continuavam
morando aqui, né?
H – É.
C - Manteve um bom tempo. Mas o problema da Continental é que a máquina de vendas não
renovou. A equipe de vendas, o mercado foi se transformando. O Rodrigues estava em São Paulo, era o
que ele entendia muito bem, e tinha um núcleo de representantes no Rio de Janeiro. Mas as relações, o
progresso do país é diferente. Como eu falei, estávamos saindo da idade da pedra, chegando o
computador, tudo mudando muito. As relações não eram mais assim: “Ó, se você comprar o disco de
fulano, você leva o do sicrano. Então, compra, vende aqui e te dou um de graça”. Tinham uns jogos
comerciais em que a Continental tinha o acervo da Chantecler também, que vinha junto. Então, era muita
maluquice pra administrar. Você tem que falar com uma pessoa muito importante. Chama Biaggio Baccarin.
Se você não conversar com Biaggio Baccarin você não sabe nada da Continental. O Biaggio é um grande
colecionador, é o famoso doutor Brás. Ele é um advogado da companhia, conhecido como doutor Brás.
Colecionador. Você vai mandar um e-mail e te eu mando os telefones e tal.
H - É São Paulo ou Rio?
C – É São Paulo. Ele mora... Não é em Barueri... Ele mora afastado de São Paulo, mas não sei... É
perto de... eu esqueci o nome da cidade, eu sei que é o lugar...
H – Alphaville?
C – Não... Pô, quem dera que ele morasse em Alphaville. Ele deveria morar em Alphaville.
H – Cotia, Osasco...
C - É um nome legal, eu conheço gente que mora lá... Bom, basicamente é isso.
H - Muito bem, Carlos... Moracy Durval, você conheceu?
C – Conheci assim, vagamente.
H - Era um empresário de lá, não é? Esse Oscar Paulilo você falou que nunca tem contato, né?
C - Não tenho.
H - Puxa vida, viu? Toluti, Nagib...
C - Falou com o Toluti?
H - Não. Mas eu não sei se ele é tão ligado assim a esse pessoal.
C – Ah, modernidade nenhuma aí. Ele tomou conta dessa turma. Porque ele é do Rio de Janeiro.
Dos hippies, né? Da jovem guarda, pós-jovem guarda.
H - Ele é daqui, mora aqui?
C - Ele é paulista, mas mora no Rio de Janeiro... Ele foi diretor musical da TV Globo.
H - Por muito tempo, né?
C - É. Talvez esteja no Facebook, eu não sei como te falar. Talvez a Continental saiba como
encontrar ele. Ele tem produzido muitos discos, talvez esteja cobrando direitos autorais. A Warner pode
indicar, né? Que mais que eu podia falar pra você... Você falou com o Byington?
H - Então, é um problema falar com ele. Um colega, também pesquisador da USP, inclusive, que é
meu amigo, trabalha com esse tema também. Ele tentou falar com ele e, por telefone, o Byington falou que
não queria falar nada, que não interessava falar com ninguém sobre isso, até de um jeito meio assim,
arisco. Agora eu tô tentando falar com o Pena Schmidt, pra ele tentar, sei lá... falar com o Byington...
C - É bom que você disponibiliza isso depois, né?
H - Claro, é esse o objetivo.
C – Eu fui casado com uma compositora e cantora, e ela faz um trabalho... Ela tem feito alguns
SESCs, fez em São José do Rio Preto, fez em Cuiabá, fez em outra cidade em São Paulo que eu não
lembro o nome qual era, não sei se é Bauru... Ela faz um trabalho de música-literatura, em que ela fala
sobre o trabalho como autora e canta algumas músicas dela, como autora. E tem essa coisa de excursão,
esse é um trabalho que alguns autores estão fazendo, né?
115
H – Que legal isso!
C - É legal se tivesse chance de levar pra lá. Ela mora aqui e tem um grupo dela em São Paulo. Eu
dei a dica pra ela: tenha um grupo em São Paulo e tenha um grupo no Rio, que assim você não tem
problema. Vai só você e um técnico junto. Porque as pessoas não conseguem trabalhar, a ponte aérea é
monstruosamente cara e você não sabe quando vai aparecer um show! Você faz uma proposta pro SESC e
eles ligam pra você é “Ó, tem show daqui a dois meses”, você dá bobeira e te ligam: “Ó, é dia 1º de outubro,
de novembro”. Aí, você vai querer comprar a passagem e acaba pagando mil e quinhentos, dois mil. Não
dá! E se você tá em São Paulo, você pega ônibus pra qualquer lugar.