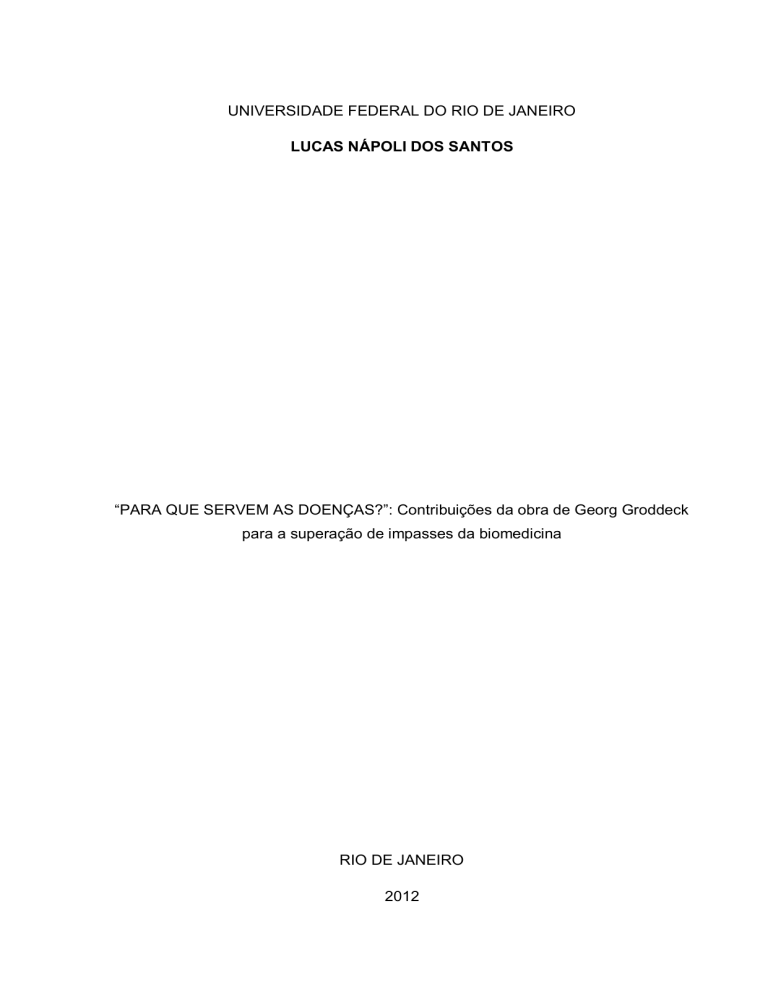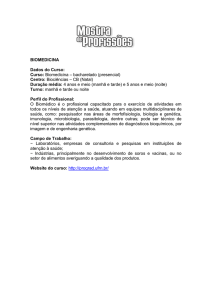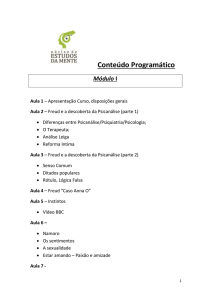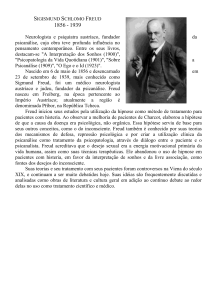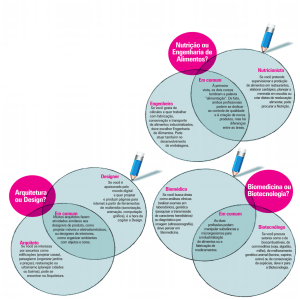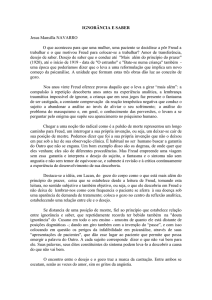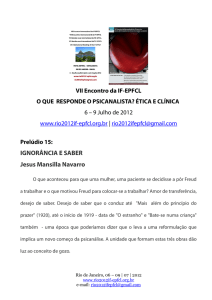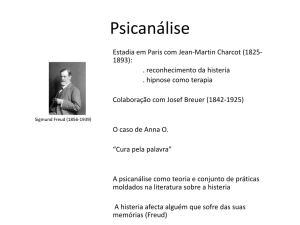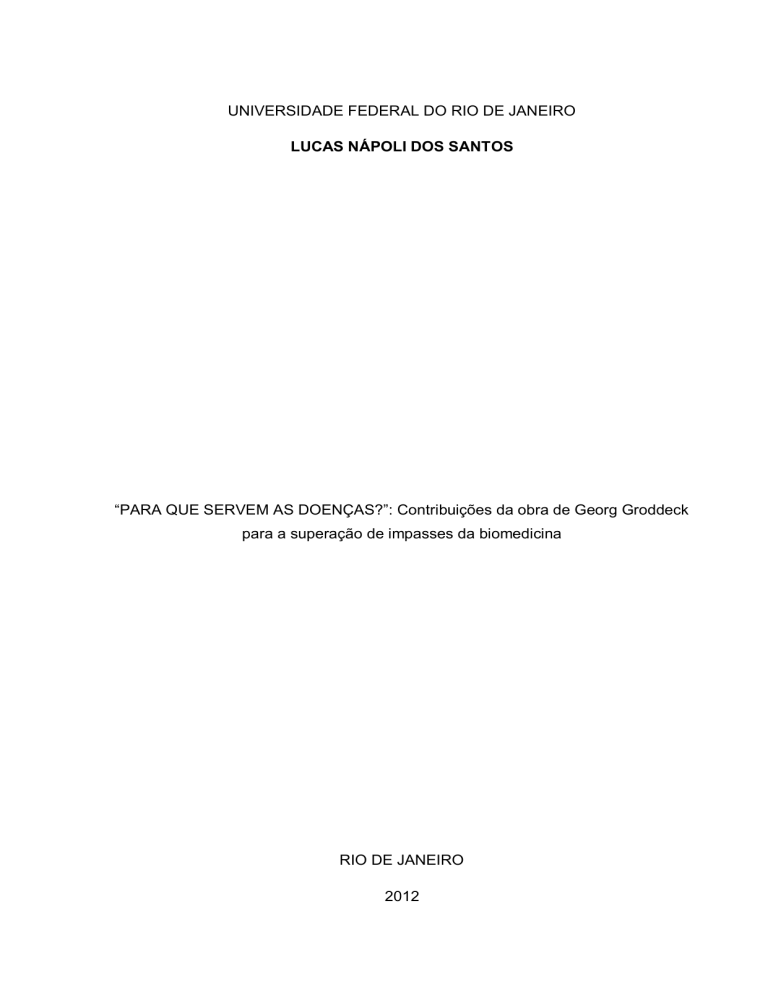
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
LUCAS NÁPOLI DOS SANTOS
“PARA QUE SERVEM AS DOENÇAS?”: Contribuições da obra de Georg Groddeck
para a superação de impasses da biomedicina
RIO DE JANEIRO
2012
1
Lucas Nápoli dos Santos
“PARA QUE SERVEM AS DOENÇAS?”: Contribuições da obra de Georg Groddeck
para a superação de impasses da biomedicina
Dissertação de mestrado apresentada ao
Programa de Pós-graduação em Saúde
Coletiva, Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, como requisito parcial à
obtenção do título de Mestre em Saúde
Coletiva.
Orientador: Prof. Dr. André Martins Vilar de Carvalho
Rio de Janeiro
2012
2
S237
Santos, Lucas Napoli dos.
“Para que servem as doenças?”: Contribuições da obra
de Georg Groddeck para a superação de impasses da biomedicina
/ Lucas Nápoli dos Santos. – Rio de Janeiro: UFRJ/ Instituto de
Estudos em Saúde Coletiva, 2012.
208 f.; 30cm.
Orientador: André Martins Vilar de Carvalho.
Dissertação (Mestrado) - UFRJ/Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva, 2012.
Inclui Bibliografia
1. Georg Groddeck. 2. Doença. 3. Filosofia Médica.
4. Biomedicina. I. Carvalho, André Martins Vilar de.
II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos em
Saúde. Coletiva. III. Título.
CDD 616.8915
3
Lucas Nápoli dos Santos
“PARA QUE SERVEM AS DOENÇAS?”: Contribuições da obra de Georg Groddeck
para a superação de impasses da biomedicina
Dissertação de mestrado apresentada ao
Programa de Pós-graduação em Saúde
Coletiva, Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, como requisito parcial à
obtenção do título de Mestre em Saúde
Coletiva.
Aprovada em ___________________________.
Banca examinadora
___________________________________________
Prof. Dr. André Martins Vilar de Carvalho (IESC/UFRJ)
___________________________________________
Prof. Dr. Carlos Augusto Peixoto Jr. (PUC-RJ)
___________________________________________
Prof. Dr. Carlos Alberto Plastino (IMS/UERJ)
4
A Rosângela
5
AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente a Quem designou a si mesmo como o Caminho, a Verdade
e a Vida, por cuja graça pude me dedicar à escrita deste trabalho com a consciência
de que “Nele nos movemos, existimos e respiramos”.
À Rosângela Sousa Farias Nápoli, minha eterna namorada e hoje esposa que com
palavras, atos e muito amor me ajudou a não desfalecer na caminhada árdua
desses dois anos de mestrado, fortalecendo e aumentando minha potência de agir
sobretudo quando as circunstâncias insistiam em refreá-la.
Ao
professor
André
Martins
pelas
oportunidades,
pela
gentileza,
pelo
companheirismo, pela simpatia e bom-humor, pela paciência, pela orientação e
supervisão suficientemente boas e pelas observações e correções criteriosas na
redação deste trabalho.
À professora Diana Maul de Carvalho pelos “alertas” e contribuições importantes no
exame de qualificação.
Aos professores Carlos Alberto Plastino e Carlos Augusto Peixoto Jr., por terem
aceitado o convite para fazerem parte da banca examinadora, o que me deixou
muito honrado.
À minha colega de mestrado Jaqueline Vitoriano, parceira competente no estágio em
docência, que foi importante em minha trajetória ao longo do mestrado, sendo
muitas vezes minha única interlocutora, compartilhando comigo a condição de
“forasteiro”.
Aos professores do IESC/UFRJ e do IMS/UFRJ pelas aulas inspiradoras que ora
direta ora indiretamente exerceram influência na condução deste trabalho.
Agradeço ainda a meu amigo Igor Madeira pela amizade sincera e fiel e pelas
divertidas e, por vezes, angustiadas conversas sobre as dificuldades e alegrias da
vida de mestrando.
6
“A imaginação não gera a
insanidade.
insanidade
O
é
que
gera
a
exatamente a
razão.” (G. K. Chesterton, in
“Ortodoxia”)
7
RESUMO
SANTOS, Lucas Nápoli dos. “Para que servem as doenças?”: Contribuições da
obra de Georg Groddeck para a superação de impasses da biomedicina. Rio de
Janeiro, 2012. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Estudos em
Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.
Este trabalho apresenta algumas contribuições extraídas da obra do médico e
psicanalista Georg Groddeck (1866-1934) que se mostram frutíferas para o
enfrentamento dos impasses e limitações vivenciados atualmente no campo do
cuidado em saúde em função da hegemonia da racionalidade biomédica. A
biomedicina ergueu-se sob os fundamentos da racionalidade científica moderna e de
seus reducionismos, fornecendo uma visão negativista da doença, como um inimigo
a ser extirpado a qualquer custo. Além disso, a biomedicina tende a reduzir a
patologia a um evento de ordem puramente orgânica, negligenciando, sobretudo, os
aspectos
subjetivos
presentes
em
todo
adoecimento.
Essa
exclusão
da
subjetividade é reforçada pela separação entre corpo e psiquismo presente de modo
implícito no modelo biomédico. Esses e outros aspectos da racionalidade biomédica
configuram impasses tanto na eficácia da assistência à saúde quanto na satisfação
de muitos usuários. Através de um estudo de natureza teórico-conceitual sobre a
obra de Georg Groddeck, verificou-se que esse autor propõe uma concepção de
adoecimento radicalmente distinta da biomédica. Para Groddeck, toda enfermidade
está radicalmente inserida na história subjetiva do indivíduo. A doença surgiria a fim
de exercer uma função na vida do paciente. Logo, não se deveria buscar sua
imediata eliminação, mas antes compreendê-la com o objetivo de desvendar seu
sentido. Desse ponto de vista, a separação entre corpo e psiquismo é, portanto,
dissolvida. Para Groddeck, embora uma doença possa se manifestar através de
lesões orgânicas, a subjetividade se faz sempre presente, bastando que o
profissional de saúde tenha olhos para ver. Ao final do trabalho faz-se uma
articulação entre essas propostas extraídas da obra de Groddeck e enunciados
eminentemente filosóficos de Georges Canguilhem e Baruch de Spinoza com o
intuito de esboçar quais seriam os fundamentos conceituais de um novo modelo de
8
cuidado em saúde. Verifica-se que Spinoza, ao postular uma concepção de natureza
como substância única, fornece um pano de fundo fecundo para a sustentação da
tese groddeckiana da doença como manifestação da vida e não como inimigo.
Canguilhem, com seu conceito de normatividade biológica, corrobora a proposição
de Groddeck segundo a qual a natureza é dotada de um potencial inerente de cura e
recuperação. Conclui-se que, conquanto Groddeck seja um autor cujos escritos
datam do final do século XIX e início do século XX, suas concepções sobre saúde,
doença e cura se mostram surpreendentemente atuais, indicando propostas
bastante férteis para a formulação de um novo modelo de cuidado em saúde, capaz
de suplantar os reducionismos, impasses e limitações da biomedicina.
Palavras-chave: Georg Groddeck; Doença; Filosofia Médica; Biomedicina
9
ABSTRACT
SANTOS, Lucas Nápoli dos. “Para que servem as doenças?”: Contribuições da
obra de Georg Groddeck para a superação de impasses da biomedicina. Rio de
Janeiro, 2012. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Estudos em
Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.
This study presents some contributions drawn from the work of the physician and
psychoanalyst Georg Groddeck (1866-1934). These contributions prove fruitful to
face the dilemmas and constraints currently experienced in the field of health care
due to the hegemony of the biomedical rationality. Biomedicine rose on the
foundations of modern scientific rationality and its reductionism, providing a
negativistic view of disease as an enemy to be extirpated at any cost. Moreover,
biomedicine tends to reduce the disease to an event purely organic, neglecting,
above all, the subjective aspects present in all illness. This exclusion of subjectivity is
reinforced by the separation between body and psyche implicitly present in the
biomedical model. These and other aspects of biomedical rationality configure
constraints both in the effectiveness of health care and the satisfaction of many
users. Through a theoretical and conceptual study of the work of Georg Groddeck, it
was found that this author proposes a conception of disease radically different of the
biomedical conception. For Groddeck, all illness is radically inserted in the subjective
history of the individual. The disease appears to play a role in the life of the patient.
Therefore, one should not seek his immediate disposal, but understand it in order to
unravel its meaning. From this point of view, the separation between body and
psyche is therefore dissolved. For Groddeck, although a disease can manifest as
organ damage, subjectivity is always present, just that the health professional has
eyes to see. At the end of the work makes up a relationship between these proposals
drawn from the work of Groddeck and eminently philosophical statements of Georges
Canguilhem and Baruch Spinoza in order to outline what are the conceptual
foundations of a new model of health care. It appears that Spinoza, in postulating a
conception of nature as a single substance, provides a fertile background for the
support of the thesis groddeckiana disease as a manifestation of life and not as an
10
enemy. Canguilhem, with his concept of biological normativity, supports Groddeck’s
proposition according to which nature is endowed with an inherent potential of
healing and recovery. It is concluded that although Groddeck is an author whose
writings date from the late nineteenth and early twentieth century, his views on
health, disease and cure prove surprisingly current, indicating very fertile proposals
for the formulation of a new model of care health, able to overcome the reductionism,
dilemmas and limitations of biomedicine.
Keywords: Georg Groddeck, Disease, Medical Philosophy, Biomedicine
11
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 12
1 O MODELO BIOMÉDICO E SEUS IMPASSES .................................................. 21
1.1 Preâmbulo ........................................................................................................ 21
1.2 Das relações entre o pensar e o agir................................................................ 23
1.3 O solo conceitual da biomedicina: racionalidade científica moderna e suas
ideologias ............................................................................................................... 24
1.4 As espécies e o corpo: aspectos do processo de emergência do modelo
biomédico ............................................................................................................... 37
1.5 Retorno do recalcado ....................................................................................... 57
2 GEORG GRODDECK: UMA APRESENTAÇÃO ................................................ 63
2.1 O esquecimento da obra groddeckiana ............................................................ 63
2.2 Raízes biográficas do pensamento de Georg Groddeck .................................. 66
2.3 A influência de Ernst Schweninger ................................................................... 72
2.4 O encontro com a psicanálise .......................................................................... 76
2.5 A doença como criação simbólica .................................................................... 81
2.6 Para-além das fronteiras do eu: o conceito de Isso ....................................... 87
3. PROPOSTAS GRODDECKIANAS PARA A SUPERAÇÃO DE IMPASSES DA
BIOMEDICINA ....................................................................................................... 98
3.1 O objeto do tratamento é o doente e não a doença ......................................... 98
3.2. Diagnóstico do ser humano e não apenas do corpo ....................................... 104
3.3 Compreensão e não combate à doença........................................................... 113
3.4 A transferência na relação médico-paciente .................................................... 124
3.5 Dualismo biomédico e monismo groddeckiano ................................................ 131
3.6 Inserção da doença na história subjetiva do doente ........................................ 139
4. POR UM NOVO MODELO DE CUIDADO EM SAÚDE: ARTICULANDO AS
CONTRIBUIÇÕES DE GRODDECK A ASPECTOS FILOSÓFICO-CONCEITUAIS
............................................................................................................................... 148
12
4.1 Retomando o problema central: a concepção de natureza .............................. 149
4.2 Ego, Isso, cultura, natureza .............................................................................. 152
4.3 Spinoza, a natureza como substância única e o conatus ................................. 154
4.4 Canguilhem e a normatividade biológica .......................................................... 167
4.5 Isso, normatividade biológica e conatus ........................................................... 173
CONCLUSÃO ........................................................................................................ 178
REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 186
ANEXOS ................................................................................................................ 190
13
INTRODUÇÃO
A palavra “crise” tem se feito presente com uma frequência cada vez maior na
contemporaneidade. É comum ouvirmos no meio acadêmico e na mídia falar-se
acerca de “crise ética”, “crise da ciência”, “crise financeira” etc. Esse aparente
diagnóstico de crises nas mais diversas instâncias sociais pode ser tomado como o
reflexo de um momento específico atravessado pela civilização ocidental e que
parece ser marcado pela idéia de que está em curso uma transformação de grandes
proporções.
Nesse contexto, o afeto predominante parece ser a angústia, traço de uma
sensação de insegurança advinda do fato de que o tecido simbólico no qual
caminhamos se mostra movediço, inconstante, cambiante. As certezas do passado,
que garantiam certa estabilidade e serviam como balizas relativamente seguras para
a orientação da existência agora se mostram caducas, frágeis e amiúde inúteis para
as novas situações que se apresentam. Quanto ao futuro, esse se mostra tal como é
de fato: como pura imprevisibilidade, distinto do futuro projetado da modernidade,
pré-determinado e que supostamente realizaria os sonhos planejados no passado.
Nesse cenário, crise parece efetivamente ser a palavra que melhor define o
processo de metamorfose que nossa sociedade experimenta. Trata-se, como a
etimologia grega da palavra evidencia, de um momento difícil, de decisão e que,
portanto, cria a necessidade do ato – que corta, cinde, separa e, ao mesmo tempo,
cria uma realidade nova.
Para nossos propósitos, convém lembrar que crise é palavra cara ao
vocabulário médico, designando os momentos de virada no curso de uma doença.
Há crises que são signos de uma mudança rumo à melhora, como também há crises
que indicam a passagem para um estado pior. Trata-se sempre, todavia, de um
ponto de desequilíbrio na evolução de um paciente que sinaliza a irrupção de um
novo período de estabilização – eis a crise na medicina.
Não obstante, a literatura mais recente do campo do cuidado em saúde tem
registrado cada vez mais a palavra crise não apenas como conceito médico, mas
como caracterizadora do momento pelo qual passa a medicina na atualidade. Nesse
14
caso, fala-se de uma crise da medicina. Como as demais instâncias sociais, o
cuidado em saúde também estaria atravessando um período de crise e, em
decorrência, de mudança, de transformação e, principalmente, de impasses. Com
efeito, o que provoca o advento de uma crise é precisamente o impasse gerado pela
desarmonia existente na relação entre as demandas da situação presente e os
recursos existentes para fazer frente a tais demandas. O período de estabilidade é
marcado justamente pela relativa complementaridade existente nessa relação. A
crise manifesta o descompasso entre o velho e o novo, entre os antigos modelos ou
modos de operar e as novas realidades que se apresentam.
Esse descompasso, ao se fazer presente, revela o engodo de uma concepção
desenvolvimentista das relações entre o homem e a realidade, que sustenta que o
pensamento humano evolui de modo contínuo de acordo com as demandas da
realidade. É desse ideário que brota a ilusão de que a ciência atual é mais evoluída
do que a de outros tempos. As crises mostram justamente que não há tal
continuidade no percurso histórico da humanidade, que esse percurso é guiado não
por um suposto espelho da realidade (razão universal), mas por racionalidades, por
modos de ver, de pensar e de conceber essa realidade, de sorte que sempre haverá
um descompasso mínimo entre o homem e o real, o qual será menor ou maior
dependendo do quão empáticas com a realidade forem as racionalidades vigentes.
Os momentos de crise são justamente os períodos em que esse descompasso se
exacerba.
Quando a literatura do cuidado em saúde fala de uma “crise da medicina” ou
“crise da saúde” o que está em jogo é precisamente o impasse entre os recursos
teórico-metodológicos que se tem e aquilo que se quer ou se deve fazer
considerando a complexidade do real. O que se tem é o que a maioria dos
pesquisadores chama atualmente de biomedicina ou modelo biomédico. Paradigma,
estilo de pensamento, modelo ou racionalidade, a biomedicina pode ser designada
sucintamente como todo o conjunto de diretrizes teóricas e práticas que orientam a
formação médica moderna e que, por conseguinte, guiam a prática não só dos
médicos, mas também da maior parte dos profissionais de saúde. O prefixo “bio”
indica precisamente o traço mais marcante dessa racionalidade: a supervalorização
dos aspectos biológicos (notadamente a anatomia e a fisiologia) do humano em
detrimento de outras dimensões fundamentais como a psicológica e a social.
15
A crise da medicina ocidental moderna refere-se à crise de seu
paradigma dominante, o qual se identifica inteiramente com o
positivismo ao não reconhecer o papel da sociedade, da
cultura, da comunidade científica e da própria história na
determinação não só do objeto do conhecimento como da
maneira de abordá-lo (QUEIROZ, 1986, p. 310)
É importante ressaltar que o próprio uso do termo biomedicina já se dá em um
contexto de crise do modelo de cuidado em saúde sustentado por essa
racionalidade. Em outras palavras, trata-se de um termo cunhado justamente como
forma de localizar e nomear o alvo das críticas. Por conta disso, é muito comum
encontrarmos profissionais de saúde que, por não estarem inseridos na discussão
acerca dos impasses vivenciados atualmente pelo cuidado em saúde, por vezes
desconhecem o
termo
biomedicina ou consideram-no
apenas uma
nova
especialidade médica.
No âmbito crítico, a biomedicina se refere ao modelo teórico-prático que
vigora atualmente no campo do cuidado em saúde. O primeiro capítulo de nosso
estudo tem a função de caracterizar esse modelo, apontando suas origens históricas
e, especialmente, assinalando os impasses que ele enfrenta atualmente.
Iniciamos com uma exposição do que denominamos de “solo conceitual da
biomedicina”
e que
se
refere aos fundamentos filosófico-conceituais que
sustentaram o que Luz (1988) chama de “racionalidade científica moderna”, uma
cosmologia, isto é, uma estrutura de explicação do ser humano e do mundo, que
sucedeu a explicação de mundo religiosa vigente durante toda a Idade Média.
Derivada da chamada Revolução Científica ensejada pelo Renascimento, a
racionalidade científica moderna se constituiu fundamentalmente a partir da
separação entre homem e Natureza e da elaboração dessa última como objeto de
conhecimento.
Abordamos, com o auxílio de textos de Martins (1999; 2009), a genealogia
dessas novas idéias, demonstrando que se tratava de postulados construídos com
base na pretensão de um controle absoluto sobre o real. Em decorrência, fora
elaborado todo um imaginário marcado pela idéia de conflito e de luta entre o
homem e a Natureza em que a racionalidade humana tinha como missão desbravar
e tentar domesticar uma Natureza selvagem.
16
Concomitantemente, no contexto do advento da racionalidade científica
moderna, emergiu a metáfora da Natureza como máquina, isto é, dotada de um
funcionamento regular, previsível, mecânico, controlável, semelhante aos primeiros
aparelhos mecânicos construídos nos séculos XIV e XV. É nesse contexto que
surgem os princípios metodológicos que orientariam o desenvolvimento da ciência
moderna e que acabariam por se converterem em ideologias, entre eles a
especialização, a redução e a experimentação.
Os três procedimentos podem ser considerados como legítimos e úteis para a
produção de conhecimento desde que sejam reconhecidos como o que de fato são:
estratégias de apreensão do real e não espelhos da natureza. Uma das marcas mais
visíveis da racionalidade científica moderna foi justamente ter tomado tais princípios
metodológicos como a verdade do real, fazendo da ciência uma ideologia, o
cientificismo (MARTINS, 2009).
As origens do modelo biomédico estão diretamente marcadas pela ideologia
cientificista. Percorrendo a história do nascimento da medicina moderna com
Foucault em seu “O Nascimento da Clínica” (FOUCAULT, 2008) vemos como, na
pretensão de se constituir como ciência, a medicina acabara tendo que se afiliar ao
cientificismo. Foucault traça dois grandes momentos na história dos primórdios da
medicina moderna: a medicina das espécies (ou medicina classificatória) e a
anatomia patológica. A medicina das espécies constituiu-se na tentativa feita no
século XIX de fundar um cuidado em saúde baseado na classificação das patologias
em gêneros, famílias e espécies, modelo de categorização já utilizado em outras
ciências como a botânica, por exemplo. Para tanto, fora preciso considerar a
enfermidade como entidade e não como processo de adoecimento. Assim, pensavase que o indivíduo ficava doente quando uma determinada entidade patológica se
instalava em seu corpo.
Já a anatomia patológica diz respeito à nova disciplina criada no século XIX
caracterizada pela investigação, notadamente em cadáveres, de correlações entre
os sintomas das doenças e lesões no corpo. A anatomia patológica marcara a
entrada em cena dos dados anatômicos como critérios primordiais na determinação
do estatuto da doença. Nesse contexto, já não se tratava mais de investigar apenas
os sinais e sintomas de um quadro patológico a fim de determinar qual espécie de
17
doença adentrara no corpo do doente, mas sim de perscrutar as superfícies e
tessituras do corpo na busca de informações. Assim, a localização e observação das
lesões no organismo do paciente passaram a ser os expedientes principais da
atividade médica.
Conquanto se tratem de modelos de medicina gestados e praticados no
século XIX e que diversos desenvolvimentos posteriores do conhecimento médico
tenham suplantado a força desses modelos, alguns de seus traços ainda se mantêm
na medicina contemporânea e são justamente as características que mais tendem a
gerar impasses à biomedicina. A alta valorização da correta descrição dos sintomas
por parte do paciente e a ênfase no diagnóstico como um elemento essencial para o
cuidado em saúde podem ser vistos como heranças da medicina das espécies e sua
necessidade de identificar e classificar a entidade patológica. Os impasses gerados
por tais atitudes advêm do fato de que o diagnóstico que só leva em conta sinais e
sintomas e que apenas com tais informações se considera capaz de determinar o
que ocorre com o doente é reducionista, pois parte do pressuposto de que todos os
doentes cujos diagnósticos os encaixam em uma mesma patologia apresentam um
mesmo quadro patológico e devem ser tratados segundo estritamente os mesmos
protocolos, em um procedimento muito mais próximo da engenharia do que de uma
terapêutica singularizada que se valeria dos diagnósticos apenas como ferramentas
de orientação clínica. Além disso, há um grande número de doentes que se
apresentam com sintomas vagos, indefinidos, inclassificáveis e que, pela dificuldade
ou mesmo impossibilidade de serem diagnosticados, não recebe a devida
assistência à saúde, evidenciando o prestígio que a enunciação do diagnóstico
possui na biomedicina.
A ênfase nos exames, nos testes e em todo tipo de procedimento de
mensuração do corpo, desde a dimensão macroscópica das lesões visíveis a olho
nu até a dimensão microscópica dos vírus e bactérias, deixa clara a força que o
olhar adquiriu na medicina moderna. Força que podemos considerar como tendo
sido forjada no momento em que a anatomia patológica começa a se fazer presente
com maior intensidade na medicina. A idéia que parece ser considerada intocável
desde aquele momento até os dias atuais é a de que apenas aquilo que pode ser
visto ou de algum modo mensurado no corpo possui legitimidade para caracterizar
um adoecimento. No entanto, uma série de condições de adoecimento não é
18
passível de ser adequadamente mensurada de acordo com os meios e os critérios
biomédicos. Por conta disso, tais condições são tratadas de modo pouco criterioso
e/ou os pacientes recebem simplesmente do profissional de saúde a célebre
mensagem: “Você não tem nada”. Enunciado que expressa com clareza o impasse
da biomedicina perante tais condições e a ideologia cientificista que nutre tal
impasse. É como se o profissional de saúde estivesse dizendo: “Aquilo que você
alega como sendo seu sofrimento e sua doença na verdade não existem, dado que
minha ‘ciência’ não conseguiu identificá-los.”.
Esses são alguns dos principais impasses enfrentados pelo modelo
biomédico. No primeiro capítulo, buscamos traçá-los de modo mais pormenorizado
delineando suas origens históricas e os fundamentos filosófico-conceituais sobre os
quais se constituíram.
O que fazer para dirimir tais impasses? A hipótese que norteia este estudo é a
de que tal tarefa só pode ser levada a cabo mediante uma transformação direta não
na superfície, isto é, no âmbito prático, onde esses impasses de fato aparecem, mas
sim nas bases conceituais que estão em sua origem. Em outras palavras, não
propomos aqui que a eliminação dos impasses referentes à questão do diagnóstico
reducionista, por exemplo, passe por uma mudança de ordem meramente prática
como a extensão do tempo de duração das consultas médicas. Tal estratégia
provavelmente será frutífera, mas não haverá mudança efetiva se o profissional de
saúde não modificar suas concepções acerca do que significa propriamente um
diagnóstico e suas idéias acerca do que seja doença, saúde, cura, tratamento e, em
última instância, do que significa natureza, vida etc.
Em meio a esse contexto de crise que citamos anteriormente e no qual se
inserem os impasses vivenciados pelo modelo biomédico, muitos autores
contemporâneos têm trazido à baila, a fim de repensar os fundamentos de seu
campo de estudo, contribuições de autores do passado, especialmente daqueles
cujo pensamento se localiza em períodos anteriores à medicina moderna. Tem sido
cada vez mais comum encontrarmos na literatura de diversos campos do
conhecimento o resgate do pensamento de filósofos pré-socráticos, por exemplo. A
tese é de que as proposições desses pensadores são bastante pertinentes à
realidade pós-moderna marcada pela diluição das rígidas fronteiras geradas na
19
modernidade entre natureza e cultura, corpo e psiquismo, indivíduo e sociedade etc.
Na área da saúde, vemos também pesquisadores recuperando e demonstrando a
atualidade dos enunciados atribuídos a Hipócrates, por exemplo, o qual, embora
seja considerado o pai da medicina ocidental, elaborou uma doutrina médica
baseada na idéia de equilíbrio com o ambiente com a qual a biomedicina não se
mostra compatível.
Esta pesquisa também se insere nessa tendência de resgate das
contribuições de autores do passado. A obra do autor que aqui colocamos em cena,
Georg Walther Groddeck (1866-1934), jamais adquiriu significação de maior vulto
nos campos em que atuava, a saber: a medicina e a psicanálise. Não obstante, em
nossas leituras preliminares de seus escritos constatamos que suas idéias acerca do
significado da atividade médica, da doença, da saúde e da cura poderiam ser
consideradas justamente como um contraponto aos enunciados da biomedicina, de
modo que um estudo mais aprofundado em sua obra possivelmente forneceria uma
série de contribuições para a superação dos impasses vivenciados pelo modelo
biomédico. Deste modo adveio nosso problema de pesquisa, o qual pode ser
expresso da seguinte forma: “Quais as contribuições da obra de Georg Groddeck
para a superação de impasses da biomedicina?”
Groddeck ficou conhecido no meio psicanalítico apenas como um autor
obscuro, que havia se dedicado ao estudo das doenças psicossomáticas e em quem
Freud havia se inspirado para forjar o conceito de id (ou Isso). No segundo capítulo
desta pesquisa, no qual realizamos uma espécie de “vida e obra” do autor,
pretendemos fazer justiça ao seu legado, demonstrando, entre outras coisas, como
o conceito freudiano de id é completamente diferente do Isso groddeckiano.
Analisando sua concepção de doença, deixamos claro que conquanto Groddeck
fizesse uso de expressões como “condicionamento psíquico”, o médico alemão
jamais pensou o adoecimento como sendo fruto de uma psicogênese. Para
Groddeck, a enfermidade é uma criação do Isso, o nome que ele dá à totalidade
individual, a qual excede fartamente os limites do eu. Aliás, o eu para Groddeck é
também uma criação do Isso, um arauto que crê ilusoriamente ser o autor da
mensagem que seu real emissor lhe condena a entregar. O Isso não é nem corpo,
nem psiquismo, mas utiliza a ambos como “dialetos” para expressar suas
intencionalidades. Por isso, a doença, para Groddeck, não é um evento isolado da
20
história individual, mas está radicalmente inserida nela, servindo como meio de
expressão individual, tal como a linguagem verbal. No segundo capítulo também
buscamos dirimir os preconceitos que ao longo do tempo se depositaram ao redor
do pensamento de Groddeck, derivados em grande parte de uma leitura superficial
dos textos do autor. Através de uma análise cuidadosa de seus diversos escritos,
demonstramos que não há nada de místico nas concepções do autor e que muitos
dos enunciados aparentemente “escandalosos” e interpretações consideradas
“forçadas” de Groddeck são apenas recursos retóricos próprios a seu estilo. Embora
este segundo capítulo não aponte diretamente as contribuições do pensamento
groddeckiano para a superação de impasses experimentados pela biomedicina, o
consideramos necessário como forma de apresentar uma visão geral tanto da vida
quanto das concepções teóricas do autor. Com efeito, Groddeck é um autor pouco
conhecido e, como ressaltamos acima, mesmo aqueles que já ouviram falar dele
amiúde não tiveram acesso mais aprofundado a suas idéias.
No terceiro capítulo, que consideramos o segmento nuclear de nosso estudo,
é que expomos efetivamente a resposta a nosso problema de pesquisa, isto é, as
proposições teóricas encontradas na obra groddeckiana que julgamos capazes de
contribuir para a superação de impasses da biomedicina. Através de um diálogo
constante com o primeiro capítulo, no qual esses impasses são analisados,
buscamos demonstrar o quanto as idéias de Groddeck, embora tenham sido
elaboradas no mesmo momento histórico em que a biomedicina estabelecia suas
bases teórico-metodológicas, se opõem radicalmente ao modelo biomédico.
Ademais, a partir de uma análise minuciosa dos textos do autor, vamos colhendo o
que de essencial há na doutrina groddeckiana capaz de auxiliar na formulação de
um novo modelo de cuidado em saúde.
Conquanto o objeto principal de nosso estudo já fosse atingido no terceiro
capítulo, julgamos necessário inserir em seguida um quarto segmento a fim de
cumprir duas tarefas complementares: (1) demonstrar que as contribuições extraídas
da obra de Groddeck não são pontuais, mas têm sua relevância aumentada na
medida em que estão inseridas dentro de um discurso mais amplo derivado das
proposições de alguns autores do campo da filosofia; (2) apontar quais seriam os
fundamentos filosófico-conceituais necessários para a formulação de um novo
21
modelo de cuidado em saúde no qual as contribuições de Groddeck poderiam se
inserir.
22
1 O MODELO BIOMÉDICO E SEUS IMPASSES
1.1 Preâmbulo
Neste primeiro capítulo, nossa intenção é a de apresentar ao leitor o campo
de problemas, impasses e limitações enfrentados pelos profissionais de saúde em
sua atuação cotidiana, partindo da hipótese de que tais dificuldades advêm da
prevalência de um tipo específico de matriz teórica, filosófica e conceitual que
fundamenta as ações desenvolvidas no cuidado em saúde contemporâneo. Tal
matriz, usualmente denominada de biomedicina ou modelo biomédico, cujo modo de
incidência no campo da saúde permite qualificá-la como um paradigma (no sentido
kuhniano) ou um estilo de pensamento (na acepção de Fleck), vem sendo alvo de
críticas há algum tempo na literatura das diversas áreas que compõem o vasto
campo do cuidado em saúde.
No entanto, posicionamentos dessa natureza não se configuram efetivamente
como formas de resistência e de intervenção com vistas à superação do modelo
biomédico. Em geral, as críticas tendem a ‘chover no molhado’ insistindo em
questões como a ausência de um ponto de vista integral da pessoa na biomedicina,
isto é, que a medicina moderna não vê o indivíduo, mas apenas seus órgãos ou que
o modelo biomédico reduz o processo saúde-doença ao que se passa no âmbito do
organismo e da biologia. Não estamos dizendo que tais juízos não sejam
pertinentes. No entanto, tememos que a insistência nesses mesmos pontos e em
fatos que qualquer usuário de serviços de saúde sabe de cor, sem a apresentação
de possíveis alternativas ou soluções, acabe fazendo com que a crítica se
transforme em flatus vocis, como tem ocorrido de forma semelhante com as
condenações ao modo de produção capitalista nas sociedades contemporâneas.
Mais: essa espécie de crítica pela crítica pode provocar efeitos totalmente adversos
(para usar a expressão pertinente ao tema), pois embora a biomedicina tenha que
lidar com uma série de furos teóricos e práticos em seu funcionamento enquanto
modelo, foi justamente o seu desenvolvimento que permitiu uma série de avanços
na compreensão e no tratamento de muitas enfermidades, o que significa dizer que
o modelo biomédico conta a seu favor com um argumento extremamente forte na
medida em que é pragmático: as intervenções que dele decorrem são efetivas em
23
grande parte dos casos. Assim, se os críticos não apresentam formas de superação
dos impasses que o modelo enfrenta, seus posicionamentos podem ser vistos como
um retrocesso, como uma tendência de retorno a um modo ultrapassado de cuidado
em saúde.
Outro problema que acomete a maior parte das críticas ao modelo biomédico
é a ausência de uma fundamentação histórica ou genealógica tanto da crítica quanto
daquilo que é criticado, fazendo com que muitas vezes o juízo condenatório assuma
apenas um tom de lamentação. Posturas como essas fazem com que a crítica se
torne um mero lugar-comum, pois dá a entender que o autor não sabe por que está
criticando nem as razões pelas quais o objeto alvo de crítica a merece. Com vistas a
nos livrarmos de armadilhas e ciladas desse tipo, nas quais qualquer procedimento
de resistência tende a cair, começaremos esse capítulo do começo. O pleonasmo é
proposital, pois nossa descrição partirá não dos impasses e limitações enfrentados
pela biomedicina – o objeto central desse segmento – mas das condições sociais,
filosóficas, históricas e ideológicas que permitiram o desenvolvimento e a
manutenção do modelo biomédico como o paradigma hegemônico do cuidado em
saúde. Dessa forma o leitor será levado a perceber onde se situa a gênese dos
problemas, pois acreditamos que somente a intervenção naquilo que funciona como
esteio dos impasses poderá servir como forma de superação dos mesmos.
O erro, a nosso ver, do famigerado “projeto de humanização” da saúde é
justamente o de não atentar para os fundamentos teórico-conceituais do objeto de
contestação: ele pressupõe uma alteração no nível das práticas de saúde, mas
deixa intocados os conceitos e teorias que efetivamente estão na origem das
práticas “desumanas”1. Nosso interesse, portanto, é pragmático: exporemos as
condições que originaram os atuais problemas enfrentados no cuidado em saúde de
forma a demonstrar nos capítulos posteriores as contribuições que a obra de Georg
Groddeck pode fornecer para a superação desses impasses, justamente porque tais
contribuições incidirão no âmbito dos modos de pensar, os quais fundam os modos
de fazer.
1
Exceções a esse quadro têm sido os trabalhos desenvolvidos por José Ricardo Ayres, nos quais é possível notar
uma preocupação em situar e discutir os fundamentos conceituais que devem embasar a proposta de
humanização do cuidado em saúde, utilizando como ferramenta discursiva a hermenêutica filosófica. Cf.
AYRES, 2004; 2005; 2007.
24
1.2 Das relações entre o pensar e o agir
Nem sempre se pensou o corpo tal como hoje o concebemos e descrevemos.
Essa afirmação aparentemente banal pode não o ser se levarmos em conta o fato
de que na maior parte do tempo talvez nos esquecemos completamente dela.
Dificilmente um doente consegue discernir que no momento em que um profissional
de saúde lhe diz que ele possui cálculos renais, por exemplo, ele não está
descrevendo o que de fato acontece em seus corpos (como se estivesse exercendo
uma função análoga à do espelho), mas está efetivamente fazendo uso de uma
construção lingüística em que ambos, tanto o profissional quanto ele, paciente,
acreditam como devendo corresponder a determinadas estruturas corporais.
Geralmente não se coloca em questão, portanto, o fato de que tanto o profissional
de saúde quanto os pacientes estão construindo um corpo no exato momento do
diagnóstico, isto é, que estão ambos recortando em suas próprias mentes uma
superfície a respeito da qual não se pode afirmar a priori que possua determinadas
demarcações, fronteiras ou subdivisões.
Admitindo esse postulado, qual deveria ser, portanto, o critério para a
escolha, por exemplo, entre uma caracterização do corpo como sendo constituído de
sistemas, órgãos, tecidos e células ou como comportando apenas uma cabeça,
tronco e membros, já que não seria a correspondência a uma suposta natureza real?
Não seria uma resposta possível: a partir das conseqüências que decorrem de cada
uma das visões com vistas e quanto tais conseqüências contribuem para a
realização de nossos interesses práticos? Ou seja, em vez de buscarmos uma
correspondência entre nossas descrições e o real – correspondência que à primeira
vista parece impossível de ser feita se considerarmos que a realidade admite
diversas descrições (todavia, não qualquer descrição) – não deveríamos pautar
nossas escolhas teóricas nas possibilidades que determinada descrição da natureza
tem de nos auxiliar no alcance dos objetivos a que nos propomos, por exemplo, a
efetividade do cuidado em saúde?
Se esse for nosso critério, o questionamento que deve ser feito, portanto, para
a biomedicina, quando ela pressupõe que a doença seja vista como uma questão de
ordem puramente orgânico-biológica, é se essa forma de descrever as coisas facilita
ou dificulta nossa compreensão do adoecer e não se essa tese corresponde ou não
25
à “realidade-real-verdadeira” da doença. Certamente, não foi esse o parâmetro
adotado no desenvolvimento da medicina moderna. Essa, como diversos novos
campos científicos, é herdeira de uma tradição que pretendia encontrar a
correspondência identitária entre o pensamento e a realidade, ou seja, um tipo de
concepção que via como possível ao sujeito humano ter acesso à verdade imanente
à natureza. Falemos um pouco mais sobre essa tradição.
1.3 O solo conceitual da biomedicina: racionalidade científica moderna e suas
ideologias
Evidentemente, essa tradição a que nos referimos, a saber: a racionalidade
científica moderna, possui uma história e um desenvolvimento cujas linhas de
evolução será preciso traçar de modo que se possa compreender a gênese de
determinadas formas de pensar que, embora tivessem sido funcionais num dado
momento histórico e ainda o sejam em alguns aspectos, acabaram por se constituir
em fatores impeditivos da consecução dos próprios objetivos a que se propuseram
as disciplinas que compõem o cuidado em saúde.
Para contarmos essa história, teremos como guia principais a obra de Madel
Luz, “Natural, Racional, Social” (LUZ, 1988) e textos de André Martins que enfocam
as relações entre a racionalidade científica moderna e o campo da saúde
(MARTINS, 1999; 2004a; 2004b; 2008; 2009)
o que não significa que
negligenciaremos a contribuição de outros autores. A escolha da obra de Luz e
Martins não foi arbitrária. Com efeito, correndo o risco da simplificação, pode-se
dizer que é possível adotar duas perspectivas distintas ao se fazer a história de
formas ou sistemas de pensamento. Uma é a perspectiva epistemológica que
analisa as continuidades, descontinuidades e rupturas teórico-conceituais no interior
do próprio sistema que está sendo objeto de estudo. Ao adotar-se esse ponto de
vista, não se está preocupado com fatores exteriores ao sistema que porventura
determinariam a evolução dos conceitos. Parafraseando Husserl, a forma de
pensamento em apreço é colocada “entre parênteses”. A outra perspectiva é a que
pode ser chamada genericamente de genealógica. Desse ponto de vista, nenhuma
forma de pensamento é neutra em relação ao contexto afetivo, político, social,
econômico e ideológico no qual foi gestada. Pelo contrário, entende-se que ela é
26
função desse contexto. Nesse sentido, a origem de determinados conceitos dentro
de um dado modo de pensar não pode ser remetida apenas a outros conceitos que
o antecederam no tempo, mas também e, principalmente, a uma ampla rede de
relações dentro do meio social que, em última instância, se fundam na dinâmica dos
afetos humanos. A genealogia enquanto método de análise histórica começa com
Nietzsche no momento em que esse concebe a moral como um precipitado de
pensamento gestado em meio a disputas de índole que poderíamos eminentemente
chamar de narcísica. De acordo com André Martins (2004a):
É com Nietzsche que a genealogia torna-se um método
investigativo, que consiste basicamente em remontar às
causas afetivas das ações, valores e argumentos
aparentemente racionais presentes. Perceber o que está em
jogo por detrás de explicações que não levam em conta o
sensível e suas interações narcísicas, egoístas, emocionais
(MARTINS, 2004a, p. 953).
A remontagem histórica feita por Madel Luz e por André Martins adota essa
perspectiva. De fato, no caso de Luz, não se trata de uma genealogia feita no
sentido estrito do termo (tal como Nietzsche a faz), mas da adoção de um método
descritivo de inspiração genealógica semelhante à “arqueologia” de Foucault, que
Luz denomina de “análise sócio-histórica”. A autora expõe de maneira clara suas
intenções no seguinte trecho:
O exame dessa “produtividade” [da ciência] será conduzido,
metodologicamente, através da análise histórica de teorias e de
conceitos, de sua origem e da mutação de seus conteúdos no
contexto social. Aqui sim, se está falando mais de arqueologia
– ou de genealogia – que de epistemologia histórica (LUZ,
1988, p. 09).
Portanto, ao convocarmos “Natural, Racional, Social” como guia de nosso
percurso
histórico,
estamos
deliberadamente
adotando
uma
perspectiva
genealógica, a qual julgamos não apenas mais interessante aos nossos propósitos
como também mais honesta na medida em que explicita fatores que entram em jogo
tanto na criação quanto na manutenção de certas formas de pensamento e que via
de regra se encontram velados justamente com o objetivo de conferir um tom de
neutralidade àquelas. É importante também deixar claro que a obra de Madel Luz
tem objetivos próprios, distintos das intenções deste trabalho. O objetivo principal da
obra de Luz é demonstrar as imbricações existentes entre as categorias do Natural,
27
do Racional e do Social e como tais imbricações incidem na medicina. O uso que
fazemos de alguns aspectos do desenvolvimento histórico que a autora propõe terá
como fim evidenciar como se deu a constituição da matriz teórica na qual a
biomedicina se insere.
A autora caracteriza a racionalidade científica moderna como uma “estrutura
de explicação do mundo e do ser humano” cujo advento se dá concomitantemente a
uma ruptura e enfraquecimento de outra estrutura de visão e organização do mundo,
qual seja, a cosmovisão religiosa, a qual vigorou durante todo o período
compreendido como Idade Média. Assim, todo um modo de organizar e explicar o
mundo baseado na idéia de um Deus transcendente que cria e determina as formas
de
manifestação
dos
fenômenos
à
sua
maneira
começa
a
sofrer
um
enfraquecimento que culmina na emergência de um movimento artístico, filosófico,
ideológico e científico que repercute nos vários âmbitos da sociedade: o
Renascimento (LUZ, 1988).
É no Renascimento que devem ser buscadas as raízes do que muitos autores
chamam de Revolução Científica. Isso porque é no Renascimento que pela primeira
vez desde os gregos ganha força a idéia de que é possível transformar o meio em
que se vive. De fato, essa idéia não era plausível no contexto anterior de prevalência
da doutrina teocêntrica. Se é Deus quem está no comando de tudo, qualquer
modificação no real tem que partir de uma mudança na própria vontade divina – isso
explica em parte o rígido sistema feudal e a inexistência de mobilidade social na
Idade Média. Assim, a noção de indivíduo como potencial de mudança do mundo
também ganha força no Renascimento. Troca-se o teocentrismo por um
antropocentrismo. Evidentemente, uma série de transformações de cunho social,
político e econômico estiveram na base dessa ruptura com a visão de mundo
medieval, entre as quais a emergência da classe burguesa, o mercantilismo e o
advento das monarquias seculares (LUZ, 1988).
O termo Renascimento é utilizado como alcunha dessa ruptura com a Idade
Média justamente porque se supunha um retorno a uma vida grega clássica anterior
que teria sido perdida durante o período medieval. Em função disso, toda a tradição
não só artística, mas também filosófica grega é retomada. Tal resgate ensejará o
desenvolvimento de alguns postulados fundamentais do pensamento grego a partir
28
de outros conceitos. Talvez o maior incremento nesse sentido tenha sido o
desenvolvimento da idéia platônica do corpo como prisão da alma e dessa como a
essência do humano. Tal noção, como demonstra Martins (1999) certamente está na
origem da visão do homem como proprietário da Natureza que esse estabelece a
partir do Renascimento. Se antes apenas Deus era separado da Natureza, agora o
homem também passa a ser visto como distinto dela e “herda” de Deus a
propriedade sobre o “reino natural”. Emerge a idéia de uma Natureza exterior ao
humano. De acordo com Luz, esse é um dos primeiros traços discerníveis da então
nascente racionalidade moderna:
Essa atitude antropocêntrica ativa que caracteriza o
Renascimento, humanista por um lado, “naturalista”, por outro,
é um primeiro rasgo da racionalidade moderna, um primeiro
traço constitutivo discernível. Antropocentrismo que valoriza
acima de tudo as iniciativas do gênero humano – (individuais,
coletivas) de conhecimento do “mundo natural”, com a
finalidade de desvendá-lo, desbravá-lo, explorá-lo (LUZ, 1988,
p. 18, grifo da autora).
Num primeiro momento, o conceito de Natureza aparece investido de
atributos com os quais a tradição patriarcal usualmente caracterizava o sexo
feminino, como o “mistério”. As metáforas utilizadas na época refletem essa
operação: a Natureza é chamada de mãe, “mulher misteriosa”, “tesouro escondido”.
Em contrapartida, seria tarefa do homem, através da ciência, revelar os segredos
ocultos do mundo natural. Nesse sentido, inicialmente a relação do homem com a
Natureza é vista sob o signo das relações entre os sexos. Outras características
geralmente associadas ao sexo feminino na época também são incorporadas à
visão da Natureza como a imprevisibilidade, o caráter perigoso, traiçoeiro. Em suma,
a tarefa do homem para o com o mundo natural seria análoga à relação à época do
sexo masculino com o feminino numa relação conjugal: o primeiro deveria controlar
o segundo (LUZ, 1988).
Posteriormente, a partir dos séculos XVII e XVIII e principalmente em função
da influência da filosofia cartesiana, as imagens da Natureza vão sofrer uma
transformação importante. De um mundo natural feminino, obscuro, imprevisível e
traiçoeiro,
passa-se
a
uma
Natureza pensada
como
máquina,
com um
funcionamento logicamente determinado e cujos mecanismos podem ser conhecidos
pela via da razão e da ciência. Não obstante essa modificação, o caráter exterior da
29
Natureza face ao homem permanece. A Natureza, o Real, o mundo, gradualmente
vão se constituindo como objeto cujo modo de funcionamento pode ser conhecido
justamente por ser exterior ao sujeito humano. A pretensão de controle da Natureza
também não desaparece com essa transformação. Se no primeiro momento, o
ímpeto dominador visava uma espécie de amansamento do mundo natural,
potencialmente ameaçador, agora o desejo de controle torna-se o segundo passo de
um processo que se inicia com o conhecimento das leis de funcionamento da
Natureza. Deseja-se saber como a máquina funciona, para posteriormente fazê-la
trabalhar a favor do homem (LUZ, 1988).
De acordo com Martins (1999) esse novo modo de conceber a Natureza, isto
é, como uma máquina cuja lógica pode ser conhecida, remonta aos gregos, em
especial a Aristóteles. O filósofo, discípulo de Platão, ao contrário de seu mestre,
não concebia as essências das coisas como estando situadas numa realidade
transcendental da qual o mundo empírico seria apenas uma cópia imperfeita. Para
Aristóteles, as essências dos objetos estavam nos próprios objetos. Ou seja, a lógica
do mundo era imanente ao próprio mundo. Para aceder a ela, o homem deveria
exercitar a observação e o raciocínio lógico. Ora, são justamente esses os dois
passos fundamentais da racionalidade científica moderna. É preciso observar o
comportamento da natureza, seus modos particulares de ser para, num segundo
momento, pela via do raciocínio, passar desses modos particulares a uma lógica
universal. As chamadas “leis de Newton” são a maior expressão desse processo,
constituindo-se como enunciados universais que supostamente revelariam os
princípios que regulam o comportamento de todos os corpos. Martins resume o
ideário da racionalidade científica, construído a partir dessas bases, da seguinte
forma:
[...] a complexidade do mundo em contínuo devir pode e deve
ser reduzida a leis pelas quais seus movimentos, complexos,
podem ser tidos como mecânicos. As leis mecânicas aparecem
assim como as regras ocultas que regem a natureza, e que
podem ser desta apreendidas, submetendo-se a natureza a
experiências, sendo estas determinadas e analisadas pela
razão, pela inteligência humana. Assim, o homem racional
poderá prever e portanto determinar, pela análise do presente
e do passado, o que ocorrerá no futuro, contanto que controle
as variáveis presentes (MARTINS, 1999, p. 88).
30
O texto de Martins cita duas características da racionalidade científica que
merecem um comentário mais aprofundado: o reducionismo e o experimentalismo. O
reducionismo é seguramente a arapuca em que com maior freqüência as disciplinas
científicas tendem a cair e na qual a biomedicina certamente caiu. O reducionismo
ocorre quando acreditamos que os modelos e instrumentos conceituais que
utilizamos para entender os fenômenos que estudamos são idênticos à natureza
mesma dos fenômenos. Por que isso implica numa redução? Porque, agindo assim,
nós substituímos a complexidade do objeto estudado por uma visão simplificada
dele, a qual foi gestada com o modesto objetivo de facilitar nossa abordagem. Ou
seja, a redução não é em si mesma deletéria. Pelo contrário, ela é necessária dado
que o real se nos apresenta de maneira assaz complexa. Rozemberg e Minayo
(2001) concordam com essa assertiva ao dizer que a redução
[...] é condição mesma do ato de conhecer, pois assim que
racionalizamos algum aspecto da experiência, mesmo que
momentaneamente, excluímos os demais. Ao focalizar a
atenção na tentativa de apreender algum aspecto da
experiência nosso olhar é necessariamente redutor dessa
experiência. O maior problema, ao nosso ver, não está,
portanto, no reducionismo em si, mas na pretensão de
totalidade e de controle que as correntes de pensamento
tendem a advogar para si mesmas e ainda, na instituição de
uma forma de ver o mundo sob um determinado ângulo,
desconhecendo e desqualificando outros olhares (ou até
mesmo o nosso próprio em outro momento ou contexto)
(ROZEMBERG & MINAYO, 2001, p. 117).
Martins, em outro trabalho, nos dá um ótimo exemplo da relação entre a
necessária redução e o prejudicial reducionismo tomando o caso dos mapas. Um
bom mapa não pode ser do tamanho do território a que ele se refere, mas há de ser
uma versão reduzida do mesmo e que não necessariamente reflete exatamente
suas fronteiras. Sua função é a de nos auxiliar no processo de localização
fornecendo-nos pontos de referência. Por não se acreditar que os mapas são cópias
fiéis do mundo é que eles estão em permanente modificação, sendo alterados à
medida que novos aspectos da realidade complexa vão sendo captados (MARTINS,
2009).
Essa deveria ser a postura ideal das ciências frente a seus objetos de estudo
e efetivamente o é em grande parte dos campos científicos. Algumas disciplinas, no
31
entanto, permanecem aferradas a seus modelos mesmo quando a complexidade do
Real lhes bate à porta e lhes demonstra sua caducidade. No caso da medicina dita
científica, a descrição do indivíduo doente a partir das categorias do corpo, do
biológico e do orgânico sem dúvida são importantes para a compreensão daquele.
No entanto, essa descrição não é suficiente dada a imensa gama de aspectos para
além da realidade orgânica que intervêm no domínio das doenças. Falaremos mais
sobre isso adiante.
As raízes da tendência reducionista da racionalidade científica, de um ponto
de vista genealógico, podem ser remontadas aos afetos que emergem da relação
entre o campo científico e o real. Com efeito, a percepção da indissociabilidade dos
aspectos da realidade, isto é, a comprovação de que na verdade a separação entre
disciplinas da natureza, disciplinas do espírito e disciplinas do social trata-se tãosomente de uma ficção; que, para usar uma expressão forte, “tudo está ligado a
tudo”; enfim, que o real será sempre mais complexo do que as descrições que dele
fazemos. Pois bem, essa constatação torna-se profundamente angustiante e
amedrontadora se nosso desejo é justamente o de controlar toda essa
complexidade. Considerar a Natureza como exterior a nós, ir até ela, desbravá-la,
buscando descobrir os segredos de seu funcionamento com vistas a domá-la
inteiramente, tudo isso só pode redundar no sentimento de decepção visto que tais
tarefas se afiguram como impossíveis. Uma das saídas, para tentar remediar a
situação sem que o desejo de controle tenha que ser abandonado é justamente o
reducionismo. Passamos, então, a acreditar que nossa versão simplificada do real é
o próprio real e negamos a complexidade.
O outro termo que destacamos do texto de Martins, o experimentalismo,
também é um dos traços marcantes da racionalidade científica moderna e que indica
o modo como o tema da verdade adquire uma dimensão inteiramente nova a partir
da Revolução Científica. Evidentemente, como afirma Madel Luz (1988), o
experimentalismo pode ser visto como uma resposta no domínio da ciência às
alterações sociais, econômicas e políticas que vinham acontecendo na Europa
desde o século XIV, como a necessidade de estabilizar a produção agrícola e de
controlar determinados fenômenos naturais de modo a poder promover a
organização dos portos os quais passaram a ser extremamente importantes a partir
do advento das grandes navegações. As revoltas populares e guerras entre nações
32
e problemas sociais como epidemias e fome também foram condições que, de
alguma forma, demandaram a elaboração de um novo modo de conhecer.
Esse novo modo é justamente o método científico cuja característica mais
diferenciadora em relação a outras formas de conhecimento é a de não apenas
interrogar o real quanto a sua verdade, mas de ir até ele, observá-lo, tocá-lo,
modificá-lo – eis o experimentalismo. As novas necessidades advindas do meio
social e econômico reivindicam um método de produção de enunciados verdadeiros
que seja capaz de produzir verdades aplicáveis, úteis. Já não é mais possível
pensar a colheita ou a dinâmica dos ventos apenas como obras da vontade de
Deus. Torna-se preciso saber quando é mais propício plantar sementes de feijão e
quando não o é como também se torna preciso criar instrumentos para verificar a
direção dos ventos de modo que os navegantes possam fazer uso dessa informação
para melhor atingirem seus objetivos. Em outras palavras, já não dá mais para
contemplar a Natureza à procura de verdades, como o fazem a religião e a filosofia.
Quando Deus é separado da Natureza, a fé torna-se inútil como forma de
compreender o real e a razão filosófica agora tem que estar apoiada nos dados
fornecidos pelos sentidos, constituindo-se como uma espécie de arremate final
àquilo que veio a ser descoberto pelo toque, pelo olhar. Nas palavras de Luz:
[...] descobrir a ordem oculta da natureza não significa
contemplar, para maior glória de Deus e iluminação do espírito
humano, uma criação estabelecida para a eternidade. Significa,
ao contrário, recriar continuamente, através da busca de
evidências empíricas e de significados racionais que se
encaixam uns nos outros, uma ordem de sentidos ou conjuntos
de ordens de sentidos, que se constroem como um quebracabeça (LUZ, 1988, p. 21).
Esse advento do conhecimento científico enquanto método está na raiz da
idéia ainda fortemente enraizada na cultura ocidental do “cientificamente provado” e
que acaba incidindo no domínio do cuidado em saúde na forma da atualíssima
“medicina baseada em evidências”. O experimentalismo se constitui, portanto, na
ideologia segundo a qual o que garante a veracidade e/ou fidedignidade de um
enunciado é o método utilizado na sua produção. O “Discurso do Método”, publicado
pela primeira vez em 1637 por René Descartes, é o documento onde se pode ver
com maior clareza essa transformação no modo de conceber a verdade. No texto,
Descartes enuncia uma série de regras e procedimentos que visam a impedir que o
33
pesquisador incorra em erros (DESCARTES, 1996). Os enunciados de verdade
podem ser abandonados e substituídos por outros ao longo do tempo, mas não o
método. Enquanto no conhecimento religioso, as verdades são perenes, isto é, não
estão sujeitas a reformulações, no conhecimento científico elas passam a ser
provisórias, como etapas rumo a um conhecimento total do real. A pavimentação
desse caminho é feita pelo método – esse sim não deve mudar.
Como é possível notar, as duas ideologias científicas citadas, tanto o
reducionismo quanto o experimentalismo só se tornaram possíveis mediante a
instituição do objeto Natureza. É só a partir do momento em que se opera uma
divisão entre um sujeito dotado de racionalidade e um objeto Natureza passível de
ser conhecido é que se pode reduzir a complexidade desse objeto a modelos
conceituais de entendimento e elaborar um método específico de abordá-lo que se
constituirá como o único adequado. Tais ideologias científicas também só são
plausíveis a partir de uma concepção da Natureza como sendo um imenso engenho
mecânico, cujas partes e regime de funcionamento são apreensíveis através da
razão.
De acordo com Luz, essa imagem da Natureza como uma máquina gigante
tem suas raízes no período final da Idade Média a qual foi marcada por uma
produção crescente de maquinismos e objetos autômatos. O mecanicismo nasce
então como uma tentativa de estender o modo de funcionamento de artefatos
produzidos pelo próprio homem a tudo o que o que se busca conhecer. Trata-se,
novamente, de uma questão que diz respeito à dinâmica dos afetos. Afinal, face ao
espanto gerado pela complexidade do Real, por que não nos tranqüilizarmos,
imaginando que esse real funciona do mesmo modo que o relógio que nós mesmos
fabricamos e, portanto, sabemos como funciona? Como veremos adiante, a visão da
Natureza como máquina será também estendida ao corpo humano, originando uma
fisiologia que o descreverá como uma espécie de locomotiva viva. Por ora,
indiquemos as características essenciais da doutrina mecanicista.
De acordo com Martins (2009), o eixo central do mecanicismo está na idéia
de que é possível dividir o todo do real (ou do objeto de estudo, como o corpo
humano) em partes e cada parte ser analisada isoladamente. A análise de todas as
partes corresponderia, portanto, à análise do todo. Não se atribui ao todo um caráter
34
gestáltico, isto é, uma dinâmica própria, uma configuração interna. Isso não implica
em dizer que para o mecanicismo não há ligação entre as partes. Evidentemente,
um aparelho mecânico como um relógio, por exemplo, precisa, para funcionar, de
conexões entre seus componentes. No entanto, tais conexões são vistas como
meras adições e não sob o signo da interdependência. Portanto, continuando com o
exemplo dos relógios, há a curiosa experiência de pessoas que os desmontaram e,
ao remontá-los, deixaram de retornar com algumas peças. Ainda assim, em muitos
casos os relógios continuaram a funcionar como antes, sem qualquer defeito, o que
evidencia que, de fato, em artefatos mecânicos, a adição ou subtração de
determinadas partes pode não interferir no funcionamento do todo, ou seja, as
partes não são interdependentes. Todavia, será que tal lógica poderia tão facilmente
ser transposta para o campo da saúde humana? A extração de um rim, por exemplo,
deixaria intacto, como no caso do relógio, o funcionamento total do indivíduo do qual
o órgão foi extraído? Tais questões serão refeitas mais à frente quando
demonstrarmos quais foram as conseqüências da introdução do modelo mecanicista
na medicina.
É preciso reiterar novamente que ao apontarmos a ligação do mecanicismo a
ideologias científicas como o reducionismo e o experimentalismo e discutirmos suas
limitações, não estamos negando que tal modo de ver as coisas foi de grande valia e
eficácia para o contexto humano, político, social e econômico que o gerou. Com
efeito, se a doutrina mecanicista não houvesse se tornado o paradigma dominante
nos anos iniciais da ciência moderna, dificilmente avanços cruciais de cunho
tecnológico para o desenvolvimento das sociedades se tornariam possíveis de
serem alcançados. Arriscamos a dizer que mesmo hoje o modelo mecanicista é útil
para pensar uma série de aspectos da realidade, principalmente no campo das
ciências naturais (a saber: física e química). Por mais que se alegue que a Física,
por exemplo, atualmente trabalhe com o paradigma quântico, os princípios da física
clássica newtoniana não foram abandonados. A eles foram acrescidas novas
constatações, as quais exercem uma função de complementação e não de total
substituição. A visão mecânica claudica quando se transforma em reducionismo, isto
é, quando deixa de ser um modelo de entendimento e passa a postular que o mundo
é apenas e tão-somente mecânico. Para Plastino (1996) isso ocorre precisamente
em função da funcionalidade da doutrina mecanicista no tratamento de alguns
35
aspectos da realidade. Segundo o autor, o mecanicismo “[...] demonstrou ser
extraordinariamente fecundo na manipulação do mundo natural. Foi precisamente
em função dessa capacidade de manipulação e do fascínio que esta exercia, que ele
passou a ser considerado como o reflexo do ser do real” (PLASTINO, 1996, p. 208).
Não se pensa, portanto, o modelo mecânico como um mero e relativo
instrumento conceitual de abordagem do real. Se assim fosse, a complexidade da
Natureza manter-se-ia intacta, à surdina, sempre pronta a assaltar o pensamento
com manifestações do incognoscível, do estranho. É preciso, para que não se corra
o risco dessa invasão, crer firmemente que se o mundo não está sob o domínio dos
caprichos de Deus. Mas a divindade pelo menos o fez perfeitamente inteligível, no
formato de uma máquina milimetricamente ordenada. Logo, nada haverá de
estranho para causar incômodo. Qualquer fenômeno pode ser mecanicamente
inteligível.
A ideologia mecanicista não só permitiu a emergência do reducionismo e do
experimentalismo como também deu origem à especialização, tendência que ainda
hoje se manifesta com toda a sua força. Já que o real é visto como sendo
constituído de partes perfeitamente isoláveis uns das outras, logo é preciso constituir
diferentes disciplinas que tomem, cada uma, determinada parte da Natureza como
objeto de estudo. Assiste-se, então, a uma explosão de novos campos do saber
principalmente a partir de fins do século XIX, como a psicologia, a sociologia, a
antropologia, a história e a própria medicina que, como veremos adiante, deixará de
ser uma práxis social, isto é, uma arte cuja finalidade era a cura dos doentes para se
constituir como uma ciência que tomará justamente aquilo que buscava combater
como objeto de estudo, a saber, as doenças.
Evidentemente, a especialização, bem como a redução e o método
experimental, não constituem em si mesmas estratégias equivocadas. De fato, não
se pode negar sua utilidade. Qualquer criança sabe que a divisão de uma tarefa
complexa em partes constitui um método bastante eficaz para a realização da tarefa.
O problema começa quando se toma essa estratégia não mais como uma
ferramenta, mas como a descrição da verdade do Real. No exemplo citado, seria
como dizer que a operação de dividir a tarefa em partes só fosse possível porque ela
de fato é naturalmente constituída de partes claramente distinguíveis pelo intelecto.
36
Destarte, ocorre um engodo: nós produzimos formas discursivas sobre as coisas e
depois nos “esquecemos” que as produzimos e passamos a acreditar que as
descrições já estavam lá, nas próprias coisas, simplesmente à espera de serem
espelhadas por nosso olhar racional.
A especialização deixa, portanto, de ser um procedimento pragmático de
abordagem da Natureza e passa a se constituir também como uma estratégia
defensiva contra a angústia gerada pelo caráter complexo do real, como aconteceu
com a redução e o método experimental. Assim, esquadrinha-se a Natureza em
partes e propositalmente “esquece-se” desse procedimento humano, demasiado
humano e passa-se a lidar apenas com o resultado da divisão operada, negando a
íntima conexão de todas as partes entre si na totalidade que constitui o real. Como
assevera Martins (2009):
[...] as especialidades têm como origem não somente o intuito
de aprofundar o conhecimento específico de setores de algum
saber da natureza, mas a crença de que um saber isolado seria
preferível a um saber do todo, pois que, como descrevera
Descartes, o todo nada mais seria do que a soma de suas
partes discretas (MARTINS, 2009).
Uma das provas de que a especialização perde seu caráter instrumental e se
transforma em ideologia perfeitamente inteligível como uma defesa neurótica é que
ela passa a ser realizada de forma compulsiva, de modo que no interior das próprias
disciplinas que foram formadas a partir de um primeiro processo de especialização,
passam a se desdobrar inúmeras outras que passarão a se ocupar de objetos cada
vez mais delimitados. Esse é o caso da Medicina com suas múltiplas e ainda
crescentes subdivisões.
É em função da especialização que Madel Luz prefere dizer que o
mecanicismo não constituiu na verdade uma síntese epistemológica, como a que se
verifica, por exemplo, no nascimento da filosofia grega, pois não há uma articulação
sistemática e unitária entre os saberes. Em função disso, a autora prefere falar do
mecanicismo como um amálgama composto de uma cosmologia, um método
experimentalista e um sistema de produções discursivas sobre o objeto Natureza.
Com efeito, “a fragmentação de disciplinas ou a criação de novas disciplinas, e a
elaboração teórica diversificada, concernindo os aspectos mais variados da
37
‘natureza’, não levam à constatação de uma síntese epistemológica mecanicista”
(LUZ, 1988, p. 32).
Uma tentativa contemporânea de tentar solucionar os problemas gerados pela
manutenção da perspectiva da especialização tem sido a elaboração de pesquisas e
práticas chamadas “multidisciplinares”. Isso tem ocorrido com mais freqüência no
campo da saúde onde os prejuízos da especialização se fazem mais visíveis muito
mais porque o que está em questão é a vida de muitas pessoas. Nas pesquisas e
práticas multidisciplinares se busca promover oportunidades de que os olhares de
diferentes disciplinas sejam reunidos em torno de um mesmo fenômeno. A intenção
é de que os olhares restritos e redutores de cada campo sejam relativizados e
colocados em interface com as perspectivas dos outros. No entanto, o que
efetivamente ocorre é tão-somente o ajuntamento de olhares e não a conjugação de
todos numa mesma totalidade. Assim, principalmente no âmbito das práticas de
saúde, a multidisciplinaridade acaba se transformando num processo em que cada
profissional isoladamente dá o seu parecer sobre determinado caso, havendo a
prevalência da perspectiva do médico como uma espécie de “palavra final”.
Nota-se, portanto, que o processo de especialização não distribui de forma
equânime a autoridade de produção de enunciados verdadeiros entre as disciplinas.
No processo de especialização, algumas disciplinas adquirem certo quantum de
poder sobre outras, de sorte que alguns campos do saber passam a representar
meras visões alternativas sobre os fenômenos, não sendo a elas atribuída a
capacidade de produção de verdades como outras, as quais passam a se constituir
como arautos da visão oficial. A saída, portanto, para a recuperação de uma visão,
por assim dizer, mais “integral” dos fenômenos, em especial na área de saúde, não
passa apenas pela reunião de múltiplas disciplinas, mas também por uma crítica à
relação de submissão de determinados olhares a outros. Isso só é possível
mediante a apresentação das limitações e impasses a que está sujeito o “olhar
oficial”. É justamente essa a nossa intenção neste capítulo: apontar os entraves e
obstáculos encontrados no cuidado em saúde atual resultantes precisamente da
prevalência da perspectiva biomédica sobre outras formas de descrição do
sofrimento humano.
38
Antes de adentrarmos diretamente nesse campo, recapitulemos o que vimos
até agora como sendo o manancial teórico-ideológico do qual emergirá o modelo
biomédico, isto é, a racionalidade científica moderna. Como foi visto, tal
racionalidade possui suas raízes num primeiro momento de transformação radical da
visão de mundo ocidental, que deixa de ser constituída a partir de uma ordenação
teocêntrica e a humanidade passa a ser vista sob o signo da autonomia. Dessa
profunda alteração na organização social vão emergir no plano conceitual uma série
de separações que vão permitir o desenvolvimento primitivo da ciência moderna.
Entre tais separações, a mais radical e basal é a que se estabelece ente homem e
Natureza. O reino natural passa a ser o objeto a ser conhecido pela razão do sujeito
humano. Na medida em que esse desejo de conhecimento do real adquire como
obstáculo a constatação de que se trata de um trabalho hercúleo (para não dizer
uma tarefa de Sísifo) emergem estratégias de apreensão do real que, elevadas ao
estatuto de crença, acabarão por se converterem em ideologias científicas. O
conjunto dessas estratégias é tradicionalmente denominado de mecanicismo, o qual
se baseia na firme adesão à idéia de que o Real é estruturado como uma máquina,
ou seja, passível de ser decomposto em elementos e conhecido a partir de um único
método verdadeiro, o experimental.
1.4 As espécies e o corpo: aspectos do processo de emergência do modelo
biomédico
Veremos agora como a medicina moderna ou, como vimos chamando, o
modelo biomédico ou biomedicina se constituiu a partir dessa racionalidade e quais
os principais impasses enfrentados na contemporaneidade pela manutenção desse
modelo. Essa história começa inevitavelmente com a revolução provocada pelo
pensamento de René Descartes. Embora atualmente se utilize amiúde o adjetivo
“cartesiano” para qualificar práticas, discursos ou posicionamentos retrógrados e o
autor deste texto abomine a superficialidade desses “lugares-comuns”, é impossível
negar que quando Descartes afirma que a realidade é composta de duas
substâncias, uma material e outra racional, ele está implicitamente abrindo o terreno
epistemológico e filosófico para se pensar a medicina não mais como apenas uma
arte, mas como uma ciência. Isso porque a distinção promovida por Descartes entre
39
res extensa (matéria) e res cogitans (pensamento) não diz respeito apenas ao
mundo externo, mas também, e principalmente, ao próprio homem.
O que Descartes está dizendo, portanto, é que o próprio ser humano possui
um corpo (matéria) que é, em essência, distinto de sua mente (pensamento). Na
medida em que é através do pensamento que se processa o conhecimento, pois só
através do pensamento é possível a emergência da “verdade primeira”, a
autoconsciência (“Cogito ergo sum”: “Penso logo sou”), logo é a materialidade, a
Natureza, o objeto a ser conhecido. E o que é a Natureza em nós, senão o corpo?
Esse perde, portanto, seu estatuto ontológico diferenciado que o fazia ser visto como
algo sagrado2 e passa ser visto como mais um objeto material da Natureza. Assim,
entre um corpo e um relógio a diferença é apenas de níveis distintos de
complexidade – não há nada de singular no corpo. Como vimos anteriormente,
assim como a Natureza é pensada como um grande engenho mecânico, o corpo
também será metaforizado como máquina. Descartes exprime literalmente essa
analogia, postulando-a como naturalmente dada, no seguinte trecho de seu
“Discurso do Método”, ao dizer que:
[...] de modo algum parecerá estranho aos que, sabendo
quantos autômatos diferentes, ou máquinas que se movem, o
engenho dos homens pode fazer só empregando muito poucas
peças, em comparação com a grande quantidade de ossos,
músculos, nervos, artérias, veias, e todas as demais partes que
há no corpo de cada animal, considerarão esse corpo como
uma máquina que, feita pelas mãos de Deus, é
incomparavelmente mais bem ordenada e tem em si
movimentos mais admiráveis que qualquer uma das que
podem ser inventadas pelos homens. (DESCARTES, 1996, p.
62-63)
É justamente essa espécie de “secularização do corpo” e a concepção do
mesmo como um conjunto de peças e engrenagens que será a condição filosóficoconceitual de entrada da anatomia como uma das disciplinas angulares da medicina
moderna. De fato, nossa hipótese é de que não se trata da evolução de uma
medicina obscurantista que, por uma superstição, não investigava a relação das
doenças com o corpo para uma medicina mais avançada que o faz. A nosso ver, o
2
Afinal, para o cristianismo, a ressurreição não será apenas da alma, mas também do corpo, o que talvez
explique tal equívoco doutrinário que acometeu algumas correntes cristãs.
40
corpo que passará a ser objeto da medicina é conceitualmente produzido por um
olhar que, gradualmente se torna externo a ele. Logo, não há um progresso, mas
sim uma transformação no âmbito das formas de descrição da experiência humana.
Como afirma Foucault (2008):
A medicina moderna fixou sua própria data de nascimento em
torno nos últimos anos do século XVIII. Quando reflete sobre si
própria, identifica a origem de sua positividade com um retorno,
além de toda teoria, à modéstia eficaz do percebido. De fato,
esse presumido empirismo repousa não em uma redescoberta
dos valores absolutos do visível, nem no resoluto abandono
dos sistemas e de suas quimeras, mas em uma reorganização
do espaço manifesto e secreto que se abriu quando um olhar
milenar se deteve sobre o sofrimento dos homens
(FOUCAULT, 2008, p. VIII).
Se a Anatomia é, portanto, a caracterização das peças da máquina, a
Fisiologia moderna, cujas raízes podem ser encontradas em William Harvey no
século XVII, se ocupará da descrição de como essas peças se concatenam entre si,
ou seja, de como a máquina funciona. O próprio Harvey fará uso de uma série de
analogias ente o funcionamento da circulação sanguínea e a engenharia hidráulica,
formulando a metáfora que se popularizou e mantém sua força até os dias de hoje
segundo a qual o coração funciona como uma bomba hidráulica (LUZ, 1988). Ainda
que, como aponta Madel Luz, já existam estudos de anatomia com Leonardo da
Vinci e André Vesálio em fins do século XV, é a partir do imaginário mecanicista que
tanto a Anatomia quanto a Fisiologia se desenvolvem e juntas vão se conjugar como
vigas mestras da então nascente ciência médica.
Até então e durante toda a Idade Média, os referenciais teóricos da Medicina
eram fundamentalmente os postulados da obra de Galeno (130-201 d.C.). Esse
exerceu sua prática principalmente em Roma e é considerado o fundador da
terapêutica ocidental, deixando uma série de escritos e estabelecendo os textos do
pai da medicina, Hipócrates. De acordo com Galeno, os textos atribuídos ao médico
grego eram na verdade de vários autores. Galeno apresentava-se como herdeiro e
seguidor de Hipócrates, embora muitas de suas práticas diferissem essencialmente
do modo como o médico grego atuava. No entanto, a concepção galênica de doença
era basicamente a mesma de Hipócrates. A enfermidade era vista como um
41
desequilíbrio dos humores3. Em função disso, a maior parte da sua terapêutica
enfatizava a prevenção e medidas de higiene, mas também a aplicação de catárticos
como sangrias e a administração de panacéias como a chamada theriaka, uma
poção composta de dezenas de ingredientes. De acordo com seu ponto de vista
vitalista, Galeno sustentava a idéia de que os remédios deveriam conter muitas
substâncias, pois o próprio organismo escolheria as melhores para si (SAYD, 1998).
Embora Galeno se intitulasse um autêntico médico hipocrático, já há em seus
escritos e em sua prática uma preocupação um pouco mais acentuada com o
potencial curativo de corpos exteriores ao próprio organismo, tendência que destoa
do pensamento hipocrático que postulava a idéia de que o próprio organismo
buscava oportunamente seus meios de cura. Nesse sentido, já é possível encontrar
em Galeno um dos traços que irá marcar a medicina moderna, qual seja, a da
concepção do organismo como passivo diante do meio, o que redundará na visão da
doença como algo que vem de fora e que precisa ser eliminada também por uma
ação proveniente do exterior. De acordo com Sayd, falta em Galeno, com relação a
Hipócrates
[...] a noção mais profunda da natureza associada à virtude, de
organismo com vitalidade e sabedoria próprias, conceitos que
se esfumaçaram no decorrer do período helenístico. A sua
proposta, de ministrar uma polifarmácia para que o organismo
escolha a melhor substância, não é, de forma alguma, idêntica
à idéia de que o organismo busca, por si só, o regime mais
adequado ao seu estado. No primeiro caso, trata-se de uma
espécie de absorção passiva por “simpatia” (SAYD, 1998, p.
35).
Pode-se dizer, portanto, que em Galeno temos ao mesmo tempo o
desenvolvimento e efetivação dos princípios da medicina hipocrática e também o
nascedouro de um novo modo de conceber o cuidado em saúde, em que a noção de
uma tendência autocurativa imanente ao organismo, a vis medicatrix naturae (SAYD,
1998) será gradativamente descartada. A confiança na natureza será substituída
3
De acordo com Hipócrates, existiriam no homem quatro humores que, na saúde se encontrariam em equilíbrio
de distribuição pelo corpo: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O desequilíbrio dos humores não geraria
apenas doenças corporais mas também modificações na personalidade. Por exemplo, pessoas com maior
concentração de bile amarela seriam mais irascíveis e agressivas. A teoria dos humores foi a primeira explicação
não-religiosa da doença no Ocidente (LOQUE, 2009).
42
pela confiança no médico. O corpo vivo que demandava uma arte de curar será
convertido nos cadáveres dos laboratórios de anatomia.
No entanto, o processo de alcance desse novo modelo de cuidado em saúde
será marcado por tentativas de manutenção da idéia de uma natureza que busca
sua autopreservação concomitantemente à emergência da anatomia e da fisiologia
como disciplinas científicas. Filósofos como Montaigne (1533-1592), Leibniz (16461716) e o próprio Descartes vão associar a noção então nascente de uma Razão
Divina que engendra uma Natureza cujo funcionamento é perfeito à idéia de que o
organismo, na medida em que é a Natureza em nós, possui forças próprias de cura.
Não obstante, essas tentativas de manutenção de uma visão vitalista da doença, da
saúde e do tratamento só será possível pela instituição do objeto Natureza, que
passa a ser visto como algo distinto do homem (cujo atributo essencial não é o
corpo, mas a racionalidade) e que o afeta (SAYD, 1998).
O pensamento de Descartes é particularmente interessante nesse ínterim,
pois nele se encontram justapostas as duas correntes doutrinárias que vão se
digladiar no século XVIII pela prevalência na descrição dos fenômenos da doença e
da saúde, que são o vitalismo e o mecanicismo. Ao mesmo tempo em que concebe
o corpo como uma máquina, noção oposta à visão de um corpo vivo distinto dos
demais objetos, Descartes preconiza que se escute a natureza, pois seria ela quem
nos educaria com a doença e nos devolveria a saúde. Temos, portanto, um
Descartes que atribui à vida uma singularidade e, portanto, enxerga o corpo humano
como um fenômeno particular e outro Descartes que vê o corpo apenas como uma
máquina mais complexa, ou seja, que o inclui no conjunto da mecânica do mundo.
Esses dois pontos de vista, vitalista e mecanicista, permanecerão em constante
oposição ao longo da história do cuidado em saúde, manifestando-se com relevo
maior no advento da homeopatia que pretendeu justamente solucionar essa querela,
ao conciliar a idéia de uma vis medicatrix naturae com o uso de medicamentos
(SAYD, 1998).
A chamada medicina científica, no entanto, vai se constituir sob a égide do
mecanicismo. E se o corpo humano é uma máquina, logo as doenças serão todos os
fenômenos que podem vir a danificar esse aparelho. A medicina, portanto, será a
disciplina cujo objeto será justamente isso que pode prejudicar ou inviabilizar o
43
funcionamento da máquina. Embora os estudos em Anatomia e Fisiologia comecem
a se desenvolver, não é o corpo doente que vai se constituir inicialmente como
objeto da medicina. Enquanto anatomistas e fisiologistas elaboram um saber sobre a
estrutura e funcionamento do corpo, os primeiros profissionais da ciência médica
estarão preocupados com a descrição e o escrutínio das entidades mórbidas. Como
Foucault demonstra em seu “Nascimento da Clínica” (FOUCAULT, 2008), o corpo
não foi o primeiro espaço de origem e repartição da doença na medicina moderna:
A coincidência exata do “corpo” da doença com o corpo do
doente é um dado histórico e transitório. Seu encontro só é
evidente para nós, ou melhor, dele começamos apenas a nos
separar. O espaço de configuração da doença e o espaço de
localização do mal no corpo só foram superpostos, na
experiência médica, durante curto período: o que coincide com
a medicina do século XIX e os privilégios concedidos à
anatomia patológica (FOUCAULT, 2008, p. 02, grifos do autor).
O que Foucault procurará mostrar nessa obra é precisamente como
aconteceu essa identificação da doença com as lesões, isto é, com alterações no
nível do corpo; identificação que não é natural, mas produzida e condicionada
historicamente. A idéia de que para cada doença existe uma lesão corporal
correspondente será um dos traços mais marcantes da biomedicina (CAMARGO
JR., 1997).
Faremos agora uso da análise histórica que Foucault empreende em “O
Nascimento da Clínica” justamente para evidenciar de que modo o corpo se
constituiu como a verdade da doença, no intuito de deixar claro que a relação
conceitual entre corpo e enfermidade não é necessária, mas contingente e que,
portanto, pode ser relativizada caso não se apresente como eficaz na descrição e
tratamento de diversas formas de sofrimento humano.
De acordo com Foucault (2008), o primeiro modelo de concepção das
doenças na medicina moderna e que antecedeu o método anatomoclínico foi o da
chamada “medicina classificatória”. Esse primeiro modelo prescindia de qualquer
referência à localização para a descrição e análise das doenças. Com efeito, havia
um espaço no qual se dispunham e se organizavam as enfermidades. No entanto,
trata-se de um espaço abstrato em que as doenças são hierarquizadas em famílias,
gêneros e espécies, uma clara e explícita apropriação dos modelos de classificação
44
da botânica. A idéia, portanto, é de que a doença existe independentemente do
doente, de tal modo que no processo de adoecimento, o último é concebido como
tendo sido tomado pela primeira. A tarefa da ciência médica é a de circunscrever
meticulosamente o caráter das doenças. Não se trata, no entanto, de um
procedimento que tem como finalidade estabelecer regularidades entre formas de
sofrimento de modo a facilitar a comunicação entre os profissionais ou a
aprendizagem e memória dos quadros nosológicos. Pressupõe-se de fato a
existência de uma configuração das doenças e uma estrutura de parentesco real
entre as formas de adoecimento. A intenção, portanto, não é classificar para auxiliar
o entendimento. Trata-se de uma ordenação que pretende se constituir em uma
descrição verdadeira das doenças. Esse é um dos pontos em que se manifesta de
forma evidente a herança reducionista da medicina moderna.
A medicina classificatória pressupõe, portanto, a existência de uma espécie
de “mundo inteligível” das doenças semelhante ao “mundo das idéias” de Platão em
que as doenças existiriam na sua forma pura. Assim como o mundo real era visto
por Platão como um mundo imperfeito em que seus objetos são apenas versões
defeituosas de suas idéias no mundo inteligível, assim também a medicina
classificatória pensará o corpo do doente como o espaço que deturpa a assunção da
doença em toda a sua limpidez. O doente, com suas peculiaridades, perverte a
configuração precisa da doença, de tal modo que é tarefa do médico, ao tomar
contato com ele, separar aquilo que é constitutivo da própria doença daquilo que é
uma idiossincrasia do doente. Para tanto, o médico deverá buscar as qualidades
específicas da doença e, para fazer isso, a localização corporal ainda não é
relevante, pois, como exemplifica Foucault, “uma hemorragia nasal pode tornar-se
hemoptise ou hemorragia cerebral; subsiste unicamente a forma específica do
derrame sanguíneo” (FOUCAULT, 2008, p. 10). É por isso que o autor vai dizer que
o olhar do médico nesse momento é essencialmente qualitativo: ele busca as
qualidades dos sintomas, não sua intensidade. Essa advém do corpo do doente e
não é essencial para o diagnóstico. O corpo serve apenas como uma superfície de
manifestação da entidade mórbida.
Ao analisarmos a medicina classificatória, não seria surpreendente que
cogitássemos a hipótese de que se trata de um modelo menos deletério do que o
anátomo-clínico na medida em que não estaria fundamentado em um reducionismo
45
biológico, o qual advoga que o corpo é o lócus de origem de todas as doenças. De
fato, a medicina classificatória permite pensar a possibilidade de um modo de
conceber as doenças que seja capaz de prescindir da referência à biologia e, nesse
sentido, ela depositaria um valor maior na fenomenologia da doença, a qual na
anátomo-clínica será posta em segundo plano em função da busca pelas lesões
correspondentes a cada sintoma. No entanto, a medicina classificatória ou “medicina
das espécies” é tributária de um postulado teórico também problemático, a saber: o
da naturalização das doenças, isto é, a visão da doença como uma coisa que tem
existência independente do contexto em que emerge. Mesmo tendo sido substituída
pelo modelo anátomo-patológico, a medicina classificatória deixará justamente esse
traço naturalizante como herança para a medicina contemporânea: a idéia de que as
doenças são entidades de existência fixa e imutável e, por conta disso, um privilégio
concedido à doença em detrimento do doente. Na atualidade, a ênfase na definição
dos diagnósticos nas consultas médicas é uma das formas mais visíveis de se
verificar a manutenção da tendência classificatória de extrair a doença do doente.
Canguilhem (2005) corrobora esse argumento a partir de uma análise sobre o
próprio significado da cura na medicina dita científica. Enquanto no domínio do
curandeirismo, a cura resultante das ações do curandeiro constitui um signo do
poder do feiticeiro sobre a enfermidade, isto é, o seu dom, na medicina tradicional a
cura é tomada como um fenômeno de validação não da eficácia da medicina
enquanto arte de curar, mas da assertividade do diagnóstico e da terapêutica
empregada. Ou seja, a cura se torna uma espécie de resultado de pesquisa que
comprova o conhecimento da medicina sobre a doença. A cura, portanto, se
constitui como um meio para o verdadeiro fim que é a confirmação do diagnóstico.
Esses dois traços deixados como herança pela medicina classificatória estão
na raiz de muitos impasses enfrentados atualmente pelo modelo biomédico. A visão
da doença como um fenômeno de existência autônoma é naturalizante na medida
em que deixa implícito que a enfermidade é algo que se apossa do indivíduo, o que
faz com que se perca de vista os diversos condicionamentos que permitem o
desenvolvimento da doença. Mais: não permite a apreensão dos processos através
dos quais uma determinada entidade patológica toma forma na mente dos médicos,
fazendo com que determinadas patologias que recentemente passaram a ser
46
descritas pareçam ter estado sempre lá, à espera de um olhar que as trouxesse à
cena principal.
É o caso, por exemplo, do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH). No momento em que esse transtorno é possível de ser “diagnosticado”,
toda a história que lhe antecedeu é ressignificada e uma série de comportamentos
que anteriormente não recebiam esse “parecer” passam a ser vistos à luz dele,
como se o TDAH antes de ser conceituado já existisse e estivesse meramente à
espera de que os pesquisadores finalmente o encontrassem. A ideologia que
fundamenta essa idéia é a de que a medicina, como ciência que é, caminha numa
via de progresso. Nessa perspectiva, as obscuridades do mundo das doenças
passam paulatina e evolutivamente a serem iluminadas pelo olhar médico. Esse
olhar não cria doenças, não etiqueta comportamentos e fenômenos, não constrói
realidades; ele descobre, desvela, traz à baila o que já estava lá. Em outras
palavras, ele é um olhar moderno que, finalmente, limpo das fantasias religiosas e
dos sistemas filosóficos, é capaz de espelhar a natureza. Nesse sentido, a medicina
se constitui como um dispositivo bastante fecundo para o mascaramento dos
diversos fatores que estão em jogo e que determinam a emergência de um novo
diagnóstico como as condições sócio-econômicas, por exemplo. Nenhuma “nova
doença” nasce desvinculada do contexto social dos pesquisadores que a
descreveram. Retomando como exemplo o caso do TDAH, é impossível não articular
a emergência dessa nova categoria às condições de vida contemporâneas,
marcadas por uma exposição muito maior dos indivíduos e, principalmente das
crianças nas quais o transtorno é mais freqüentemente “identificado”, a uma maior
magnitude de estímulos que certamente demanda uma “hiper-atividade” a qual, por
outro lado, implica numa redução da capacidade de concentração. O advento da
etiqueta TDAH, portanto, faz com que esses fatores que incidem sobre os
comportamentos que ela pretende caracterizar não sejam apreciados, pois o
transtorno é visto como uma configuração, uma espécie que existe de maneira
independente.
O argumento de que a doença não é uma realidade dada, imediata, que se
desvela em sua estrutura ontológica para o espectador médico, mas sim um objeto
construído, o produto final da conjugação de diversos fatores expressa um posição
47
social-construcionista para a qual as doenças são realidades socialmente
construídas.
Todavia, para Rosenberg (1992), essa idéia não faz mais do que expressar
uma tautologia, um truísmo, visto que qualquer aspecto da identidade individual
poderia ser pensado como essencialmente construído. Na medida em que a doença
pode ser tomada como algo que faz parte da identidade de um doente, ela também
seria construída – um corolário óbvio. O que nos parece problemático na crítica do
autor é justamente o fato de considerar como dado que a doença possa ser
entendida como um atributo identitário, uma tese que não é consensual. A própria
biomedicina não compartilha dessa visão, pois trabalha com a idéia de que as
doenças são entidades que se alojam no indivíduo e não um atributo que o
caracterize. Aliás, essa é uma das principais críticas ao modelo biomédico: a de que
ele não considera que a enfermidade rearranje de maneira total a experiência
subjetiva do doente. Portanto, a assertiva de que considerar a doença como
construção social é uma tautologia nos parece equivocada. Outra faceta da crítica
do autor ao social-construcionismo é mais pertinente. De acordo com ele, a idéia de
“construção social” deve ser evitada, pois ela tende a “enfatizar em demasia uma
certa finalidade funcionalista e um grau de arbitrariedade inerente às negociações
que resultam em imagens aceitas de doença”4 (ROSEMBERG, 1992, p. XIV-XV).
Assim, o social-construcionismo apresenta “uma visão do conhecimento e de quem
o produz como racionalizadores e legitimadores, geralmente sem intenção, de uma
ordem social opressiva” (ROSEMBERG, 1992, p. XV).
Nesse ponto, a crítica de Rosemberg parece interessante, pois ela aponta
para um risco da crítica às tendências naturalizantes da ciência que é de cair no
extremo oposto e considerar que toda a realidade não passa de uma convenção
linguajeira, o que implica na conclusão absurda de que é possível estruturar a
realidade arbitrariamente de infinitas formas possíveis. Como alternativa a essa
idéia, Rosemberg utiliza a idéia de “frame” (enquadramento) em vez da metáfora da
construção para analisar a relação das doenças com o social. Para ele, há
efetivamente uma realidade biológica – semelhante à idéia de Castoriadis da
4
As traduções do texto de Rosemberg são de nossa lavra.
48
natureza como magma – que modela, ou seja, que define uma variedade finita de
possibilidades de respostas de enquadramento conceitual e institucional da doença.
Talvez a ênfase dada pelo social-construcionismo aos usos que determinados
tipos de descrição de patologias têm para a manutenção do status quo de setores
específicos do meio social tenha sido necessária para que a crítica à postura
naturalizante da ciência pudesse ser feita. Com efeito, na história dos saberes
parece ser preciso que posições diametralmente opostas sejam elaboradas e
contrapostas a modos de pensar dominantes para que um caminho alternativo que
contemple a ambos, mas ao mesmo tempo não seja redutível a eles seja
vislumbrado. Se há algo a ser conservado da aventura hegeliana, é justamente essa
idéia.
Destarte, podemos interpretar a naturalização da doença por parte da
medicina não como um procedimento pragmático, útil, funcional à consecução da
terapêutica, a qual deveria ser o objetivo da medicina, mas sim como uma condição
necessária para o desenvolvimento da medicina como ciência médica. É só
convertendo seu objeto de estudo de um processo em uma entidade é que ela pôde
advogar um lugar entre as ciências. O médico constitui-se então como o profissional
que sabe sobre os mecanismos de funcionamento das doenças e não mais como
um herdeiro das conjurações xamânicas que exerce uma arte de curar.
A outra conseqüência da visão classificatória da doença deixada como
herança pela medicina classificatória é a colocação do doente em segundo plano. A
biomedicina apenas exacerbou o privilégio que a medicina classificatória dava à
doença e não ao doente. Não se trata nessa crítica de uma tentativa de trazer uma
perspectiva humanista ingênua para a medicina. Se esse fosse o caso, a análise
perderia o sentido uma vez que ambas as perspectivas, tanto a humanista quanto a
cientificista se equivalem se tomarmos como parâmetro a coerência interna de seu
corpo de argumentos. O critério que nos leva a um questionamento da tendência a
buscar a doença no doente e não a tratar o doente é de ordem puramente prática.
Nossa crítica incide sobre a eficácia dessa estratégia.
A ciência, ao converter-se em ideologia, perde justamente aquilo que lhe
permitiu ser vista sob o signo ilusório de um saber absoluto, isto é, sua efetividade
na transformação do real. É precisamente isso o que ocorre com a biomedicina. No
49
momento em que o diagnóstico perde seu valor pragmático de delimitação de um
conjunto de fenômenos e passa a ser tratado como o enunciado da verdade da
doença, a ciência médica converte-se em ideologia e o diagnóstico, de um
instrumento útil, se transforma em um obstáculo à realização dos objetivos do
profissional de saúde. Em termos filosóficos, é como se a medicina deliberadamente
deixasse de lado o mundo real, o único mundo que existe, e quisesse trabalhar com
um suposto mundo inteligível das doenças. O mundo real, o campo fenomênico com
o qual o profissional de saúde lida não é a doença, mas sim o sujeito que a ele
endereça suas queixas. A doença é uma abstração cuja existência como ente só se
dá no nível simbólico. Na realidade, o que o médico tem diante de si são fenômenos,
manifestações, queixas, ou seja, eventos que são anteriores ao diagnóstico. Não
são manifestações da doença, mas sim fenômenos que ensejam uma conceituação
como a doença X, Y ou Z. Portanto, ao prescindir do mundo real do doente para
alcançar a luz do mundo inteligível das doenças, o profissional de saúde perde a
referência de seu campo de ação, pois a tarefa passa a se constituir em eliminar a
doença e não em tratar o doente. O modo como cada doente, singularmente,
expressa seus sintomas passa a ser mera matéria excedente a ser polida. O objetivo
é descobrir por detrás dessa enxurrada de fenômenos, as águas mansas dos
caracteres essenciais da patologia. Daí o entusiasmo de alguns profissionais ao
encontrarem os chamados “casos de livro” cuja sintomatologia é idêntica ou quase
idêntica às descrições de uma determinada doença nas obras de referência médica.
Parafraseando Heidegger, assim como a metafísica está fundamentada num
“esquecimento do ser” a biomedicina está calcada num “esquecimento do doente”.
Assim, na lógica hegemônica da biociência, a realidade
supostamente objetiva da doença se manifestaria através dos
“dados objetivos” obtidos de maneira sistemática,seja das
pesquisas científicas,seja de cada doente. Das primeiras obterse-ia a real definição, classificação e mecanismos de ação das
doenças, com respectivos corretivos mecânicos e químicos –
no que consiste o saber médico diagnóstico e terapêutico. De
cada doente só se teria que resolver o enigma de descobrir
qual a entidade doença que nele se apresenta e eliminá-la
(TESSER & LUZ, 2002, p. 366)
A língua inglesa diferencia dois tipos de doença, a disease e a illness. A
primeira seria a patologia tal como descrita pela biomedicina e a segunda a
experiência do adoecimento, isto é, o conjunto dos fenômenos vividos pelo
50
indivíduo. A tendência da biomedicina é reduzir a disease à illness (WADE &
HALLIGAN, 2004). Logo, para o modelo biomédico, a disease seria a essência ou a
verdade da illness e o trabalho do médico seria o de identificar e trazer à luz essa
verdade. Como veremos adiante, a entrada em cena da anatomia patológica como
base da medicina radicalizará essa tendência, pois de um espaço abstrato, as
doenças passarão a estar fundadas numa realidade material orgânica. Assim, além
da illness, o próprio sujeito doente passará a ser tomado como aparência, pois é seu
corpo que será alçado ao estatuto de fonte da verdade. Por isso, precisamente num
texto sobre a verdade na biomedicina, Charles Tesser dirá que
O mais importante, aí, seriam as doenças e os problemas
físicos [...]. De modo que o “resto” dos adoecimentos narrados,
apesar do discurso ético, na prática acabam sendo relegados a
um segundo plano, e muitas vezes simplesmente ignorados ou
mesmo abortados [...] (TESSER, 2007, p. 473-474)
Não é possível, portanto, prosseguir em nossa crítica sem analisarmos o
impacto que a anatomia patológica provocou no conhecimento médico e como ela
passou a estruturar os modos de produção de verdades no domínio da medicina.
Como dissemos anteriormente, a incorporação do arsenal anátomo-patológico à
prática médica não se deu de maneira imediata, isto é, subseqüente aos primeiros
estudos anatômicos de Leonardo da Vinci e Vesálio. A prática da medicina galênica
e posteriormente da medicina classificatória, para as quais a necessidade de se
localizar
a
doença
no
corpo
era
praticamente
irrelevante,
ocorreu
concomitantemente a diversas pesquisas anatômicas com cadáveres. Após a
assimilação do referencial anátomo-patológico à ciência médica, os médicos, como
forma de justificar essa espécie de atraso na utilização das pesquisas sobre o corpo,
reconstruíram a história da anátomo-clínica como a vitória de um olhar científico,
iluminado pela Razão, contra o obscurantismo da Igreja que não permitia outrora a
pesquisa com cadáveres, de tal modo que a medicina teria ficado séculos presa a
sistemas e modos pré-científicos de lidar com a doença porque a religião
ingenuamente supersticiosa teria impossibilitado a investigação dos cadáveres e,
por conseguinte, o estudo da correlação entre as doenças e o corpo. Foucault
(2008) trata de desconstruir essa fábula mostrando que desde meados do século
XVIII alguns estudiosos, como Morgagni, já realizavam autópsias e algumas clínicas
já possuíam até salas de dissecção, ou seja, não faltavam cadáveres para servir de
51
fonte de estudo da medicina. Logo, as razões pelas quais não se fez uso desse
conhecimento no âmbito médico não podem ser remetidas à ignorância religiosa. A
Idade Média já havia ficado para trás...
Portanto, nenhuma escassez de cadáveres no século XVIII,
nem sepulturas violadas ou missas negras anatômicas; está-se
em pleno dia da dissecção. Por uma ilusão, freqüente no
século XIX, e a que Michelet impôs as dimensões do mito, a
história emprestou ao Antigo Regime as cores da Idade Média
em seus últimos anos, confundiu os problemas e debates da
Aufklärung com os dilaceramentos do Renascimento
(FOUCAULT, 2008, p. 138, grifo do autor).
Por que, então, houve esse “tempo de latência”, como diz Foucault, de cerca
de 40 anos entre a publicação da principal obra de Morgagni, “De sedibus et causis
morborum” (“A sede e a causa das doenças”) em 1760 e a utilização desses dados
de pesquisa na clínica com Bichat e Corvisart? Para Foucault, essa lacuna temporal
compreende justamente a fase de elaboração do método clínico. Em outras
palavras, à época da publicação de “De sedibus” a clínica médica ainda não havia
estruturado um modo específico de leitura da doença que permitisse a incorporação
do referencial anátomo-patológico, de modo que mesmo após essa assimilação, o
olhar do médico ainda é o olhar cuja formação se deu antes de anatomia patológica,
o olhar clínico, que é analítico por excelência. Esse olhar, que separa a doença em
seus elementos sintomatológicos constitutivos, que não busca mais a essência da
doença por detrás da aparência dos sintomas, mas que os considera como a própria
doença em si, é esse mesmo olhar que vai agora se dirigir para o corpo. Por isso, o
modo como Bichat conceberá a anatomia patológica é distinto do de Morgagni.
Enquanto o olhar do último é diferenciador, dirigido à especificidade de cada órgão e
sua relação com as doenças, o olhar de Bichat busca encontrar semelhanças,
relações de parentesco. Daí sua redução dos volumes orgânicos a superfícies
tissulares. Para Bichat o mais interessante não é a diferença entre os órgãos, mas o
que estabelece continuidade entre eles. Portanto, temos
Duas percepções estruturalmente muito diferentes: Morgagni
deseja perceber, sob a superfície corporal, as espessuras dos
órgãos cujas figuras variadas especificam a doença: Bichat
deseja reduzir os volumes orgânicos a grandes superfícies
tissulares homogêneas, a regiões de identidade em que as
modificações secundárias encontrarão seus parentescos
fundamentais. [...] O olho de Bichat é um olho de clínico,
52
porque concede um absoluto privilégio epistemológico ao olhar
de superfície (FOUCAULT, 2008, p. 141-142, grifo do autor)
Esse olhar de superfície a que se refere Foucault, não teria ele se convertido
num olhar superficial? Essa pequena intervenção irônica será apreciada em toda a
sua extensão adiante. Por ora, é importante dizer que se esse olhar de superfície
era próprio da base epistemológica da clínica (que, segundo Foucault era a filosofia
de Condillac), no encontro com a anatomia patológica essa superfície é finalmente
tornada palpável. Se antes as doenças figuravam numa taxonomia abstrata, agora
elas se depositam nesses grandes agrupamentos de tecidos. Todavia, ainda não
importava o órgão ou região atingidos pela doença. As patologias são agrupadas de
acordo com o tipo de alterações que lhes correspondem em cada sistema tissular. É
por isso que num primeiro momento, “a anatomia patológica foi ordinal antes de ser
classificadora” (FOUCAULT, 2008, p. 143, grifos do autor), ou seja, inicialmente o
referencial anatômico foi interessante como um modo de dar um fundamento
objetivo à descrição das doenças. Mas o mais importante ainda era justamente a
descrição e a busca pelo estabelecimento de semelhanças e parentescos. O corpo,
portanto, ainda não era o espaço em que a doença se localizava, mas onde a
doença se arranjava, se distribuía. Os correlatos anatômicos serviam de eixos para
o estabelecimento de uma nosografia.
O entusiasmo que Bichat e seus discípulos logo sentiram com
a descoberta da anatomia patológica adquire, desse modo,
sentido: eles não reencontravam Morgagni além de Pinel ou
Cabanis [expoentes da medicina classificatória]: reencontravam
a análise no próprio corpo; desvelavam na profundidade das
coisas a ordem das superfícies; definiam para as doenças um
sistema de classes analíticas em que o elemento de
decomposição patológica era o princípio de generalização das
espécies mórbidas (FOUCAULT, 2008, p. 144, grifo do autor)
Não obstante os princípios essenciais do olhar clínico não tenham sido
modificados no encontro com a anatomia patológica, no ato mesmo dessa
convergência alguns problemas metodológicos se tornaram patentes. Um dos
principais era referente ao ajuste entre a percepção anatômica e a leitura dos
sintomas. Se os sintomas possuíam uma coerência e encadeamento temporal, como
poderiam ser correlacionados a uma dimensão espacial? Afinal, a leitura e a
apreensão dos sintomas pressupõem um corpo que padece, isto é, um corpo vivo.
Já as descobertas da anatomia patológica são derivadas dos cadáveres. Seríamos
53
precipitados, portanto, em dizer que o que estava em cena era uma contradição
entre uma medicina da vida e uma medicina da morte?
Além desse problema da possibilidade de um acordo entre uma ordenação
temporal e uma espacial da doença havia ainda o impasse referente à distinção
entre aquilo que no corpo era próprio da doença e o que eram apenas efeitos
secundários: “as aderências do pulmão, no corpo de um pleurítico, constituem um
dos fenômenos da própria doença ou uma conseqüência mecânica da irritação?”
(FOUCAULT, 2008, p. 147). Outro problema era a dificuldade de correlacionar as
alterações anatômicas com a intensidade da doença. Foucault cita o exemplo do
tumor cerebral cuja alteração no organismo é ínfima se comparada ao que acarreta,
isto é, a morte. Finalmente, como distinguir, no cadáver, o que é próprio da doença
do que é característico dos fenômenos degenerativos da morte?
É justamente aí que se situa o passo singular dado por Bichat no tocante à
concepção da morte. Até então, o morrer significava tão-somente o instante em que
a vida se extingue. A morte não possuía substância, sua definição era negativa:
morte significava ausência de vida. Precisamente com vistas a distinguir a essência
da doença nas alterações anatômicas do cadáver, é que Bichat terá que converter a
morte de instante em processo. A morte, paradoxalmente, ganha vida. Surge então
a idéia de um “processo de mortificação”. A morte advém como um personagem que
possui seus próprios caracteres. Sua entrada em cena adquire tamanho relevo que
a análise das “etapas” do processo de mortificação funciona de maneira inversa
como um referencial para o esclarecimento das etapas da vida. A idéia é de que a
morte constitui um desenvolvimento às avessas; ela repete no sentido inverso o
crescimento do ser, de tal modo que a última etapa do desenvolvimento é a primeira
a morrer e vice-versa. É por isso que Foucault dirá que apesar de Bichat ter
postulado uma especificidade do organismo vivo, adotando, portanto, uma
perspectiva vitalista, o que o médico teria como pano de fundo de suas concepções
seria um “mortalismo”, pois é a morte que se torna a grande professora tanto da vida
quanto dos processos patológicos:
O sistema das dependências funcionais e das interações
normais ou patológicas se esclarece [...] pela análise dessas
mortes por partes: pode-se reconhecer que se existe ação
direta do pulmão sobre o coração, este sofre apenas
54
indiretamente a influência do cérebro; a apoplexia, a epilepsia,
o narcotismo, as comoções cerebrais não provocam nenhuma
modificação imediata correspondente no coração; apenas
efeitos secundários poderão se produzir por intermédio da
paralisia muscular, da interrupção da respiração e dos
distúrbios circulatórios (FOUCAULT, 2008, p. 158).
Portanto, foi só dando corpo e substância à morte é que Bichat pode distinguir
o que era próprio da doença do que era característico do morrer. Essa foi a solução
que a medicina anátomo-clínica deu para o problema do encontro entre a doença e
a morte no cadáver. Quanto ao outro impasse fundamental referente à relação entre
a sucessão temporal dos sintomas no corpo vivo e a atemporalidade da anatomia do
cadáver, mais uma vez a morte saiu como vencedora. A solução foi radical: se não
se pode explicitar a ordenação temporal dos sintomas na anatomia, estabeleça-se,
portanto, não mais os sintomas como referentes de descrição das doenças, mas sim
as lesões. A sucessão cronológica dos sintomas passa a constituir uma gama de
fenômenos secundários. É só nesse momento que a localização das afecções na
anatomia se torna essencialmente relevante. Para solucionar o problema do tempo
dos sintomas em face do espaço do corpo, a ordenação dos primeiros é assimilada
à ramificação do espaço lesional. A medicina classificatória, portanto, é subsumida à
anatomia. Agora, em vez de buscar determinar as classes das doenças, a ciência
escrutinará a anatomia cadavérica em busca da sede da patologia no corpo. Eis o
estabelecimento da tese a partir da qual a medicina moderna dará origem ao
reducionismo biológico ou organicista: toda doença possui uma inserção no domínio
orgânico através de lesões.
Com o avanço das tecnologias médicas, não só a autópsia servirá de
parâmetro para a identificação das lesões. Não será necessário esperar a morte do
organismo para verificar o que aconteceu em seu corpo quando ele adoeceu.
Surgirão diversos tipos de exames, como radiografias e ressonâncias magnéticas,
que permitirão ao conhecimento médico ter um acesso imediato às alterações do
corpo, o que reforçará ainda mais o reducionismo biológico ao fazer parecer que no
tocante ao adoecimento não há nada mais além de um corpo anatômica e
fisiologicamente alterado. A metáfora cartesiana do corpo como máquina adquire
aqui toda a sua pregnância. Retroativamente, é a idéia de que o corpo é constituído
por uma série de peças que se organizam a partir de uma lógica mecânica que será
o correlato filosófico-conceitual da medicina anátomo-clínica. E justamente a
55
forclusão dessa herança teórica será um dos fatores que fará com que essa
medicina não seja tomada como um modo relativo de ordenação e descrição do
adoecimento, mas sim como o ponto de chegada de um olhar que sempre buscou a
verdade, mas que outrora esteve embaçado pelas crenças religiosas e por sistemas
teóricos.
Se a anatomia patológica fomenta uma medicina que das doenças fará mais
importante seus pontos de inserção no corpo do que sua fenomenologia, o que fazer
nos casos em que não é possível encontrar essa inserção, ou seja, quando não há
correlatos lesionais para os sintomas?
O ponto de vista de Bichat preconizava uma espécie de marginalização
desses casos em que um substrato orgânico não podia ser encontrado; era o que,
no entender do médico, ocorria com alguns tipos de febres e afecções nervosas. Na
medida em que não se podia correlacionar tais fenômenos a lesões no corpo, sua
importância deveria ser subestimada. Como será visto adiante, essa atitude tem sido
bastante freqüente no cuidado em saúde atual no trato com casos dessa natureza.
Em que pese a importância da posição de Bichat que concedia um privilégio às
descobertas da anátomo-clínica pela exclusão deliberada de afecções que não se
encaixavam em seu modelo recém-elaborado, de maneira geral os médicos do início
do século XIX adotaram um posicionamento que mesclava a incidência da anatomia
patológica como matriz de entendimento da doença com uma estrutura formal de
classificação herdada da medicina das espécies. Assim, dividiam as doenças em
dois grupos cujos nomes variavam, mas que pretendiam englobar duas classes
distintas de doenças: aquelas em que se poderia encontrar um substrato orgânico e
aquelas em que isso não era possível. Assim, havia de um lado as doenças
orgânicas e de outro as doenças nervosas (ou funcionais ou mesmo vitais,
dependendo do autor que elaborara a classificação).
Essa divisão entre doenças com lesão e doenças sem lesão explicita um
resquício ainda da medicina classificatória sobre a anátomo-clínica, pois a alteração
anatômica ainda não constitui o elemento definidor da doença; ela é ainda apenas
um de seus traços que, ao ser trazido à cena, serve como uma informação
primorosa para a delimitação da natureza da enfermidade. As estruturas do corpo
alteradas durante um processo de adoecimento não constituem a própria doença,
56
mas funcionam como índices para a determinação de sua espécie. Por isso, os
médicos classificadores como Pinel e Laënec aderiram de muito bom grado às
descobertas da medicina patológica porquanto elas lhes forneciam finalmente um
substrato palpável, tangível para a classificação das doenças. Pode-se dizer,
portanto, que o primeiro movimento de inserção da anatomia patológica no domínio
da medicina, encabeçado por Bichat, não foi suficiente para atingir o propósito a que
almejavam, qual seja, o de fundar uma medicina do corpo, finalmente positiva e livre
dos velhos sistemas classificatórios. Tal objetivo só será concretizado com o ônus de
uma ideologia organicista partidária de um monismo patológico fundamental que
redundará na premissa de que, em se tratando de doenças, não há nada para-além
do orgânico.
Quem estará na linha de frente desse segundo movimento de conquista da
medicina pela anatomia patológica será Broussais principalmente através de seu
posicionamento quanto à polêmica das febres. Passaremos deliberadamente ao
largo dessa polêmica dada a multiplicidade de detalhes que a caracterizam. Para
nossos propósitos, basta dizer que desde o século XVIII reinava uma discussão na
medicina quanto à natureza das febres: se elas eram constituídas por lesões ou se
se tratavam apenas de distúrbios vitais ou funcionais. Broussais resolverá
definitivamente o problema (ainda que posteriormente sofrendo diversas críticas)
asseverando que as febres e as inflamações dependem de um mesmo processo
patológico. Com isso, a febre perde seu estatuto de um distúrbio vital (que não
deixando rastros no cadáver, não pode constituir-se como doença orgânica) e passa
a ser visto como um fenômeno também orgânico. Para operar essa transformação
conceitual, Broussais terá também de modificar a idéia que se tinha a respeito do
que constituía uma inflamação. Anteriormente, essa era caracterizada em função de
determinados signos como rubor, calor, dor, etc. Broussais dirá que tais sintomas
são na verdade apenas fenômenos visíveis de alterações que acontecem no âmbito
dos
tecidos:
esses
são
desorganizados após
uma
prévia
transformação
desarmônica de alguma função orgânica – e é nisso que consiste uma inflamação.
Logo, para se admitir tal descrição, será preciso aliar a anatomia à fisiologia, isto é,
uma disciplina que contemple as funções do corpo em relação com agentes que
nelas podem exercer algum tipo de influência. Tais agentes ocasionariam uma
irritação dos tecidos, uma reação defensiva à a sua influência. Esse processo será
57
tomado como universal para todas as doenças. Com a descoberta dos vírus e
bactérias, essa idéia ganhará ainda mais força visto que, por exemplo, já não seria
preciso recorrer à hipótese herdada de uma medicina “ultrapassada” de que no caso
da pneumonia o frio seria o agente causador da irritação. As bactérias e vírus com
toda a sua “realidade independente do observador” passam a ser vistos como os
“verdadeiros” agentes chegando ao ponto de, em determinado momento, alguns
autores cogitarem a hipótese de que todas as doenças seriam causadas por agentes
patogênicos dessa natureza.
Com Broussais estabelece-se definitivamente uma espécie de padrão de
entendimento das doenças que se tornará particularmente essencial para o
desenvolvimento da biomedicina. Trata-se de pensar a doença como um processo
que ocorre no interior de um aparato orgânico, constituindo-se como uma reação
fisiológica que redunda em modificações anatômicas. A universalidade do modelo
não permitirá sequer que as doenças ditas “mentais” escapem dessa descrição. No
caso delas, temos uma desordem que se dá num órgão específico do corpo, o
cérebro. Assim, o tratamento desses distúrbios deve consistir numa intervenção no
nível das estruturais cerebrais, seja pela via do medicamento, por uma descarga
elétrica ou qualquer outro tipo de intervenção que incida diretamente na anatomia
cerebral. Evidentemente, a incorporação do ponto de vista biomédico às doenças
mentais só pôde ser realizado de maneira mais expoente a partir de meados do
século XX quando as pesquisas sobre o cérebro começaram a se desenvolver em
maior profusão. No entanto, mesmo em fins do século XIX já é possível observar
tentativas de fundar uma psicologia e psicopatologia em bases puramente
neuroanatômicas como o Projeto para uma Psicologia Científica (1895) de Freud, à
época um jovem neurologista (FREUD, 1996a).
Correlato a essa redução organicista do fenômeno patológico pelo modelo
biomédico, temos o prestígio adquirido pelo sentido da visão que, gradualmente,
adquire um caráter hegemônico enquanto instrumento de apreensão da realidade da
doença. Tanto é assim que a própria figura do médico como aquele a quem são
dirigidas as queixas do paciente passa a se obscurecer pela prevalência de modos
outros de “visualização” dos processos patológicos como toda a bateria de exames
que hoje existem à disposição do profissional. Se a doença é um fenômeno que diz
respeito meramente ao que se processa no corpo daquele que sofre, não se deve
58
mais perder tempo escutando o que esse que sofre tem a dizer justamente porque o
que ele tem a dizer é irrelevante, não transforma a realidade de seu corpo. O que se
tem que fazer, portanto, é auscultar, aferir, realizar exames de sangue, de fezes, de
urina, eletrocardiogramas, eletroencefalogramas! São eles que vão nos apresentar a
“realidade tal como ela é”, límpida, sem essa confusão de queixas que o doente nos
apresenta.
Mas há momentos em que toda essa mecânica harmônica e desenvolta
encontra suas pedras de tropeço. E elas existem aos montes. Um exemplo são os
chamados sofredores de sintomas “vagos”, “confusos”, “indefinidos”, cujas
manifestações aparentes denunciam um padecimento, o qual não encontra
correspondência no nível do organismo. Os exames não detectam nada, está tudo
“em ordem” no corpo do paciente, mas ainda assim ele sofre e seu sofrimento é real.
Como lidar com tais casos se o paradigma a partir do qual se trabalha postula que a
doença é necessariamente uma desordem orgânica detectável pelo olhar dos
exames que adentra a profundidade do corpo?
1.5 Retorno do recalcado
Guedes, Nogueira e Camargo Jr. (2009) numa pesquisa com médicos de
diferentes especialidades de um hospital-escola, verificaram na prática como se
processa a abordagem desses casos por profissionais imersos no modelo
biomédico. Fica claro que a enunciação de queixas que, por seu caráter
eminentemente subjetivo, não podem imediatamente serem reconhecidas como
sintomas delimitados pela nosografia, geram desconforto, incômodo e irritação em
alguns profissionais evidentemente por não conseguirem encaixar em seu conjunto
prévio de representações sobre a doença o que o paciente lhe diz. Diante desse
choque entre o fenômeno e o universo conceitual, uma das saídas comentadas por
alguns médicos é a de subvalorizar o que o paciente apresenta e lhe dizer a célebre
frase “você não tem nada” com o objetivo explícito de fazer com que o doente não
dê importância para seu próprio sofrimento.
Muitas vezes, o profissional alcança seu intento não porque aquilo que o
paciente sente seja de fato irrelevante de modo que ao lhe ser retirada a atenção,
59
ele passe a não mais senti-lo. É comum que o médico recorra aos registros dos
exames realizados como um recurso para demonstrar autoridade sobre o que diz,
fazendo parecer que os exames consistem na realidade e as queixas do paciente
num mero produto de sua imaginação.
Outra estratégia bastante comum dos profissionais nesses casos é o
encaminhamento do paciente a um psicólogo ou psiquiatra, manifestando e, ao
mesmo tempo, fortalecendo a separação entre psíquico e somático que, como
vimos, é uma das matrizes conceituais da biomedicina. Ainda que essa estratégia
supere a anterior em termos éticos, na medida em que não utiliza a autoridade dos
exames para negar a realidade do sofrimento do doente e perceba a necessidade de
outro tipo de abordagem para o caso, ainda permanece o problema da cisão entre
duas dimensões que são evidentemente imbricadas. Um de nossos objetivos com
este estudo é precisamente o de demonstrar a possibilidade de que fenômenos que
se dão eminentemente na superfície e espessura do corpo, ainda que estejam
revestidos de conteúdos de ordem psicológica, possam ser tratados integralmente
sem a necessidade de que o paciente seja dividido entre uma parte adequada para
o médico e outra para o profissional psi.
A administração de medicamentos ditos “sintomáticos” ou psicotrópicos
também é uma constante saída encontrada pelos médicos para lidar com os
sintomas indefinidos. A crença de que condições depressivas ou ansiosas
associadas às queixas somáticas do doente podem ser tratadas mediante
antidepressivos ou ansiolíticos constitui uma expressão nítida de duas das
ideologias que estão na base da biomedicina: a primeira é a mais óbvia e que vem
sendo nosso alvo principal de crítica desde o início deste trabalho, a saber, o
organicismo, o qual pode ser claramente percebido pela crença de que basta
interferir no funcionamento bioquímico do cérebro para que sintomas que possuem
uma gênese complexa como a ansiedade sejam eliminados. Sem dúvida, o avanço
no desenvolvimento de medicamentos psicotrópicos desde a década de 50 foi um
dos movimentos que mais favoreceram a prevalência do modelo biomédico e de
seus reducionismos como matriz de entendimento dos fenômenos relacionados à
saúde. Se antes, problemas de cunho psicológico possuíam como recurso primordial
de tratamento a psicoterapia – o que resguardava tais condições do organicismo
60
biomédico – com a entrada em cena dos antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos,
etc. a biomedicina conquista de vez um terreno que até então lhe fazia resistência.
A segunda ideologia que se verifica manifesta nessa estratégia é a do
mecanicismo, expressa na idéia de que um determinado efeito, no caso a extinção
dos sintomas, se segue mediante uma única causa (o medicamento). Além disso, a
consideração do corpo como máquina é aqui patente, uma vez que se pressupõe
um mecanicismo universal de regulação das substâncias em circulação no corpo,
circulação essa que não é interferida por nenhum fator que não esteja no interior da
própria máquina. Os fenômenos afetivos do humor deprimido ou da ansiedade são
vistos, portanto, apenas como epifenômenos de um processo mecânico que se
desenrola no interior do organismo.
Essas três estratégias utilizadas pelos profissionais de saúde para lidar com
pacientes cujos sintomas carecem de uma realidade visível pelos exames no nível
do organismo demonstram que o modelo biomédico se constitui tributário de uma
exclusão de qualquer consideração à subjetividade. Essa exclusão, evidentemente,
pode ter sido extremamente útil em determinados momentos da história do
conhecimento médico: adotar um ponto de vista sobre o doente exclusivamente
orgânico talvez tenha sido uma condição essencial para pesquisas no campo da
anatomia e da fisiologia e de cujos resultados hoje nos beneficiamos. Todo o
problema está no fato de que esse ponto de vista que por vezes foi útil se tornou o
único ponto de vista possível, isto é, tornou-se hegemônico. Assim, utilizando-nos
livremente dos termos de Freud, aquilo que outrora deveria ter sido simplesmente
afastado provisoriamente foi de fato recalcado, isto é, voluntariamente negado e
visto como irrelevante. Todavia, aquilo que foi recalcado retorna, insiste em se
manifestar e, como na psicologia individual, o faz, mormente, através de sintomas
bastante incômodos. Os portadores de sintomas indefinidos e todo esse contingente
de pessoas que respondem por grande parte, senão pela maioria, das consultas
médicas, e que peregrinam de especialidade em especialidade em busca de
explicações para seus adoecimentos, pois bem, são eles a manifestação mais
visível da subjetividade recalcada pela biomedicina.
Para Guedes, Nogueira e Camargo Jr. (2006) a subjetividade constitui-se
como uma anomalia para o paradigma biomédico. Na terminologia de Thomas Kuhn,
61
anomalias são problemas, fenômenos, questões que não estavam previstas pelo
paradigma de uma determinada disciplina científica. A princípio, a anomalia é
recebida com resistência pelo paradigma vigente, o que pode ser claramente
observado nas estratégias adotadas pelos profissionais diante dos sintomas
indefinidos conforme descrevemos acima. A presença de anomalias no interior das
disciplinas – que faz com que os cientistas fracassem na resolução de alguns de
seus problemas – não é necessariamente o que desencadeia uma crise e demanda
a introdução de um novo paradigma. Não raro a ciência normal – que possui um
paradigma hegemônico – consegue tratar da anomalia sem que haja a necessidade
de mudança paradigmática. No entanto, tal transformação pode acontecer caso os
problemas persistam e novas abordagens não consigam solucioná-los.
Do nosso ponto de vista, as diversas críticas que já há algum tempo são feitas
à biomedicina principalmente no que concerne à sua negligência a fenômenos de
ordem psicossocial presentes nas enfermidades, indicam a necessidade de um novo
paradigma para o cuidado em saúde que, ao mesmo tempo em que inclua os
desenvolvimentos alcançados pelo modelo biomédico seja capaz de superar suas
limitações. Atualmente, tem-se falado, num sentido diverso do kuhniano, em “crise
da medicina” (AYRES, 2004; LUZ, 2005). Tal crise estaria ligada a diversos fatores,
entre eles sócio-econômicos, políticos, ideológicos, mas também a aspectos de
ordem epistemológica e filosófica, isto é, aos “modos de pensar” de que falávamos
no início do capítulo. A crise da medicina se dá, portanto,
[...] na medida em que o próprio paradigma que rege a
medicina contemporânea afastou-se do sujeito humano
sofredor como uma totalidade viva em suas investigações
diagnósticas, bem como em sua prática de intervenção.
Também, na medida em que esse sujeito humano sofredor
deixou de ser o centro de seu objeto (como investigação) e de
seu objetivo (como prática terapêutica). A situação desse duplo
afastamento gerou uma dupla crise, na saúde das populações
e na medicina como instituição, detectada a partir da segunda
metade do século XX, que parece ter-se agudizado nos últimos
vinte anos (LUZ, 2005, p. 151).
Esse afastamento do sujeito humano entendido como totalidade que Luz
denuncia se manifesta não apenas do lado do paciente, mas também no campo dos
próprios profissionais de saúde. Esses também perdem seu estatuto de sujeitos na
medida em que se colocam e são colocados na posição de meros fornecedores de
62
tecnologia de saúde sem que se considerem as variáveis intersubjetivas presentes
em uma relação que estabelece entre uma pessoa que deseja ter sua saúde
restabelecida e outra pessoa que se propõe a oferecer um ajuda quanto a isso. É a
deliberada falta de percepção desses fatores que incidem na relação entre o
profissional e o doente que muitas vezes está na raiz do que comumente se
denomina de “falta de adesão ao tratamento” ou mesmo da ineficiência terapêutica.
A tentativa de fundar o cuidado em saúde a partir de uma matriz cientificista opera
um obscurecimento quanto ao que verdadeiramente o caracteriza, isto é, o seu
estatuto de prática humana e social e, nesse sentido, muito mais ligado ao domínio
da ética do que da ciência.
A “crise da medicina” a que nos referimos acima, que coloca em xeque a
própria eficácia da medicina tradicional, tem ensejado a busca de muitas pessoas
por modelos alternativos de tratamento cujos fundamentos filosóficos e conceituais
compreendam uma visão mais “holística” e “integral” do humano. Como aponta Luz
(2005), essa busca não pode ser dissociada do contexto contemporâneo de
preocupação com o meio ambiente e de valorização da saúde e do corpo manifestas
em expressões como “geração saúde”. Tais fenômenos reivindicam uma
compreensão do corpo e da saúde distinta da visão do corpo como máquina e da
saúde como ausência de doença, postulados implícitos do modelo biomédico. Para
onde então se encaminham os insatisfeitos com a biomedicina? Para as chamadas
“medicinas alternativas”, como a homeopatia, a medicina tradicional chinesa e a
medicina ayurvédica. Embora entendamos que tais práticas sejam extremamente
relevantes enquanto movimentos de resistência à hegemonia da biomedicina,
lamentamos que talvez eles não possam ultrapassar essa função e se constituírem
como estratégias de fomento á transformação do paradigma biomédico. A alcunha
“alternativas” lhes é precisamente devida visto que são medicinas que só possuem
sua razão de ser, enquanto modelos de cuidado em saúde na sociedade atual, por
referência à biomedicina. Além disso, são sistemas que se organizam segundo uma
coerência interna relativamente fechada, com suas próprias concepções sobre como
o corpo se organiza e funciona de tal modo que em face deles, é a biomedicina que
se constitui como “alternativa”. Para usar um termo de Madel Luz, são
racionalidades médicas distintas. Daí ser inviável tomar tais modelos alternativos
como fontes para a transformação e superação dos limites e impasses do modelo
63
biomédico. Para fazer isso, seria necessária a extração de determinados aportes
teóricos dessas medicinas e sua inclusão no modelo “oficial” de cuidado em saúde,
o que geraria monstros teóricos com faces provenientes de diferentes racionalidades
sem nexo interior ou a substituição da biomedicina por um dos modelos alternativos,
o que significaria uma simples transferência de problemas visto que embora
passassem a ser contemplados aspectos anômalos para o modelo biomédico, toda
a produção anterior elaborada a partir da biomedicina seria posta de lado e
certamente reivindicaria seu lugar na forma de anomalias para o novo modelo.
Faz-se necessária, portanto, a transformação do modelo biomédico não em
algo que lhe seja completamente estranho, mas em uma nova racionalidade que
conserve sua produção, mas que, ao mesmo tempo, amplie seus pontos de vista e
incorpore novos modos mais abrangentes de pensar os fenômenos da saúde e da
doença e o cuidado em saúde. Nossa intenção com este estudo é demonstrar as
contribuições que a obra de Georg Groddeck pode trazer para essa evolução.
Groddeck nunca teve pretensões de fundar uma “medicina alternativa groddeckiana”
porquanto seu próprio berço de formação tenha sido a medicina científica do século
XIX, embrião do atual modelo biomédico. No entanto, a partir de intuições teóricas
originais e de sua prática como clínica geral conseguiu ultrapassar os reducionismos
de seus colegas, formulando uma série de proposições sobre saúde e doença que
hoje nos parecem indispensáveis para a superação das limitações impostas pela
estreiteza de olhar do cuidado em saúde contemporâneo.
Antes, porém, de analisar de que modo as teses de Groddeck podem
contribuir para essa tarefa que se mostra urgente, dedicaremos um capítulo à vida e
obra desse autor que certamente é desconhecido para a maior parte dos leitores.
Será uma espécie de introdução ao pensamento groddeckiano com vistas a
possibilitar ao leitor a apreciação adequada das contribuições de sua obra.
64
2 GEORG GRODDECK: UMA APRESENTAÇÃO
Neste capítulo abordaremos os principais tópicos das proposições teóricas e
práticas de Georg Groddeck nos campos da psicanálise e da medicina relacionandoos a aspectos da biografia do autor. Consideramos necessário este capítulo como
uma etapa preliminar ao capítulo no qual abordaremos efetivamente as
contribuições a serem extraídas da obra groddeckiana para a superação de alguns
impasses do modelo biomédico, os quais expusemos no capítulo anterior.
A literatura existente acerca da obra de Groddeck é ínfima se a compararmos
com o volume de textos escritos sobre o trabalho de outros psicanalistas como
Freud, Winnicott, Melanie Klein, Lacan, Ferenczi, entre outros. Neste sentido, é
provável que grande parte dos leitores vinculados ao campo analítico e,
principalmente, ao campo da saúde, em particular no da medicina, não conheçam ou
saibam de maneira superficial o conteúdo da teoria groddeckiana. Especialmente a
tais leitores dedicamos esta apresentação.
2.1 O esquecimento da obra groddeckiana
As razões que levaram a medicina e a psicanálise a negligenciarem a obra de
Groddeck são diversas. Como veremos nas páginas seguintes, o fundador do
método psicanalítico, Sigmund Freud, mostrou-se simpático e, por que não dizer, até
bastante entusiasmado com o uso que Groddeck fazia da terapia psicanalítica no
tratamento de pacientes com doenças orgânicas. No entanto, a forma como o último
organizava seu pensamento e os conceitos que utilizava para explicar a efetividade
da psicanálise em sintomas somáticos eram um tanto discrepantes em relação à
ortodoxia freudiana. Em decorrência disso, a maior parte dos discípulos de Freud
recebeu as teses de Groddeck com uma reação de escândalo e o próprio Freud
manifestou nas cartas trocadas entre os dois autores seu repúdio ao que ele
considerava como misticismo nos enunciados teóricos groddeckianos. Ao longo
deste texto veremos que enunciados eram esses que causaram tamanha resistência
por parte dos psicanalistas. Por ora, é suficiente frisarmos que o escândalo
65
provocado pelas idéias groddeckianas foi o principal fator que levou a obra do autor
a ocupar um lugar marginal na comunidade psicanalítica.
No tocante ao esquecimento de Groddeck pela medicina, trata-se, a nosso
ver, de uma reação do modelo teórico da medicina moderna àquilo que nele se
constituiria como anomalia. De fato, desde o início de sua formação como médico,
Groddeck adotou um posicionamento teórico-clínico distinto e, não raro, oposto ao
da medicina tradicional. As principais teses do autor acerca da compreensão de
como se constitui o adoecimento e a terapêutica não cabem no modelo médico
padrão, o qual caracterizamos no capítulo anterior como modelo biomédico, vigente
na realidade ocidental desde o final do século XIX.
Uma das proposições mais fundamentais de Groddeck, como a tese de que
toda doença carrega uma significação e uma finalidade, não faz sentido algum no
modelo biomédico, para o qual as doenças constituem apenas lesões orgânicas,
fenômenos corporais sem qualquer relação com o que poderíamos chamar de
subjetividade. Nesse sentido, a negligência da medicina em relação à obra
groddeckiana não se assenta no escândalo face à radicalidade das teses do autor,
como no caso da psicanálise, mas constitui um repúdio a um pensamento calcado
numa racionalidade distinta.
Além dessas razões, há ainda um outro motivo, relacionado especificamente
à personalidade de Groddeck, que pode nos ajudar a entender o esquecimento de
sua obra. Como afirma Lawrence Durrell, o escritor inglês que prefaciou a obra
magna de Groddeck, “O Livro dIsso”, “como todos os poetas, ele [Groddeck] não é
sistemático, nem dogmático ou didático – o que talvez explique a negligência de que
é alvo por parte dos médicos. Seu procedimento é o da ‘intuição’ escolhida, com a
habilidade de um escritor nato.” (DURRELL, 2008, p. XV). Groddeck nunca
vislumbrou a possibilidade de fazer escola, algo como uma “Sociedade de
Psicanálise Groddeckiana” ou uma “Medicina Groddeckiana”. Nem ele e nem
mesmo aqueles que simpatizaram com sua obra e a adotaram como guia de
trabalho. Pudera, trata-se de um empreendimento impossível a tentativa de fundar
um sistema teórico a partir dos escritos deste autor. Veremos nas páginas seguintes
que, conquanto da leitura de seus textos possa ser extraído um fio condutor que nos
permita notar o eixo em torno do qual gira suas proposições, é uma tarefa ingrata e
66
fadada ao fracasso tentar definir com precisão, por exemplo, o conceito mais
fundamental do autor, o Isso.
Portanto, o caráter assistemático da obra groddeckiana inviabiliza uma das
formas mais comuns de se fixar um pensamento original e distinto da ortodoxia
reinante, a saber: a transmissão desse pensamento pela via de uma escola. A
homeopatia, por exemplo, ainda hoje é um tipo de terapêutica que se fundamenta
numa racionalidade médica discrepante em relação ao modelo biomédico. Todavia,
não caiu no esquecimento precisamente porque as proposições de Hahnemann, seu
fundador, puderam ser sistematizadas a ponto de hoje cursos de formação em
medicina homeopática estarem difundidos em todo o mundo. No campo
psicanalítico, o mesmo processo ocorreu com analistas que se afastaram do
pensamento freudiano mais tradicional, como D. W. Winnicott e C. G. Jung.
Atualmente é possível encontrar sociedades winnicottianas de psicanálise, cuja
formação é baseada prioritariamente em textos de Winnicott e não de Freud. Jung,
por seu turno, fundou, desde o rompimento de sua amizade com Freud, o que ele
chamou de psicologia analítica e instituições para o treinamento de terapeutas a
partir dessa matriz teórica.
Feliz ou infelizmente, não teve o mesmo destino a obra de Groddeck.
Abdicando do papel de mestre de uma escola teórica, o autor conservou o caráter
poeticamente assistemático de seus escritos louvado por Lawrence Durrell, correndo
o risco de que o tempo viesse a situá-los à margem dos campos médico e
psicanalítico – o que efetivamente aconteceu.
Como dissemos no capítulo anterior, nossa intenção aqui não é a de corrigir
essa suposta injustiça fazendo uma apologia de uma pretensa “medicina
groddeckiana”. Nossa proposta é a de demonstrar que, na obra de Groddeck, como
nos baús enterrados das histórias infantis, habitam tesouros escondidos outrora com
o objetivo de conservá-los e que agora são encontrados inopinadamente por um
indivíduo qualquer que jubilosamente se espanta ao perceber que eles ainda são
valiosos. Aqui, tais tesouros se materializam em contribuições para a reformulação
do cuidado em saúde através da superação de alguns impasses enfrentados pelo
modelo biomédico. Vejamos, então, quem foi o dono do baú que os encerrava.
67
2.2 Raízes biográficas do pensamento de Georg Groddeck
Uma das conseqüências práticas mais revolucionárias que podem ser
extraídas da descoberta freudiana do inconsciente é o questionamento da
neutralidade ou imparcialidade de um cientista, filósofo ou pensador com relação a
suas teses. As formulações de base da psicanálise a partir da investigação do
inconsciente demonstram que aquilo que denominamos de racionalidade está
inevitavelmente condicionada pelas experiências afetivas processadas ao longo de
nossa história de vida, de modo que o exercício do pensamento, por mais lógico que
seja, é indissociável dos elementos da biografia do indivíduo.
Nascido na cidade alemã de Bad Kösen, em 13 de outubro de 1866, cerca de
dez anos após o nascimento de Freud, Georg Walther Groddeck resolveu levar às
últimas conseqüências essa descoberta psicanalítica. Por conta disso, irá apontar
em diversos momentos de sua obra as vinculações entre suas teses e métodos de
trabalho e sua história de vida, reconhecendo serem inseparáveis o homem
Groddeck e o médico e psicanalista Groddeck. Levando em conta isso, abdicaremos
do modo tradicional de se fazer a apresentação de um autor, qual seja, pela
descrição linear dos acontecimentos de sua vida seguida de uma apreciação de
suas teses. Ao estilo groddeckiano, tentaremos conjugar num mesmo todo traços de
sua história de vida com particularidades de seu caráter e do seu modo de pensar.
Um dos aspectos mais proeminentes dos conteúdos das teses de Groddeck
bem como de seu método de trabalho é um afastamento dos cânones tradicionais
da ciência. Groddeck não confere ao saber científico o estatuto de um conhecimento
que se eleva acima dos demais por estar em condições mais favoráveis de acesso à
verdade. Para ele, “a ciência nada mais é que uma variedade da fantasia”
(GRODDECK, 2008, p. 5). Essa “aversão pela ciência” (Ibid., p. 1) é explicada não
como um capricho, mas como estando relacionada diretamente a certos eventos de
sua vida infantil. Sua mãe, após dar à luz o primeiro filho (Groddeck era o caçula de
uma família de cinco) teve uma infecção nos seios e, como consequência disso,
suas glândulas mamárias secaram. Por esse motivo, Groddeck foi obrigado a ser
amamentado por uma ama-de-leite. É nessa contingência que o autor localiza a raiz
de sua aversão pela ciência, em função do privilégio concedido à certeza nesse tipo
de conhecimento. Com efeito, ele argumenta que a circunstância de possuir “duas
68
mães”, uma biológica e outra “de leite” coloca o bebê numa condição de terrível
incerteza, pois
De um lado está a mãe, em cuja barriga a gente viveu durante
nove meses, sem nenhuma preocupação no quentinho,
nadando na felicidade. Como não gostar dela? E depois, uma
segunda pessoa, em cujo seio a gente se alimenta todo dia,
cujo leite a gente bebe, sentindo sua pele fresca e respirando
seu cheiro. Como não se afeiçoar a ela? E então, a quem se
apegar? (GRODDECK, 2008, p. 5)
Obviamente poderíamos aqui duvidar da fidedignidade dessa relação que
Groddeck estabelece entre seu desprezo pela ciência e suas condições de
amamentação. No entanto, não é a veracidade de suas conclusões que está em
jogo. O interessante é notar a radicalidade do pensamento do autor que não teme
em aplicar em si o mesmo método que utilizará no tratamento de seus doentes, a
saber: o estabelecimento de pontes entre o que se apresenta no presente e a
história do indivíduo em todos os seus pormenores.
Fizemos menção acima ao fato de Groddeck ter sido o caçula de uma família
de cinco filhos. Alguns aspectos do relacionamento com os irmãos, principalmente
com a irmã Lina, serão vistos por ele como tendo influência decisiva em seu
percurso profissional futuro. Groddeck atribui o despertar de seu desejo de ser
médico a um episódio que depois lhe foi relatado por seu pai e que ocorrera quando
possuía três anos de idade. Trata-se de uma ocasião em que o garoto estava
brincando com uma boneca de sua irmã. O pai conta que, enquanto Lina insistia em
colocar uma roupa extra na boneca, o irmão lhe repreendia dizendo que a boneca ia
se sufocar. Segundo Groddeck, fora a partir desse episódio que seu pai concluíra
que ele tinha vocação para a medicina (GRODDECK, 2008).
Mas o papel de Lina no desenvolvimento profissional de Groddeck vai ainda
mais longe. Segundo o autor, ele e a irmã costumavam brincar de mãe e filho. Na
brincadeira, se o filho se comportasse mal, deveria levar algumas palmadas como
castigo. Todavia, quando era Lina a ocupar o papel de filho, a punição deveria ser
aplicada de forma mais suave, pois a garota possuía uma doença no coração. É
nessa contingência que Groddeck encontra as razões que determinaram suas
preferências em relação a métodos de trabalho na medicina: a impossibilidade de
aplicar as palmadas com a força devida fez com que desenvolvesse um horror a
69
técnicas que de alguma forma implicam em levar o paciente a sentir dor, como a
cirurgia, e desse maior valor a procedimentos não tão invasivos como a massagem
e a psicoterapia. Ainda das brincadeiras com uma irmã cardíaca, Groddeck levará
como traço uma preferência pelo tratamento de doentes crônicos (GRODDECK,
2008). De fato, o médico manterá por mais de 30 anos um sanatório na cidade
alemã de Baden-Baden, atendendo pacientes, em sua maioria com doenças
crônicas, que o procuravam vindo de diversos países (VALVERDE & RIVERAS,
2004).
Outro evento que Groddeck considera como tendo influência direta sobre sua
escolha profissional foi a ocasião em que seu pai lhe perguntou se gostaria de ser
médico. A essa indagação, aparentemente banal, Groddeck atribuirá um significado
singular: naquele momento, o questionamento do pai parecera lhe tornar diferente
dos irmãos. “Foi assim que meu destino foi decidido, tanto em relação à escolha de
minha carreira quanto ao modo pelo qual eu deveria exercê-la.” (GRODDECK, 2008,
p. 1-2). A partir daquele momento Groddeck passaria a imitar de maneira consciente
o pai, o que demonstra a grande transformação subjetiva que a pergunta ocasionou.
A fantasia de que a pergunta do pai o fazia diferente dos irmãos pode ser
vista retrospectivamente como uma das primeiras expressões daquilo que viria a
constituir a marca do pensamento de Groddeck tanto no âmbito da psicanálise
quanto no campo médico, a saber: a heterodoxia, manifesta pela produção de
inovações conceituais e metodológicas que até o momento ainda levam a pecha de
excêntricas. O desejo de ser diferente, original e, por que não dizer, pioneiro, é um
dos traços mais visíveis de seu caráter. Além da própria análise de seus enunciados
teóricos, pode-se comprová-lo pela observação de quem foram aqueles que lhe
serviram de referencial ou modelo, a começar do pai.
Carl Groddeck, que também era médico, é descrito pelo filho como sendo um
“herege, reconhecendo sua própria autoridade, seguindo seu próprio caminho e às
vezes perdendo-se nele, a seu bel-prazer” (GRODDECK, 2008, p. 3). A respeito
disso, Groddeck afirma que o pai fazia chacota com a medicina tradicional, que à
época iniciava as pesquisas sobre a ação de bacilos na etiologia do cólera e da
tuberculose. A menção a esse posicionamento contrário do pai em relação à
medicina de seu tempo parece deixar implícito que a tendência do próprio Groddeck
70
em seguir um caminho original, distinto da medicina tradicional, talvez tivesse origem
numa identificação com o pai.
Esse não-reconhecimento da necessidade de se estar alinhado com os
dogmas da medicina tradicional, preconizado por Carl Groddeck, também se
manifestou na própria formação médica de seu filho. Num texto dedicado à memória
do pai, escrito em 1927 (GRODDECK, 1994), 42 anos após sua morte, Groddeck
relata como passou a acompanhar as consultas do pai. Após a decisão (atribuída a
sua família) de que deveria de fato estudar medicina, Groddeck é encaminhado ao
Instituto de Educação para Médicos Militares, pois seu pai não possuía recursos
para custear seus estudos em uma universidade. No entanto, ao chegar a Berlim,
sede do instituto, Groddeck recebe a notícia de que sua inscrição havia chegado
atrasada e, por conta disso, ele só poderia iniciar o curso no outono. Para não ficar
ocioso meio ano, o futuro médico foi matriculado em um curso de química, no qual
compareceu apenas três vezes, pois o pai acreditava que lhe seria mais útil
acompanhar suas consultas. Após a morte do pai, Groddeck descobriria que na
verdade ele não o havia matriculado no instituto, tarefa da qual sua mãe em seguida
se encarregou (GRODDECK, 1994).
Esse episódio demonstra o quanto Carl Groddeck valorizava o aprendizado
clínico imediato no contato cotidiano com os pacientes e quão pouco crédito atribuía
ao ensino médico tradicional, características que também estarão fortemente
presentes na obra groddeckiana.
Na época em que o filho o acompanhou, Carl Groddeck, trabalhava em Berlim
como médico em uma instituição pública, de modo que a maior parte de sua
clientela era constituída de trabalhadores. Desses momentos, Groddeck guarda uma
grande parcela de aprendizado. Segundo ele, o pai gostava de conversar com seus
pacientes e inquiri-los sobre os acontecimentos de suas vidas e o que pensavam.
Poderíamos ver nesses encontros as primeiras situações em que Groddeck pôde
notar a importância de ouvir o paciente e buscar extrair dele não apenas o relato de
seus sintomas e enfermidades, mas também de suas condições de vida como um
todo, procedimento que o médico de Baden-Baden tomará como guia fundamental
de sua atividade clínica (GRODDECK, 1994).
71
Groddeck se recorda também de que foi nessas consultas com o pai que
apreendeu a relevância de uma experiência clínica não apenas com doentes, mas
também com pessoas sadias, o que lhe seria asseverado posteriormente pelo seu
mestre em medicina, Ernst Schweninger (GRODDECK, 1994).
Não é possível registrar todas as contingências do relacionamento entre
Groddeck e seu pai que tiveram uma influência direta no desenvolvimento do caráter
e do pensamento do autor, mas pode-se notar que tal relacionamento foi
efetivamente fundamental para as proposições inovadoras que Groddeck trará para
a medicina. De fato, o reconhecimento da interdependência entre corpo e psiquismo,
que o levará a estabelecer a tese de que todo sintoma orgânico pode ser lido como
um símbolo, é atribuído pelo próprio Groddeck a uma observação feita quando seu
pai estava doente e próximo de falecer. Naquele momento, Carl Groddeck sofria
com dificuldades em respirar e, de acordo com o filho, tal sintoma físico era
acompanhado de um distúrbio psíquico: uma mania de perseguição. Observador
atento, Groddeck consegue perceber uma vinculação entre ambos os sintomas
constatando o que acontecia quando o médico que havia sido chamado para cuidar
do pai adentrava o local em que Carl estava: tanto a dificuldade de respirar quanto a
mania de perseguição desapareciam ao mesmo tempo. Além de perceber, talvez
pela primeira vez, a indissociabilidade entre o psíquico e o corpóreo manifesta no
adoecimento, Groddeck levará dessa cena outro aprendizado, o do potencial
terapêutico da simples presença do médico: “Tornou-se claro para mim, desde
então, que o médico raramente chega a ver a real condição do doente, porque com
a sua chegada todos os sintomas melhoram logo” (GRODDECK, 1994, p. 384).
Se da relação com a irmã Lina, Groddeck levará como marca em sua história
o despertar da vocação para a medicina e para o cuidado de pacientes crônicos com
métodos menos invasivos, do relacionamento com o pai emergirá o médico
heterodoxo e notável observador que Groddeck foi. Da indagação paterna que lhe
atribuíra estatuto de exceção ao pouco valor concedido à medicina científica
tradicional, passando pelo reconhecimento do condicionamento recíproco entre
corpo e psiquismo na própria pessoa do pai, Groddeck ia recolhendo os traços
fundamentais sobre os quais erigiria sua singularidade.
72
Mas há ainda duas figuras fundamentais cuja influência sobre Groddeck
merecem uma consideração mais detida. A primeira delas é Caroline Groddeck, sua
mãe, cuja influência sobre o autor repercutirá no âmbito de suas proposições
teóricas mais fundamentais. Caroline era filha de um dos maiores historiadores da
literatura alemã, o professor August Koberstein, que deu aulas durante 50 anos em
Pforte, instituição de ensino próxima da cidade alemã de Bad Kösen (VALVERDE &
RIVERAS, 2004). Coincidentemente, o filósofo Friedrich Nietzsche, ao qual
Groddeck se referencia como seu predecessor no uso do conceito de Isso, foi aluno
de August Koberstein em Pforte.
Do pai, Caroline Groddeck herdará o gosto pela literatura alemã, em especial
pela obra de Goethe. Em suas “Memórias”, um longo texto de cunho autobiográfico
que não chegou a ser finalizado, Groddeck diz: “Para minha mãe, que era a pessoa
mais importante na minha infância, havia dois deuses: um era Goethe – ela tinha
sempre à sua mesinha de cabeceira um livro verde com uma seleção de poemas de
Goethe, que ela chamava sua Bíblia [...]” (GRODDECK, 1994, p. 348).
Consideramos que desse fascínio da mãe pelo maior nome da literatura
alemã, Groddeck não sairá ileso. Do contrário, como poderíamos apreciar o ensaio
“Rumo a Deus-Natureza” (“Hin zu Gottnatur”) que Groddeck publica em 1909, sem
uma referência ao próprio conceito de “Deus-Natureza”, encontrado em Goethe?
Esse autor, cujos interesses não se restringiam à literatura, mas se direcionavam
também às ciências naturais e à filosofia, propusera uma concepção filosóficoteológica inspirada na filosofia de Baruch de Spinoza (1632-1677) cujo postulado
primordial era a identidade entre Deus e Natureza. Seguindo a perspectiva
spinozana, Goethe afirmava que a divindade não seria transcendente, mas imanente
à Natureza ou, em outras palavras, que ambos seriam uma única e mesma coisa.
Contudo, diferentemente de Spinoza, Goethe advoga intencionalidades para seu
Deus-Natureza. Em estudo dedicado precisamente a apresentar as linhas centrais
do pensamento de Goethe, Coelho (2007) sintetiza sua visão marcadamente
romântica:
Para Goethe, assim como para os herméticos, cabalistas e
místicos, a Natureza cresce, vive e ama em todas as direções,
criando e sustentando dentro de si mesma toda a infinidade de
seres e modos de ser. E, o mais importante: ela se desenvolve
73
em todos os seus particulares e no seu Todo ao mesmo tempo,
o que lhe dá um sentido e uma finalidade últimos [...]
(COELHO, 2007, p. 63).
Como o leitor poderá notar mais adiante, essa descrição da concepção
goetheana do Deus-Natureza se coaduna perfeitamente ao conceito de Isso em
Groddeck. Conquanto esse último conceito seja enunciado na obra groddeckiana
com contornos próprios e uma singularidade irredutível a qualquer outra noção, é
impossível negar que o conceito de Deus-Natureza em Goethe é, digamos, um
embrião do Isso.
Para-além da referência a Goethe, Groddeck levará do contato com o avô e a
mãe o desejo de se enveredar pela literatura. Um exemplo que ilustra a
manifestação desse anseio é a correspondência de Groddeck com Freud. Nela,
desde o início, Groddeck já confidencia ao médico vienense o desejo de escrever
um romance psicanalítico e frequentemente propõe a Freud hipóteses psicanalíticas
para a análise de contos, poemas, peças e outros escritos literários. Em carta de 19
de outubro de 1919 (GRODDECK, 1994), Groddeck envia a Freud o manuscrito
daquele que, após algumas revisões, seria publicado pela própria editora da
Associação Internacional de Psicanálise, a International Psychoanalytischer Verlag,
como: “O Fuçador das Almas” (Seelensucher). Essa foi a única ficção escrita por
Groddeck tendo como mote a teoria psicanalítica. Embora em “O Livro dIsso” tanto o
autor das cartas que compõem o texto quanto a amiga destinatária sejam fictícios,
não se pode dizer que ali se tem uma obra literária. Diferentemente do primeiro, o
interesse de Groddeck com esse livro não era estético. “O Livro dIsso” representa a
tentativa do autor de expor e explicar suas proposições teóricas, conforme afirma na
carta de 20 de novembro de 1920 a Freud, quando menciona pela primeira vez o
projeto de escrever o livro (GRODDECK, 1994).
2.3 A influência de Ernst Schweninger
A outra personagem que exercerá forte influência sobre o pensamento de
Groddeck é o já citado médico Ernst Schweninger (1850-1924), que fora seu
professor durante a formação médica e de quem Groddeck foi assistente. A primeira
vez que Groddeck ouvira o nome de Schweninger fora num comentário do pai. Esse
74
falava com entusiasmo acerca do médico, louvando-lhe a façanha de haver
conseguido fazer o chanceler alemão Bismarck obedecer-lhe. Groddeck afirma que,
até então, nunca havia visto o pai elogiar nenhum médico, pois o patriarca se
considerava como o único que de fato compreendia a medicina. Nossa hipótese é a
de que tal exceção concedida ao médico de Bismarck elevara Schweninger ao
patamar que o próprio pai já ocupava aos olhos de Groddeck, constituindo o mestre
como um sucedâneo paterno no lugar do ideal de Groddeck.
Ernst Schweninger começara a tratar do chanceler Otto Von Bismarck em
1881 de uma grave e perigosa doença cujo nome não é mencionado. Segundo
Groddeck, Schweninger havia levado a cabo o tratamento através de uma
observação minuciosa dos hábitos e condições de vida do chanceler e conseguira
isso depois de cerca de cem médicos terem tentado e fracassado. Bismarck era
conhecido por seu temperamento forte e, por essa razão, não se submetia
facilmente às orientações que os médicos lhe recomendavam. Schweninger parece
ter sido o único que conseguiu tornar Bismarck mais “dócil” às prescrições médicas.
Groddeck assinala que, ao final do tratamento, Bismarck teria dito a Schweninger:
“‘Até agora eu tratei de todos os médicos. O Sr. é o primeiro que trata de mim.’”
(GRODDECK, 1994, p. 333)
De fato, Schweninger não era como os médicos de sua geração. Como vimos
no primeiro capítulo, o final do século XIX testemunhava a transformação da
medicina em ciência médica, isto é, em uma disciplina que passava a não ter mais
como preocupação central o tratamento dos doentes, mas sim o conhecimento das
patologias e sua caracterização. Nesse contexto, o diagnóstico assume uma
importância fundamental; passa a ser visto como um objetivo em si mesmo e não
mais como uma etapa preliminar à escolha do melhor método terapêutico, como
acontecia outrora. O desejo que motivava a intervenção médica era o de conhecer a
entidade mórbida que o paciente portava em vez de efetivamente tratar.
Schweninger pensava e atuava na contramão dessa tendência. No texto “A natureza
cura” (GRODDECK, 1994), escrito originalmente como um necrológio dedicado a
Schweninger, um ano após o seu falecimento, Groddeck tenta demonstrar que seu
mestre estava muitos passos à frente de seus contemporâneos, antecipando-se, por
exemplo, às pesquisas imunológicas que evidenciariam experimentalmente o papel
do organismo no processo de cura. A maioria dos necrológios dedicados a
75
Schweninger se concentrava no fato de ele ter sido o médico do chanceler Bismarck
e faziam poucas menções ao método propriamente schweningeriano de trabalho.
Em “A natureza cura”, Groddeck dedicar-se-á, portanto, a defender as diretrizes
clínicas que Schweninger adotava, explicitando-as.
Groddeck conta no texto que Schweninger costumava sempre repetir-lhe
duas frases que Groddeck tomaria como verdadeiros dogmas em sua atuação como
médico: “A natureza cura, o médico trata.” (“Natura sanat medicus curat”, um ditado
latino) e “Não são as doenças, mas os doentes o objeto do tratamento médico.”.
Schweninger dizia que essas duas frases eram representativas do verdadeiro
espírito médico (GRODDECK, 1994).
Em relação à primeira frase, “A natureza cura, o médico trata”, o interesse de
Schweninger era o de sublinhar o fato de que o verdadeiro agente da cura não é o
médico ou outro profissional de saúde, mas sim o próprio organismo que padece.
Esse não seria passivo em face de seu ambiente, mas constituir-se-ia naturalmente
como tencionado para a saúde, de modo que a cura poderia ser vista como algo que
decorre da própria essência do organismo e não uma condição que se lhe advém do
mundo externo. Nesse sentido, a doença era vista por Schweninger como aquilo que
obstaculiza as tendências de reparação e cura inerentes ao organismo, como uma
pedra que impede o curso normal de um rio. O cuidado médico seria, em
decorrência, aquilo que retira essa pedra e permite ao rio correr naturalmente. Podese concluir desse raciocínio que o tipo de tratamento escolhido não é o aspecto mais
relevante da terapêutica, mas sim o decurso da ação que o método adotado
exercerá no organismo, isto é, se ele efetivamente auxiliará o doente a atualizar sua
potência imanente de cura ou não. Groddeck salienta que as pesquisas atuais
acerca do chamado sistema imunológico conferem, de certo modo, validação
empírica ao enunciado schweningeriano na medida em que demonstram o papel
terapêutico que o organismo tem em relação a si próprio (GRODDECK, 1994).
Além de enfatizar o caráter de agente do organismo no processo terapêutico,
o ditado “A natureza cura, o médico trata” aponta correlativamente para uma
relativização do papel que o profissional de saúde tem no tratamento. Ao longo da
história, o campo do cuidado em saúde foi adquirindo um estatuto social elevado
precisamente por se considerar que era o médico quem devolvia a saúde ao doente,
76
concepção que se fundava na idéia de uma natureza obscura, traiçoeira ou caótica,
imagem esta surgida a partir do Renascimento. Contra essa natureza ruim,
pecaminosa e tendente para o mal, a razão humana salvaria. É essa matriz que está
como pano de fundo de uma tendência autoritária e intervencionista no cuidado em
saúde que vê na racionalidade do saber médico o elemento principal do processo
terapêutico. Ao postular a idéia de uma natureza que se exprime direcionada para a
saúde, Schweninger coloca em xeque o caráter “salvífico” do campo do cuidado em
saúde e sua soberania sobre o organismo doente. Em última instância, o modo
como se concebe a natureza é um dos fatores que condiciona o lugar que o cuidado
em saúde ocupará. Falaremos com maior profundidade sobre isso no próximo
capítulo.
A outra frase constantemente repetida por Schweninger explicita de forma
ainda mais clara o quão distinto era seu pensamento em relação ao de seus
contemporâneos. “Não são as doenças, mas os doentes, o objeto do tratamento
médico” é a expressão radicalmente oposta do que pensava o que poderíamos
denominar de o mainstream médico da época5. Como vimos no primeiro capítulo,
grassava no final do século XIX a percepção da doença como uma entidade que
existe por si mesma e se apossa do indivíduo fazendo-o doente, de tal modo que se
pudéssemos elaborar uma frase que manifestasse o pensamento médico naquele
momento, ela deveria ser exatamente o contrário da asserção de Schweninger. O
mestre de Groddeck, no entanto, queria asseverar uma constatação óbvia: a de que
o médico só tem acesso à doença manifesta no corpo do doente. Extrair a doença,
enquanto entidade, do padecimento experimentado pelo indivíduo e estudá-la
separadamente como o quiseram os médicos da medicina das espécies é um
procedimento absolutamente inútil a não ser que o objetivo não seja o tratamento do
paciente, mas apenas a produção de conhecimento...
Groddeck levará consigo esses dois adágios schweningerianos como
princípios fundamentais de sua prática clínica. O primeiro, em especial, será
utilizado por Groddeck como título de um de seus principais livros, escrito antes de o
autor ter conhecido a psicanálise. Trata-se de “Nasamecu”, nome formado a partir
5
No capítulo seguinte, veremos que a máxima de Schweninger permanece em contraste com o pensamento
médico vigente, mesmo a doença tendo passado a ser vista mais como anomalia fisiológica do que como
entidade.
77
das sílabas iniciais de “Natura sanat medicus curat”. Semelhante a inúmeros livros
médicos da época, “Nasamecu” consiste numa espécie de tratado de medicina para
leigos. Nele, Groddeck aborda aspectos da constituição física do organismo e como
tais aspectos são apresentados pelo indivíduo sadio e pelo indivíduo doente. Ainda
que a intenção primordial de Groddeck não tenha sido a de criar propriamente um
livro de auto-ajuda médico, a obra acabou servindo a essa finalidade. O tradutor de
“O Livro dIsso”, José Teixeira Coelho Netto, conta que, após alguns anos da
publicação de “Nasamecu”, Groddeck teria recebido uma carta de um australiano
dizendo que o livro havia salvado-lhe a vida:
Aquele estranho lhe dizia que viajava pelo interior da Austrália
quando ficou seriamente doente. Não havia por ali, no interior,
assistência médica. Como sempre. Mas o missivista ouvira
falar de um certo homem que vivia perto e que, dizia-se, fazia
milagres. Era sua única e provavelmente última alternativa: foi
procurá-lo. E curou-se. Mais tarde, aquele santo milagroso
confessou-lhe que na verdade não era médico, mas tinha um
livro que o ajudava em suas curas, um livro maravilhoso. O
livro, claro, era Nasamecu (COELHO NETTO, 2008, p. IX, grifo
do autor).
2.4 O encontro com a psicanálise
Em “Nasamecu”, tem-se a primeira menção de Groddeck à psicanálise, mas
não como defesa às idéias de Freud e sim como crítica ao tratamento psicanalítico.
Cinco anos depois da publicação do livro, Groddeck reconhecerá em sua primeira
carta a Freud, de 27 de maio de 1917 (GRODDECK, 1994), que seu desprezo pela
psicanálise em “Nasamecu” não estava baseado numa apreciação criteriosa da obra
freudiana, até porque Groddeck não havia lido sequer uma linha escrita por Freud. O
que ele sabia acerca da psicanálise, sabia-o por terceiros, de modo que o juízo que
se encontrava no livro era preconceituoso.
Entretanto, todo preconceito, como evidencia a própria psicanálise, tem suas
razões. E Groddeck não teve pudores em reconhecê-las logo no início de sua carta
a Freud, fazendo uma espécie de mea culpa. O julgamento precipitado sobre a
psicanálise teria se originado de sentimentos de inveja e indignação que Groddeck
sentira em relação a Freud quando ouvira falar a respeito do método psicanalítico.
78
De fato, parecia que Freud havia chegado por seus próprios caminhos às mesmas
conclusões que Groddeck havia extraído de sua experiência médica! A diferença é
que Freud publicara tais conclusões primeiro, adquirindo, assim, precedência em
relação a Groddeck.
Este é um capítulo interessante da história da psicanálise que talvez não
tenha sido devidamente apreciado. No senso comum da comunidade psicanalítica,
considera-se Groddeck apenas como um dos vários discípulos de Freud, quando na
verdade o primeiro descobriu, num certo sentido, a psicanálise por vias próprias. A
sexualidade infantil, o impacto das palavras e dos símbolos na vida subjetiva, os
fenômenos da transferência e da resistência, a tudo isso Groddeck não teve acesso
lendo os textos de Freud, como acontecera com os demais discípulos, mas sim a
partir da sua própria experiência clínica com os pacientes de seu sanatório em
Baden-Baden. Em especial, foi uma paciente que Groddeck tratou em 1909 que lhe
forneceu as primeiras amostras dessas descobertas que o médico posteriormente
verificaria em outros doentes. Tal paciente – Groddeck garante – não possuía
conhecimentos acerca da psicanálise, o que asseguraria que a descoberta
groddeckiana
fora
realizada
de
modo
completamente
independente
das
investigações de Freud.
No encontro com o trabalho freudiano, é possível notar o quão forte era em
Groddeck o desejo de ser diferente e criar algo novo, conforme assinalamos
anteriormente. Vendo nas obras do médico vienense a evidência de que não era
pioneiro, só restara a Groddeck, tomado de inveja e decepção, defender-se através
de um ataque à doutrina freudiana: “Como em minha vida toda, apesar das
experiências contrárias, mantive o desejo de criar alguma coisa, recusei-me a
reconhecer que, também desta vez, apenas havia acolhido e assimilado, por algum
meio misterioso, idéias alheias.” (GRODDECK, 1994, p. 4).
Apesar de Groddeck ter chegado a conclusões muito semelhantes às de
Freud, é preciso assinalar uma contingência inusitada. Enquanto Freud elaborou o
método psicanalítico e a estrutura teórica da psicanálise a partir da sua experiência
com pacientes que apresentavam transtornos manifestos pela via psíquica, isto é, as
chamadas neuroses, Groddeck, por sua vez, atendia pessoas que padeciam de
doenças orgânicas, ou seja, que apresentavam lesões físicas:
79
Às minhas – ou devo dizer às suas – concepções não cheguei
através do estudo das neuroses, [mas] mediante a observação
de doenças chamadas comumente de corporais. Minha
reputação médica, devo-a originariamente à minha atividade de
fisioterapeuta, mais particularmente de massagista. Em
consequência, a minha clientela é sem dúvida muito diferente
da dos psicanalistas (Carta de Groddeck a Freud, de 27 de
maio de 1917 in GRODDECK, 1994, p. 5).
Ainda que essa própria experiência com doentes orgânicos lhe evidenciasse a
indissociabilidade entre corpo e psique na medida em que era possível notar a
influência de símbolos (fenômenos tradicionalmente agrupados na categoria de
acontecimentos mentais) na produção e desenvolvimento de enfermidades
corporais, Groddeck diz a Freud que, mesmo antes de haver tido acesso a essa
experiência, já estava convicto de que corpo e psique eram apenas duas formas de
abordar uma mesma realidade ou duas palavras distintas para se referir a uma
substância única, o Isso. Deixaremos a abordagem mais detalhada deste que é o
conceito central das proposições teóricas de Groddeck para mais adiante. Por ora,
detenhamo-nos no processo de inserção de Groddeck no campo psicanalítico.
Nessa primeira carta enviada a Freud, a intenção de Groddeck é saber do
médico vienense se poderia ser considerado um psicanalista, pois desejava publicar
em breve um livro relatando o que descobrira no tratamento de seus pacientes.
Apesar da dúvida sobre se poderia ou não ser considerado um psicanalista, é
possível notar claramente em Groddeck um desejo de que Freud o reconhecesse
como tal, manifesto nos vários casos que o médico de Baden-Baden relata na carta
para demonstrar a efetividade do tratamento psíquico de doenças orgânicas. São
casos que vão desde simples herpes nos lábios a hemorragias na retina, passando
por sintomas de sífilis e artrites. Em todas essas afecções, Groddeck havia operado
um trabalho conjunto com o paciente de interpretação do significado simbólico dos
sintomas. Na medida em que tal interpretação era levada a cabo, ou seja, quando se
verificava a que questões de ordem subjetiva os sintomas respondiam, as afecções
desapareciam, o que comprovava que elas funcionavam como substitutas de um
sentido que precisava ser trazido à luz. A título de ilustração, citemos um dos
exemplos relatados por Groddeck:
Uma paciente acorda de manhã com o lábio superior bastante
inchado; a inchação é provocada por vesículas de herpes.
80
Inquirida sobre uma data, ela menciona o dia anterior, e como
hora, precisamente a da minha visita. Durante essa visita, eu
havia dito em tom de brincadeira à paciente, de quem trato há
muitos anos de uma grave poliartrite, que seus lábios eram
finos demais, que isso indicava uma paixão incontida pelo
beijo. Uma hora após essa constatação, o inchaço do lábio
desapareceu. (Carta de Groddeck a Freud, de 27 de maio de
1917 in GRODDECK, 1994, p. 6).
Ora, a dinâmica constatada por Groddeck no adoecimento somático era
precisamente a mesma que Freud verificava com seus pacientes neuróticos: quando
o sentido do sintoma vinha à luz, esse desaparecia, pois perdia sua função. A única
distinção era que Freud verificava isso com sintomas psíquicos, próprios da neurose,
e Groddeck o observava em sintomas orgânicos. Ao questionar a Freud, portanto, se
poderia se considerar psicanalista, Groddeck estava de fato querendo mostrar a seu
interlocutor que a psicanálise não precisaria ficar restrita aos neuróticos, mas
poderia servir como um método útil de tratamento para todos os campos da
medicina.
A carta de resposta de Freud, escrita em 5 de junho de 1917 (GRODDECK,
1994), é ao mesmo tempo elogiosa e admoestadora. O médico vienense a inicia
dizendo que gostou do que Groddeck lhe escrevera e, além disso, lhe assegura que
Groddeck pode se considerar, sim, um excelente analista, pois havia compreendido
a essência da psicanálise ao discernir os fenômenos da transferência e da
resistência.
A respeito da noção de Isso, Freud não se acanha em dizer que, a princípio,
entre ela e o conceito de inconsciente a distinção é apenas de palavras e que não é
preciso estender o conceito de inconsciente para abarcar afecções somáticas, pois
isso já se encontra implícito no modo como elaborara o conceito. Cerca de seis anos
depois, Freud adotaria uma posição diferente, reconhecendo a especificidade do
conceito de Isso e adotando-o precisamente no lugar do termo inconsciente ainda
que de maneira bastante diferente em relação ao modo como Groddeck o concebia.
Na continuação da carta, Freud critica explicitamente o que ele supõe ser
uma ambição banal de originalidade e pioneirismo em Groddeck e considera-a vã.
Levanta inclusive a possibilidade de que Groddeck tenha se apropriado das idéias
psicanalíticas por via criptomnésica, ou seja, o autor teria lido ou ouvido falar sobre
81
psicanálise em determinada época e, posteriormente, tendo se esquecido disso,
julgara ter criado um método original sem notar a influência que aquele aprendizado
prévio teria exercido sobre sua própria elaboração. Isso jogaria por terra a crença de
Groddeck na autonomia de suas descobertas. Tal argumento, evidentemente, pode
ser lido como a própria defesa de Freud com relação a sua originalidade.
Após elogiar os exemplos clínicos de Groddeck e expressar certa surpresa
para com eles, Freud tece sua segunda crítica ao médico de Baden-Baden: acerca
de seu pressuposto monista, isto é, de não-separação entre corpo e psiquismo, que
Freud afirma serem próprias de correntes filosóficas sem propósito. Para o médico
vienense, seria preciso conservar essa separação:
A mim me parece tão audacioso dar uma alma à natureza
quanto
desespiritualizá-la
radicalmente.
Deixemos-lhe,
portanto, a sua grandiosa multiplicidade que se eleva do
inanimado ao animado orgânico, do vivo corporal ao espiritual.
O ics constitui certamente o intermediário correto entre o
corporal e o espiritual, talvez o missing link buscado há tanto
tempo. Mas, porque afinal percebemos isso, não devemos
perceber nenhuma outra coisa mais? [...] Receio que o Sr. seja
também um filósofo e que tenha a tendência monística a
desdenhar todas as belas diferenças na natureza em troca do
engodo da unidade. Estaremos assim nos livrando das
diferenças? (Carta de Freud a Groddeck, de 5 de junho de
1917, p. 11, grifo do autor)
Esse trecho da carta de Freud deixa explícitas as diferenças entre os dois
autores no que diz respeito ao significado e às relações entre corpo e psique.
Apesar de Groddeck fazer uso da expressão “condicionamento psíquico” no próprio
título do artigo que marca sua entrada na psicanálise: “Condicionamento psíquico e
tratamento de moléstias orgânicas pela psicanálise” (GRODDECK, 1992), ao longo
do texto o autor deixa claro que a expressão é equivocada: “Desse jeito eu estaria a
ponto de admitir que não existe um condicionamento psíquico das enfermidades
corporais. O inconsciente não é psíquico nem corporal” (GRODDECK, 1992, p. 26).
Como havia dito em sua primeira carta a Freud, do seu ponto de vista, corpo e
psique são duas dimensões do Isso, duas linguagens diferentes que o Isso utiliza
para se expressar: “[...] não existe separação entre corpo e alma para o
82
inconsciente6; conforme suas conveniências ele se utiliza alternadamente do corpo e
da alma” (GRODDECK, 1992, p. 19).
Nesse sentido, as experiências clínicas de Groddeck não demonstram uma
influência de fatores psíquicos sobre o corpo, como pensou Freud. Para Groddeck
toda e qualquer enfermidade poderia ser lida simbolicamente, ou seja, toda doença
seria potencialmente interpretável. Tal possibilidade não seria assegurada pelo fato
de que em todas as doenças seria presumível um elemento causal de ordem
psíquica, mas sim porque a doença é um fenômeno humano e, como todo fenômeno
humano, não pode ser concebido como dissociado das redes simbólicas que
constituem sua realidade.
2.5 A doença como criação simbólica
Para Groddeck “[...] o ser humano é vivido pelo símbolo.” (GRODDECK, 1992,
p. 31). A própria condição humana levaria o ser humano a simbolizar, isto é, a
representar sua realidade, atribuindo a ela um sentido através da associação entre
seus elementos: “Tão humanamente inevitável como o destino a simbolizar é a
pressão à associação, que no fundo é a mesma coisa, já que associar é sempre unir
um símbolo a outro.” (GRODDECK, 1992, p. 31). No entanto, do ponto de vista
groddeckiano, tal processo de simbolização não seria realizado de maneira
consciente, ou seja, um símbolo não seria gerado a partir de uma associação feita
de maneira pensada, deliberada e racional. Podemos até fazer isso se quisermos,
mas, agindo assim, estaremos produzindo uma mera racionalização, uma
construção a posteriori, enfim, uma significação artificial. Os verdadeiros símbolos,
aqueles que de fato operam na nossa leitura e vivência do mundo, seriam os
símbolos gestados a partir da nossa experiência imediata com a realidade, uma
experiência da qual o eu não participa, mas apenas recebe os frutos. Em
decorrência, por não estarmos conscientes do processo de produção dos símbolos,
6
Groddeck costumava utilizar o termo “inconsciente” como sinônimo de “Isso” quando escrevia em revistas
psicanalíticas ou se dirigia a uma platéia composta essencialmente de analistas. Nos demais escritos, o autor
diferencia os dois termos, considerando o primeiro como uma parcela do segundo.
83
eles seriam capazes de agir em nós, determinando nossos pensamentos e ações
mesmo que nós sequer tenhamos conhecimento de seu significado.
A ilustração mais clara e freqüente que Groddeck fornece para demonstrar
sua argumentação é o símbolo da aliança. Uma das interpretações mais comuns
para o significado desse anel faz referência a sua forma circular, isto é, sem começo
nem fim, que expressaria a idéia de vínculo amoroso eterno, em tese o objetivo de
todo casamento. Groddeck, no entanto, mostra que a idéia de eternidade é uma
construção racional e que não poderia ter sido formada espontaneamente, a partir
de nossa experiência imediata, no símbolo da aliança. Trata-se, portanto, de uma
explicação artificial, feita a posteriori. A hipótese explicativa de Groddeck fará
referência ao que acontece de fato na experiência do casamento: ora, durante muito
tempo o matrimônio era o momento que marcava a possibilidade de encontro carnal
entre os dois amantes e selava um compromisso de fidelidade segundo o qual esse
encontro só poderia ocorrer entre eles e mais ninguém. Assim
a interpretação fica fácil: o anel representa o órgão sexual
feminino, enquanto o dedo é o órgão masculino. O anel não
deve ser tocado por nenhum outro dedo a não ser o do marido,
portanto no anel da mulher há um juramento: não ser tocada
por nenhum outro órgão sexual que não o do esposo.
(GRODDECK, 1992, pp. 30-31)
O espanto que muitos podem sentir frente a uma interpretação como essa
não é disparatado. De fato, à primeira vista temos a impressão de que Groddeck
está simplesmente inoculando significação sexual onde não há – o que,
evidentemente, não deixa de ser uma possibilidade. Todavia, não se deve perder de
vista que Groddeck não era um hermeneuta, mas sim um médico e, como tal, tem
seu interesse maior não era propor interpretações “verdadeiras”, isto é,
supostamente conformes aos fatos. Como ele próprio diz em diversos momentos de
sua obra, suas construções interpretativas são hipóteses enunciadas com a intenção
modesta de ajudar seus pacientes:
Não se trata de explicar como ajudar o enfermo, e sim de
ajudá-lo. A nossa função não é bem elaborar teorias corretas,
mas encontrar hipóteses para o trabalho, que produzam
resultados no tratamento. [...] A questão, portanto, não é saber
se podemos afirmar com certeza: a doença surgiu através
dessa ou daquela cadeia de pensamentos do inconsciente,
mas sim de podermos afirmar que a doença desaparece com a
84
revelação dessa ou daquela ligação, ou, dito de outra maneira,
se há perspectiva de uma intervenção benéfica nas
enfermidades orgânicas, com a ajuda da psicanálise
(GRODDECK, 1992, p. 26)
A experiência clínica de Groddeck comprovava que interpretações daquele
tipo eram efetivas no tratamento de sintomas orgânicos, como vimos no exemplo
citado anteriormente da paciente com herpes. A conclusão óbvia que se pode extrair
de experiências como aquela é a de que a doença é, tal como um conto, uma fábula
ou um romance, uma criação simbólica que, diferentemente dessas outras
produções, assim que é decifrada desaparece. Haveria, assim, uma equivalência
entre literatura, comportamentos, pensamentos e doenças: todos esses fenômenos
seriam manifestações humanas e, como tais, submetidas ao símbolo. Em suas
palavras,
Qualquer pessoa se submete ao símbolo, que nasce com ela,
conduz suas mãos no trabalho, seus pés ao andar e sua língua
ao falar, mas poucas são conscientes de sua dependência, e
não há ninguém que consiga aplicar realmente esse
determinismo na vida cotidiana, por mais que esteja
convencido teoricamente de sua absoluta conveniência. A
convicção de que o homem possui livre-arbítrio é uma condição
de vida imposta pelo Isso, à qual realmente não se pode
escapar. (GRODDECK, 1992, p. 37)
A tese de que a doença orgânica é uma criação carregada de significação
parece, à primeira vista, totalmente infundada, pois nos acostumamos a pensar os
fenômenos artísticos e culturais como sendo derivados de uma intencionalidade por
parte de seus autores, ao passo que para a doença admitimos apenas uma
causalidade eficiente. Em outras palavras, nosso modo costumeiro de pensar não
admite que possa haver uma finalidade por trás do aparecimento de uma patologia,
o que talvez esteja ligado à separação entre corpo e psiquismo que, como vimos no
capítulo precedente, é um dos postulados conceituais que alicerçam o modelo
biomédico. Essa separação leva a supor uma diferença radical entre aquilo que é da
ordem do corpo e aquilo que diz respeito ao psiquismo. Com efeito, supõe-se que
haja deliberação, intencionalidade e propósito apenas nas manifestações psíquicas.
No caso dos fenômenos do corpo, entre os quais a doença, aqueles atributos
estariam ausentes, sendo as manifestações corporais fruto apenas da incidência de
causas anteriores.
85
O fato de trabalhar com a inexistência dessa separação permite a Groddeck
pensar o corpo como veículo de intencionalidades da mesma forma que o
psiquismo. Na perspectiva groddeckiana, não existe o binômio sujeito-corpo, logo
não se pode dizer que o sujeito possui um corpo; ele é o próprio corpo. Groddeck
pensa o indivíduo como uma totalidade que possui modos diversos de manifestação,
aos quais podemos qualificar como corporais ou psíquicos, mas com a consciência
de que estamos fazendo referência apenas a formas distintas de apresentação de
um único ser. Levando em conta tais pressupostos, a tese de que a doença é uma
criação e não um mero acontecimento já não se mostra absurda e as seguintes
palavras de Groddeck não parecem desprovidas de racionalidade:
[...] a doença também é um símbolo, uma representação de um
processo interior, uma encenação do Isso através da qual ele
anuncia o que não se atreve a dizer de viva-voz. Em outras
palavras, a doença, nervosa ou orgânica, e a morte, estão tão
carregadas de significação quanto a interpretação de uma peça
musical, o ato de acender um fósforo ou de cruzar as pernas.
Esses atos transmitem uma mensagem do Isso com mais
clareza e insistência do que o poderia fazer a fala, a vida
consciente. (GRODDECK, 2008, p. 95)
Groddeck era cônscio de que a idéia de que a doença possui uma finalidade é
tomada pela maior parte das pessoas, principalmente pelos próprios doentes, como
uma fantasia. Por conta disso, no tratamento de seus doentes, o médico realizava
um trabalho preliminar de apresentação de seus pressupostos, de modo a levar o
paciente à inevitável conclusão de que, de fato, sua doença poderia ter servido a
algum propósito. Não se trata, porém, de uma tentativa de convencer o paciente.
Groddeck, como vimos, não lida com seus postulados teórico-clínicos como se
fossem verdades inquestionáveis. Pelo contrário, trata-os como meras hipóteses de
trabalho. Nesse sentido, quando apresenta ao paciente novos pressupostos com o
objetivo de levá-lo a pensar que em sua doença possa haver alguma finalidade,
Groddeck está apenas tentando mostrar ao doente que a patologia pode ser
entendida de um modo diferente e que olhar a doença a partir dessa nova
perspectiva pode ser um procedimento frutífero para o tratamento: “Não sei se a
doença tem uma finalidade, isso me é indiferente. Mas, na prática, essa minha
atitude tem valido a pena. De um modo ou de outro, consigo assim pôr o Isso do
paciente em movimento e não é raro que ele acabe contribuindo para o
desaparecimento do sintoma.” (GRODDECK, 2008, p. 94).
86
Nesse trabalho preliminar que mencionamos, Groddeck tenta, primeiramente,
levar o paciente à constatação de que nele age um Isso. O médico mostra ao
enfermo que toda a complexidade que caracteriza a estrutura do corpo humano
advém da união de apenas dois elementos minúsculos, o espermatozóide e o óvulo.
Por conseguinte, deve-se supor que haja uma força que, a partir do encontro dessas
células, promove o crescimento do organismo e o desenvolvimento dos órgãos.
Após apresentar essa idéia, Groddeck indica seu corolário: se admitimos uma força
capaz de criar órgãos com uma morfologia e funcionamento tão complexos,
poderíamos negar a essa força a capacidade de desvirtuar a atividade desses
mesmos órgãos, através de uma doença? Agindo assim, o médico demonstra ao
paciente que sua doença pode ser concebida como a manifestação de uma força
que o constitui e que tal força só se expressou assim em função de determinadas
razões, buscando a realização de determinados propósitos: “Vou mesmo mais
longe, afirmo ao doente que essa força faz de fato tudo isso, que torna as pessoas
doentes a seu bel-prazer por determinadas razões, escolhendo à vontade, e por
determinados motivos, o lugar, o tempo e o tipo de doença (GRODDECK, 2008, p.
94).
A investigação dos objetivos aos quais o Isso, isto é, a força em questão,
intentou atingir com a doença passa pela observação das conseqüências que se
seguiram na vida do indivíduo depois que esse adoeceu.
Apesar de cada doença produzir efeitos específicos, existem alguns
resultados comuns à maioria das enfermidades, como a restrição das atividades do
indivíduo, a necessidade de ficar em repouso e, não raro, a situação de estar sendo
cuidado por outra pessoa. Para Groddeck, tais conseqüências podem ser
entendidas não como meros desdobramentos da doença, mas sim como aquilo que
é efetivamente visado pelo Isso quando cria uma doença. Uma das características
observadas por Groddeck em relação ao Isso é a cautela. Assim, quando a vida se
torna por alguma razão carregada de dificuldades e o indivíduo não conta com
meios suficientes para lidar com as situações que se lhe apresentam, o Isso lança
mão de uma doença, a qual proporcionará ao indivíduo justamente as condições de
que necessita nesse momento: “Com a suscetibilidade à doença, o sensível Isso cria
posições seguras onde refugiar-se. A doença, seja ela aguda ou crônica, infecciosa
ou não, traz sossego, protege contra o agressivo mundo exterior, ou pelo menos
87
contra fenômenos bem determinados, que são insuportáveis” (GRODDECK, 1992, p.
16).
Nota-se que Groddeck concebe a doença como uma espécie de estado de
exceção ou de último recurso na vida individual. Em outras palavras, o Isso só
recorre à doença quando não encontra nenhuma outra forma mais sadia de se
manifestar. Por conta disso, a ênfase de Groddeck em relação ao tratamento será a
busca pelo discernimento dos fatores que levaram o Isso a apelar para uma
enfermidade e não o esforço no sentido de eliminar os sintomas a qualquer custo. O
médico vê a terapêutica como um trabalho que visa restituir ao Isso a capacidade de
expressão por vias sadias: “[...] ela deve motivar o enfermo a interpretar o sentido
dos sintomas e levar o Isso a substituir a linguagem da doença pela da saúde, por
intermédio da conscientização das vivências recalcadas” (GRODDECK, 1992, p.
136). O que Groddeck está chamando de “conscientização das vivências
recalcadas” consiste na remontagem dos conflitos inconscientes que podem estar na
raiz da patologia. Tal procedimento deve ser realizado conjuntamente com o
paciente a fim de trazer à luz determinadas ligações simbólicas que, por seu
potencial aflitivo, levaram o Isso a se defender com o adoecimento.
Groddeck pôde constatar, por exemplo, que muitas doenças podem servir
como veículos de expiação de sentimentos de culpa. O indivíduo, nesses casos,
adoeceria como forma de se punir por determinados pensamentos, desejos e atos
cometidos outrora. A doença teria, então, uma dupla função: a de aplicar o devido
sofrimento como punição e, ao mesmo tempo, a de impossibilitar que o indivíduo
tome consciência de seus pensamentos “proibidos” ou rememore seus atos “ilícitos”
já que a responsabilidade pela enfermidade não é atribuída pelo indivíduo a si
próprio, mas ao mundo externo:
A doença encerra em si mesma alguma coisa mais para expiar
a culpa, ela contém em si o castigo. E este castigo, que o ser
humano, sem o perceber, aplica a si próprio, tem a grande
vantagem de poder ser atribuído como injustiça eventualmente
ao mundo exterior, ao destino, a Deus, de se poder censurar
aquilo que não é o ego (GRODDECK, 1994, p. 209)
Outra finalidade à qual toda doença pode servir é a demanda de amor. Afinal,
a maior parte das enfermidades, em especial as de gravidade mais alta, tendem a
levar o indivíduo a se colocar na posição de estar na dependência dos cuidados de
88
outra pessoa. O doente passa, então, a ser alvo de atenção e dedicação como
poucas vezes foi ao longo da vida. Como Groddeck nota de maneira acurada, talvez
apenas a criança receba do ambiente mais atenção e cuidado que um indivíduo
enfermo. Tendo em vista tais conseqüências, torna-se, para Groddeck, inevitável a
constatação de que o indivíduo possa ter ficado doente justamente para receber
tamanha carga de amor por parte dos que estão à sua volta. É óbvio que a doença
não é a única forma de atrair a atenção das pessoas e conseguir delas algum tipo de
dedicação. No entanto, para alguns indivíduos e em determinado momento da vida,
a demanda de amor se torna mais imperativa e as vias mais comuns de
manifestação se encontram bloqueadas, de modo que a doença se torna o único
meio encontrado pelo indivíduo para demandar amor ao ambiente: “A criança é o
verdadeiro soberano do mundo, o rei dos reis. Existe apenas um ser que pode
pretender o mesmo direito às vezes com os mesmos sucessos: é o doente. O
doente, não importa entre quem esteja, sempre encontra quem o ajude, e
enfermeiras e serventes” (GRODDECK, 1994, p. 208)
O conceito-chave que permitirá a Groddeck pensar a doença como sendo
dotada de significação e propósito e ao mesmo tempo negar a hipótese de uma
psicogênese da enfermidade será precisamente a noção de Isso. Como o leitor pôde
notar, até aqui estivemos utilizando esse termo sem, no entanto, analisarmos de
maneira mais profunda o seu significado. Isto se deve ao fato de que é impossível
separar o pensamento de Groddeck de tal conceito, posto que ele é central para
suas concepções. É chegada a hora, portanto, de explorarmos, mais diretamente, o
sentido que o Isso adquire na obra groddeckiana.
2.6 Para-além das fronteiras do eu: o conceito de Isso
O termo
Isso é a tradução em língua portuguesa mais próxima
semanticamente do vocábulo alemão “das Es” utilizado por Groddeck. Trata-se, na
língua alemã, de um pronome impessoal, ou seja, que pode ser utilizado para fazer
referência tanto a elementos masculinos quanto femininos sem, no entanto, indicar
explicitamente a que objeto se refere.
89
Freud, após trocar diversas cartas com Groddeck, reconhece no termo “das
Es” um potencial heurístico mais elevado que a noção de inconsciente que vinha
utilizando até então. Em decorrência, resolve adotar o conceito, mas utilizando-o não
no sentido que Groddeck o vinha empregando, como veremos nas próximas linhas.
Na carta de 17 de abril de 1921 (GRODDECK, 1994), Freud anuncia a Groddeck
que vem refletindo sobre a possibilidade de passar a utilizar “das Es” em vez de
inconsciente (ics) por constatar uma insuficiência desse último conceito:
É por isso que há tempos recomendo ao meu círculo íntimo
não pôr em oposição o ics e o pcs [pré-consciente], mas um
ego coerente e uma coisa recalcada que é separada disso.
Entretanto, isso também não resolve a dificuldade. O ego, em
suas profundezas, é também profundamente inconsciente e,
ainda assim, se confunde com o núcleo daquilo que é
recalcado. Parece, portanto, que a idéia correta é que as
articulações e as diferenciações que observamos só possuem
valor nas camadas relativamente superficiais, não o têm em
profundidade, para a qual o seu “isso” [das Es] seria a
designação correta. (Carta de Freud a Groddeck, de 17 de abril
de 1921 in GRODDECK, 1994, pp. 32-33).
Apesar de admitir que Groddeck estava certo ao preferir o conceito de “das
Es” em vez da noção de inconsciente, veremos nas próximas linhas que o “das Es”
de Groddeck é radicalmente diferente do de Freud. Essa divergência no uso do
termo é reflexo de uma diferença ainda mais profunda entre os dois autores e que
está ligada essencialmente ao modo como cada um lida com a racionalidade.
Enquanto Freud se insere numa tradição que poderíamos chamar de iluminista, de
louvor à razão – ainda que sua descoberta demonstre a submissão dessa aos
afetos, Groddeck é explicitamente um irracionalista e sua utilização do vocábulo “das
Es” expressará precisamente esse aspecto. O próprio Freud captou a distância entre
seu “das Es” e o “das Es” de Groddeck e observou que ela se assentava
precisamente sobre essa radical diferença entre a visão de mundo de ambos: “No
seu isso não reconheço naturalmente meu id [das Es] civilizado, burguês, destituído
de mística. Mas o Sr. sabe, o meu deriva do seu.” (Carta de Freud a Groddeck, de
18 de junho de 1925 in GRODDECK, 1994, p. 70)
90
Com efeito, Freud utilizara “das Es” para indicar a dimensão atávica do
sujeito, onde residem as chamadas pulsões7 sexuais (Eros) e pulsões de morte. Tais
pulsões não emergiriam a partir da história de vida do sujeito, mas sim por vias
filogenéticas. O termo “das Es” se afigurará, portanto, para Freud, como a noção
ideal para fazer referência a essa dimensão hereditária ou filogenética do indivíduo a
partir do qual o eu emergirá. Para Freud, o eu é uma diferenciação do “das Es”
produzida a partir da relação entre esse último e o mundo externo. Dessa relação
também advém uma nova instância psíquica, o supereu (“Uber-Ich”), um precipitado
psíquico das identificações fundamentais do indivíduo com as figuras parentais que
se tornará o representante dos ideais éticos e morais. Em um de seus últimos
trabalhos, “Esboço de psicanálise”, Freud indica de maneira clara e sintética o uso
que faz da noção de “das Es”:
“Chegamos ao conhecimento deste aparelho psíquico pelo
estudo do desenvolvimento individual dos seres humanos. À
mais antiga destas localidades ou áreas de ação psíquica
damos o nome de id [das Es]. Ele contém tudo o que é
herdado, que se acha presente no nascimento, que está
assente na constituição – acima de tudo, portanto, os instintos
[pulsões], que se originam da organização somática e que aqui
(no id) encontram uma primeira expressão psíquica, sob formas
que nos são desconhecidas.” (FREUD, 1996b, p. 158, grifo do
autor)8
7
Seguindo a tradução já consagrada a partir da leitura lacaniana da obra de Freud, adotamos o termo pulsão em
vez de instinto para fazer referência ao vocábulo alemão “Trieb” utilizado por Freud. As razões já são mais do
que conhecidas: o termo instinto é utilizado no âmbito da biologia para qualificar tendências e comportamentos
estereotipados dos animais que se expressam a partir de uma correspondência relativamente estável com o
ambiente circundante. No caso da espécie humana, um regime fixo de funcionamento comportamental dessa
natureza não existe. Além disso, a língua alemã possui o termo “Instinkt”. Nesse sentido, se Freud optou pelo
termo “Trieb” em vez do primeiro, isso deve provavelmente às conotações próprias dessa palavra que sugerem
apenas uma tendência, cuja manifestação não se dá de maneira pré-determinada como no caso dos instintos.
8
O leitor pôde notar nessa citação extraída da “Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund
Freud” que “das Es” é ali traduzido por “id” e não por “Isso”. De fato, em 1923, o médico vienense publica o
livro “Das Ich und das Es” em que pela primeira vez utiliza o termo “das Es” como conceito. A tradução
brasileira da Standard Edition traduziu a obra como “O Ego e o Id” adotando a tradução latina de “das Ich” e
“das Es” que já havia sido consagrado no meio anglo-saxão. Não obstante, em todas as traduções dos textos de
Groddeck publicadas no Brasil utiliza-se o termo Isso em vez de id. Do nosso ponto de vista, tal opção é a mais
adequada, pois as associações semânticas do termo Isso, além de ser uma tradução direta do alemão para o
português, tendem a levar às idéias de algo misterioso, enigmático, desconhecido, justamente alguns dos
atributos com os quais Groddeck caracteriza o conceito. A palavra Id, por sua vez, só possui associação em
língua portuguesa com a própria obra freudiana. Nesse sentido, se o termo fosse adotado na tradução das obras
de Groddeck, a tendência a haver uma confusão entre os sentidos diversos com que os dois autores empregam a
palavra seria muito maior.
91
Muito antes de conhecer a psicanálise, Groddeck já trabalhava a noção de
“das Es”, o que se pode atribuir com certa segurança à influência, como já dissemos,
de suas leituras de textos românticos, especialmente Goethe. Henri Ellenberger
(apud Dimitrijevic, 2008) afirma categoricamente que o conceito de Isso em
Groddeck é um sucedâneo da concepção romântica de um inconsciente irracional,
isto é, uma noção de inconsciente anterior à elaboração freudiana. Com efeito,
Groddeck tomou o termo de Nietzsche, filósofo cujo pensamento foi justamente
influenciado pelo romantismo e que utilizara a noção de Isso no parágrafo 17 de
“Além do bem e do mal” para criticar o privilégio concedido ao eu na filosofia de
René Descartes expresso paradigmaticamente na famosa frase: “Penso, logo sou.”.
Para Nietzsche, o pensamento teria uma autonomia em relação ao eu, de modo que
em vez de “Eu penso”, seria mais adequado dizer: “Isso pensa.” (NIETZSCHE,
2008).
Pelo fato de Nietzsche ter utilizado o termo Isso apenas essa única vez em
“Além do Bem e do Mal”, alguns autores como Rudnytsky (2002) acreditam que a
verdadeira fonte da qual o autor extrai a noção de Isso é o texto “A ressurreição da
religião na arte”, de Wilhelm Bölsche, publicado em 1904, no qual Bölsche se refere
ao Isso como uma potência criativa que une corpo e alma – características que de
fato estarão presentes no Isso de Groddeck. Ademais, Bölsche defende em seu
trabalho a relevância da idéia de Deus-Natureza de Goethe a qual, como vimos,
exerceu influência direta sobre Groddeck.
Conquanto uma hipótese não exclua a outra, o uso que Groddeck faz da
noção de Isso parece ainda mais próximo daquele adotado por Bölsche do que da
forma como Nietzsche a utiliza. Não obstante, o próprio Groddeck alega
expressamente ter tomado o conceito da obra nietzscheana. Numa carta escrita a
um paciente médico em 1929, Groddeck afirma:
Talvez nessa altura lhe venha à cabeça que hoje o lembro de
que existe um psíquico, isto é, algo que se compõe de
consciente e de inconsciente e no qual o inconsciente é o mais
importante, e que por trás do psíquico e do físico existe algo
mais que Driesch chama de enteléquia seguindo Aristóteles, e
que eu, na esteira de Nietzsche e por comodismo, chamei de
isso. (GRODDECK, 1994, p. 113)
92
Apesar de reconhecer a precedência do filósofo, o uso que Groddeck fará do
conceito do Isso é assaz distinto do de Nietzsche. Porém, as razões que levaram
ambos os autores a adotá-lo serão parecidas. Se Nietzsche, com seu “Isso pensa”,
estava interessado em mostrar as deficiências da filosofia cartesiana que postulava
o eu e seu correlato, a consciência, como sujeitos do conhecimento do real e como
condições do pensar, ao tomar o Isso como conceito, o propósito de Groddeck é
justamente o de elaborar uma concepção de ser humano que seja capaz de
ultrapassar a noção de eu.
Conquanto nos dias atuais, principalmente após o advento da psicanálise e
de filosofias de crítica à metafísica da subjetividade como a de Nietzsche, dizer que
o eu não é o centro de nossa experiência como viventes seja quase um lugarcomum, no final do século XIX, uma afirmação do tipo “[...] Sou levado a viver por
um isso, em vez de: Eu vivo” (GRODDECK, 1994, p. 189) era vista com bastante
estranheza. Além disso, é preciso lembrar que, embora Freud já tivesse formulado o
conceito de inconsciente no período em que Groddeck começa a elaborar a noção
de Isso, o segundo ainda não havia tido notícias das descobertas que se
processavam em Viena. Nesse sentido, dadas as suas influências românticas, o que
contribuirá decisivamente para que Groddeck se ponha a questionar o estatuto do
eu como centro de nossa subjetividade será sua experiência como médico.
Ao notar que as doenças apresentadas por seus pacientes recebiam a
influência de símbolos dos quais esses mesmos doentes não estavam conscientes,
Groddeck observará que os processos mais importantes no nível do indivíduo
ocorrem à revelia da consciência e do eu. Essa constatação levará o autor a
empreender uma reflexão quase de cunho filosófico a respeito do caráter ilusório do
eu. Com efeito, Groddeck notará corretamente que o eu constitui uma realidade
abstrata, na medida em que não podemos definir de maneira absoluta e, talvez nem
mesmo consensual, onde começa e onde termina a realidade egóica tanto em
termos espaciais quanto temporais. Numa conferência intitulada “Destino e Coação”
proferida em 1925 num colóquio de filosofia, ele diz:
[...] o indivíduo homem é uma invenção arbitrária, oriunda da
necessidade do nosso pensamento; pois para esse pretenso
indivíduo homem não há começo nem fim, temporal ou
espacial, não existem limites no tempo ou no espaço. Um ser
93
humano nunca nasce, ele já existia desde a eternidade, em
outra forma, mas existia, e a denominação ser humano é
apenas o nome de uma forma determinada do universo
variável, mas sempre existente; um ser humano nunca morre; o
que existe permanece, muda apenas a forma. (GRODDECK,
1994, p. 237)
Nessa citação é possível notar que Groddeck critica concepções como a
cartesiana, por exemplo, que postulam uma distinção entre o eu e o mundo. Quando
Descartes deduz a realidade do eu a partir da impossibilidade – a seu ver – de que
haja um pensamento sem sujeito, o que ele está dizendo é que é possível ao sujeito
observar o mundo de fora, de maneira externa e não condicionada aos eventos que
se processam na realidade. Groddeck, por seu turno, nota que tal concepção está
baseada um recorte artificial. Não existiriam pontos fixos e consensuais no tempo e
no espaço que pudessem servir como balizas para se dizer: aqui começa e ali
termina o eu. A ilustração que Groddeck costuma dar para defender essa idéia é a
seguinte: quando é que podemos dizer que um determinado alimento deixou de ser
alimento e se tornou parte do nosso corpo? E, no que diz respeito à ausência de
limites temporais, Groddeck se pergunta acerca do momento em que podemos dizer
que o indivíduo existe: a partir da concepção, após determinado números de meses
ou no nascimento? A inexistência de uma resposta absoluta para tais questões
demonstra, no entender de Groddeck, que não há um elemento individual que possa
ser colocado numa relação de antinomia com o todo. Em outras palavras, o que
existe é o todo. O que enxergamos como indivíduos são apenas manifestações,
formas, modos de apresentação desse único ser.
A filosofia de Spinoza parece ter sido indiretamente, via influência romântica
e, confessadamente, de Goethe, a referência filosófica utilizada por Groddeck para
formular tais idéias. Com efeito, os postulados filosóficos de Spinoza receberam uma
acolhida fervorosa pelo Romantismo, movimento que, no entanto, os subverteu ao
utilizá-los numa perspectiva teleológica, diametralmente oposta à filosofia spinozana
original. Contudo, no que diz respeito especificamente a essas idéias sobre as
relações entre o eu e o todo, Groddeck parece ter seguido Spinoza à risca. Na
proposição 14 da primeira parte de sua “Ética”, Spinoza afirma: “Além de Deus9, não
pode existir nem ser concebida nenhuma substância.” (SPINOZA, 2009, p. 22).
9
Spinoza utiliza os vocábulos “Deus”, “substância” e “natureza” como sinônimos.
94
Logo, há apenas a totalidade e mais nada para-além dela. Na proposição 15, o
filósofo apresenta a asserção correlata à primeira: “Tudo o que existe, existe em
Deus, e sem Deus, nada pode existir nem ser concebido.” (SPINOZA, 2009, p. 23).
Portanto, aquilo que existe é um modo de manifestação dessa substância (todo).
Até aqui, temos um Groddeck alinhado ao pensamento de Spinoza; um
Groddeck que desconstrói a substancialidade do eu ao assinalar que aquilo que
chamamos de indivíduo consiste apenas numa manifestação contingente e relativa
do todo. No entanto, o médico não era propriamente um spinozista, mas um
romântico e, como tal, não poderia deixar de dotar esse todo de intencionalidade. É
no momento em que Groddeck faz essa operação de conferir à substância única
causalidades finais que o uso do conceito de Isso lhe parece inevitável.
Como vimos, Groddeck chega à constatação de que o eu é uma ilusão, que
se trata de uma manifestação efêmera do todo. Por outro lado, ele próprio afirma
que é impossível vivermos sem acreditar que somos um eu, no sentido de que
possuímos uma substancialidade distinta do restante do mundo. Por que é
impossível? Por que o próprio todo nos induziria ao engano de crermos que somos
indivíduos, com capacidade de escolha, isto é, de sermos tomados como a causa
última de nossos comportamentos. A natureza, portanto, teria essa intencionalidade
de nos fazer acreditar na ilusão da existência individual separada do resto do
mundo:
Mas a expressão ‘eu’ existe, está sendo usada, tem algum
sentido e finalidade. Se aquilo em que ela nos obriga a pensar
– ou seja, que ao eu se defronta um não-eu separado, que o eu
e o todo são coisas diferentes – for um pensamento incorreto, a
palavra deve ter um significado diferente daquele que
aceitamos comumente, e por trás dessa palavra deve-se
esconder qualquer coisa que é forte o bastante para nos fazer
pensar errado, sem que com isso seja prejudicado o curso do
mundo [...] (GRODDECK, 1994, p. 187)
Destarte, o homem não poderia existir sem se pensar como um indivíduo
singular, diferente do resto do mundo. Ao se aperceber disso, Groddeck
argumentará que a única solução para que não vivamos totalmente iludidos, crendo
que nosso ser abrange apenas aquilo que ocorre no âmbito de nossa consciência, é
imitarmos o próprio movimento da natureza que criou a ilusão egóica e produzirmos
artificialmente uma noção de indivíduo mais ampla, capaz de contemplar não
95
apenas os fenômenos dos quais temos controle voluntário, mas também todos os
demais eventos que se processam em nós e que julgamos serem involuntários. É
justamente essa definição mais larga do indivíduo que Groddeck chamará de Isso.
Na medida em que esse conceito estende a noção de indivíduo para-além dos
limites do eu, ele passa a abranger o conjunto das funções orgânicas do corpo bem
como a realidade inconsciente formalizada por Freud. Não obstante, ainda assim o
Isso não pode ser reduzido a esses novos fenômenos que passam agora a ser
incluídos na totalidade individual. Diferentemente do eu, que é sentido e conceituado
como uma realidade dissociada do todo, o Isso é caracterizado por Groddeck como
aberto ao meio circundante e enraizado na natureza.
Para Groddeck, portanto, o ideal seria que não precisássemos de qualquer
idéia de indivíduo, isto é, que pudéssemos conceber como causa ou sujeito de todos
os fenômenos o próprio todo. No entanto, dado que o próprio todo não nos permite
pensar assim,
Não nos resta outra coisa senão imitar o que o cotidiano fez
por meio da invenção da palavra ‘eu’, libertar o indivíduo das
relações, aliás com a consciência de que, com isso,
deturpamos intencionalmente a imagem do mundo, e dar a
esse indivíduo um nome o mais elástico e indeterminado
possível, uma designação que de antemão torne claro que toda
tentativa de definição deve falhar. Há muitos anos uso, para
esta finalidade, o termo ‘isso’ (GRODDECK, 1994, p. 189).
Como se trata de uma construção teórica artificial, criada por Groddeck, será
preciso, para melhor definir o conceito de Isso, estabelecer arbitrariamente os limites
espaço-temporais que no nível da natureza não existem. Em decorrência disso,
Groddeck institui a concepção, isto é, o encontro entre o espermatozóide e o óvulo,
como o momento a partir do qual o Isso passa a existir e a morte como o marco de
seu desaparecimento. Já no que diz respeito aos limites espaciais, Groddeck não os
aborda.
Trata-se, portanto, na afixação de pontos de referência acerca de onde
começa e onde termina o Isso, de um procedimento puramente prático utilizado pelo
médico com o objetivo de definir e localizar aquilo sobre o qual ele irá trabalhar: “[...]
é preciso fixar um limite para a existência individual, e esse princípio, de acordo com
96
as minhas necessidades práticas e científicas, eu determino como sendo o momento
da união entre o óvulo e o espermatozóide” (GRODDECK, 1992, p. 117).
Diversas vezes ao longo da obra de Groddeck é possível notar o uso do
termo Isso não apenas para fazer referência a essa nova totalidade individual
concebida artificialmente como uma hipótese de trabalho; em muitos momentos, o
médico chama de Isso justamente a natureza ou o todo que, para ele, possui
intencionalidade. É por isso que, algumas vezes, Groddeck, em vez de usar o termo
Isso, falará simplesmente de “vida”. Nesse sentido, podemos ler o conceito de Isso
na obra groddeckiana como significando ao mesmo tempo a totalidade individual e a
força da natureza que impele à formação do próprio indivíduo 10.
Uma das características observadas por Groddeck em relação ao Isso
entendido como totalidade individual é a inexistência das diferenciações que são
observadas no nível do eu. No Isso não existe a distinção entre corpo e psiquismo,
entre sexo masculino e feminino e sequer entre faixas etárias. Nesse sentido, podese dizer que todo ser humano constitui-se como “[...] uma misteriosa coexistência do
que se convencionou chamar de corpo e alma” (GRODDECK, 1992, p. 125); é ao
mesmo tempo homem e mulher e simultaneamente criança, jovem, adulto e idoso.
Para Groddeck, quando o indivíduo se afirma como apenas homem ou
apenas adulto, ele está deliberadamente optando por um dos variados pólos que o
constituem e rejeitando os demais. Todavia, esses pólos que são rejeitados
continuam ativos à surdina, de modo que não é raro observar-se indivíduos adultos
se comportando de maneira infantilizada bem como é perfeitamente possível
constatar crianças que, por suas atitudes, às vezes se assemelham a idosos.
Falando a respeito desse assunto com sua destinatária fictícia em “O Livro dIsso”,
Groddeck lhe faz os seguintes pedidos:
Examine o ser humano no momento de suas dores mais
profundas, de suas alegrias mais intensas: seu rosto se torna
infantil, seus movimentos também; sua voz se torna mais
flexível, o coração bate como se fosse de uma criança, os
olhos brilham ou se enchem de lágrimas. [...] Ande pelas ruas e
observe as menininhas de três ou quatro – a coisa é mais
10
Essa ambigüidade é a uma expressão do que dissemos no início deste capítulo acerca da impossibilidade de
enunciar uma definição exata da noção de Isso.
97
evidente nelas do que nos meninos, e deve haver uma boa
razão para isso –, você verá como elas agem do mesmo modo
que suas mães. E todas elas, e não por acaso, se mostram
particularmente marcadas pela vida; não é bem isso, é que
todas elas têm, num momento ou outro, essa curiosa
expressão de velhice (GRODDECK, 2008, p. 11)
Do mesmo modo, seria impossível, no entender de Groddeck, dizer que o
indivíduo é totalmente masculino ou totalmente feminino. Os atributos do sexo
oposto se fariam presentes de maneira mais ou menos explícita ao longo da vida da
pessoa, até mesmo através de uma doença. No artigo “A dupla sexualidade do ser
humano” (GRODDECK, 1992), Groddeck reconhece que a própria psicanálise já
havia evidenciado, através do tratamento de pacientes neuróticos, que todo
indivíduo porta inclinações do sexo oposto e que tende a recalcá-las, manifestandoas, não obstante, pela via dos sintomas. Todavia, para Groddeck não se trata, nessa
concepção, de um reconhecimento efetivo da bissexualidade humana, pois
implicitamente ainda se considera que o indivíduo é de um determinado sexo, sendo
as tendências do sexo oposto manifestações importantes, mas marginais, isto é, não
seriam parte integrante do próprio indivíduo. Groddeck, por sua vez, será radical ao
defender a tese de que todo ser humano é ao mesmo tempo homem e mulher. Ele
procurará demonstrar isso através de uma análise de partes e órgãos do corpo
humano, argumentando que cada órgão possuiria características femininas e
masculinas. O nariz, por exemplo, “[...] pela sua forma, é realmente masculino,
embora as narinas sejam uma representação feminina” (GRODDECK, 1992, p. 200)
A idéia de uma sexualidade dupla em todo ser humano, bem como a da
inexistência de diferenciações de idade no Isso evidenciam que, com esse conceito,
Groddeck procura açambarcar todas as potencialidades de manifestação que o
homem possui: “O isso é o próprio homem em todas as suas formas de vida [...]”
(GRODDECK, 1994, p. 191). É como se no Isso estivessem contidos todos os
fenômenos concernentes ao ser humano em estado latente. Nesse sentido, quando
se opera uma diferenciação no nível do eu em termos de sexo ou faixa etária, como
quando se diz: ‘eis ali um homem adulto’, o que se está fazendo é um recorte de
uma realidade única e total do ser humano, da mesma forma que, ao se utilizar uma
lanterna numa mata escura, se ilumina apenas uma pequena parte da floresta,
deixando em trevas toda a imensidão à volta.
98
Na perspectiva groddeckiana, enfim, é justamente essa totalidade única e que
nunca se dá a conhecer completamente o verdadeiro objeto do tratamento médico e
não apenas o corpo como o quer o modelo biomédico. Entendendo tudo o que o
homem faz, inclusive adoecer, como sendo uma expressão do Isso que o constitui,
Groddeck propõe um exercício do cuidado em saúde que não concebe a doença
como uma entidade separada dos demais eventos e relações que caracterizam o
contexto atual e a história de vida do indivíduo. Trata-se, portanto, de um ponto de
vista que vai ao encontro das novas demandas da sociedade por diretrizes e ações
em saúde que reconheçam a integralidade e complexidade que caracterizam o
processo de adoecimento.
Vimos no capítulo anterior que a biomedicina não é capaz de atender a essas
expectativas, o que não se deve à inexistência de tecnologia suficiente, mas sim aos
pressupostos teóricos que fundamentam seu modelo de entendimento das doenças
e sua terapêutica. Cremos ter demonstrado de maneira consistente que a
insuficiência das práticas médicas tanto na compreensão quanto no tratamento, por
exemplo, de inúmeros distúrbios em que o componente subjetivo salta aos olhos,
resulta de uma racionalidade calcada em ideologias científicas, como o
mecanicismo, o reducionismo, o organicismo e a especialização.
Groddeck, por seu turno, nunca teve apreço pela ciência, muito menos por
suas ideologias, jamais conferindo estatuto de verdade absoluta a seus enunciados,
considerando-os como meras hipóteses de trabalho úteis no âmbito terapêutico.
Nossa hipótese é a de que justamente por não estar preocupado em fazer ciência,
mas sim em tratar seus pacientes, Groddeck teve acesso a descobertas e
constatações para as quais a medicina moderna ficou cega precisamente por
passar, a partir do século XIX, a buscar uma inserção no campo das ciências.
Veremos então, a seguir, quais as contribuições que podemos extrair do
pensamento groddeckiano com vistas à construção de um modelo de cuidado em
saúde capaz de ultrapassar os impasses da biomedicina, concebendo o
adoecimento em toda a sua complexidade e indo ao encontro das já citadas
demandas por um cuidado integral.
99
3. PROPOSTAS GRODDECKIANAS PARA A SUPERAÇÃO DE IMPASSES DA
BIOMEDICINA
Consideramos este capítulo o núcleo de nossa pesquisa. No primeiro
segmento, nossa intenção foi a de apresentar as origens históricas e a filiação
teórico-conceitual bem como os modos contemporâneos de manifestação daquilo
que temos chamado de “impasses” ou “limites” experimentados pelo modelo
biomédico. Nosso propósito era o de explicitar os processos ocorridos na fronteira
entre teoria e prática que produziram os referidos impasses, com vistas a preparar o
leitor para as propostas de superação desses limites que serão descritas no
presente capítulo. Não obstante, tais propostas só poderiam ser vistas como
coerentes e plausíveis se o leitor estivesse familiarizado com o pensamento de
Georg Groddeck. Em vista disso, no capítulo anterior buscamos estabelecer as
coordenadas essenciais das teses do autor para que o leitor não chegasse incauto a
este capítulo e pudesse perceber a vinculação entre as propostas groddeckianas e
seu pensamento como um todo.
Cremos, portanto, ter cumprido as etapas preliminares necessárias para o
alcance do objetivo principal de nossa pesquisa que é investigar, na obra de Georg
Groddeck, proposições do autor que possam contribuir para a construção de um
novo modelo de cuidado em saúde capaz de superar alguns dos impasses
enfrentados pelo modelo biomédico. Neste capítulo, portanto, apresentaremos os
postulados e pontos de vista que encontramos na obra groddeckiana que podem
servir como alternativa para pensarmos um tipo de cuidado em saúde que seja
capaz de ultrapassar determinados aspectos do modelo biomédico, como o
organicismo, a concepção da doença como entidade patológica, a cisão entre corpo
e psiquismo, dentre outros fatores que denunciam a ineficácia dessa racionalidade
médica na compreensão e no tratamento de inúmeros problemas de saúde.
3.1 O objeto do tratamento é o doente e não a doença
Como vimos no primeiro capítulo, o traço mais marcante da medicina
moderna é sua tendência em buscar se desvincular do âmbito da práxis para se
100
constituir como uma ciência natural, a exemplo da física e da química. Aliás, a
utilização dos mesmos modelos conceituais dessas disciplinas seria supostamente a
fiança que garantiria a medicina no clube seleto das ciências positivas. No entanto, a
transição do estatuto de práxis para o de ciência demandará da medicina uma
mudança igualmente drástica na parcela da realidade que lhe servirá de objeto. A
medicina enquanto práxis se constitui a partir de um laço social entre um sujeito que
sofre e que endereça suas queixas a outro que é autorizado por uma comunidade a
curar. Porém, para ser alocada na categoria de ciência, a medicina precisará de um
objeto de estudo mais palpável e preciso, bem como universalizável,. Em função
disso, o sujeito que sofre cederá lugar a um objeto abstrato criado a partir de suas
queixas e sintomas, o qual será tratado com a máxima concretude possível, a saber:
a doença. Assim, a medicina que outrora se posicionava socialmente como uma
prática cultural destinada ao tratamento e à cura de pessoas que sofrem, passa a
ser vista como uma ciência das doenças, ou uma ciência que elabora métodos e
técnicas para a eliminação das doenças.
Groddeck, muito antes de se tornar um adepto da psicanálise, já expunha
suas objeções a essa transformação da medicina em ciência das doenças. Numa
carta endereçada a um professor de medicina de Berlim, do qual não se menciona o
nome, o autor faz severas críticas à formação médica de sua época. A carta data de
1895, o que a situa no período em que a referida transformação estava em
processo. Já naquela época, Groddeck nota o quão despreparados saíam os
médicos das universidades, pois, do seu ponto de vista, a universidade parecia
formar mais eruditos do que médicos de fato. A ênfase dada ao conhecimento das
doenças e ao diagnóstico fazia do estudante de medicina um especialista na
descrição de sintomatologias e quadros clínicos, com um conhecimento paupérrimo
acerca de como verdadeiramente tratar: “No caos inextricável, os conhecimentos se
confundem na cabeça do jovem médico, o impedem, o limitam. Ele se acha perplexo
diante do doente que lhe implora salvação. Conhece certamente a doença, conhece
até mesmo a saída, mas não conhece a ajuda.” (GRODDECK, 1994, p. 96)
Naquele momento, o principal alvo da crítica de Groddeck era a tendência das
universidades de formarem profissionais capazes de recitar de cor os sinais e
sintomas da maioria das patologias bem como seus estágios de evolução e até
mesmo os procedimentos necessários para intervir junto ao doente. Não obstante,
101
faltar-lhes-ia o que os americanos chamam de “know-how” ou o que os franceses
denominam de “savoir-faire”, ou seja, um saber-fazer, conhecimento prático que lhes
permitiria efetivamente realizar suas intervenções. Para Groddeck, a transformação
da medicina em ciência das doenças fez com que a formação médica não mais
privilegiasse o aprendizado de funções de ordem prática como a realização de
curativos, massagens etc., aprendizado que, conquanto não fosse suficiente para
garantir a formação de um médico competente, pelo menos forçava o estudante a
desenvolver habilidades práticas relacionadas ao cuidado direto com o enfermo.
Atualmente, o mesmo mote utilizado por Groddeck para criticar a formação
médica de sua época pode nos ser vantajoso para pensarmos a formação médica
atual. Com efeito, a medicina, na busca por se manter mais próxima possível das
ciências naturais, tem cada vez mais dado ênfase ao conhecimento, ao saber, às
evidências como principais matérias-primas de trabalho do médico e não o cuidado,
a ajuda e a interação direta com o paciente. Assim, grande parte dos profissionais
produz seus diagnósticos e escolhe tratamentos não a partir de uma compreensão
singular da condição de saúde do indivíduo, mas sim baseada em protocolos
preestabelecidos, ou seja, em conhecimentos produzidos a priori. Ao profissional
cabe unicamente a tarefa de aplicar aquele saber elaborado alhures, o que é
radicalmente diferente do que Groddeck propõe como sendo aquilo que o médico
deveria realizar, ou seja, a ajuda, o saber-fazer, o qual está intimamente articulado
ao conhecimento do doente como um ser singular.
Outra denúncia feita por Groddeck diz respeito à utilização que se faz dos
doentes na formação médica, a saber: como casos que servem de exemplo e
ilustração para o conhecimento das doenças. Não se ensina o estudante a encarar o
doente como alguém que deve ser ajudado, mas como o exemplar de determinada
patologia que o aluno deve conhecer: “O interesse do caso é determinante para sua
ação e seu ensinamento, não o interesse da pessoa.” (GRODDECK, 1994, p. 98).
Assim, desde a universidade, o estudante passa a lidar com os doentes que se lhe
apresentam como exemplos vivos que vão enriquecer seu saber. Ocorre, assim,
uma inversão: o doente passa a servir à ciência e não a ciência ao doente.
Evidentemente, essa inversão gerará um impasse no âmbito do cuidado em
saúde, pois haverá na melhor das hipóteses um conflito de expectativas. Enquanto
102
do lado do profissional de saúde o interesse está na doença que supostamente o
paciente traria consigo – pois na biomedicina a doença é tomada como um ente
(CAMARGO JR., 1997) – e no conhecimento que se pode extrair daquele novo caso,
no pólo do paciente as expectativas são outras. O paciente deseja ser curado, ou
pelo menos tratado, e espera encontrar no profissional de saúde o desejo de lhe
ajudar. Na medida em que as expectativas não se recobrem, não se estabelece o
objetivo milenar do encontro entre o que sofre e aquele indivíduo autorizado a curar.
A relação entre médico e paciente passa a ser marcada por outros matizes. A busca
por encontrar a doença no doente leva o profissional a ficar restrito à dimensão do
diagnóstico e a limitar seu trabalho ao fornecimento de uma etiqueta. Como do lado
do paciente o desejo de ser tratado permanece, a enunciação do diagnóstico é não
raro confundida com o próprio tratamento de modo que o doente passa a se
satisfazer com o rótulo fornecido, não atentando para o fato de que aquele que em
tese deveria lhe tratar não o fez. O próprio Groddeck constatara essa confusão entre
diagnóstico e terapêutica:
... o público quer um diagnóstico e sente-se bem ao receber
uma etiqueta. As poucas pessoas que rejeitam a plaquinha
com o nome da doença, indicando o mal que as afeta, que só
querem saber de sarar e não encaram sua doença como uma
distinção concedida por Deus, essas pessoas não se levam em
conta na clínica geral. (GRODDECK, 1992, p. 138)
A multiplicação dos meios farmacológicos de tratamento intensificou ainda
mais a tendência da formação de médicos conhecedores e não curadores. Na
medida em que a ingestão de medicamentos passa a ser tomada como o método
terapêutico principal, a ação terapêutica do profissional passa a ser apenas a de
fornecer uma prescrição medicamentosa. Um agravante é que grande parte dos
profissionais sequer possui conhecimento de como foram feitos os medicamentos
que prescreve e quais os estudos e procedimentos em que sua eficácia está
fundamentada. Tornam-se, assim, como dissemos anteriormente, meros técnicos
aplicadores de um conhecimento a priori.
O vocabulário popular registra expressões que ilustram o modo como os
usuários se relacionam com o profissional de saúde na biomedicina. É comum ouvir
frases do tipo: “Vá ao médico para saber o que você tem.” ou “O médico vai te
passar um remédio”. Assim, o imaginário popular acerca da medicina passa a ser
103
construído colocando o médico na posição de um guru que consegue descobrir a
doença que cada um tem e o remédio certo para curar cada patologia. Groddeck
(1994) nos mostra, porém, que, conquanto aparentemente as pessoas se contentem
com o diagnóstico e a prescrição de uma receita médica, o desejo de ser cuidado e
tratado, que, para o autor, é uma realidade presente na própria gênese de uma
doença, não se satisfaz com o laudo médico. Esse desejo reivindica escuta, olhar
empático e, principalmente, a experiência de se sentir cuidado, que a biomedicina,
em geral, se nega a fornecer, delegando ao medicamento a responsabilidade por
tratar. Aqueles que conseguem discernir sua insatisfação e reconhecer essa
limitação do modelo biomédico vão procurar a acolhida e o cuidado buscados em
outras racionalidades médicas, como as medicinas orientais e a homeopatia, as
quais, por estarem assentadas em modelos que concebem o adoecimento numa
perspectiva de integralidade, tendem a satisfazer aquelas demandas 11. No entanto,
há uma quantidade enorme de usuários que sequer percebem sua insatisfação
latente, de modo que a única forma de manifestarem-na é produzindo sempre novas
queixas e freqüentando os serviços de saúde várias vezes por semana. Tais
comportamentos podem ser vistos como os signos de uma esperança na mudança
do modelo.
A mudança, no entanto, não ocorrerá através de transformações que fiquem
restritas apenas ao nível puramente prático do cuidado em saúde. Não se trata de
ensinar os médicos a escutarem mais seus pacientes, a aumentarem a duração das
consultas ou a não limitarem sua atuação ao diagnóstico e ao provimento de uma
receita. Se novas práticas não estiverem fundamentadas numa compreensão
teórico-conceitual distinta da tradicional, qualquer mudança será instituída com
características meramente protocolares. É esse o ponto de vista de Groddeck. Para
o autor, os impasses enfrentados no domínio prático são resultantes não de uma má
prática médica ou de incompetência por parte dos profissionais. Pelo contrário,
tendo em vista o modo como foi formado, o médico moderno, ao dirigir seu olhar
para a doença e não para o doente, estaria mostrando-se um exímio profissional,
11
Atualmente, essa busca por outros modelos de cuidado em saúde não tem ficado restrita apenas a usuários de
maior poder aquisitivo que podem pagar por consultas particulares de profissionais que atuam a partir de
racionalidades distintas da biomedicina. O Sistema Único de Saúde (SUS) tem investido na oferta de medicinas
complementares e alternativas, o que facilita o acesso da população de baixa renda a tais práticas de saúde.
104
pois é justamente essa modalidade de olhar que foi gradualmente sendo construído
ao longo de sua formação. Portanto, para que essa perspectiva seja transformada e
o foco passe a ser o doente e não mais a doença, é preciso uma mudança na
formação do médico e nas diretrizes que fundamentam essa formação.
Na grande maioria dos cursos de medicina, como nos demais cursos da área
da saúde, o estudante primeiramente tem acesso às chamadas “Disciplinas Básicas”
como Anatomia, Biofísica, Bioquímica etc. e só depois às disciplinas da área
profissional como Clínica Médica. Em outras palavras, supõe-se que o aluno tenha
que assimilar num estágio inicial uma série de conteúdos relativos ao funcionamento
do corpo humano e aos elementos que o constituem para, num momento posterior,
verificar a fidedignidade do que foi aprendido através da experiência viva do doente.
Nesse sentido, a vivência prática do estudante junto aos pacientes passa a servir, na
formação médica, como uma etapa de aplicação ou de confirmação da teoria
aprendida em sala de aula.
Considerando que os conteúdos aos quais o aluno tem acesso nas disciplinas
básicas são de cunho universal, ou seja, dizem respeito a um funcionamento padrão
do corpo humano e a um modo geral de apresentação das doenças, haverá sempre
um choque entre teoria e prática quando o estudante for exposto à experiência real
com os doentes. Com efeito, o aprendizado universal adquirido em sala de aula se
encontrará com situações singulares de adoecimento, isto é, experiências com
particularidades tais que as fazem constituírem-se como fenômenos únicos que
correspondem apenas aproximativamente ao padrão. Em outras palavras, ao ser
exposto primeiramente à teoria e só algum tempo depois à prática, o estudante
tenderá a buscar na prática a exata correspondência com a teoria, empreitada na
qual obviamente fracassará. Entretanto, o fracasso não será reconhecido como tal,
sendo, em vez disso, recalcado, de modo que o descompasso entre a experiência
existencial do adoecimento e o conhecimento teórico trazido pelo estudante será
visto a partir da costumeira polarização ocidental platônica entre o imperfeito e o
perfeito ou entre aparência e essência. O conhecimento teórico sobre a doença será
visto como a essência escondida sob a aparência constituída pela vivência particular
do doente. Logo, essa última tenderá a ser menosprezada ou, em alguns casos, até
mesmo negada com vistas à afirmação da primeira.
105
A resolução desse impasse, do ponto de vista groddeckiano, passa por uma
inversão na ordem da formação médica. Para Groddeck, no início o estudante deve
ter contato com a prática, mesmo sem conhecimento algum de anatomia, fisiologia e
patologia. Aliás, sobretudo sem possuir esses conhecimentos! O raciocínio do autor
é simples: ao ter contato primeiramente com os doentes, o estudante poderá
verificar a utilidade dos conhecimentos teóricos que posteriormente deverá aprender
em sala de aula. Sua relação com esses conhecimentos passará a ser
marcadamente utilitária e instrumental e não dogmática como ocorre no modelo
tradicional de formação. O aprendizado teórico será visto por ele como uma caixa de
ferramentas que o auxiliará no tratamento dos pacientes. Na formação tradicional,
em muitos casos a teoria se constitui como uma verdade à qual a experiência tem
que se adaptar, entre outros fatores pelo fato de o estudante ter acesso à teoria
antes de conhecer a experiência. Ao se instituir a experiência com os doentes como
etapa inicial da formação médica, a prática passa a se constituir como o fundamento
sobre o qual o olhar do profissional será formado. Seu parâmetro será a experiência
real daquele que lhe reivindica ajuda, passando seu foco a ser a experiência do
adoecimento e não mais a patologia.
Na sala dos doentes, ele [o estudante] deve primeiro ver para
que servem os conhecimentos. Mostrem-lhe no ser humano
como dói quando uma perna é fraturada; mostrem-lhe como é
difícil curar um membro esmagado e depois enviem-no lá, para
que aprenda no cadáver como são formados os ossos que a
vida quebrou, como se espalham os músculos, os nervos e as
artérias lacerados. Mostrem-lhe no doente como é terrível
contorcer-se com a hidropisia na ofegante necessidade de
respirar, como é difícil aliviar a dor e depois mandem-no ao
laboratório e deixem-no praticar a química, tanto quanto for
necessário. Mostrem-lhe quão devastadoras e furiosas são a
difteria e a tísica, ensinem-lhe quão penoso é reprimir as
epidemias, e depois deixem-no olhar ao microscópio os
sinistros inimigos do gênero humano. Só assim ele aprenderá a
ser um médico. Somente assim ele se tornará um prático e não
um erudito, somente assim ele vai poder ajudar. E o médico
deve ajudar, ajudar e unicamente ajudar. E nas escolas de
médicos ele deve aprender isso, somente isso. (GRODDECK,
1994, p. 99-100)
3.2. Diagnóstico do ser humano e não apenas do corpo
106
No primeiro capítulo, vimos que a ênfase da biomedicina no diagnóstico é
decorrente, sobretudo, de aspectos herdados da medicina das espécies. Ao
conceber a patologia como uma entidade que supostamente se apossaria do
indivíduo, a nascente medicina científica do século XIX ensejou a transformação do
diagnóstico numa etapa de extração de uma verdade escondida no interior do corpo
doente. Assim, a terapêutica que, até então, ocupava o lugar central da atividade
médica, é colocada em segundo plano. Como afirma Tesser (2008, p. 352), “é na
direção do diagnóstico que se orienta o fluxo de operações cognitivas na
biomedicina”.
Por outro lado, o advento da anatomia patológica no final do século XIX, que
produziu um júbilo entre os profissionais pela possibilidade de se correlacionar
sintomas a lesões, bem como o desenvolvimento da microbiologia e da genética,
operou uma redução do diagnóstico aos achados dos exames físicos. Todas as
demais contingências que incidem sobre a vida do indivíduo passam a ser apenas
relativamente levadas em conta na formulação do diagnóstico médico. E na medida
em que o tratamento é planejado com base no diagnóstico, se esse último fica
restrito àquilo que se processa no corpo, não fazendo referência aos fatores
psicológicos, sociais etc., logo o tratamento sequer tocará naqueles elementos que,
conquanto não estejam no corpo, podem estar produzindo ou mantendo o
adoecimento. Ratificando nosso argumento, Tesser (2008) diz que:
[...] operou-se pela via do saber, da interpretação, um
movimento de focalização da atenção na doença, como
entidade distinta e alheia ao sujeito. Operou-se um desvio
específico do olhar, que deixou de lado a vida do sujeito e seu
adoecimento nas suas condições de existência (sociais,
econômicas, emocionais, ambientais, espirituais), e apresentou
as categorias fisiopatológicas, fatores etiológicos e de risco
com que trabalha a biomedicina (TESSER, 2008, p. 353).
Ademais, a submissão da terapêutica ao diagnóstico na biomedicina motiva
uma perigosa negligência da singularidade de cada sujeito. Com efeito, ao
considerar as doenças como entidades que possuem uma existência concreta e fixa,
o modelo biomédico está implicitamente afirmando que a cólera que afeta Pedro é a
mesma que afeta Paulo. Tratar-se-iam apenas de lócus de manifestação diferentes
da doença, mas a patologia em ambos os casos seria a mesma. Nesse sentido,
dada a subordinação do tratamento ao diagnóstico, o tratamento para cólera deveria
107
ser o mesmo para qualquer indivíduo que apresentasse a doença. A experiência,
não obstante, revela os limites dessa lógica. Ainda que apresentem sintomas que,
por serem semelhantes, levem o médico a fazer um mesmo diagnóstico, tanto Pedro
quanto Paulo terão experiências únicas de adoecimento. Em decorrência, sujeitos
particulares, imersos numa história e condições de vida específicas, serão tratados a
partir de parâmetros universais, o que, obviamente, resultará em ineficiência das
ações de saúde e insatisfação por parte dos pacientes.
Temos, portanto, dois impasses enfrentados pelo modelo biomédico em
relação à temática do diagnóstico. O primeiro diz respeito à prioridade concedida a
esse processo e não ao tratamento, o que torna esse último dependente das
etiquetas diagnósticas universais que, por sua vez, não se coadunam com a
singularidade de cada experiência de adoecimento. O segundo se refere ao
reducionismo organicista que subjaz ao diagnóstico feito na biomedicina, que
enfatiza aspectos de ordem fisiopatológica e negligencia as demais condições de
vida e a história do indivíduo. Na obra groddeckiana, encontramos algumas idéias
fecundas para pensar a superação desses impasses. No tocante ao primeiro,
veremos as reflexões que Groddeck elabora sobre a função e o significado do
diagnóstico e, quanto ao segundo, conheceremos o tipo de diagnóstico que
Groddeck concebe como sendo mais útil e fidedigno do que o realizado na
biomedicina.
O autor considera o diagnóstico da doença como um procedimento não
apenas dispensável como também muitas vezes danoso para o doente e para o
tratamento. Seu argumento repousa na tese de que, tendo em vista as pretensões
daquele que elabora o diagnóstico de identificar a doença, trata-se, nesse processo,
de uma espécie de “estupro” da realidade. Ao primar pela identificação da entidade
patológica da qual o indivíduo padeceria, aquele que diagnostica é forçado a excluir
do seu campo de visão toda a complexidade do real da qual a patologia é apenas
um fragmento:
Não é possível estabelecer um diagnóstico completo, que
esgote todos os aspectos, e só o desejo de fazê-lo já implica o
maior risco que o médico corre, o de superestimar sua
capacidade. Insistimos em dizer que o diagnóstico sempre
deve ser questionado pelo médico, que este nunca deve se
esquecer de que muitas vezes o diagnóstico é insuficiente ou
108
errado, e que ao estabelecê-lo corre o risco de considerar a
doença como uma situação, quando na verdade ela é um
processo. (GRODDECK, 1992, p. 247)
Groddeck, portanto, não está negando a relevância ou a utilidade do
diagnóstico; só está dizendo que o diagnóstico cujo foco é exclusivamente o
reconhecimento da doença consiste num procedimento assaz equivocado na
medida em que não contempla aspectos de suma importância para o tratamento,
como, por exemplo, o modo como doente e médico se relacionam, a forma como o
paciente formula sua demanda de cura, etc. Em outras palavras, o diagnóstico tal
como é concebido na tradição biomédica não funcionaria como um auxílio para o
tratamento. Tratar-se-ia de um procedimento meramente formal e produtor de
etiquetas clínicas. Groddeck afirma que
Somente três fatos merecem ser observados, para o início do
tratamento: o ser humano que vai ser tratado, sua busca de
ajuda e a sua relação com a pessoa a quem pede ajuda. São
esses os objetos da investigação diagnóstica; em
contrapartida, todo o resto é secundário. (GRODDECK, 1994,
p. 256)
A crítica de Groddeck à violência reducionista que estaria subjacente ao
diagnóstico da doença está fundada no modo como o autor concebe o ato de
conhecer a realidade. Diferentemente da tradição moderna, Groddeck não pensa o
conhecimento como espelho do real, mas como mutilação, erro e vaidade. Para ele,
todo ato de conhecer pressupõe um recorte arbitrário feito na realidade, um
isolamento de determinados fragmentos da natureza do todo no qual estavam
concatenados: “Toda contemplação e especialmente toda reflexão científica
representa uma violação da verdade. Para contemplar ou analisar algo, é preciso
dissociá-lo da totalidade e eliminar o contexto.” (GRODDECK, 1992, p. 116). Em
decorrência, trata-se sempre de um processo que está baseado no engano de que é
possível conhecer sem que esse ato implique uma violência contra o real. Para
Groddeck, o conhecimento verdadeiro seria aquele que pudesse contemplar todos
os elementos e todas as relações existentes na natureza, tarefa impossível ao
homem. Nesse sentido, todo conhecimento é manco, falho e o máximo que
podemos fazer é reconhecer isso e não cairmos no equívoco de pensar que as
mutilações que fazemos no real constituem-se como sua essência.
109
Foi com base nessa idéia que Groddeck interpretou a noção de recalque
(Verdrangung, em alemão) proposta por Freud. Para o pai da psicanálise, esse
termo significava a exclusão de uma determinada representação mental do
consciente mediante a retirada do afeto vinculado a ela. Groddeck, todavia, não
pensará o recalque em termos metapsicológicos. Para ele, Freud teria tido acesso a
somente uma dimensão do recalque, não atentando para o fato de que esse
processo de retirar impressões e representações de nosso campo de consciência
pode ser visto quase como um sinônimo da própria vida, pois faríamos isso o tempo
todo, não apenas para nos defendermos de representações intoleráveis. “No fundo,
o essencial que o homem faz é recalcar: a sua vida é esta.” (GRODDECK, 1994, p.
179). Nossa própria experiência perceptiva do mundo está condicionada, para
Groddeck, pela efetuação de ininterruptos recalques, de constantes retiradas de
percepções de nossa consciência. Do contrário, teríamos acesso a uma vivência da
realidade que excederia nossa capacidade de percepção e assimilação. A propósito,
essa espécie de seleção entre aquilo que se tornará consciente e o que será
recalcado só raramente é feita pelo ego, ou seja, não possui como critério a razão. É
o Isso que, baseado em critérios absolutamente singulares (Groddeck diria
caprichosos) organiza nossa experiência do mundo:
Na verdade, enormes massas vindas do exterior afluem
continuamente até nós: elas nos destruiriam se não fosse o
isso que as ordena; o que é bom para nós ele utiliza para o
nosso ego, e o que não é bom ele recalca, utiliza para outros
fins, de vez em quando para o adoecer. (GRODDECK, 1994, p.
180)
Se, portanto, no que poderíamos chamar de epistemologia groddeckiana, o
conhecimento no sentido estrito do termo consiste numa empreitada impossível, pois
pressupõe o saber acerca de todas as relações existentes no real, logo o
diagnóstico, na medida em que pretende ser um processo de investigação e
conhecimento, estará sempre fadado ao fracasso. Não obstante, para o autor, tal
constatação não implica necessariamente o abandonar-se a uma atitude de
resignação frente à impossibilidade de conhecer. Para Groddeck, devemos fazer o
máximo a que nossa percepção limitada e violentadora do real permite: “Decerto,
não lhe resta outra coisa, se quiser tratar, senão cometer este erro inevitável, mas
você tem de saber que é um erro, do contrário o seu conhecimento é igual ao do
índio mais primitivo.” (GRODDECK, 1994, p. 257).
110
Foi dessa forma que o autor trabalhou na construção do conceito de Isso,
como vimos no capítulo precedente. Dada a impossibilidade de fundar uma noção
indiscutível de indivíduo em função da inexistência de fronteiras absolutas no real,
se quisermos operar com o conceito de uma totalidade individual, devemos
inevitavelmente estabelecer de maneira consciente, deliberada e arbitrária seus
limites. E essas fronteiras devem ser capazes de contemplar o máximo possível de
elementos e relações – era, fundamental, para Groddeck, por exemplo, conceber um
indivíduo cuja existência psíquica não ficasse restrita à consciência. Destarte, o
conceito de Isso não é pensado como um reflexo da totalidade individual que existe
efetivamente na natureza. Trata-se de um conceito operatório, uma mera ferramenta
teórica em cuja elaboração já se reconhece sua falibilidade e inadequação.
Da mesma forma Groddeck pensará o diagnóstico. Considerando que esse
procedimento jamais atingirá aquilo que em última instância pretende, isto é, o
conhecimento de todos os aspectos e relações existentes no adoecimento, o
máximo a que poderíamos chegar seria à elaboração de um diagnóstico que
contivesse o maior número possível de variáveis, diferentemente do diagnóstico feito
a partir do modelo biomédico que se atém apenas às dimensões anatômica,
fisiológica e biológica. A esse tipo mais amplo de diagnóstico Groddeck costumava
chamar de “diagnóstico do ser humano” ou “diagnóstico do homem”.
Para a realização desse diagnóstico mais amplo, é preciso assumir um
pressuposto específico em relação ao significado da doença. Na biomedicina,
concebe-se o adoecimento em termos estritamente mecanicistas: a enfermidade é
um efeito resultante de uma ou mais causas. Para o diagnóstico do ser humano, a
doença deve ser entendida como uma expressão do indivíduo. Nessa perspectiva, a
enfermidade não é pensada como uma mera consequência de determinados
eventos, mas como produto de uma vasta rede de relações. Nesse sentido, só se
pode pensar um diagnóstico que vise o ser humano e não apenas o corpo se o
adoecimento não for concebido numa perspectiva mecanicista.
O diagnóstico do ser humano também está fundamentado na tese
groddeckiana de que o médico deve tratar o ser humano e não o doente. Ao se
concentrar no fato de que aquele que o procura está doente, o médico
automaticamente reduz ainda mais sua percepção para se dirigir apenas àquilo que
111
no discurso do indivíduo tem relação imediata com a doença. Assim, o profissional
exclui do seu campo de visão toda a imensidão de fatores que está por trás do estar
doente e dos quais esse estado é a expressão. Groddeck propõe, então, que o
médico deva fornecer ajuda ao ser humano que a ele recorre e não ao estado
doentio em que ele se encontra. Se entendermos a doença na perspectiva
groddeckiana, isto é, como uma expressão do Isso, ao se eliminar somente o estar
doente e deixar intacto o ser humano, o indivíduo perderia justamente o único modo
possível que havia encontrado até então para se manifestar. Na falta daquele, talvez
procure outro até mais grave...
Para diagnosticar o ser humano para-além do estar doente, em primeiro lugar
o médico não deve limitar seu olhar ao corpo; deve realizar um estudo completo do
indivíduo, atentando para o que ele tem de comum em relação a outros e o que lhe é
singular. O profissional deve examinar “sua figura e a forma dos seus órgãos e
partes, internos e externos, suas funções desde respirar, dormir, movimentar-se,
digerir, pulsar o coração até falar, pensar, sentir.” (GRODDECK, 1994, p. 258). Em
segundo lugar, o médico deve considerar tudo isso que o indivíduo sente e faz,
voluntária ou involuntariamente, como sintomas que, do ponto de vista de Groddeck,
não significam apenas indícios da existência de uma doença, mas sim linguagens
que o Isso utiliza para se expressar:
“... no conceito de sintoma não estão incluídos apenas a
temperatura, a pulsação e os diversos sinais de doença, mas
tudo o que o isso do doente mostra e o que o isso do médico é
capaz de perceber, da forma do queixo às comoções
profundamente secretas, das presentes situações ao passado
mais longínquo” (GRODDECK, 1994, p. 228)
Essa transformação que Groddeck opera na idéia de sintoma gera
importantes conseqüências clínicas. Com efeito, ela faz com que a atenção do
profissional de saúde não esteja voltada apenas para aquilo que, no indivíduo, indica
as características do adoecimento. O médico é inevitavelmente levado a olhar para o
paciente como um todo e dedicar atenção a todas as suas manifestações. Ao
contrário do que se poderia pensar, ao propor esse novo conceito de sintoma,
Groddeck não está adotando uma postura medicalizante, ou seja, que estende o
alcance da esfera médica a aspectos individuais que originalmente não lhe são
112
pertinentes. Na verdade, o autor está fazendo precisamente o contrário. Vejamos
por quê.
Para Groddeck, saúde e doença não são estados individuais completamente
distintos, pois ambos são formas de expressão do indivíduo, do Isso. A questão mais
importante, portanto, para o profissional de saúde, não é a eliminação da doença,
mas sim a compreensão acerca das razões pelas quais o indivíduo está se
expressando de modo patológico. Para esse discernimento, não é suficiente um
diagnóstico que tenha como foco os caracteres particulares da doença que se supõe
habitar o corpo do doente. Será preciso considerar toda e qualquer manifestação do
indivíduo como um índice para o entendimento de sua condição. Tudo aquilo que ele
faz será visto como sintoma não da doença, mas do ser humano, do indivíduo que
ele é e que, naquele momento específico, está se expressando pela via da doença.
No texto “Da visão, do mundo dos olhos e da visão sem os olhos”, no qual Groddeck
faz uma longa interpretação do significado simbólico dos órgãos visuais, o autor
aborda a importância do diagnóstico amplo do ser humano como ferramenta
essencial para o êxito do tratamento:
Para o juízo médico e humano é muito significativo se a pessoa
que sofre de algum mal da visão é um homem, uma mulher,
uma criança ou um ancião, como também é importante saber
quais são as condições de vida do paciente, quais são seus
desejos e necessidades, como é o seu caráter, suas
características pessoais, como é a sua constituição, e tudo que
se possa descobrir sobre sua pessoa, seu consciente e seu
inconsciente, para tratá-lo de forma adequada. Uma parte dos
enfermos que oferece resistência a um tratamento baseado
num diagnóstico anatômico irá melhorar ao se ampliar a
maneira de diagnosticar. (GRODDECK, 1992, p. 249)
Como se pode ver no início dessa citação, para a realização do diagnóstico
do ser humano, Groddeck concebe como de suma importância o reconhecimento de
dois aspectos do Isso aos quais nos referimos no final do capítulo anterior. Trata-se
da bissexualidade e da ausência de temporalidade no indivíduo. Como dissemos
naquele capítulo, para Groddeck, a doença amiúde pode expressar aspectos da
masculinidade presentes na mulher e da feminilidade no homem ou mesmo a eterna
criança que subjaz no adulto e o ancião que já vive no adolescente. Nesse sentido, o
diagnóstico deveria necessariamente contemplar uma observação a respeito de
como esses aspectos se manifestam no doente: “dos fundamentos do diagnóstico
113
faz parte a observação de quão ampla é a masculinidade da mulher que pede ajuda
e a feminilidade do homem.” (GRODDECK, 1994, p. 261).
No texto “O homem, não o doente, necessita de ajuda” (GRODDECK, 1994),
Groddeck relata um caso de uma empregada doméstica que atendeu em seu
sanatório. A moça sofria de dores no coração, acompanhadas de dores em outras
partes do corpo e inchaço das pernas. Os exames físicos encontraram uma
insuficiência no fechamento da válvula mitral e, a princípio, Groddeck se satisfez
com esses achados, tratando a paciente apenas com repouso e digitalina via
interna. No entanto, o tratamento só avançou de fato quando Groddeck passou a
prestar atenção a determinados atributos físicos característicos do sexo masculino
que a paciente apresentava. A observação desses aspectos levou Groddeck a
atentar para os desejos masculinos que perpassavam os relatos da moça. Num dos
relatos, ela lhe confidenciou que havia experimentado um amor por outra mulher, o
qual “lhe atormentava o coração e a consciência” (GRODDECK, 1994, p. 261). Após
essas conversas, Groddeck realizou um novo exame e verificou o desaparecimento
do inchaço nas pernas, o retorno das menstruações (a paciente estava há um ano e
meio sem tê-las) e a eliminação das dores. O relato completo do caso demonstra
que os sintomas apresentados pela moça eram expressões de seu desejo de se
tornar homem, o qual estava ligado à ligação homossexual vivida outrora. Ao poder
se expressar pela via da fala nas entrevistas com Groddeck, ela pôde desincumbir o
corpo da manifestação de suas aspirações masculinas. Diante disso, Groddeck se
pergunta: “Não teria sido mais aconselhável que o médico, antes de ocupar-se como
o nome da doença e com o tratamento com digitalina, tivesse observado esse sinal
de masculinidade da moça?” (GRODDECK, 1994, p. 260).
Esse exemplo citado por Groddeck demonstra a efetividade de um
diagnóstico que não se restringe aos exames físicos e busca conhecer e discernir o
ser humano para-além do doente. É óbvio que não estamos aqui convidando o leitor
a subscrever integralmente os pontos de vista de Groddeck, como esse acerca da
existência da bissexualidade no indivíduo. Nosso objetivo é mostrar que o autor
propõe idéias interessantes para pensarmos uma saída para o impasse enfrentado
pela biomedicina no que diz respeito à questão do diagnóstico. O exemplo da
observação da bissexualidade na paciente citada serve-nos como a ilustração da
necessidade de um diagnóstico que tenha como finalidade última a compreensão do
114
indivíduo em sua singularidade, que é outra maneira de lermos a proposta
groddeckiana de um diagnóstico do ser humano. Preconiza-se, a partir das
contribuições de Groddeck, um diagnóstico que, em meio a tudo o que o indivíduo
expressa, não faça referência apenas a alguns aspectos corporais verificados
através de exames, mas que perceba todas as suas manifestações como sintomas
da totalidade individual, fornecedores de pistas para o entendimento do paciente em
sua integralidade.
3.3 Compreensão e não combate à doença
Como vimos no primeiro capítulo, a estrutura conceitual que orientou a
formação da biomedicina foi a da racionalidade científica moderna. Vimos que essa
última se instituiu numa relação de descontinuidade com o modelo de compreensão
da realidade na Antiguidade e na Idade Média. Um dos traços mais patentes da
racionalidade científica moderna que a distingue do modo de pensar anterior é a
maneira como ela concebe as relações entre a razão e a natureza. Atribui-se um
valor maior à razão, considerando o pensamento como capaz de organizar um
suposto caos que existiria no mundo natural. A razão seria, assim, uma espécie de
salvadora dos homens em relação à natureza, que deveria ser vigiada, controlada e
dominada, pois, do contrário, manifestaria sua desarmonia. Em decorrência, a
natureza adquiriu os contornos de uma inimiga do homem.
Como herdeiro dessa racionalidade, o modelo biomédico concebeu as
relações entre a medicina e a doença analogamente àquelas estabelecidas entre
razão e natureza. As doenças se tornaram, então, as inimigas naturais do homem.
As grandes pestes da Antiguidade e as representações sociais que se organizavam
em torno delas já forneciam o pano de fundo necessário para pensar a enfermidade
como o mal que vem desvirtuar a saúde humana. Com o advento da medicina das
espécies e sua concepção da patologia como entidade que passa a existir no corpo
do indivíduo, o imaginário construído sobre a doença se estabeleceu de vez sob o
signo do medo e do ódio. Como vimos, as doenças passam então a serem
pensadas como seres que existem na natureza e que devem ser combatidos e
extirpados. “As doenças, legitimadas e objetivadas pela construção científica das
entidades nosológicas (e dos riscos), converteram-se em inimigos naturais e, como
115
se tivessem vida própria, parecem estar, a cada paciente, sintoma e/ou exame,
prestes a atacar.” (TESSER, 2009, p. 279)
Para impedir o frágil ser humano de sucumbir ao adoecimento é que existiria
o cuidado em saúde, que, tal como a razão, salvaria a humanidade das garras da
selvageria natural. A tese que se pode depreender desse pensamento é a de que
caso não houvesse a medicina científica, a espécie humana estaria inevitavelmente
exposta ao risco de ser extinta. Trata-se de um raciocínio ambicioso e apressado,
pois confere a um único tipo de racionalidade médica a capacidade legítima de curar
os indivíduos. Conquanto em toda a história humana, as populações tenham
elaborado modos particulares de cuidado em saúde, caso os indivíduos não
aderissem às prerrogativas da biomedicina, ou seja, da medicina científica moderna,
estariam perenemente sob risco. É essa a idéia pretensiosa e etnocêntrica que
subjaz à biomedicina. É óbvio que não podemos negar a eficácia resultante da
aplicação na saúde humana de muitas das tecnologias desse modelo. Não obstante,
é também evidente que tais êxitos práticos jamais serão suficientes para considerálo como a única racionalidade suficientemente capaz de lidar com a saúde.
A idéia de que a doença seria um mal proveniente da natureza, que, por
colocar a frágil saúde humana em risco, precisaria ser eliminado, deu ensejo na
biomedicina ao que Tesser chama de “obsessão pelo controle” (TESSER, 2009, p.
278). Trata-se da tendência de considerar o cuidado em saúde não apenas como
salvador do homem já invadido pela patologia, mas também como o protetor dos
indivíduos, que os impediria de ficarem doentes. Tesser (2009) mostra que o
controle é também um traço que a biomedicina herdou da racionalidade científica
moderna. Com efeito, a ciência moderna se concebe como destinada a controlar e
prever fenômenos. Assim, a medicina teria a função não apenas de combater e
eliminar as doenças já manifestas, mas de controlar determinados aspectos do
indivíduo de modo a impedir o aparecimento da doença. A noção de “fator de risco”
como condição que estatisticamente está associada a determinado tipo de doença
contribui para que a obsessão pelo controle seja assumida como postura não só
pela medicina como também pelos próprios usuários dos serviços de saúde. Assim,
se o indivíduo assiste na televisão à notícia de que uma pesquisa médica
comprovou a associação entre leite de vaca e algum tipo de câncer, ele é
imediatamente levado a pensar em parar de tomar leite, ou seja, a fazer uma gestão
116
controladora do risco a que pode estar exposto, sem levar em conta a complexidade
de fatores cuja interação está presente no aparecimento de um câncer.
Os impasses a que essa atitude controladora e beligerante da biomedicina
leva são vários. A tendência a lutar contra a doença a qualquer custo, sem atentar
para a função que ela está desempenhando na vida do indivíduo costuma fazer da
iatrogenia um fator quase sempre presente nas intervenções médicas, pois as
tecnologias utilizadas na busca ansiosa pela extirpação da patologia frequentemente
geram efeitos colaterais, os quais, não raro, acabam dando origem a novos
problemas de saúde. Por outro lado, a obsessão pelo controle contribui para o
processo de medicalização, que diz respeito à entrada gradativa de condições e
aspectos individuais no âmbito do cuidado em saúde, sendo que originalmente tais
situações não pertenciam à esfera médica. Outra consequência da postura
beligerante e controladora é a perda de autonomia do paciente que passa a ceder
paulatinamente parcelas cada vez maiores do cuidado de si para serem geridos pelo
campo médico, considerando que são os profissionais de saúde quem detêm a
solução para todos os males da existência.
Cremos ter demonstrado que esses impasses vivenciados pela biomedicina,
os quais têm levado essa racionalidade médica a perder espaço para as medicinas
alternativas, são decorrentes de uma postura de combate e luta contra a doença.
Groddeck, por seu turno, concebe esse posicionamento como inevitavelmente
direcionado ao fracasso, pois obscurece o fato de que não se pode dissociar o
doente do que ele expressa como doença. Ao atacar a enfermidade, a biomedicina
toma como pressuposto que o indivíduo porta uma doença, ou seja, de que ele e a
patologia são coisas separáveis e que, ao se intervir sobre ela, o indivíduo não
sofrerá conseqüências. É claro que se perguntarmos à maioria dos profissionais se
concorda com esse raciocínio, eles dirão que não. Todavia, é essa matriz de
pensamento que organiza sua atividade cotidiana.
Qual alternativa Groddeck propõe como contraponto à postura beligerante da
biomedicina? Trata-se de sua concepção da doença como um fenômeno de
expressão do indivíduo tal como o caminhar, o comer, o beber, o pensar etc. Isso
significa que, para o autor, o adoecer é um ato de vontade, como os
comportamentos a que nos referimos? Não. No capítulo anterior, vimos que
117
Groddeck não é partidário da noção de livre-arbítrio, ou seja, de uma concepção que
postula que nossa consciência pode ser tomada como causa única e suficiente de
nossos atos. Para ele, a crença no livre-arbítrio e o sentimento de sermos
completamente livres em nossas escolhas são fenômenos presentes em todos nós,
mas tratam-se de ilusões, engodos dos quais não podemos escapar, pois são
produzidos pela nossa própria experiência de relação com o mundo. Entretanto, isso
não significa que devamos levar nossa ilusão a sério. Em outras palavras, ainda que
sintamos como se de fato possuíssemos um livre-arbítrio, devemos ter a consciência
de que todos os nossos atos são causados: “... Sabemos, porque somos humanos,
que não existe liberdade; acreditamos, porque somos humanos, que existe
liberdade” (GRODDECK, 1994, p. 245).
É essa idéia que impede que aloquemos Groddeck na categoria dos que
defendem uma produção voluntária da doença:
Não é a parte consciente, pretensamente voluntária do ser
humano que decide sobre doença ou saúde, mas a ordem
condicionada, necessária do isso que se torna doente ou sadio.
Isto é um lugar-comum, pois ninguém supõe que o ser
humano, com intenção consciente, escolhe voluntariamente o
bacilo da tuberculose para ficar doente. (GRODDECK, 1994, p.
243)
De fato, para o autor, a doença é da ordem da necessidade, assim como o
andar, o falar, o ouvir, o comer etc. Nenhuma dessas ações é fruto de uma vontade
livre e sem causas, como a tradição ocidental nos acostumou a pensar. Ora, o
pensamento moderno nos familiarizou com a tese de que seríamos sujeitos
autônomos, detentores de livre-arbítrio e que estaríamos imersos em um corpo que,
diferentemente de nós, funcionaria de acordo com uma lógica pré-existente,
manifesta na forma de automatismos cegos. Assim, teríamos controle voluntário
sobre
alguns
comportamentos,
principalmente
aqueles que
dependem da
musculatura esquelética, como movimentar os braços e as pernas, comer, falar etc.,
mas outras ações seriam manifestas por nós à revelia de nossa vontade consciente,
como por exemplo, a transpiração, a digestão e as demais funções orgânicas
ligadas, sobretudo, à musculatura lisa.
Groddeck, não obstante, considera essa divisão entre voluntário e involuntário
como arbitrária e enganosa. É em função do desconhecimento das causas que nos
118
levaram a ter os comportamentos ditos voluntários que dizemos que eles são fruto
unicamente de uma vontade livre e consciente. O mesmo não acontece com as
ações involuntárias. Para essas, nós conseguimos encontrar os eventos que as
produziram. Assim, por exemplo, como conseguimos atribuir as razões pelas quais o
estômago digere os alimentos, não temos necessidade de incluir a digestão entre os
atos voluntários.
Tendo consciência, portanto, de que a separação que fazemos entre atos
voluntários
e
involuntários
está
fundamentada
no
conhecimento
ou
desconhecimento das causas das ações, Groddeck dirá que, do seu ponto de vista,
toda e qualquer manifestação humana é fruto da necessidade, isto é, um
determinado comportamento expresso pelo indivíduo é a única manifestação
possível de ser emitida por ele dentro das circunstâncias específicas em que o foi.
Em outras palavras, o indivíduo não possui a escolha de expressar-se de maneira
diferente: “O homem é em tudo condicionado pelo mundo exterior e pelo mundo
interior; não existe em sua vida um único momento em que lhe tenha sido dada
oportunidade de livre-escolha, de livre-arbítrio.” (GRODDECK, 1994, p. 237)
Essa tese está na base da concepção de Groddeck acerca da doença, o que
pode parecer contraditório, pois ao mesmo tempo em que o autor afirma que a
enfermidade, ao contrário do que postula a biomedicina, não é uma entidade que se
apossa do indivíduo ou uma mera anomalia fisiológica, mas uma expressão
individual, Groddeck também diz que ela não é fruto da escolha ou da vontade.
Trata-se de um paradoxo apenas aparente. Com efeito, ao pensar a doença como
uma manifestação do indivíduo, Groddeck não está dizendo que o indivíduo
enquanto sujeito causa a doença. O objetivo do autor é demonstrar a
impossibilidade de se conceber o adoecimento sem vinculá-lo às condições e à
história daquele conjunto de elementos e relações que objetivamos como sendo o
indivíduo.
Como vimos no capítulo precedente, o conceito de indivíduo em Groddeck é
muito mais amplo do que o tradicional, pois contempla dimensões que estão paraalém do ego. É essa totalidade individual amplificada, o Isso, quem expressa a
doença: “O ser humano, com tudo o que ele é, com o que lhe acontece e o que faz,
é, no meu modo de ver, uma forma de manifestação do seu isso, o seu isso se
119
revela através dele.” (GRODDECK, 1994, p. 207). Ao contrário do que uma leitura
apressada da teoria groddeckiana poderia levar a concluir, Groddeck não outorga ao
Isso o livre-arbítrio que ele nega ao eu. Quando vemos o autor escrever frases do
tipo “... seu Isso lhe deu um resfriado para impedir que você cheire alguma coisa”
(GRODDECK, 2008, p. 94), não devemos crer que Groddeck esteja de fato
pensando no Isso como um sujeito autônomo. Trata-se apenas de um estilo de
escrita ao qual o autor se consagra, tendo em vista talvez permitir uma melhor
compreensão por parte do leitor/ouvinte considerando esse já se encontra
acostumado, pela tradição ocidental, a conceber as ações humanas como tendo um
sujeito as produzindo.
Outrossim, por acaso não há espaço no mundo ordenado,
necessário, condicionado e condicionante do isso. O que
parece casual, como, por exemplo, acidentes, infecções,
ferimentos de guerra, pode-se provar, em cada caso isolado,
através de um exame bastante paciente via psicanálise de
Freud, que é desejado pelo isso; com esse propósito, quero
novamente frisar que também o isso apenas aparentemente
possui livre-arbítrio, onipotência, mas que, no final das contas,
está sendo guiado pelas relações cósmicas. (GRODDECK,
1994, p. 243)
Como viemos enfatizando desde o capítulo anterior, o Isso é um artifício
criado por Groddeck para não prescindir da noção útil de indivíduo e, ao mesmo
tempo, não restringir esse conceito à dimensão do ego. Em relação à doença, esse
artifício é vantajoso, pois permite estabelecer um ponto de partida para pensá-la de
um ponto de vista expressivo. Sem a noção de Isso como totalidade individual, o
adoecimento estaria fadado a ser pensado como a expressão de relações entre
múltiplos eventos no todo, o que faria da tentativa de compreendê-lo uma tarefa
impossível, dada a infinidade de variáveis a que se teria que fazer menção. O
conceito de Isso possui, assim, um valor pragmático interessante, pois Groddeck o
concebe como sendo condicionado e aberto às relações do todo, ao mesmo tempo
em que atribui a ele limites, os quais, para quem busca entender a enfermidade,
funcionam como balizas que impedem que se perca na imensidão das relações
presentes no todo.
A doença é, pois, um modo de expressão do Isso assim como todas as
demais manifestações humanas também o são. Não obstante, vimos no capítulo
120
anterior que, para Groddeck, a enfermidade é um tipo de expressão que o
organismo só utiliza quando as vias saudáveis através das quais poderia se
manifestar encontram-se indisponíveis. Em outras palavras, a doença é o último
recurso empregado pelo Isso para se expressar. Ela é sempre um estado de
exceção. Nesse sentido, se o profissional de saúde guia sua atuação clínica a partir
da tese de que a doença é apenas um mal que faz o indivíduo sofrer e que deve,
portanto, ser extirpada para dar lugar à saúde, do ponto de vista groddeckiano ele
estaria prejudicando ainda mais o paciente, pois estaria eliminando a única via que
esse encontrara para se revelar. A retirada forçada de uma lesão que acompanha
determinado doente há 40 anos não significará simplesmente a remoção de um
sintoma que o sujeito portava. A intervenção incidirá no nível da própria identidade
do sujeito que fora organizada ao longo daqueles 40 anos tendo a lesão como um
elemento constante e fixo. A atitude beligerante não leva em conta, por conseguinte,
a função que a enfermidade exerce na vida do doente:
... acredito que seria bem melhor abandonar de vez a idéia do
combate e convencer-se de que é mais aconselhável para o
doente, o médico e as pessoas da nossa cultura, conceber a
doença como uma providência necessária do Isso,
oportunamente introduzida com finalidades determinadas e que
decerto pode ser nociva para o ser humano como um todo.
(GRODDECK, 1992, p. 136)
Groddeck propõe, então, que a doença, antes de combatida, seja
compreendida. Se o Isso só recorrer à linguagem da doença quando a da saúde
está inviabilizada, logo é preciso compreender porque essa situação está
acontecendo. Em outras palavras, as principais questões que o médico deve se
fazer perante o doente é: Por que esse indivíduo está precisando dessa doença? O
que o impede de se expressar por vias não dolorosas, saudáveis? Groddeck
acredita que espontaneamente o indivíduo tenda a se expressar por vias salutares,
de modo que a doença pode ser vista como a consequência de um bloqueio dessa
espontaneidade por alguma razão: “Portanto, pode-se admitir que o Isso não recorra
de bom grado ao recurso excepcional da doença, procurando retornar o mais breve
possível às suas formas habituais de expressão na vida saudável.” (GRODDECK,
1992, p. 103). O médico deve, portanto, buscar discernir as razões que levaram o
indivíduo a recorrer à doença, um procedimento que Groddeck costuma chamar de
“interrogar o Isso” (GRODDECK, 2008, p. 97) e que na prática diz respeito à
121
observação criteriosa e a uma escuta atenta e acolhedora que não fique restrita
àquilo que o paciente relata acerca do que vem sentindo corporalmente, mas que o
convoque a falar de si da maneira mais abrangente possível.
Tendo compreendido e ajudado o paciente a discernir os obstáculos que o
impediram de se manifestar por vias saudáveis, obrigando-o a recorrer às veredas
dolorosas da doença, cabe ao médico não buscar a eliminação da doença a
qualquer custo. Para Groddeck, uma extirpação pura e simples da enfermidade pode
resultar, de fato, no seu desaparecimento. Não obstante, não se pode considerar
que o doente tenha sido verdadeiramente tratado, pois não se tocou na função que a
doença desempenhava, ou seja, a ação de saúde não interveio sobre a gênese do
problema:
É claro que, na maioria das vezes, o caminho mais curto e
mais fácil para ajudar é atacar a sua doença, mas não deve ser
dessa forma; pois a doença é apenas uma forma de expressão
do isso sofredor, que acentua em voz alta a sua doença, a fim
de ocultar melhor ainda o seu segredo mais profundo.
(GRODDECK, 1994, p. 258)
Depois de “interrogar o Isso” e descobrir as motivações que o levaram a se
refugiar na doença, trata-se agora de estabelecer um processo de convencimento do
Isso. É preciso convencê-lo de que os perigos aos quais se julgara exposto e que
estavam impedindo-o de falar a linguagem da saúde, ao serem compreendidos
perderam a sua força destrutiva, de modo que a doença pode ser abandonada:
“Cabe primeiramente provar ao Isso doente e teimoso que ele pode sair-se bem
novamente, recorrendo às suas formas salutares de expressão.” (GRODDECK,
1992, p. 104)
No entanto, para o autor, esse trabalho de convencimento do Isso não é um
procedimento rápido e automático, resultante da simples conscientização das razões
que levaram o indivíduo a adoecer. Aliás, não é nem mesmo necessário esboçar
uma tentativa de convencimento do Isso em todos os casos. Para Groddeck, que,
nesse ponto, seguia integralmente as indicações de seu mestre Schweninger, a
grande maioria das doenças desaparece de maneira espontânea em função da força
da tendência de cura que é imanente ao organismo. O tratamento médico não é
indicado, portanto, para todo e qualquer adoecimento, mas apenas para aquele em
122
que é possível notar uma resistência do organismo à cura, a qual sobrepuja a
própria tendência à saúde:
Disse Schweninger: A grande maioria das doenças sara por si
mesma, indiferentemente de serem ou não tratadas; se não me
engano ele falou em 75%, que acho baixo demais; [...] Uma
outra parte das doenças em geral não melhora,
independentemente do tipo de tratamento adotado; pode-se
avaliá-la em 15%. Restam 10% que dependem realmente do
tipo de tratamento. – Não tem qualquer importância saber se
esses números são exatos ou não, mas permanece o fato de
que o tratamento raramente decide sobre sarar ou continuar
doente. (GRODDECK, 1994, p. 218)
As doenças que se encaixam no percentual de 25% ao qual Schweninger se
referia são concebidas por Groddeck como aquelas em que há a presença de uma
resistência. A idéia de que muitos doentes apresentam uma resistência ao
tratamento veio a lume para Groddeck mesmo antes de o autor travar seu primeiro
contato com a psicanálise. No entanto, o uso do vocábulo alemão Widerstand para
se referir a esse elemento que se instituía como obstáculo à terapêutica é uma
herança que Groddeck traz de sua inserção no campo psicanalítico. Com efeito,
Freud se dera conta da presença de uma resistência à conscientização do material
recalcado logo no início de sua atividade de psicoterapeuta, quando ainda
empregava a hipnose e a catarse como métodos de tratamento. Aliás, foi
precisamente a consideração da resistência, um dos elementos principais que
fizeram Freud abandonar aqueles métodos e inventar a psicanálise. A técnica
psicanalítica faria da resistência um objeto a ser trabalhado, não sendo tomada
como um simples obstáculo, como o era para a hipnose e o método catártico.
A originalidade de Groddeck foi ter notado a resistência presente não apenas
nos adoecimentos psíquicos, mas também nas enfermidades orgânicas. Todavia,
conquanto Groddeck tenha tomado o conceito de resistência de empréstimo da
psicanálise, há uma diferença no uso que o autor fazia do termo e o modo como
Freud e seus discípulos o empregavam.
Para o pai da psicanálise, a resistência se expressava primordialmente
através da dificuldade do paciente de recordar ou associar em seu discurso
conteúdos provenientes do inconsciente, ou seja, elementos que foram recalcados e
que, portanto, provocariam angústia ao serem trazidos à dimensão da consciência.
123
Em outras palavras, do ponto de vista psicanalítico, resistência é “[...] tudo o que nos
atos e palavras do analisado, durante o tratamento psicanalítico, se opõe ao acesso
deste ao seu inconsciente.” (LAPLANCHE & PONTALIS, 1992, p. 458).
Já para Groddeck, a resistência é uma força que dificulta não a abordagem do
material recalcado, mas sim a tendência presente em todo organismo de curar-se
espontaneamente. Em outras palavras, a resistência se expressa como uma
vontade de permanecer doente que busca incessantemente opor-se à vontade de
sarar. Para Groddeck, essas duas tendências estão presentes no organismo, de
modo que a resistência se manifesta quando a disposição à doença é tomada pelo
Isso como mais favorável à consecução de seus objetivos. “Em todos os seres
humanos há duas forças trabalhando ininterruptamente, a tendência à doença e à
recuperação, sendo que ambas se interpõem e se condicionam reciprocamente de
forma bastante intricada.” (GRODDECK, 1992, p. 177).
Como dissemos no capítulo anterior, a doença não raro constitui-se no único
recurso que o indivíduo é capaz de utilizar para conseguir se expressar dentro de
determinado contexto. Desde a infância somos expostos aos efeitos que o
surgimento
de
uma
doença
provoca
no
ambiente,
como
as
condições
paradoxalmente vantajosas que o doente adquire e principalmente um aspecto
peculiar às doenças orgânicas que é a capacidade de expressar e, ao mesmo
tempo, ocultar uma determinada mensagem. Com efeito, ao se apresentar
fenomenologicamente apenas como uma anomalia corporal, a enfermidade
somática não levanta suspeitas aparentes sobre os conteúdos aos quais pode estar
servindo como veículo de expressão. Analogamente, é como se, ao adoecer,
estivéssemos escrevendo uma carta numa linguagem que não conhecemos, mas
que só nós mesmos somos capazes de decifrar. Assim, conseguiríamos nos
expressar através da doença ao mesmo tempo em que impediríamos os próprios
destinatários da mensagem de lê-la.
Caso o indivíduo necessite continuar vivenciando a mesma situação que
ensejou o surgimento da doença, sendo forçado a utilizar a patologia como modo de
expressão, a vontade de adoecer sobressairá sobre a tendência à cura, sendo a
resistência a expressão dessa dinâmica:
124
[...] o Isso, tendo descoberto que é bem mais fácil transmitir
uma mensagem através da doença que da saúde, persiste
nessa atitude, escolhendo entre a suscetibilidade, um estado
enfermiço passageiro ou doenças crônicas: até mesmo um
bebê, que dispõe relativamente de poucos meios de
expressão, sente que ficar doente é um meio infalível de
exercer o poder. (GRODDECK, 1992, p. 104)
Nesse sentido, o verdadeiro alvo do tratamento médico não deve ser a
doença, mas sim a resistência do doente à cura, resistência que, por sua vez, é
apenas a manifestação da existência de condições específicas que motivaram a
eclosão e manutenção da doença como forma de solução. A terapêutica deve,
portanto, buscar descobrir as razões que têm determinado a permanência da
doença ou, em outras palavras, por quais motivos o indivíduo ainda recorre à
enfermidade para se expressar. Evidentemente, essa tarefa só será possível de ser
concretizada se o profissional de saúde colocar em primeiro plano o discurso do
doente. É o próprio paciente quem fornecerá as pistas para o entendimento de sua
resistência. Por conta disso, Groddeck preconiza que, caso o médico adote o
método psicanalítico como recurso terapêutico para a investigação da resistência,
ele deve evitar interpretações de sua própria lavra, isto é, deve permitir que o próprio
doente decodifique seus sintomas e assim consiga chegar por si mesmo às razões
que o tem levado a se aferrar à doença. Com efeito, interpretações propostas pelo
médico podem servir justamente para o objetivo contrário ao tratamento, ou seja,
como mais um meio de resistência. No trecho abaixo, Groddeck expõe de maneira
didática o que, do seu ponto de vista, deve ser feito pelo médico nos casos que
efetivamente demandam intervenção médica, ou seja, nos quais há a presença de
resistência:
Em primeiro lugar, [o médico] deve saber que o doente resiste.
Então, assim como faz a pessoa que está procurando a agulha
de olhos vendados, deve procurar descobrir a razão da
resistência, com base em cada palavra, cada movimento, cada
sinal de vida da saúde ou da doença, deixar que se manifeste
toda a resistência, tudo o que há na consciência do doente,
tudo que é resistência inconsciente e passível de ser
conscientizada, e levar o doente a interpretar aquilo que é
vegetativo ou impossível de ser conscientizado. O médico não
deve fazer a interpretação: geralmente a sua interpretação é
utilizada como novo meio de resistência... (GRODDECK, 1992,
p. 179)
125
Mais uma vez reiteramos que nossa proposta aqui não é a de que a medicina
deva, para superar os impasses que vivencia, adotar integralmente as teses de
Georg Groddeck acerca da doença e do tratamento. Nosso interesse é o de
demonstrar que as indicações desse autor fornecem aportes teóricos férteis para se
pensar em possíveis soluções para aqueles impasses. No que diz respeito à
superação da postura beligerante e controladora da biomedicina que, como vimos,
gera uma série de problemas tanto no âmbito da eficácia dos procedimentos
terapêuticos quanto no que concerne à satisfação dos usuários dos serviços de
saúde, Groddeck aponta alguns caminhos frutíferos. O primeiro deles seria o
entendimento da doença como um fenômeno de expressão do indivíduo, ou seja, de
algo que decorre dele e não que o acomete. Essa compreensão levaria o
profissional a reconhecer a indissociabilidade entre a patologia e o indivíduo que a
manifesta. Esse reconhecimento, por sua vez, impediria a adoção de práticas
beligerantes cujo foco fosse apenas a extirpação da doença, pois se a doença não é
vista como algo “alienígena” que se apossa do indivíduo, mas sim como uma
expressão da pessoa, logo, ao se atacar a doença, se estará combatendo também o
doente. Groddeck propõe, então, que a doença seja abordada do ponto de vista da
compreensão, de modo que o foco do tratamento passa a ser não mais a doença em
si, mas o indivíduo e suas relações, complexo do qual a enfermidade é apenas o
produto final. No tocante a isso, o autor vai ainda mais longe ao assinalar que um
dos fatores principais que levam ao surgimento da doença é o uso vantajoso que se
pode fazer da patologia em determinados contextos, o qual pode levar o indivíduo a
prescindir da cura e se aferrar à enfermidade, dinâmica que Groddeck chamou de
resistência.
3.4 A transferência na relação médico-paciente
Um dos principais alvos de crítica ao modelo biomédico nos últimos anos tem
sido a pouca ou mesmo nenhuma valorização da relação médico-paciente como um
elemento que interfere diretamente na evolução do tratamento. A intermediação
entre o profissional de saúde e o doente pelas novas tecnologias de diagnóstico e
tratamento tem levado à perda gradual dos aspectos subjetivos que caracterizam o
encontro terapêutico em qualquer tipo de medicina. A presença do médico como
126
uma pessoa que fornece cuidados tem cada vez mais cedido espaço aos objetos
tecnológicos, sobretudo os medicamentos. Esse é um aspecto peculiar à
biomedicina. Nas demais racionalidades médicas, a intersubjetividade presente na
relação entre o profissional de saúde e o doente foi sempre levada em conta.
O sonho de fazer da medicina uma ciência natural é o elemento que está na
base desse esquecimento dos fatores subjetivos que permeiam o encontro
terapêutico. Com efeito, a estrutura conceitual que estabelece as condições para
que um conhecimento seja reconhecido como científico na tradição moderna
pressupõe que a subjetividade deve ser rechaçada devido à alegação de que ela
perturba a objetividade que deve caracterizar a postura científica. Nesse sentido, se
pensarmos no encontro terapêutico dentro de uma concepção em que a medicina
seja considerada como uma ciência, não encontraremos uma relação de confiança e
de suposição de saber como ocorre nas demais racionalidades médicas. Teremos
de um lado alguém que se impõe a tarefa de atuar cientificamente e do outro o
paciente que, nesse momento, se torna objeto do conhecimento. A tarefa do médicocientista é a de extrair objetivamente o conhecimento acerca daquele que ali se
constitui como seu objeto e de tratá-lo com a mesma objetividade. Evidentemente,
trata-se de uma quimera, de um engano ao qual a medicina sempre estará fadada a
cair na medida em que considere possível essa transformação de um encontro
relacional humano em um procedimento científico.
A subjetividade não é um elemento descartável da relação médico-paciente
em função do fato de que o médico jamais conseguirá subtrair-se a si mesmo de
modo a constituir-se num olhar limpidamente objetivo e de que o paciente, por sua
vez, não pode encarnar-se plenamente como um mero objeto do conhecimento.
Temos, portanto, inevitavelmente, não uma relação de conhecimento entre um
sujeito e um objeto, mas uma interação afetiva entre dois sujeitos.
Em geral as críticas que o modelo biomédico recebe acerca do tema da
relação médico-paciente dizem respeito à existência nessa racionalidade médica da
falta de consideração dos aspectos emocionais que se fazem presentes de maneira
explícita no encontro terapêutico, como medos e ansiedades vivenciados pelo
paciente, os quais, pela transformação da consulta médica num procedimento
meramente mecânico, não podem ser expressos. Argumenta-se que tais elementos,
127
não sendo levados em conta, acabam incidindo de forma deletéria no curso do
tratamento, de modo que se perde bastante em eficácia médica devido a essa
percepção limitada do profissional, olhar que não alcança elementos daquela ordem.
O ponto de vista groddeckiano vai além daquilo que se manifesta
explicitamente na relação médico-paciente. Aliás, para Groddeck, aquilo que se
presentifica de maneira visível no encontro terapêutico é apenas o efeito de uma
rede de relações implícitas que acabam encampando o médico. É o que veremos a
seguir.
Desde a época em que atuava como auxiliar de Schweninger, Groddeck já se
dava conta da importância que a personalidade do médico exercia no desenrolar do
tratamento. Foram justamente aspectos dessa natureza os fatores que decidiram a
eficácia do processo terapêutico empreendido por Schweninger com o chanceler
Bismarck. O médico se colocava numa posição de autoridade inquestionável,
tratando seu paciente com uma rígida disciplina. Para Groddeck, foi precisamente o
modo schweningeriano de se portar junto a Bismarck e não propriamente as
técnicas utilizadas pelo médico o que, de fato, ensejou a cura. Naquele momento,
Groddeck ainda não se dava conta das razões pelas quais aquele posicionamento
de Schweninger fora favorável à cura (GRODDECK, 1994). Sua única conclusão
fora a de que a personalidade do médico era um elemento essencial no tratamento.
Outra ocasião que levou Groddeck a notar a força exercida no tratamento por
elementos subjetivos presentes na relação médico-paciente foi o episódio que
relatamos no capítulo anterior em que os sintomas de mania de perseguição e
dificuldade em respirar apresentados por seu pai desapareciam no momento em que
o médico que cuidava dele adentrava o local em que se encontrava.
Essa experiência prévia à entrada de Groddeck na psicanálise lhe forneceu
as primeiras amostras daquilo que após a leitura dos textos de Freud, ele
reconheceria como a manifestação da transferência, um fenômeno curioso que está
presente em todas as relações humanas, mas que no campo específico da saúde
desempenha um papel muito importante.
A rigor, dentro da teoria psicanalítica, a transferência diz respeito à
atualização na relação com o profissional de saúde de modos de se relacionar com
o outro que o sujeito experimentou na infância. Esses modos de se relacionar com o
128
outro ficaram marcados na história do sujeito como uma espécie de estrutura que
condiciona suas relações interpessoais. Nesse sentido, todas as relações atuais que
o indivíduo estabelece com outras pessoas são mais ou menos condicionadas por
essa forma de se relacionar estabelecida na infância e que persiste ao longo da vida
como uma marca.
A fenomenologia da transferência na relação entre médico e paciente se
expressa tal como descrita de forma paradigmática por Freud, ou seja, como a
introjeção da figura do médico para o circuito de fantasias do sujeito. Nessa
dimensão, o médico virá a ocupar imaginariamente o lugar de pessoas significativas
na vida do indivíduo, de modo que gradativamente o mesmo padrão de interação
com o mundo que o sujeito estabelecia na vida fora do âmbito médico acaba sendo
levada para o consultório. Freud concebia esse processo como sendo incitado pela
entrada no tratamento e também como sua própria condição, considerando que só
se pode intervir sobre a fantasia que fundamenta os sintomas dos quais o sujeito se
queixa se essa fantasia se manifestar de forma concreta no presente da relação
terapêutica.
Conquanto Groddeck subscreva essa concepção de transferência e a utilize
nos relatos de alguns de seus tratamentos, o autor constrói uma nova visão acerca
do enlace transferencial que está diretamente associada à sua tese de que em todo
organismo existem duas tendências opostas: a disposição à saúde e a disposição à
doença. Seu foco parece ter se voltado não para a forma como se apresenta a
transferência no contexto clínico, mas sim para os objetivos que levam o Isso, o
indivíduo, a utilizar a transferência. Nesse momento, o conceito de Isso lhe é
bastante relevante, pois permite a ele pensar a transferência não apenas como a
atualização do universo de fantasias do sujeito no tratamento que ocorre à revelia de
suas intenções conscientes, mas como uma ferramenta que o Isso usa para atingir
aquilo a que em última instância tem como finalidade. Tais objetivos são decorrentes
das duas disposições com as quais o Isso tem que lidar: a tendência à doença e a
tendência à saúde.
Para Groddeck, os aspectos transferenciais mais relevantes a serem
considerados no tratamento de doenças orgânicas dizem respeito ao modo como
tais tendências se atualizam no cotidiano da relação terapêutica. Cada uma delas
129
transfere para o profissional de saúde seu modo de funcionamento característico na
vida fora do ambiente médico. Assim, a disposição à saúde encara qualquer coisa
que venha fortalecer a saúde do indivíduo com benevolência e receptividade. Nesse
sentido, o médico, supondo ser aquele que ajudará o indivíduo a recuperar-se, será
tomado por ela como um auxiliar, uma ferramenta útil para o restabelecimento da
saúde, pois, para Groddeck, o protagonista do tratamento não é o médico, mas sim
a disposição à saúde. Por outro lado, a disposição à doença encarará o profissional
de saúde como um inimigo na medida em que ele estaria, com seus procedimentos,
dificultando sua atualização. E, da mesma forma que no cotidiano a disposição à
doença faz uso de elementos tais como microorganismos ou condições que
favorecem o surgimento de uma doença para levar o organismo a adoecer, na
relação entre médico e paciente o médico será inevitavelmente tomado por essa
tendência como um objeto de uso. Em outras palavras, a disposição à doença
procurará utilizar os elementos da relação terapêutica para buscar a manutenção da
doença, ou seja, para resistir. Acerca dessa ambivalência que marca as relações do
indivíduo doente com o médico, Groddeck afirma o seguinte:
O Isso é ambivalente, brinca com a vontade e a relutância, com
o desejo e o desejo contrário, fazendo seu misterioso e
profundo jogo de ponderações, levando o doente a uma
posição dupla e dúbia frente ao médico, ao ver em sua figura
simultaneamente o melhor amigo que quer ajudá-lo e a quem
ele ama, e a ameaça à sua criação artística, a doença. É a
ambivalência que torna o paciente obediente, ao mesmo tempo
em que cria a resistência, o verdadeiro e único objeto de
tratamento, o campo de atuação do médico. (GRODDECK,
1992, p. 110)
Freud desde o início notara o fato de que a transferência é frequentemente
utilizada como uma forma de resistência, principalmente a transferência de cunho
mais erótico. Por exemplo, o paciente se apaixona por sua analista e isso o leva a
dirigir suas atenções mais para a pessoa da terapeuta do que para os objetivos do
tratamento. A transferência é, portanto, a reedição na interação terapêutica da
relação doentia que o sujeito estabelecia com o mundo. Nesse sentido, os aspectos
transferenciais precisam ser apontados e trabalhados. Do contrário, ou seja, ao não
serem levados em conta, podem continuar exercendo uma função de resistência ao
tratamento. Para Groddeck, o mais interessante em relação à transferência é o
objetivo ao qual ela está servindo, o qual frequentemente está ligado à disposição à
130
doença, que utiliza a fenomenologia transferencial para impedir o indivíduo de lidar
de maneira adequada com as questões que estão na raiz de sua doença.
Uma das manifestações mais freqüentes de transferência empregadas pela
disposição à doença como resistência é o repúdio a toda intervenção feita pelo
profissional de saúde. No cotidiano do cuidado em saúde, essa rejeição assume a
forma da tão falada “falta de adesão ao tratamento”. São os casos de pacientes que
não seguem as recomendações médicas, apresentando ou não motivos para tal. Na
época em que realizávamos na graduação em Psicologia um estágio em Psicologia
da Saúde em um ambulatório que atendia pacientes com lesões dermatológicas
crônicas, víamos com frequência casos dessa natureza. Havia pacientes que
possuíam todas as condições físicas e materiais para a realização adequada de
curativos no ambiente doméstico e simplesmente não os faziam, retornando ao
serviço com a lesão terapeuticamente estagnada ou, em alguns casos, até num
estado ainda mais grave. Outros pacientes, embora fizessem os curativos em casa
de maneira adequada, não seguiam as orientações da equipe de nutrição, ingerindo
alimentos que dificultavam o processo de cicatrização da lesão ou bebidas
alcoólicas as quais também exercem um papel danoso no tratamento.
Infelizmente, em função da filiação do modelo biomédico aos constructos
filosófico-conceituais da modernidade, entre os quais a tese de que há um sujeito
separado do resto do mundo e que esse sujeito é plenamente autoconsciente, casos
como os relatados acima são entendidos como sendo fruto da ausência no doente
da chamada “força de vontade” ou do seu não-comprometimento com sua saúde.
Trata-se de uma postura culpabilizante e que simplesmente não explica nada.
Permanece sem resposta a pergunta: por que, afinal de contas, aquele indivíduo não
está se comprometendo com o tratamento. A falta de adesão ao tratamento é
tomada, nessa racionalidade, como causa quando, na verdade, se trata de um
efeito. O paciente que não se engaja em seu próprio processo de cura tem suas
razões para fazê-lo e é tarefa do profissional descobrir essas motivações. Aliás, para
Groddeck, tal descoberta, ou seja, a investigação das resistências é a verdadeira
função do médico.
Groddeck traz, portanto, uma contribuição essencial para que a complexidade
da relação médico-paciente não seja reduzida àquilo que se manifesta de forma
131
explícita na interação entre o doente e o profissional de saúde. Trata-se de uma
relação que coloca em jogo uma série de fatores como a formação prática do
profissional, isto é, o que ele aprendeu acerca de como lidar cotidianamente com os
pacientes; conflitos de ordem socioeconômica, nos casos em que o médico situa-se
numa classe mais favorecida do que a do paciente; choques entre interpretações
distintas da doença, afinal não raro o paciente se apresenta ao médico com uma
interpretação da doença calcada na cultura da qual é proveniente, interpretação que
grande parte das vezes é simplesmente rechaçada pelo profissional. Para-além de
todos esses importantes aspectos, Groddeck está chamando a atenção para a
dimensão do imponderável, daquilo que não se pode controlar, mas se pode
discernir e analisar. Trata-se dessa capacidade especificamente humana de tirar
proveito do sofrimento, da dor, da doença. Como dissemos em outro momento,
Groddeck concebe a enfermidade como uma criação do Isso, uma obra de arte
dotada de uma engenhosidade própria. O tratamento, em decorrência, significa a
destruição dessa criação que de algum modo permitia ao indivíduo deixar intactas
determinadas questões com as quais não aprendera a lidar frontalmente. É natural
que a tendência que forjou a doença se apegue a ela e passe a considerar o médico
como um opositor, um adversário. E cabe ao profissional reconhecer com quem está
de fato lutando no processo de tratamento. Para a biomedicina o combate é à
doença e as conseqüências desse engano já foram mencionadas.
O que Groddeck está propondo efetivamente é que o médico passe a
reconhecer que aquilo que se opõe ao tratamento não é a enfermidade em si, mas o
próprio indivíduo e sua disposição à doença que não querem abandonar aquilo que
lhe permitia viver sofrendo, porém sem ter que se haver com os nós subjetivos de
sua existência. Isso não significa absolutamente que o médico deva tomar o próprio
paciente como inimigo. Sua tarefa é a de compreendê-lo e perceber os momentos
críticos em que a disposição à doença se manifestará de forma mais patente,
fazendo o médico ocupar imaginariamente o lugar do pai ou da mãe do doente a fim
de manter o adoecimento em vigência.
132
3.5 Dualismo biomédico e monismo groddeckiano
No primeiro capítulo vimos que um dos traços mais marcantes da
racionalidade científica moderna é a separação entre corpo e mente, dissociação
que de alguma forma reitera aquela feita entre corpo e alma alguns séculos antes
pelos filósofos gregos posteriores a Sócrates. Não se trata propriamente de uma
separação realizada de modo intuitivo, afinal nossa experiência de relação com o
mundo é única e indivisível. Não interagimos com o real ora com o corpo, ora com a
mente ou com ambos de modo dissociado. O que a racionalidade científica moderna
fez, principalmente a partir da filosofia de René Descartes – apenas para citarmos
um ponto de partida – foi conceber os referidos aspectos ou modalidades de nossa
experiência existencial como duas substâncias ou, em outros termos, como duas
coisas absolutamente distintas e que representavam a manifestação de dois mundos
separados: o mundo das coisas extensas, materiais e o mundo do pensamento ou
das coisas imateriais.
Também vimos naquele capítulo que se pode analisar genealogicamente tal
separação, compreendendo-a como uma tentativa de simplificação do real com
vistas a dirimir a angústia ensejada por sua complexidade. Com efeito, é uma
experiência muito mais tranqüila e apaziguadora pensar no real como sendo
constituído de duas substâncias que não possuem relação alguma uma com a outra
do que concebê-lo como multifacetado, possuidor de diferentes aspectos. Podemos,
pois, considerar o dualismo como parte da tendência geral da racionalidade
científica moderna de simplificar a complexidade inerente ao real através da criação
de categorias artificiais de separação, tais como as oposições entre indivíduo e
sociedade e natureza e cultura.
O modelo biomédico, na medida em que é erigido nas bases dessa
racionalidade, tomará a separação entre corpo e mente como um dado, uma
premissa, um postulado. Também no capítulo 1 acompanhamos as conseqüências
dessa tese no campo médico até chegar ao que atualmente se concebe como
verdade dentro da biomedicina, a saber, a existência de dois grandes grupos de
patologias: as doenças físicas ou orgânicas e as doenças mentais ou psíquicas. É
verdade que na contemporaneidade mesmo o segundo grupo tem sido subsumido
ao primeiro em função da tendência organicista que se inicia, como vimos, em
133
meados do século XIX, e que atualmente atinge o seu apogeu. De fato, doenças
para as quais anteriormente se concebia uma causalidade puramente psíquica como
esquizofrenia, transtorno bipolar (outrora psicose maníaco-depressiva), depressão,
transtorno obsessivo-compulsivo etc. são atualmente vistas, em muitas ocasiões,
como problemas referentes à fisiologia cerebral. Assim, um deprimido deixa de ser
descrito como um ser que se apresenta apático e melancólico em função de marcas
psíquicas derivadas de experiências relacionais específicas para ser referido como
um indivíduo em cujo cérebro os níveis de serotonina estão diminuídos, sem que,
por sua vez, essa diminuição de serotonina no cérebro seja vista como resultado de
condições ambientais, mas como defeitos inexplicáveis da estrutura cerebral.
Estamos passando hoje, portanto, de um dualismo que motiva a separação
entre doenças mentais e doenças orgânicas para um monismo organicista para o
qual a atividade psíquica é um mero subproduto do funcionamento cerebral e que
motiva o tratamento de doenças mentais somente através de intervenções
medicamentosas ou cirúrgicas.
Não obstante, cremos que ainda não se pode afirmar que o monismo
organicista tenha atingido o estatuto de consenso no interior da biomedicina,
conquanto avance para tal. Em decorrência, a separação entre doenças mentais e
doenças orgânicas continua vigente para grande parte dos profissionais gerando
diversos impasses que, diga-se de passagem, não serão resolvidos pela adoção de
uma ideologia organicista. Por outro lado, entre esses dois grandes grupos de
patologias, há um terreno nebuloso, prenhe de incoerências e contradições ao qual
se dá o nome de psicossomática. Tradicionalmente, as doenças que se localizam
nesse grupo compreendem enfermidades cuja forma de manifestação é orgânica,
mas cuja etiologia estaria relacionada predominantemente a elementos psicológicos.
É bastante comum se ouvir a alegação de que a criação do campo
psicossomático teria constituído um golpe contra a hegemonia da separação entre
corpo e mente na biomedicina, pois, em tese, evidenciaria a interação entre os dois
aspectos, de modo que o argumento de que seriam substâncias separadas estaria
sendo posto em xeque. Trata-se de um argumento falacioso. Com efeito, só se pode
falar que duas coisas são capazes de relacionarem-se entre si na medida em que se
admite como premissa que antes da relação acontecer ambas estavam separadas.
134
Em outras palavras, só podemos falar de incidência da psique sobre o soma se
aceitarmos previamente que essas duas dimensões não se encontram originalmente
imbricadas. Portanto, a condição de existência do campo psicossomático é o
dualismo: corpo e psiquismo só podem interagir porque se encontram previamente
separados.
Groddeck se deu conta dessa incoerência precocemente e, por conta disso,
nunca disse que trabalhava com doenças psicossomáticas. Aliás, um erro que
frequentemente se comete ao se fazer a história da chamada medicina
psicossomática é o de dizer que Groddeck teria sido um dos pais do campo
psicossomático na medida em que foi o pioneiro na investigação de patologias
orgânicas causadas por fatores de ordem psicológica. Com efeito, em 1926,
Groddeck escreve um texto chamado “Sobre o absurdo da psicogênese”
(GRODDECK, 1992) no qual deixa explícito seu posicionamento acerca da tese
dualista. Ele a nega veementemente recorrendo a um argumento simples: se algo
como uma psique fosse de fato uma substância separada do corpo, isso significaria
que ela poderia existir independentemente, ou seja, sem o aparato corporal, bem
como o corpo igualmente poderia se manter vivo sem a presença do psiquismo. Ora,
um corpo no qual não se constata a presença de manifestações de aspectos
psíquicos não é mais um corpo e sim um cadáver. Nesse sentido, a tese dualista
teria que recorrer, para se justificar, à hipótese de um mundo transcendente e
teórico onde haveria corpos sem psique e psiques sem corpo, pois no mundo das
experiências concretas dos indivíduos, corpo e psique coexistem o tempo todo, de
modo que se torna incoerente querer pensá-los como duas coisas separadas:
O corpo é algo morto, portanto não pode adoecer; nós já nos
esquecemos que nossos antepassados, em vez da palavra
corpo (Körper), usavam a expressão cadáver (Lichnam), como
os holandeses ainda utilizam, assim como os ingleses só usam
a palavra corps no sentido de cadáver. Não sei se existe uma
alma, uma psique independente e imaterial, ainda não travei
conhecimento com um ser dessa natureza. Mas nem todos os
que estão convencidos da existência de um mundo dos
espíritos são loucos. Talvez haja algo semelhante. Mas com
toda a certeza esses espíritos, se existirem, não podem ficar
doentes no nosso sentido humano, pois para tanto é preciso o
corpo. (GRODDECK, 1992, pp. 125-126, grifos do autor)
135
Eis a crítica de Groddeck ao pensamento dualista, crítica que evidencia que o
autor jamais concebeu as enfermidades com as quais trabalhava como afecções
psicossomáticas. Partindo do argumento exposto pelo autor nessa citação, a divisão
entre doenças somáticas e doenças mentais é absolutamente equivocada. Só se
poderia falar de doenças exclusivamente somáticas caso fosse possível conceber
um corpo sem psique que fosse capaz de adoecer. Nesse caso hipotético, sim,
poder-se-ia dizer que ocorreu um adoecimento sem a participação de qualquer
elemento psicológico. Não obstante, sabe-se que só um corpo vivo, ou seja, em que
há a presença de uma realidade psíquica, pode de fato adoecer. Nesse sentido, em
toda doença haveria a participação de fatores referentes à dimensão orgânica e à
dimensão psíquica do indivíduo, “[...] logo se deduz que não há ‘organismo’ e
‘psiquismo’, nem doenças físicas ou psíquicas e sim que são sempre os dois a
enfermar ao mesmo tempo, em quaisquer circunstâncias.” (GRODDECK, 1992, p.
125)
Ao se adotar esse ponto de vista, que se baseia não em especulações
metafísicas, mas na observação da experiência concreta de adoecimento dos
indivíduos, sem reflexões de cunho transcendente que perdem de vista o fenômeno,
falar sobre a existência de doenças psicossomáticas perde todo o sentido, pois
todas as doenças seriam, de fato, psicossomáticas. É precisamente essa tese que
fundamenta a atuação clínica de Groddeck. Ainda que o autor tenha ficado
conhecido por propor a abordagem da chamada doença orgânica a partir da
psicanálise, isso não significa que ele tenha se debruçado apenas sobre os
elementos subjetivos presentes no adoecimento. Groddeck fazia sempre questão de
afirmar que o método psicanalítico era, para ele, apenas uma das armas de seu
arsenal terapêutico. O autor, portanto, nunca fez apologia à utilização exclusiva da
psicanálise no tratamento das doenças. O objetivo principal tanto dos seus escritos
dirigidos aos psicanalistas quanto daqueles encaminhados à comunidade médica
era o de defender a possibilidade do uso do método psicanalítico, o que se
coadunava com seu posicionamento teórico que concebia a interação entre as
dimensões orgânica e psíquica em toda enfermidade.
Trata-se efetivamente, no pensamento de Groddeck, de conceber corpo e
psiquismo como dimensões de uma realidade única e indivisível, o Isso. Como vimos
no capítulo precedente, para o autor, o psíquico e o somático são apenas duas
136
formas de abordar o Isso ou dois modos diferentes de se referir à totalidade
individual. “São apenas denominações cômodas para melhor entender certas
singularidades da vida; no fundo, ambas são uma mesma coisa” (GRODDECK,
2008, p. 111). Logo na primeira carta que envia a Freud, Groddeck já deixa claro seu
posicionamento acerca dessa questão: “... formara-se em mim a convicção de que a
distinção entre corpo e alma é apenas uma diferença de nome e não de essência;
que o corpo e a alma são alguma coisa de comum, que neles habita um Isso, uma
força pela qual somos vividos, enquanto nós acreditamos viver.” (GRODDECK,
1994, p. 05).
Ao pensar em corpo e psique como dois modos de manifestação do Isso,
Groddeck poderá prescindir da separação consagrada na biomedicina entre
doenças orgânicas e doenças mentais. Com efeito, essa separação por si só já
produz um efeito deletério no cuidado em saúde, pois, ao adotá-la como parâmetro
de atuação, o profissional de saúde é levado a se dirigir ao doente com idéias préconcebidas a respeito do que se passa com ele, o que obstaculiza a apreensão de
sua singularidade. Por exemplo, ao se deparar com um doente oncológico, o médico
que se baseia nessa divisão entre doenças do corpo e doenças da psique irá
inevitavelmente
reduzir
sua
percepção
apenas
aos
aspectos
orgânicos
apresentados pelo paciente, negligenciando a dimensão psicológica associada, de
modo que a totalidade individual será reduzida apenas a um corpo, um organismo.
Nesse sentido, a primeira grande contribuição de Groddeck ao propor que
corpo e psiquismo sejam vistos como duas modalidades de apresentação do Isso e
não como duas essências separadas é a eliminação da separação estéril entre
doenças orgânicas e doenças mentais: “Em outras palavras, recusei de antemão
separar doenças do corpo e doenças da alma; tentei tratar o ser individual em si, o
isso que existe nele; procurei um caminho que levasse ao impenetrado, ao
impenetrável.” (GRODDECK, 1994, p. 05)
É óbvio que para fins meramente didáticos ou classificatórios, a distinção
permanece útil. De fato, as doenças se diferenciam pela proeminência de
manifestações somáticas ou psicológicas. Todavia, essa separação ao ser levada
para o âmbito clínico e, sobretudo, ao servir de guia para a abordagem médica,
possui pouca utilidade, a não ser que o elemento central do atendimento ao paciente
137
seja o diagnóstico e não o tratamento. Como vimos anteriormente, a biomedicina
tende a enfatizar em demasia o processo de diagnóstico, o que Groddeck critica
veementemente. Não obstante, considerando que se trata efetivamente de um
equívoco e que a real finalidade do encontro entre o profissional de saúde e o
doente é a terapêutica, alocar o paciente dentro das categorias “doente orgânico” e
“doente psíquico” é evidentemente um procedimento infrutífero.
Com efeito, o que o médico possui diante de si é um doente e não uma
doença orgânica ou uma doença psíquica. Trata-se de um indivíduo único e que se
apresenta com a doença em toda a sua especificidade, que não é nem somente
orgânica nem apenas psíquica, mas que porta ambos os aspectos ao mesmo tempo.
Concebendo, portanto, o somático e o psíquico como linguagens que o Isso pode
utilizar segundo seus próprios critérios, o médico é levado a se mostrar aberto e
valorizar toda e qualquer expressão do indivíduo, seja ela orgânica ou psíquica. É
essa postura, inclusive, a necessária para a construção de um diagnóstico do ser
humano e não da doença, conforme discutimos anteriormente.
Quando as categorias “doença orgânica” e “doença mental” são eliminadas,
descarta-se conjuntamente a noção de “doença psicossomática”. Esta é, a meu ver,
a principal contribuição que Groddeck traz ao campo da saúde pela rejeição do
pensamento dualista. Com efeito, a existência do chamado campo psicossomático
paradoxalmente reforça o organicismo vigente no modelo biomédico, pois os
profissionais que trabalham na clínica de “doentes orgânicos” se eximem de adotar
uma leitura subjetiva dos sintomas justamente por poderem encaminhar os
pacientes em que verificam a presença de alguma comorbidade psicológica para a
vala comum da psicossomática. ‘Os psicólogos e psiquiatras que se virem! Nós só
trabalhamos com o corpo’ é o discurso que se pode depreender de seu gesto.
A substituição do dualismo pelo monismo levaria à extinção do campo
psicossomático na medida em que ele seria extenso a ponto de englobar toda e
qualquer patologia. Em decorrência, todo profissional da saúde seria levado a tomar
um ponto de vista integral sobre o doente, uma perspectiva que contemplasse a
dimensão orgânica e ao mesmo tempo fosse capaz de uma leitura psicológica do
adoecimento. É precisamente isso o que Groddeck preconiza: que todo profissional
de saúde seja capaz de utilizar um método de leitura subjetiva dos sintomas do
138
doente, o que não consiste em um procedimento demorado, tampouco caro. Basta
que o profissional se disponha a ouvir e a acolher o doente em sua totalidade,
estando atento para perceber as vinculações entre suas queixas e sua história
subjetiva.
Como já assinalamos em diversas passagens anteriores, Groddeck não
sugere em nenhum momento que todo profissional de saúde esteja capacitado e
efetivamente realize algo como um processo completo de psicanálise do doente.
Diferentemente de Freud e de boa parte de seus discípulos, Groddeck jamais
concebeu o método psicanalítico como um processo que só é efetivo dentro de uma
análise propriamente dita, ou seja, um tratamento psíquico que se desenvolve ao
longo de vários anos. Para o médico de Baden-Baden, a psicanálise era
essencialmente uma técnica eficaz de investigação e tratamento de sintomas,
passível de ser utilizada por qualquer profissional de saúde, sem que esse
necessariamente tivesse que passar por um processo de formação em psicanálise:
Repito mais uma vez o que já disse em várias ocasiões que,
para finalidades de tratamento, geralmente não é necessária
uma análise “profissional” ou o que se chama de “análise
completa” com algum exagero, ou o que, com um exagero
maior ainda, se considera como o único recurso válido. Se
realizar uma análise completa fosse uma conditio sine qua non,
o método analítico não teria nenhuma serventia para o médico.
Mas isso não é verdade. Todo médico, por mais restrito que
seja o seu tempo, tem condições de fazer um tratamento
analítico e logo irá convencer-se de que tal método representa
um enriquecimento do seu instrumental. (GRODDECK, 1992,
p. 171, grifo do autor)
A agregação do método psicanalítico ao conjunto dos procedimentos médicos
é pensada por Groddeck numa perspectiva pragmática. Em outras palavras, o autor
a defende tendo em vista seu potencial de utilidade prática, especialmente nos
casos em que o indivíduo não se recupera com um tratamento baseado unicamente
em técnicas como curativos e cirurgias. Nesses casos, o profissional não precisaria
encaminhar o paciente a um profissional da área psi – encaminhamento que só
reforça a separação entre corpo e psique – mas ele próprio poderia investigar o
sentido do adoecimento através do uso da técnica psicanalítica. Ambos sairiam
ganhando: tanto o médico que teria à sua disposição um recurso a mais para tentar
ajudar o doente, quanto esse último, que não precisaria ser levado a outro
139
profissional, provavelmente carregando a fama de ser um doente que não adere ao
tratamento ou que está simulando seu adoecimento.
Numa carta dirigida a um paciente que nos é desconhecido, Groddeck deixa
claro que não está propondo de modo algum que os profissionais de saúde passem
a utilizar somente a psicanálise como método de tratamento, mas que seu desejo é
de que a técnica seja incorporada ao arsenal terapêutico no campo da saúde com
vistas à sua utilização em ocasiões propícias:
Tome um caso de uma doença declaradamente orgânica,
digamos uma fratura de osso. Seria tolice querer tratar
psiquicamente uma fratura dessas, faz-se uma ligadura. O que
acontece, porém, se a fratura não sara sob a atadura? Pode-se
operar etc. Mas, às vezes, nem assim a fratura fica curada.
Não seria então aconselhável pensar no milagre da formação
do órgão? No fato de que, no ser humano, antes de existir o
osso, já existia a força para a criação do osso; que essa força
era um excelente químico, físico, pensador, matemático, muito
antes que ela criasse o órgão do pensamento do cérebro? [...]
Mas o meio psíquico vale tanto quanto o bisturi, ou o choque
elétrico ou a massagem, um não exclui o outro. O importante é
encontrar o que convém ao doente. (GRODDECK, 1994, p.
113)
Nota-se, portanto, que a recusa do dualismo permite a Groddeck uma grande
liberdade na escolha do método terapêutico mais apropriado a cada caso. Como o
próprio autor afirma na citação acima, o critério para tal escolha é o próprio doente,
de modo que o que serve de parâmetro para determinar qual tipo de técnica será
utilizado são as próprias manifestações individuais do paciente, às quais o
profissional de saúde deve estar atento e aberto a compreender: “O médico nada
pode fazer senão observar atentamente a linguagem do Isso, sua maneira de
expressar-se física e psiquicamente, e adivinhar o que ele quer, oferecendo-lhe o
que adivinhou.” (GRODDECK, 1992, p. 120).
Como dissemos anteriormente, corpo e psique são vistos por Groddeck não
só como dois modos de expressão do Isso, mas como linguagens das quais a
totalidade individual se serve para manifestar suas intenções. Analogamente, os
profissionais do cuidado em saúde, ao rejeitarem o dualismo, estariam se
capacitando a entender ambos os dialetos do Isso: o psíquico e o orgânico. De fato,
essa capacitação permitiria um atendimento integral ao ser humano doente e não
140
apenas a seu corpo ou ao seu psiquismo isoladamente, como tem sido a marca do
modelo biomédico.
Para finalizar esta seção é conveniente salientar que o monismo proposto por
Groddeck como alternativa para o dualismo corpo/mente e seus respectivos
impasses não é o mesmo monismo que hoje parece ser advogado principalmente
pelas neurociências, a saber: o monismo organicista ou materialista, ao qual já
fizemos referência acima. Os teóricos que defendem o monismo organicista
postulam que todos os fenômenos de ordem psicológica e subjetiva podem ser
reduzidos a alterações anátomo-fisiológicas do sistema nervoso central, ou seja, o
psiquismo seria apenas um produto ilusório cuja base real estaria nas modificações
da estrutura cerebral. Trata-se, portanto, no que concerne a esse tipo de monismo,
de uma hipótese reducionista que busca restringir toda a complexidade da
subjetividade aos limites de um organismo sem intencionalidades.
O monismo proposto por Groddeck, por seu turno, busca promover uma
operação oposta à descrita acima, isto é, em vez de reduzir o psiquismo à dimensão
orgânica, incluir ambos dentro de uma mesma totalidade. Nem o psíquico pode ser
reduzido ao orgânico nem o orgânico ao psíquico já que se trata de duas
modalidades de expressão de um todo único que é, ao mesmo tempo, psíquico e
orgânico. O Isso, essa totalidade única, é simultaneamente um corpo carregado de
símbolos e de história subjetiva e um psiquismo arraigado em um corpo.
3.6 Inserção da doença na história subjetiva do doente
O que vamos abordar nesta seção já foi ressaltado em linhas gerais ao longo
deste capítulo. No entanto, consideramos que se faz necessário um tratamento mais
aprofundado do tópico com vistas a frisar o posicionamento de Groddeck acerca das
relações entre doença e história subjetiva e as contribuições que podem ser
extraídas a partir de suas postulações.
Como temos visto desde o primeiro capítulo, uma das principais condições
teórico-conceituais que viabilizaram a elevação da medicina ao estatuto de ciência
foi a construção de um objeto de estudo específico, o qual veio a ser a doença. Esse
expediente, porém, como é de praxe no campo científico, não se constituiu apenas
141
no ato de localizar o objeto doença dentro do conjunto de eventos e relações que se
processam no real. A elaboração de um objeto científico pressupõe, para-além de
sua localização na natureza, uma atividade de circunscrição, de recorte, que seja
capaz de fazer emergir o objeto do emaranhado de relações presentes no todo.
Como vimos no primeiro capítulo, esse segundo passo pode ocorrer de dois modos:
no primeiro, o recorte do objeto é feito sem que se perca de vista sua vinculação
necessária com o todo, ou seja, reconhece-se que o ato de circunscrição consiste
apenas em uma forma relativa de aproximação com um objeto que só existe
isoladamente na medida em que é tomado como um ente de razão na mente do
cientista. No segundo modo, o recorte do objeto é considerado como equivalente de
sua representação perfeita, ideal. Em decorrência, a separação do objeto do todo
original é concebida como uma tarefa que visa retirá-lo das amarras da imperfeição
natural e elevá-lo a uma suposta limpidez essencial.
Foi dessa segunda forma que a medicina procedeu ao estabelecer a
enfermidade como objeto de estudo. A transformação dos processos de
adoecimento em espécies patológicas foi justamente uma tentativa primeira de fazer
das doenças objetos isolados, de existência fixa e eterna. Assim, o fato de que a
doença consiste em um fenômeno especificamente humano, isto é, que se articula
intimamente aos aspectos singulares da condição humana, se tornou obscurecido.
Isso ocorreu porque ao se isolar a doença como um objeto independente e
destacável e se considerar que tal isolamento constituía a própria essência da
patologia, as vinculações indissociáveis do adoecimento com a vida humana ficaram
perdidas. A enfermidade passou a ser vista, então, como alguma coisa que
originalmente não se encontra atrelada ao homem, mas que passa a estabelecer um
relacionamento com ele a partir do momento em que invade seu corpo e perverte
seu funcionamento orgânico. Destarte, o ser humano é posto numa posição de
passividade e a doença adquire contornos de um invasor inimigo.
Com a entrada em cena da anatomia patológica, passou-se a admitir a
vinculação da doença com um único aspecto da existência humana, a saber: o
corpo. Todos os sintomas possuem uma lesão correspondente no organismo, é o
estandarte da clínica anátomo-patológica. Todavia, esse aparente resgate da
vinculação do adoecimento ao humano acaba servindo apenas para radicalizar a
separação ainda mais deletéria entre doença e vida, considerando que as lesões
142
correspondentes aos sintomas são buscadas na superfície e reentrâncias de um
corpo que não é dotado de vida, seja ele o cadáver ou a imagem produzida pelos
aparelhos modernos. A conexão com a vida, isto é, com as relações humanas, com
o corpo vivo e em movimento, com a linguagem, com a cultura etc. permanece
perdida. Se no nascimento da medicina científica, a doença era uma entidade
isolada da vida humana, fixa e imutável, com o advento da anatomia patológica ela
passa a ser uma entidade fixa e imutável cujas manifestações se dão em uma
máquina morta.
Os impasses e limitações aos quais a biomedicina é levada ao adotar esse
entendimento da doença como guia de atuação clínica são vários. O mais óbvio
deles é o fato de que, ao conceberem a patologia como um objeto originalmente
isolado da existência humana, os profissionais de saúde que trabalham a partir do
modelo biomédico estarão lidando inadvertidamente com uma ficção. Com efeito, o
problema, a nosso ver, não está no fato de se trabalhar com ficções. Aliás, não há
nenhum campo científico que não faça uso de ficções na medida em que, como
temos dito, apoiados em Groddeck, não há objeto científico que não tenha a
consistência de ficção, considerando que todos eles são recortes de um todo único e
indivisível. O problema está em se trabalhar com ficções conceituais desconhecendo
o fato de que se trata de ficções e considerando-as como a própria representação do
real que, supostamente, seria em si já recortado. É nesse erro ideológico que o
cuidado em saúde na biomedicina tende a incorrer o tempo todo.
Conseqüentemente, o olhar do profissional de saúde será inevitavelmente
reduzido, pois ao receber um doente que lhe demanda cuidado, seu foco repousará
naquilo que no discurso do paciente diga respeito exclusivamente aos traços e
características de uma determinada entidade patológica e perderá de vista as
inúmeras conexões que as queixas apresentadas pelo doente estabelecem com
aspectos de sua experiência subjetiva. Além disso, em função do predomínio e do
valor conferido às imagens e aos números como elementos supostamente
reveladores da verdade do corpo, frequentemente deixa-se o paciente falar por
poucos minutos e logo se o encaminha para a realização de exames, os quais se
supõe que fornecerão ao profissional as informações essenciais acerca do que se
passa com o paciente.
143
Reiteremos que ao agir assim o profissional de saúde não está exercendo o
que comumente se denomina de “má prática médica”. Pelo contrário, trabalhando
dessa forma tal profissional é considerado por seus pares e pela própria sociedade
como exemplo de clínico competente e responsável na medida em que não se atém
à fala do doente, mas busca informações supostamente mais seguras e fidedignas
em exames laboratoriais e de imagem. É evidente que tais exames são de grande
valia no âmbito do cuidado em saúde e não devem ser descartados. Não obstante, o
que questionamos é seu lugar de preeminência em relação à fala daquele que sofre.
Trata-se de um questionamento que tem em vista a própria eficiência do
atendimento. Ao compreender a doença como algo do qual o indivíduo sofre, ou
seja, como uma espécie de ente estranho que invadiu seu corpo e que, portanto,
pode ser expulso dele tal como num ato de exorcismo, o profissional de saúde se
torna cego para a dimensão expressiva da doença, à qual fizemos uma considerável
menção nas seções anteriores. Quando a patologia é vista sob o signo da expressão
e não como uma entidade localizada no corpo, ela passa a ser pensada não como
causa, mas como efeito. De fato, no modelo biomédico, a doença é tomada como o
elemento causal que desencadeia a série de reações das quais o paciente se
queixa. A lógica dos processos de adoecimento e cura subjacente a essa
racionalidade parece ser a seguinte: num primeiro momento o indivíduo se encontra
são; em seguida, a doença se apossa de seu corpo ocasionando um desvirtuamento
de suas funções corporais implicando em um conjunto de dores, incômodos e
sofrimentos; o doente se encaminha a um profissional de saúde na esperança de se
ver livre de tais mal-estares; o profissional, a partir de suas queixas e,
principalmente, a partir das tecnologias de imagem e exame, “descobre” qual o ente
patológico que se apossou do paciente e, num último momento, prescreve uma
terapêutica (geralmente medicamentosa) que tem como finalidade atacar a doença,
de modo a expeli-la do corpo do doente.
Note-se que ao longo de todo esse processo em nenhum momento as
articulações entre a enfermidade e a vida do doente foram postas em jogo. Isso se
deve precisamente ao fato de que a doença, nesse modelo, é concebida como algo
distinto do doente, radicalmente separado dele. Se nosso ponto de vista, no entanto,
for o de que a patologia constitui-se em um modo de expressão do sujeito, jamais se
poderá perder de vista as relações de mútua determinação que ela mantém com a
144
vida do paciente como um todo. Mais: em hipótese alguma o tratamento será
pensado como uma estratégia de ataque e eliminação da doença. Seria como
querer destruir a obra de um artista sem investigar as razões que o levaram a
produzi-la. É precisamente nesses termos, como já assinalamos, que Groddeck
pensa a doença: como uma produção, uma criação que, obviamente, leva o criador
ao sofrimento, mas que, todavia, consiste em uma expressão individual, assim como
uma obra de arte.
Foi uma paciente que Groddeck chama apenas de “Srta. G” em “O livro dIsso”
(GRODDECK, 2008), que o médico tratou antes de conhecer a psicanálise, quem o
fez atentar de modo mais intenso para as relações que as doenças mantinham com
variados aspectos da experiência individual. Tal paciente exerceu para Groddeck um
papel análogo ao que Anna O. e as primeiras histéricas de que tratou tiveram para
Freud. Assim como esse último teve acesso ao campo do pensamento inconsciente
e, em decorrência, às vinculações entre os sintomas neuróticos e o mundo de
fantasias inconscientes, Groddeck foi levado pelo tratamento da Srta. G a perceber
as articulações entre o adoecimento orgânico e elementos de ordem subjetiva, como
símbolos, pensamentos e fantasias, chegando a dizer que foi essa paciente quem o
obrigou a tornar-se psicanalista (GROODECK, 2008).
Groddeck tratou da Srta. G durante aproximadamente quatorze anos, após
ela lhe ter sido encaminhada por um colega que não depositava mais esperanças
em sua recuperação. Groddeck não aborda diretamente o quadro clínico da
paciente, dizendo apenas que ela sofria de sintomas orgânicos e psíquicos. A
atenção do médico foi atraída principalmente para certas particularidades
encontradas na fala e no comportamento da doente que, aparentemente,
contradiziam uma inteligência que até então se mostrara acima da média:
Para a maioria dos objetos ela usava perífrases, de modo que
por exemplo dizia, no lugar de armário, ‘aquela coisa de roupa’
ou, no lugar do cano do aquecedor, ‘aparelho para fumaça’. E
dizia não suportar certos gestos, por exemplo, morder os lábios
ou brincar com essas bolotas que decoram as cadeiras. Vários
objetos, que nos parecem indispensáveis à vida cotidiana,
estavam banidos do quarto da paciente (GRODDECK, 2008, p.
211)
145
Num primeiro momento, Groddeck sequer suspeitava do que poderia estar
em jogo no desencadeamento das idiossincrasias da Srta. G, mas logo atentou para
um aspecto transferencial relevante que se manifestava no fato de que a paciente
havia aceitado vê-lo sozinha, sem a companhia da irmã, o que nunca havia
acontecido nos tratamentos anteriores com outros médicos. Groddeck supõe que
isso se deveu ao fato da Srta. G ter visto nele a figura de sua própria mãe. Através
do manejo transferencial, o médico consegue levar a paciente a se engajar no
tratamento, de modo que paulatinamente as chaves para a decifração de suas
perífrases e, conseqüentemente, de seus sintomas começam a aparecer. Trata-se
do momento em que Groddeck se dá conta do simbolismo. Percebe, assim, que as
relações que as palavras, imagens e objetos guardam com o todo fazem com que
tais elementos sejam capazes de assumir diversas significações:
Travei conhecimento com os símbolos. Isso deve ter
acontecido de modo insensível, pois não me lembro de quando
percebi que uma cadeira não era apenas uma cadeira mas
podia ser um mundo, que o polegar é o pai, que ele pode
calçar botas de sete léguas e tornar-se depois, na forma de um
índice esticado, símbolo da ereção; que um forno aquecido é
uma mulher ardente e que o tubo da caldeira é o homem; que a
cor negra desse tubo causa um medo inefável porque é o
negro da morte, porque esse inocente aquecedor representa as
relações sexuais de um homem morto com uma mulher viva
(GRODDECK, 2008, p. 215)
Nesse sentido, a quase impossibilidade da Srta. G de pronunciar certas
palavras e encarar certos gestos e objetos era resultante do fato de que ela se
defendia de uma significação intolerável que lhe era evocada diante de
determinados elementos. Essa evocação, por sua vez, era possível em função da
tendência do pensamento humano em associar representações mentais, tendência
que Groddeck caracteriza como sendo propriamente uma compulsão associativa.
A experiência clínica de tratamento da Srta. G modificará radicalmente o
ponto de vista de Groddeck a respeito do adoecimento. Conquanto o médico desde
o início de sua carreira tenha se situado numa posição de crítica à biomedicina, à
época em fase de gestação, é o encontro com o simbolismo que marcará o advento
de uma compreensão inédita da doença até então por parte de Groddeck. Durante a
primeira guerra mundial, atuando em um hospital militar, o médico testará as
hipóteses clínicas cunhadas no tratamento da Sra. G, quais sejam, a de que a
146
realidade simbólica exerce um papel fundamental no desencadeamento de
patologias orgânicas e a de que, por conta disso, uma estratégia terapêutica que
vise trazer à luz a significação simbólica dos sintomas pode ser bastante profícua.
Os resultados alcançados por Groddeck comprovam a validade de tais hipóteses:
Durante os meses que passei no hospital militar, experimentei
meu método de análise, embora bárbaro e marcado pelo
diletantismo – que eu aliás conservo – nos feridos e constatei
que uma ferida ou fratura reagia à análise do Isso tanto quanto
uma infecção renal, um coração doente ou uma neurose
(GRODDECK, 2008, p. 216)
Para-além das noções de simbolismo, compulsão associativa, transferência,
resistência etc. o que Groddeck averiguou efetivamente foi o fato de que a doença é
um acontecimento que se encontra desde sua raiz inserida na realidade humana,
uma realidade que é marcada pela cultura, pelo imaginário, pela fantasia. Em outras
palavras, “... a doença é uma manifestação de vida do organismo humano”
(GRODDECK, 2008, p. 217)
Essa asserção aparentemente banal ao ser compreendida em toda a sua
extensão e profundidade altera de maneira essencial o modo como a doença é
encarada e o que se deve fazer com ela. Se a doença é uma manifestação da vida,
isso significa que ela não pode ser pensada como uma anomalia ou como um
evento contrário a uma suposta ordem natural das coisas. Considerar a doença
como fenômeno vital implica em incluí-la no conjunto das demais manifestações da
vida, como a escrita, a fala, o andar etc. Por conseguinte, assim como não se supõe
que um modo de falar equivocado deva ser tratado mediante a eliminação abrupta
da fala em si mesma, do mesmo modo o tratamento da doença não pode ser
pensado como um ataque à enfermidade e a busca de sua extirpação a qualquer
custo:
Em outras palavras, não posso utilizar, em relação a um paciente,
procedimentos diversos dos que utilizo em relação a quem escreve, fala ou constrói
mal; em síntese, porque ele recorre à doença e o que pretende exprimir com isso.
Tratarei de me informar a respeito junto a ele, junto ao Isso, sobre os motivos que o
levaram a usar esse procedimento, tão desagradável para ele quanto para mim;
conversarei com ele e depois verei o que fazer (GRODDECK, 2008, p. 218)
147
Essa espécie de conversa com o Isso do doente, que Groddeck advoga aqui
como sendo um procedimento frutífero de tratamento, se contrapõe de maneira
explícita à abordagem biomédica da doença que, por não conceber a patologia
como estando inserida numa história individual e articulada a elementos de ordem
subjetiva, não cogita jamais a hipótese de que o indivíduo porta um saber que, ao
ser posto à baila, pode ser útil ao tratamento. Com efeito, o único saber efetivo na
biomedicina é o saber universal sobre o corpo e suas funções. É desse saber que o
profissional de saúde se faz representante. Saber hegemônico que não deixa
espaço para o saber que não sabe de si, como dizia Jacques Lacan ao definir o
inconsciente, nem para qualquer outro tipo de saber experiencial ao qual o doente
pôde ter acesso, como a sabedoria tradicional transmitida por seus antepassados.
Justamente por escamotear esse saber que vem do sujeito, imprevisível e
singular, o modelo biomédico não consegue lidar com fenômenos que, por não
obedecerem à lógica prescrita no saber universal concernente ao corpo, se impõem
como furos nesse saber. Trata-se das patologias que mencionamos no primeiro
capítulo, caracterizadas por sintomas vagos e difusos, que não apresentam
correspondência com nenhuma lesão corporal, inviabilizando uma abordagem
terapêutica que faz referência apenas à dimensão orgânica do adoecimento.
Queixas dessa ordem não se encaixam no modelo de compreensão das doenças da
biomedicina bem como não respondem a seus métodos organicistas de tratamento
precisamente porque se apresentam como a expressão mais bem acabada da
indissociável articulação entre corpo e história subjetiva. Se nas demais
enfermidades cujas queixas se situam predominantemente na esfera corporal essa
articulação necessita de um trabalho de observação e escuta um pouco mais ativo
para que possa vir à luz, no caso das doenças de sintomas vagos e difusos, sua
função de resposta a questões de ordem subjetiva se mostra patente. Trata-se de
pacientes que, em seu discurso, mesclam queixas de cunho emocional e orgânico,
denunciando as duas faces de um indivíduo que sofre por inteiro e que, portanto,
não pode mesmo responder a uma abordagem terapêutica que se faz cega para
essa totalidade complexa e que o reduz apenas ao corpo.
Ao propor que a doença deva ser considerada uma expressão criadora do
indivíduo, uma resposta autêntica do sujeito, ainda que dolorosa e incômoda, a sua
história de vida, Groddeck torna inviáveis esses impasses enfrentados pela
148
biomedicina. Seja o sintoma vago ou definido, emocional ou físico, ele sempre será
uma manifestação da vida, do indivíduo da subjetividade. Em outros termos, ele
sempre será índice de um saber marcado no corpo, um saber particular sobre a
vida, que Groddeck personifica na figura do Isso, ora brincalhão, ora teimoso.
149
4. POR UM NOVO MODELO DE CUIDADO EM SAÚDE: ARTICULANDO AS
CONTRIBUIÇÕES DE GRODDECK A ASPECTOS FILOSÓFICO-CONCEITUAIS
Neste último segmento de nosso trabalho, cujo tom será eminentemente
propositivo, nossa intenção é a de promover um diálogo entre os resultados
alcançados pela pesquisa no capítulo anterior, a saber: as contribuições de Georg
Groddeck para a superação de impasses vivenciados pelo modelo biomédico e
aportes teórico-conceituais provenientes de autores, sobretudo da área da filosofia,
que vêm pensando paradigmas alternativos para o cuidado em saúde.
Consideramos este capítulo necessário para que as contribuições de
Groddeck não sejam tomadas pelo leitor como subsídios teóricos pontuais e
isolados das discussões atuais que se apresentam no campo da saúde. Com efeito,
ao promovermos essa articulação entre as propostas groddeckianas e as
contribuições de autores clássicos e contemporâneos, acreditamos ser possível
demonstrar que as idéias do autor nunca foram tão atuais e tão úteis à reflexão
hodierna sobre saúde. Para tanto, nosso dever aqui será o de deixar claro que boa
parte das contribuições extraídas do pensamento de Groddeck para o campo da
saúde se insere no interior de uma metadiscursividade composta da produção de
diversos autores que igualmente fazem críticas aos fundamentos conceituais e à
lógica de funcionamento da biomedicina e que, ao mesmo tempo, apontam
alternativas para a constituição de um novo modelo de cuidado em saúde.
Cremos ter demonstrado, tanto no segundo quanto no terceiro capítulos,
ainda que de maneira implícita, que se encontram presentes no pensamento de
Groddeck uma série de pressupostos, postulados, princípios e tomadas de posição
filosófica específicos, os quais, certamente, orientaram o rumo de suas reflexões e
fizeram com que elas fossem alçadas da dimensão da mera opinião para o âmbito
do saber. É precisamente esse conjunto de fundamentos teórico-conceituais que
será nosso foco de análise neste capítulo. Veremos, portanto, de que modo tais
pressupostos se relacionam com as propostas conceituais de autores clássicos e
contemporâneos a fim não só de demonstrar a atualidade do pensamento
groddeckiano como também o de fortalecer e corroborar suas contribuições
expostas no capítulo precedente.
150
4.1 Retomando o problema central: a concepção de natureza
No primeiro capítulo, a fim de circunscrever os impasses que a racionalidade
biomédica enfrenta, um de nossos principais focos de análise foi a concepção de
natureza que se encontra implícita na biomedicina. Vimos que a crise do modo
medieval de organização social fundado a partir de premissas religiosas na Europa
foi sucedida por uma transformação radical na maneira como os homens
compreendiam o estatuto do humano e suas relações com o outro e com o mundo.
De uma sociedade em que a noção de indivíduo não possuía qualquer interesse
prático posto que a vontade divina se instituísse como o controle soberano da
existência, passou-se a um mundo que, para fazer frente às injunções do real, fora
levado a colocar a ação autônoma humana no lugar outrora ocupado pela idéia de
Deus. Nesse contexto, a separação radical entre o que se denominou de
racionalidade humana e mundo natural – que já se manifestava de modo menos
explícito na Idade Média a partir das categorias cristãs de espírito, virtude e pecado
– se impõe de modo mais bem acabado conceitualmente.
Se tomamos a filosofia de Descartes como ilustração privilegiada dessa
separação, levando em conta sua distinção teórica pioneira entre res cogitans e res
extensa é por negligenciarmos deliberadamente a herança filosófica aristotélicoplatônica cujas influências na cultura européia se fizeram presentes desde séculos
antes de Descartes – Agostinho e Tomás de Aquino o comprovam.
Conforme explicamos, seguindo os argumentos de Martins (1999), se em
Aristóteles, discípulo de Platão, não encontramos a cisão explícita feita por seu
mestre entre um mundo transcendente composto de idéias verdadeiras e um mundo
experiencial marcado pela imperfeição e pelo falso, observamos no filósofo
macedônio a mesma busca platônica de um conhecimento universal capaz de
ultrapassar e explicar o caráter aparentemente contingente dos fenômenos.
Portanto, se em Platão encontramos as raízes de uma modernidade cartesiana que
estabelece a racionalidade numa condição de supremacia em relação à natureza,
em Aristóteles antevemos a tendência cientificista moderna – que produzirá seus
efeitos no cuidado em saúde – de ter como alvo não a compreensão do real, mas a
instituição de leis universais capazes de regulá-lo.
151
Com efeito, temos nesses dois pensadores da antiguidade as matrizes de
pensamento acerca da natureza que serão expressas na modernidade. Trata-se da
visão do mundo natural (1) como algo que, sem a intervenção humana, se manifesta
de modo caótico e, portanto, ameaçador e (2) como um objeto de estudo
absolutamente distinto da subjetividade humana, entendida num primeiro momento
como a capacidade intelectual humana de atingir a verdade.
Concordamos com Martins (1999) quando sustenta que, de um ponto de
vista genealógico, pode-se compreender essa dupla visão da natureza como
tributária de uma estratégia defensiva dos pensadores modernos, bem como de
seus antecedentes socráticos, frente à angústia eliciada pela percepção da
complexidade da natureza. A angústia emerge em função da impossibilidade de
fazê-la funcionar de acordo com nossos desejos de onipotência. Como a
modernidade preferira insurgir-se contra a resistência da natureza em se adaptar a
tais desejos em vez de colocar essas próprias intencionalidades em xeque, a saída
foi construir ficções acerca do funcionamento do mundo natural, de modo que
nossos desejos de onipotência pudessem continuar existindo. Assim, inventou-se
uma natureza que, de modo paradoxal, foi vista como sendo a princípio puro caos e
que só a partir da intervenção racional humana se torna ordenada, mas cuja
condição de possibilidade de ser regularizada se deve precisamente ao fato de
portar de modo inerente as leis descobertas pela razão.
Essa visão paradoxal e confusa da natureza, isto é, como um ser caótico e
ao mesmo tempo mecânico, incidirá no âmbito da medicina moderna que, como
vimos, passa a se instituir a partir do século XIX como ciência das doenças. De um
lado se tem o corpo como res extensa, parcela da natureza, cujas leis universais de
funcionamento podem ser descobertas na medida em que elas se encontram, desde
o princípio, inscritas na superfície do vivente. Basta que se as saiba ler. De outro, as
doenças que, embora a princípio tenham sido categorizadas em espécies, famílias e
classes, o que expressa a idéia de uma ordenação patológica natural, foram desde o
início da medicina moderna tomadas como manifestações de uma natureza
perigosa, isto é, como inimigos naturais cuja existência se prestaria unicamente a
colocar a dos humanos em risco.
152
Essa maneira de pensar a doença, a qual permanece vigente, como
demonstramos, até os dias atuais é bastante ilustrativa da relação entre a
concepção moderna de natureza e nossas aspirações demasiado humanas. Com
efeito, só se pode admitir a enfermidade como um inimigo natural adotando-se o
pressuposto de que o critério a partir do qual se deve julgar o funcionamento do
mundo seja o bem-estar humano. Trata-se de um imaginário concernente à natureza
que a concebe como sendo dotada de vontade e capaz de erros e acertos. A
doença, assim como os desastres naturais, os acidentes climáticos e uma série de
outros eventos atribuídos ao “ente” natureza seriam, a partir dessa lógica,
comprovações de que o mundo natural se encontra numa relação de oposição em
relação ao homem, ou seja, de que o ser humano para sobreviver e desenvolver-se
precisa estabelecer-se em permanente confronto com a natureza, buscando domá-la
e fazê-la funcionar de acordo com seu desejo. Em outras palavras, conquanto se
reconheça que a natureza é a fonte de todos esses eventos que causam dor e
sofrimento ao homem, paradoxalmente, por não se ajustarem ao bem-estar humano,
tais acontecimentos são imaginariamente percebidos como “antinaturais”, ou seja,
como falhas de uma natureza supostamente providencial. O próprio Groddeck, na
oitava carta de seu Livro dIsso, assinalou a vinculação entre esse uso narcísico das
categorias de “natural” e “antinatural” e o projeto moderno de dominação da
natureza:
Já falamos a respeito da expressão “contra a natureza”. Para
mim, essa é uma das expressões da megalomania do homem,
que pretende ser senhor e mestre da natureza. O mundo é
dividido
em
duas
partes:
aquilo
que
convém
momentaneamente ao ser humano é natural; aquilo que o
desagrada, ele considera antinatural. (GRODDECK, 2008, p.
61)
A criação de uma ficção de natureza, uma natureza imaginária, cujo modo
de funcionamento seria integralmente mecânico, análogo ao dos artifícios humanos,
foi a forma que a modernidade encontrou de fazer existir a batalha pelo controle da
natureza. Guerra quixotescamente perdida, como o demonstraram as duas grandes
guerras ocorridas no século XX bem como os problemas ambientais que se
adensam no XXI. A racionalidade humana é convocada a depor suas armas e
reconhecer que a natureza só se manifesta como da ordem do imponderável e do
incontrolável quando justamente se pretende estabelecer sobre ela um domínio.
153
Desde o segundo capítulo, verificamos como Groddeck é radicalmente
avesso a esse ideário moderno. Adotando um tom acidamente censurador e não
raro mordaz em suas diversas críticas à ciência moderna, o médico de Baden-Baden
deixa claro que suas formulações acerca do adoecimento estão assentadas em
outro paradigma, o qual, a nosso ver, vai ao encontro justamente das reflexões
contemporâneas que vem sendo feitas em função dos impasses a que chegou a
racionalidade moderna. Tentemos circunscrever esse paradigma a partir da análise
de alguns aspectos do pensamento do autor.
4.2 Ego, Isso, cultura, natureza
Tomemos inicialmente o conceito de ego na obra groddeckiana. Ao contrário
de Freud e de toda a tradição moderna para a qual a noção de um sujeito era
imprescindível, para Groddeck, o ego, seja ele tomado em seus aspectos
conscientes ou inconscientes, é apenas um fantoche nas mãos do Isso. Alguém
poderá retorquir que o próprio Freud já teria operado essa subversão no conceito de
ego quando propôs a hipótese do inconsciente. A nosso ver, todavia, conquanto
reconheçamos o caráter copernicano da revolução provocada pela introdução do
conceito de inconsciente, uma análise fiel da obra freudiana não nos permite supor
que o pai da psicanálise seja tão radical quanto Groddeck com relação ao estatuto
do ego. De fato, Freud, mesmo na segunda tópica, quando faz derivar o ego do id,
persiste pensando o primeiro numa relação de oposição com o último, antinomia que
apenas reproduz o confronto moderno entre razão e natureza ou entre cultura e
natureza. No trecho abaixo, retirado do texto “O ego e o id”, vemos de forma
bastante explícita como Freud segue levemente a inspiração groddeckiana, fazendo
do ego uma parcela do id, ao mesmo tempo em que nega essa mesma inspiração,
persistindo na manutenção da dicotomia moderna natureza/cultura:
É fácil ver que o ego é aquela parte do id que foi modificada
pela influência direta do mundo externo, por intermédio do
Pcpt.-Cs. [Sistema percepção-consciência]; em certo sentido, é
uma extensão da diferenciação de superfície. Além disso, o
ego procura aplicar a influência do mundo externo ao id e às
tendências deste, e esforça-se por substituir o princípio de
prazer, que reina irrestritamente no id, pelo princípio de
realidade. Para o ego, a percepção desempenha o papel que
154
no id, cabe ao instinto. O ego representa o que pode ser
chamado de razão e senso comum, em contraste com o id, que
contém as paixões. Tudo isso se coaduna às distinções
populares com que estamos familiarizados; ao mesmo tempo,
contudo, só deve ser encarado como confirmado na média ou
‘idealmente’. (FREUD, 1996b, pp. 38-39, grifo do autor)
Vemos, portanto, que o ego para Freud continua sendo o representante da
racionalidade e o id a expressão da natureza. Mais adiante no texto, como se sabe,
Freud introduzirá a figura do superego como representante da moralidade. As três
instâncias relacionar-se-ão predominantemente de maneira conflituosa, assim como
a relação entre natureza e cultura na modernidade é pensada sob o signo do
conflito.
Groddeck, por seu turno, levará às últimas conseqüências a sentença
nietzscheana segundo a qual “Isso pensa.”. Não há, do ponto de vista groddeckiano,
conflito entre o ego e o Isso simplesmente porque o primeiro não é nada mais do
que um emissário do segundo, um desdobramento da totalidade individual voltada
para o mundo externo e que obedece unicamente aos ditames do Isso e não aos
interesses de fora. Mesmo quando o ego se manifesta demonstrando uma
ignorância acerca das intencionalidades do Isso trata-se de uma estratégia do
próprio Isso que, paradoxalmente, revela-se ao mesmo tempo em que se oculta. Em
outras palavras, o caráter aparentemente alienado e opaco do ego em relação ao
Isso não é atribuído, como em Freud, ao fato de a primeira instância ser formada
substancialmente de identificações e de estar a serviço do princípio de realidade.
Para Groddeck, essa função egóica de desconhecimento é proposital e serve à
finalidade de fornecer ao homem uma ilusão sem a qual ele não pode viver, a saber:
a ilusão do livre-arbítrio. Por mais que, mediante um raciocínio ainda que superficial,
se chegue à conclusão de que o livre-arbítrio não existe, que todo comportamento
humano, como qualquer fenômeno, é determinado por causas que lhe antecedem,
vivemos a maior parte do tempo sem pensarmos nisso, crendo na ilusão de que
somos a causa suficiente de nossos atos. Essa crença imaginária – sem a qual
talvez o homem se visse preso a uma inércia absoluta e a idéia de responsabilidade
seria, no mínimo, estranha – só é possível em função da existência de um ego que a
priori desconhece as causas de seus comportamentos.
155
Não dá para resolver o problema da liberdade. Não sou capaz
de dizer a esse respeito outra coisa senão que: Sabemos,
porque somos humanos, que não existe liberdade;
acreditamos, porque somos humanos, que existe liberdade.
Somos obrigados pelo nosso isso a saber e a acreditar.
(GRODDECK, 1994, p. 245)
Vemos, portanto, que, para Groddeck, as ilusões a que está sujeito o ego
não fazem com que entre ele e o Isso se estabeleça uma relação de conflito, pois
tais ilusões são propriamente efeitos do Isso, ou seja, não são produzidas fora, mas
a partir dele e são necessárias como forma de sustentar a experiência humana.
Nesse sentido, se tomarmos o ego, tal como Freud, como o representante da
racionalidade e da civilização e, da mesma forma, o Isso como a natureza em nós,
concluiremos que, para Groddeck, razão e cultura não são distintas e opostas à
natureza. Pelo contrário, ambas são formas de expressão, modos de manifestação
de uma natureza que passa a ser entendida não mais como objeto, mas como fonte
ou substância.
4.3 Spinoza, a natureza como substância única e o conatus
É justamente a concepção da natureza como o todo, como a única
substância existente e não como o reino do imponderável e do caos que necessita
da dominação da razão humana que encontraremos em um filósofo que,
curiosamente, produziu seu pensamento em um momento histórico em que a
modernidade encontrava-se em plena alvorada, a saber: o século XVII. Trata-se do
já citado pensador holandês Benedictus de Spinoza (1632-1677). Embora tenha sido
um competente aluno das lições da filosofia de René Descartes, chegando mesmo a
escrever uma obra chamada Princípios de filosofia cartesiana, Spinoza formula um
pensamento, cuja mais límpida elaboração encontra-se em sua Ética, que se
estabelecerá numa relação de descontinuidade radical com a filosofia de Descartes.
Isso porque, diferentemente deste último, Spinoza propõe – e demonstra – que não
podem existir duas substâncias, mas uma única, sendo toda a variedade de
expressão12 das coisas no mundo, modos específicos e singulares da substância
12
Embora utilizemos determinadas vezes o termo “expressão” para nos referirmos aos modos e atributos da
substância, convém assinalar que, de fato, na Ética, Spinoza faz uso da palavra “afecção” em sua definição de
modo. Lançamos mão do primeiro termo por entendermos que, didaticamente, ele permite ao leitor leigo uma
156
única. Nesse sentido, res extensa e res cogitans que na filosofia cartesiana eram
concebidas como as duas substâncias existentes passam a ser vistas como dois dos
infinitos atributos da substância única, a qual Spinoza também chamará de Deus e
de Natureza.
A diferença entre “modos” e “atributos” pode ser descrita da seguinte forma:
um atributo, de acordo com a definição que Spinoza propõe na Ética é aquilo que o
intelecto humano consegue perceber como constituindo a essência da substância
(SPINOZA, 2009). O filósofo menciona que nosso intelecto é capaz de perceber dois
dos infinitos atributos da substância: a extensão (res extensa) e o pensamento (res
cogitans). Já a categoria de modo refere-se a tudo aquilo cuja existência está em
outra coisa e foi por ela concebido. Ou seja, o modo não é causa de si mesmo,
propriedade essa que é exclusiva e definidora da substância. Logo, como só pode
existir uma única substância, todas as coisas existentes em sua multiplicidade de
formas são apenas modos, afecções, mudanças de estado da substância.
Uma analogia pode nos auxiliar a compreender melhor essa relação entre
modos e substância: sabe-se que a molécula de água é composta por dois átomos
de hidrogênio e um de oxigênio. Tomemos essa molécula como personificando a
substância. Seus modos seriam, portanto, os estados físicos em que essa molécula
pode se apresentar: líquido, sólido e gasoso. De fato, conquanto uma pedra de gelo,
um vapor de água e a água líquida propriamente dita sejam fenômenos distintos,
trata-se apenas de três modos de H2O. Todos os três acontecimentos são, em
essência, H2O.
O que gostaríamos de sublinhar é precisamente a idéia de que, para
Spinoza, todos os fenômenos e entes existentes compartilham uma mesma
essência, na qual existem e da qual provêm. Martins (1998) sintetiza esses aspectos
da doutrina spinozana da seguinte forma:
apreensão mais facilitada das relações entre atributos, modos e substância. Precisamente a esse leitor nos
dirigimos agora com a seguinte ressalva: a palavra “expressão” pode evocar a idéia de uma ação que traz algo da
obscuridade para a luz. Todavia, não é disso que se trata em Spinoza. Com efeito, durante principalmente os
escólios e o apêndice da primeira parte da Ética, o filósofo toma precauções contra o fato de sua doutrina ser lida
desse modo, considerando que a tese de que aquilo que existe em ato poderia ter existido outrora em potência,
tendo sido apenas manifestado, contradiz por inteiro o núcleo da filosofia spinozana, pois, para admiti-la, tornarse-ia necessário supor compulsoriamente uma cisão no real entre um mundo manifesto e um mundo a advir, o
que é absurdo.
157
[...] se há apenas uma única [substância], não é possível que
suas criações existam fora dela - pois se somente há uma
substância, não é possível que haja um “fora” a ela. As coisas,
assim, são pela substância e na substância. E no entanto não
são acidentais. São, portanto, dentro da substância, e dela
constituídas essencialmente.
Em outras palavras, são
modificações da substância, modos individuados desta ser. E
mais, se se trata de uma única substância, esta não pode
constituir-se de partes, distintas e separáveis mecanicamente pois neste caso teríamos, tal qual em Descartes, por exemplo,
duas substâncias: a res cogitans e a res extensa. Pensamento
e extensão constituem assim apenas dois atributos essenciais
da substância, ou seja, dois aspectos ou características
intrínsecas à substância, atribuídas a ela pelo homem aspectos reais, percebidos pelo homem. (MARTINS, 1998, pp.
2-3)
A adoção dessas teses implica numa transformação radical no modo de
encarar as relações entre o cuidado em saúde e as enfermidades. Se a natureza já
não é uma substância que se opõe a outra, a razão humana, as doenças já não
podem mais ser alocadas na categoria de inimigos aos quais se deve exterminar. No
paradigma spinozano, tanto a racionalidade humana, da qual decorre a medicina
seja ela científica, homeopática, oriental etc., como também a patologia são ambos
facetas de uma mesma natureza. Logo, a relação que deve ser estabelecida entre
os dois fenômenos não deve passar pelo conflito, mas pelo discernimento e pela
compreensão, considerando que estão referidos a um manancial constitutivo
comum.
Nessa perspectiva, a doença não pode ser pensada como um evento que
contraria um suposto fluxo natural da realidade. Trata-se, com efeito, como o afirma
o próprio Groddeck, de uma manifestação mesma da vida, uma linguagem do Isso,
um modo13 da natureza afetar-se. Esse ponto de vista nos parece mais interessante
principalmente porque, diferentemente do anterior, ele não nega a complexidade do
real. Quando se pensa a enfermidade como a manifestação de uma natureza
caótica, um vilão que se deve destruir com a força do heroísmo médico, tende-se a
13
Ao promovermos esse cotejamento entre as teses de Groddeck e a filosofia de Spinoza estamos passando
deliberadamente ao largo da distinção entre modos e atributos por considerarmos que a tentativa de explorar essa
diferenciação no interior do pensamento de Groddeck extrapolaria os limites do presente trabalho. Fazemos uso,
portanto, apenas da tese spinozana de que todos os fenômenos existentes constituem-se em modos da substância
única, argumento que nos permite pensar a existência de uma relação análoga entre a doença e o Isso.
158
reificar a patologia, como o fez de modo explícito a medicina das espécies14. A
doença passa a ser uma coisa, uma essência, cuja causalidade é mecânica e linear,
fator que faria da medicina, no limite, uma ciência exata. Já quando a enfermidade é
vista como decorrente da necessidade e não da contingência 15 ou da possibilidade,
o amplo espectro de multideterminações do fenômeno patológico se abre e o
observador passa a ter diante de si não mais um princípio linear de causalidade,
mas uma imensa variedade de eventos que, conjuntamente, levaram ao advento da
doença. Obviamente, a elucidação de toda essa rede de fatores determinantes não
poderá jamais ser completamente trazida à luz. Não obstante, a mera percepção da
patologia como sendo um evento que não poderia não ter ocorrido ou ocorrido de
modo diferente, mas que emergiu de modo necessário, já faz com que o observador
amplie sua visão do fenômeno a ponto de englobar fatores de diversas ordens como
ambientais, sociais, psicológicos, emocionais, culturais etc.
Portanto, ao propor a tese de que a natureza não é a antípoda da cultura,
mas que essa última constitui-se em um dos modos de ser da primeira, a qual pode
ser tomada como o todo, como substância única, fonte e essência de tudo o que
existe, Spinoza fornece um aporte filosófico útil para sustentar a proposição
groddeckiana da doença como uma manifestação necessária da vida e não como
uma contingência a ser amputada da existência.
Para quem, como eu, vê na doença uma manifestação de vida
do organismo, a doença não é mais uma inimiga. Essa pessoa
não pensará mais em combater a doença, não tentará curá-la;
vou mais longe, nem mesmo a tratará. Para mim, seria tão
absurdo tratar uma doença quanto tentar responder a suas
provocações apontando as traquinagens em suas cartas de
modo gentil e delicado, sem respondê-las. (GRODDECK, 2008,
p. 217)
Esse trecho um tanto enigmático de O Livro dIsso nos serve de ocasião para
colocarmos em pauta outro aspecto da concepção groddeckiana da doença e que
nos levará ao ponto de vista do autor acerca da natureza. Como o mostra a citação,
Groddeck defende claramente a tese de que não se deve de modo algum tentar
curar uma doença e, talvez, nem sequer tratá-la. Não obstante, na analogia que se
14
Cf. Capítulo 1.
Aliás, no escólio 1 da proposição 33 da Ética, Spinoza esclarece que, do seu ponto de vista, encarar algo como
contingente ou possível significa desconhecer parcial ou totalmente as causas de sua existência.
15
159
segue, o autor esclarece que não se trata da adoção de uma postura de passividade
do profissional de saúde frente ao adoecimento, mas da escolha pela melhor forma
de responder à enfermidade. Depreende-se da analogia feita pelo autor que as
tentativas de cura ou tratamento seriam respostas ingênuas à doença, semelhante a
uma vítima que tentasse convencer pacientemente e de modo amável seu algoz a
não matá-la. Trata-se, portanto, de respostas que não levariam em conta a função
que a doença está desempenhando com sua existência, o que traz à baila
novamente aquilo que ressaltamos no encerramento do capítulo anterior, isto é, que,
para Groddeck, a patologia é índice de um saber inscrito no corpo. Nesse sentido, a
busca pela cura e o tratamento, no contexto do trecho citado, seriam estratégias que
teriam em vista, em última instância, meramente o desaparecimento da doença e
não a resposta à pergunta: “O que Isso quer dizer?” que encaminha o profissional de
saúde da doença em si para aquilo que só pôde se manifestar através da doença.
Em outros contextos, no entanto, especialmente em seus primeiros escritos
pré-psicanalíticos, Groddeck não utiliza os termos “cura” e “tratamento” como
elementos de um mesmo pacote de respostas à doença. Seguindo o pensamento de
seu mestre em medicina Ernst Schweninger, Groddeck conceberá o tratamento
como a única possibilidade de abordagem da doença ao alcance do profissional de
saúde. Com efeito, a capacidade de curar seria uma propriedade exclusiva da
natureza. O tratamento englobaria, portanto, todos os tipos de intervenção em saúde
cujo papel seria unicamente o de auxiliar, facilitar, contribuir para a cura, sendo essa
um decreto ao qual apenas a própria natureza poderia ratificar.
Para sustentar esse ponto de vista, Groddeck é obrigado a lançar mão de
uma concepção antropomórfica da natureza, a qual, a um leitor incauto, pode levar à
suposição de que a natureza escolheria de modo inteiramente arbitrário o momento
em que levaria a doença a desaparecer. No entanto, se analisarmos as idéias
groddeckianas à luz das teses spinozanas veremos que elas não precisam de um
antropomorfismo para serem validadas.
Tomemos a tese da cura como um processo que só é passível de ser
realizado pela natureza tomada como o todo e não pelos profissionais de saúde.
Anteriormente, vimos que a doença, pensada a partir de Spinoza, pode ser
concebida, como todos os demais fenômenos, como um modo da natureza, ou seja,
160
como algo cuja existência depende de outras coisas. Assim, a enfermidade seria um
efeito de uma configuração múltipla de fatores colocados em jogo pela interação do
homem consigo mesmo e com o ambiente. Nesse sentido, para que o efeito doença
pudesse desaparecer, necessariamente os fatores que o levaram a advir, ou seja,
suas causas, teriam que, no mínimo, serem desarranjados de sua configuração
original. Na medida em que ao homem é impossível ter acesso a todos esses fatores
causais, logo não está ao seu alcance eliminar ou desarranjar totalmente a
configuração causal. O máximo que o profissional de saúde pode fazer, portanto, é
contribuir para esse processo – precisamente o que Groddeck sustenta.
Assim, de fato, a cura, se a entendermos como o desaparecimento da
doença, só pode sobrevir a partir de um movimento da própria natureza tomada
como todo, o que engloba evidentemente a atividade terapêutica dos profissionais
de saúde, os quais tomados em si mesmos, possuem um alcance limitado. Logo, o
célebre aforismo de Schweninger, ao qual Groddeck constantemente faz referência,
a saber: “A natureza cura, o médico trata” permanece válido mesmo sem uma visão
antropomórfica da natureza.
O que talvez colocasse em xeque nosso argumento seria o fato de que,
seguindo Schweninger, Groddeck concebe a natureza como fonte decisiva do
processo de cura em função da existência de uma espécie de princípio de autocura,
o qual seria o critério a partir do qual a natureza agiria. Trata-se da idéia de que a
natureza do organismo humano não seria indiferente aos eventos que lhe afetam, de
modo que frente ao adoecimento, por exemplo, a natureza reagiria com a finalidade
de promover a recuperação do indivíduo. Essa seria uma especificidade dos seres
viventes: a capacidade de reagir ao que lhes acontece. Diferentemente de uma
pedra, que não exibe resposta alguma a um corte feito em sua superfície, o
organismo vivente portaria a capacidade de produzir algum tipo de resposta a fim de
restabelecer a ordem prévia em que se encontrava antes, por exemplo, de um
ferimento. Estamos, portanto, diante de uma doutrina que, por sustentar uma
especificidade do vivente, poderia ser categorizada filosoficamente como vitalista.
Um pensamento pode ser designado como vitalista quando advoga que
entre os seres vivos e os demais objetos da natureza existe uma relação de
descontinuidade, resultante do fato de que nos seres vivos existiria um atributo
161
original que definiria sua particularidade. Com efeito, a maior parte das correntes
vitalistas defende a tese de que esse atributo original seria um princípio ou impulso
vital que estando presente na estrutura dos seres vivos condicionaria seu
desenvolvimento. Trata-se, portanto, de uma concepção que, tal como a descrição
do mito bíblico do Gênesis, postula que a vida é resultante de uma espécie de
injeção a partir do exterior de uma força vital, a qual, no texto da Bíblia, é figurada
pelo sopro de Deus. Podemos dizer que essa é a tendência mais tradicional da
doutrina vitalista, que entende que o princípio vital ou a característica definidora do
vivente é transcendente em relação a sua estrutura orgânica, de modo que a morte
significaria justamente a perda desse impulso vital. Este vitalismo constitui o que se
chamou ‘animismo’: a alma, sopro vital, animaria a matéria inerte. Outra
característica relevante da maior parte das correntes mais tradicionais do vitalismo
refere-se ao fato de trabalharem com a idéia de “causas finais”. Trata-se de uma
categoria aristotélica necessária para a sustentação do ponto de vista que defende a
tese de que determinados fenômenos não são determinados apenas por eventos
que lhe antecedem no tempo, mas também por aquilo “[...] em vista do que as
ações, as mudanças e os movimentos se efetuam [...]” (ARISTÓTELES, 1984, p.
26). Seguindo esse raciocínio, a manifestação de determinados fenômenos seria
condicionada também pelos objetivos que eles deveriam realizar no futuro. Assim,
as correntes mais tradicionais do vitalismo sustentam que haveria um plano de
desenvolvimento ou de evolução prévio à existência de todo ser vivente e que
condicionaria essa existência absoluta ou relativamente. O impulso vital seria o
responsável por dinamizar o ser levando-o à concretização plena de seu
desenvolvimento, como um cocheiro que força seu cavalo a caminhar nas trilhas que
deseja.
O leitor atento já deve ter discernido que tal pensamento caminha numa via
oposta àquela proposta por Spinoza. Primeiramente, se esse filósofo postula que
qualquer fenômeno constitui-se não em uma parte, mas em um modo, ou seja, uma
faceta da substância única, isso significa que de modo algum tal pensamento
poderia se coadunar com uma concepção que advoga a determinação do ser por
algo que lhe seja transcendente pelo simples fato de que, se a substância é única,
não pode haver transcendência, isto é, nada externo ao ser: “Não há nada fora da
substância, ela não tem fronteira nem borda, é infinita, tudo há nela e dela é
162
constituído: objetos, coisas, pensamentos, idéias, a natureza no sentido usual, assim
como o homem, o intelecto, a razão.” (MARTINS, 1998, p. 3). Igualmente, a tese de
que haveria um plano prévio de desenvolvimento para o vivente perde qualquer
possibilidade de sustentação a partir do pensamento spinozano, na medida em que
a condição para se admitir esse plano prévio seria a admissão prévia de um
descompasso entre o que ocorre de fato e o que deveria ter ocorrido, ou seja, uma
versão da idéia que Spinoza combate com veemência na primeira parte da Ética,
segundo a qual a natureza poderia ser diferente do que é, o que significaria cindi-la
em duas: uma real e outra ideal.
Temos, portanto, uma incompatibilidade entre a doutrina spinozana e as
correntes tradicionais do vitalismo. Essa contraposição, todavia, poderia ser
extensiva a Groddeck?
Dissemos há pouco que o médico de Baden-Baden ao
defender a tese schweningeriana de que a natureza cura argumenta que ela assim o
faz por ser direcionada originalmente para a saúde, exercendo resistência a todo
fenômeno patológico com vistas a dissipá-lo. Concluímos, então, que Groddeck
expõe aí sua filiação ao vitalismo. Teríamos aqui, por conseguinte, uma ruptura na
relação de semelhança entre as concepções de natureza de Groddeck e Spinoza?
Na sexta proposição da terceira parte da Ética, Spinoza postula o seguinte
enunciado: “Cada coisa esforça-se, tanto quanto está em si, por perseverar em seu
ser.” (SPINOZA, 2009, p. 105). Na demonstração dessa tese, o filósofo nos remete
para a proposição 4 dessa mesma parte do livro, na qual afirma: “Nenhuma coisa
pode ser destruída senão por uma causa exterior” (SPINOZA, 2009, p. 104). Embora
Spinoza assevere na demonstração dessa última proposição que ela é evidente por
si mesma, se levarmos em conta a elaboração freudiana do conceito de pulsão de
morte como uma tendência mortífera presente no humano, podemos concluir que,
pelo menos depois das grandes guerras do século XX, ela não pode mais ser
tomada como uma obviedade. Na sequência do texto, contudo, Spinoza explica
porque a tese é logicamente evidente: ora, a definição de uma determinada coisa
afirma necessariamente a essência dela. Uma definição que negasse a essência do
que define seria logicamente um absurdo. Portanto, quando consideramos apenas a
própria coisa sem referência a nada mais, não se pode encontrar nada que a
destrua.
163
Embora hoje, como assinalamos, numa época e numa cultura já marcadas
pelo conceito de pulsão de morte essa idéia possa parecer nova, como a própria
demonstração do filósofo faz ver, se trata apenas de uma conclusão óbvia do ponto
de vista lógico. O que nos parece ser a real novidade introduzida por Spinoza é
justamente o que se encontra na proposição 6, a saber: a tese de que toda coisa (e
não apenas as que consideramos viventes) exerce uma atividade no sentido de
perseverar em seu próprio ser, opondo-se “a tudo que possa retirar sua existência”
(p. 105). Do nosso ponto de vista, essa proposição não é meramente uma
decorrência da proposição 4. Com efeito, o fato de que nenhuma coisa possa ser
destruída a não ser por causas exteriores não implica necessariamente o fato de
que ela exercerá uma resistência, uma oposição, uma reação ao que a ela tente
destruir. A essa atitude constitutiva de todo ser que o posiciona originalmente de
forma ativa a favor da vida e em oposição à morte, Spinoza dará o nome de potência
de agir. Ora, ao propor essa idéia não estaria Spinoza se aproximando das
tendências tradicionais do vitalismo, afinal, tal como os partidários dessas últimas, o
filósofo não estaria advogando a existência nos seres de um impulso vital?
De modo algum. E esse é mais um aspecto original do pensamento
spinozano. Diferentemente do vitalismo tradicional, Spinoza não concebe a
propriedade existente nos seres de perseverarem em sua própria existência como
sendo uma “força” ou um “impulso” que neles está contido. Em outras palavras, do
ponto de vista spinozano o ser não é o continente de uma tendência transcendental
de manutenção e desenvolvimento da vida. Na proposição 7 da 3ª parte, o filósofo
postula que “O esforço pelo qual cada coisa se esforça por perseverar em seu ser
nada mais é do que a sua essência atual.” (SPINOZA, 2009, p. 105). Isso significa
que, para Spinoza, a potência (conatus) pela qual o ser persevera em sua existência
é sua própria essência, ou seja, não é algo que lhe é infundido de modo
transcendente, mas o que propriamente o constitui, de modo que não se pode dizer
que os seres são dotados de uma potência interna a perseverarem em sua
existência, mas sim que eles, de fato, são o próprio esforço de perseveração.
Podemos concluir ainda que não temos em Spinoza uma posição vitalista na
medida em que o filósofo não advoga uma especificidade dos seres vivos em
relação aos demais seres no que concerne ao esforço de perseveração na
existência. Todos os seres, para Spinoza, são conatus, isto é, são potências em
164
perseverarem em seu próprio ser. Se aplicarmos essa idéia ao campo da saúde, os
corolários a que seremos levados nos farão aproximarmos novamente as posições
de Groddeck e de Spinoza no tocante ao papel do organismo no processo de cura.
Com efeito, se o ser, para Spinoza, se constitui como uma potência a perseverar em
sua própria existência e se opõe a tudo o que possa retirá-la, isso significa que os
seres aos quais tradicionalmente denominamos “vivos”, isto é, seres que estão
sujeitos às enfermidades, são constitutivamente resistentes – no sentido de que
impõem resistência – a qualquer tipo de dano patológico que coloque em risco sua
existência, seja ele um ferimento ou uma infecção viral. Em outras palavras, ao
postular o ser como conatus, Spinoza está propondo que o organismo do vivente
não é passivo em relação às doenças, mas sim propriamente uma atitude, um
posicionamento de aversão em relação a elas.
Conquanto Groddeck, na maioria das vezes, utilize um vocabulário que
tende a levar-nos a categorizá-lo como um vitalista tradicional, defendemos aqui que
o contexto mais amplo de sua obra, isto é, o sentido de seu texto contradiz
frequentemente sua letra. De fato, seu conceito de Isso como totalidade individual
imanente não admite a existência de nenhum princípio transcendente que o
condicione, ou seja, nenhum impulso vital que o tome como continente. A despeito
de frases como “Dentro do organismo atuam os processos de cura.” (GRODDECK,
1994, p. 140, grifo nosso), o que se depreende ao logo de seus escritos é a idéia de
que o próprio Isso é, em si mesmo, constitutivamente direcionado para a saúde. Em
outras palavras, ele não contém os processos de cura; ele os é. Curiosamente,
Groddeck expressa essa tese de modo explícito no trecho imediatamente posterior
ao citado anteriormente: “A cura não pode vir de fora, o organismo cura
autocraticamente de acordo com as suas próprias leis, características dele, as quais,
na verdade, são determinadas, até certo ponto, pelas possibilidades do ser humano
em geral.” (GRODDECK, 1994, pp. 140-141, grifo nosso)
Nos trechos que destacamos dessa última citação é possível notar
claramente que Groddeck não concebe os processos de cura como tendências que
podem ser encontradas no interior do organismo, como o afirma na penúltima
citação. De fato, a tese do autor é a de que a cura é uma consequência da atividade
normal do organismo, ou seja, do modo como o organismo está constituído. Em
outras palavras, é como se Groddeck estivesse dizendo: assim como o organismo
165
fala, come, dorme, anda, ele também se cura, ou seja, o curar-se faz parte de sua
natureza, é constitutivo de sua essência. Ora, não seria isso precisamente o que
Spinoza propõe ao demonstrar que o conatus é o próprio ser e não algo que está
contido no ser?
Se nossa argumentação até aqui não foi injusta com nenhum dos autores,
pode-se concluir que em Spinoza encontramos suportes filosófico-conceituais que
vêm ao encontro de duas teses groddeckianas que são capitais para as
contribuições que extraímos do pensamento do autor no capítulo precedente, a
saber: (1) a idéia de que a doença não é um inimigo, mas uma manifestação da
vida, assim como a saúde e que, portanto, não deve ser combatida, mas
compreendida e (2) a tese de que o organismo exerce uma atividade direcionada
para a cura e que, portanto, o tratamento médico tem a função de auxiliar esse
processo espontâneo da natureza e não atuar no lugar dela.
No que diz respeito a essa última idéia, vimos que, embora Groddeck fale de
causas finais e de processos que atuam dentro do organismo, tais expressões
parecem não condizer com o sentido maior de seu pensamento que se mostra mais
próximo ao de Spinoza, o qual possui como um de seus atributos marcantes
precisamente a condenação da noção de causa final.
Dizer que a saúde é a causa final da atividade do organismo que passa a se
regenerar a partir de um ferimento significa, do ponto de vista spinozano, confundir o
efeito com a causa. Na realidade o organismo se regenera e obtém como efeito a
saúde, ou seja, o estado saudável é uma consequência da atividade natural do
organismo de regeneração, que nada mais é do que uma das expressões do esforço
de perseveração. Dito de outro modo, ele age assim porque essa é sua essência,
porque a essência de todo ser consiste justamente em perseverar-se em si mesmo e
opor-se a tudo o que pode lhe retirar a existência. Quando Groddeck faz afirmações
do tipo: “... a doença e a saúde são formas de expressão de uma só vida.”
(GRODDECK, 1992, p. 97), o que está implícito em sua argumentação é justamente
a inexistência de causas finais que orientam a atividade do Isso. O Isso funciona e
se expressa de acordo com suas próprias leis, normas imanentes, tanto através da
saúde quanto da enfermidade.
166
Essa última afirmação coloca em jogo um aparente paradoxo do
pensamento groddeckiano, ao qual já fizemos referência nos capítulos anteriores,
mas que julgamos relevante o abordarmos novamente a fim de esclarecê-lo a partir
do cotejamento com a doutrina spinozana. Trata-se da seguinte questão: se
argumentamos anteriormente que, para Groddeck, a atividade de cura faz parte do
conjunto de atividades próprias ao organismo (Isso), ou seja, que é constituinte de
sua essência, a afirmação groddeckiana de que o Isso pode se expressar através da
doença não seria contraditória na medida em que a doença poderia ser vista como
uma daquelas coisas que colocam em risco a existência do ser, isto é, algo contra o
qual o Isso tenderia a se opor?
O argumento de Groddeck para a resolução desse problema teórico é o de
que o Isso só se manifestaria por meio da doença quando as vias salutares de
expressão estão bloqueadas ou quando a enfermidade é um modo de expressão
mais útil do que a saúde. Dito de outra forma, a doença seria sempre uma
manifestação reativa perante a vida, ou seja, uma atividade a que o organismo
recorreria sempre que precisa se defender de um determinado evento ou situação.
Já a saúde, por seu turno, ou, se quisermos, a atividade de cura, seria espontânea,
positiva, isto é, não condicionada a acontecimentos externos, decorrendo puramente
da essência do ser.
O argumento de Groddeck se assemelha bastante ao modo como Spinoza
explica, na Ética, comportamentos que hoje poderíamos chamar de autodestrutivos.
Diferentemente de Freud, que supôs que em última instância tais condutas seriam
determinadas pela existência nos seres da pulsão de morte, Spinoza prefere
recorrer à experiência e verificar em que contextos tais comportamentos se
manifestam como forma de explicar o que está em sua raiz. A conclusão a que o
filósofo chega é a mesma que Groddeck sustenta em relação à doença: trata-se
sempre, nos comportamentos autodestrutivos, incluindo o maior deles, o suicídio, de
defesas contra aquilo que o indivíduo julga ser-lhe um mal maior. Nesse sentido, o
suicídio, por exemplo, pode parecer a um indivíduo cujo pai faleceu um mal menor
do que uma existência sem o genitor. Evidentemente, o comportamento de alguém
que assim age não pode ser atribuído a sua própria natureza, mas sim à ação de
causas exteriores que condicionam seu anelo pela morte (ou pela extinção do
sofrimento) e não pela vida. Em outras palavras, o desejo de suicidar-se não é
167
espontâneo, mas uma reação à morte do pai, ou seja, um efeito de uma causa
exterior ao próprio indivíduo. Nas palavras de Spinoza:
Ninguém, portanto, a não ser que seja dominado por causas
exteriores e contrárias à sua natureza, descuida-se de desejar
o que lhe é útil, ou seja, de conservar o seu ser. Quero, com
isso, dizer que não é pela necessidade de sua natureza, mas
coagido por causas exteriores, que alguém se recusa a se
alimentar ou se suicida, o que pode ocorrer de muitas
maneiras. [...] Que o homem, entretanto, se esforce, pela
necessidade de sua natureza, a não existir ou a adquirir outra
forma, é algo tão impossível quanto fazer que alguma coisa se
faça do nada, como qualquer um, com um mínimo de reflexão,
pode ver. (SPINOZA, 2009, pp. 170-171)
Agora confrontemos esse trecho do escólio da proposição 20 da 4ª parte da
Ética com as palavras de Groddeck ao final de sua terceira conferência (“A Doença”)
pronunciada na Universidade Lessing em 1926:
Uma pessoa que vê um cego pode, sem perigo, presumir
alguma coisa de errado, supor que ele ficou cego porque o seu
isso achou melhor perder a visão, talvez por causa da frase
bíblica: Se o teu olho direito te irrita, arranca-o. Talvez seja
melhor não ver do que prejudicar a sua alma. É melhor, às
vezes, perder a sua mão do que assassinar um ser humano ou
roubar. É melhor, às vezes, fugir da vida através de alguma
doença grave, ou mesmo da morte do que viver livremente
atormentado pela massa de culpa recalcada. (GRODDECK,
1994, p. 216, grifos nossos)
Observe-se que fizemos questão de grifar na citação a palavra “melhor” que
Groddeck utiliza bastante nesse trecho. Nosso propósito é o de demonstrar que a
explicação que Groddeck fornece para a “opção” do Isso pela linguagem da doença
é bastante próxima do argumento spinozano para a gênese dos fenômenos
autodestrutivos. Para ambos os autores, trata-se de desvios da espontaneidade do
ser motivados por causas exteriores. Groddeck cita notadamente a culpa como uma
das principais causas exteriores que levariam o Isso a abdicar daquilo que lhe é útil
– no caso, a saúde. Culpa que recebe em Spinoza a designação de “paixão”, isto é,
um afeto passivo. Em outras palavras, trata-se de um afeto reativo, ensejado por
causas exteriores e que diminui ou refreia o conatus.
Destarte, não há contradição entre as teses groddeckianas da doença como
criação individual e da natureza como fonte última da cura bem como a existência do
168
suicídio e de comportamentos autodestrutivos não servem como evidências de que
o ser não persevera em sua existência. O que acontece é que a suscetibilidade do
vivente às causas exteriores e, assim, especialmente, aos afetos passivos, o leva a
se colocar perante a “escolha” entre um mal maior e um mal menor – e mesmo em
tais situações, refreado e diminuído, o conatus ainda se mostra ativo, “orientando” as
decisões. Com efeito, a constante presença do termo “melhor” na última citação de
Groddeck evidencia que mesmo nos cenários de maior conflito, o critério da utilidade
(ao qual Spinoza faz referência) permanece vigente. Como o próprio Groddeck deixa
claro, o Isso não recorre à doença porque está sob a batuta de uma tendência
doentia, mortífera, autodestrutiva, mas sim porque uma vida com uma enfermidade
lhe parece melhor, mais útil, mais tolerável, do que uma existência carregada de
culpa.
O Isso ata as pessoas quando é necessário, salva-as, através
da doença, dos mais graves perigos, como se a própria vida
estivesse em risco, obriga-as a certas atividades através de
determinadas doenças, e a repousarem por causa de
problemas cardíacos ou da tuberculose. (GRODDECK, 1992,
p. 15)
4.4 Canguilhem e a normatividade biológica
Além de Spinoza, chamaremos em apoio às idéias de Groddeck outro
filósofo, que também já mencionamos anteriormente e cuja obra mais conhecida é
justamente sua tese de doutoramento em medicina, intitulada: “O Normal e o
Patológico”. Trata-se de Georges Canguilhem, cujas reflexões feitas, sobretudo em
torno da idéia de “normatividade biológica”, nos serão de grande utilidade aqui. 16
Em “O Normal e o Patológico” Canguilhem dedica-se a problematizar as
relações entre normalidade e patologia, as quais vinham sendo consideradas por
alguns autores, notadamente Augusto Comte e Broussais, de um ponto de vista
puramente quantitativo. Tratava-se, grosso modo, do seguinte raciocínio: no ponto
zero de uma escala teríamos a saúde. Essa, por sua vez, corresponderia a um
16
Coincidentemente ou não, Canguilhem faz referências explícitas a Groddeck em dois de seus breves textos
sobre medicina agrupados na coletânea “Escritos sobre a Medicina” (CANGUILHEM, 2005). Trata-se dos
textos “A idéia de natureza no pensamento e na prática médicas” e “É possível uma pedagogia da cura?”.
169
suposto estado de normalidade do organismo humano. Como tal estado de
normalidade poderia ser determinado? A partir de uma média do funcionamento
orgânico
dos indivíduos,
considerados empiricamente
saudáveis,
ou
seja,
considerava-se normal – o ponto zero da escala – o funcionamento orgânico mais
encontrado estatisticamente na população supostamente saudável.
Assim, concebiam-se todas as variações tanto positivas quanto negativas
nessa escala como sendo equivalentes à doença. Logo, não haveria na patologia
nenhum traço singular capaz de diferenciá-la da saúde. Um estado só seria
considerado patológico por referência a uma escala padrão em que o ponto zero
corresponderia à normalidade. Em outras palavras, a doença seria apenas uma
variação quantitativa do estado normal.
Ao longo de sua tese, Canguilhem vai desconstruindo tal argumentação
demonstrando que ao se pensar a relação entre saúde e doença a partir das
categorias de normalidade e anormalidade não se está fazendo referência alguma
ao que de fato os indivíduos experimentam quando se sentem saudáveis ou
doentes.
Além disso, para Canguilhem o critério da normalidade não pode ser
utilizado para pensar as relações entre saúde e doença porque é um equívoco dizer
que a doença é uma anormalidade. A enfermidade, na medida em que é um evento
que modifica as relações do indivíduo com seu meio, instaura uma nova norma de
vida, diferente da anterior (saúde) e inferior a ela. Descrever essa nova norma de
vida como inferior não significa que se a esteja comparando com uma escala padrão
e ideal de normas de vida. Com efeito, o parâmetro de comparação não é a média
do funcionamento orgânico de uma população, mas o próprio indivíduo. O processo
de adoecimento se caracteriza justamente por essa passagem de um primeiro
estado em que o indivíduo se encontrava com uma maior capacidade de instaurar
novas normas de vida para si – ou seja, de poder usufruir da vida não apenas no
ambiente em que atualmente se encontra, mas também em outros contextos – para
um segundo estado em que essa capacidade normativa foi parcialmente extinta. Nas
palavras do próprio Canguilhem:
Portanto, devemos dizer que o estado patológico ou anormal
não é consequência da ausência de qualquer norma. A doença
170
é ainda uma norma de vida, mas uma norma inferior, no
sentido que não tolera nenhum desvio das condições em que é
válida, por ser incapaz de se transformar em outra norma. O
ser vivo doente está normalizado em condições bem definidas,
e perdeu a capacidade normativa, a capacidade de instituir
normas diferentes em condições diferentes. (CANGUILHEM,
2009, p. 136)
É preciso sublinhar que ao eliminar a diferença entre normal e anormal no
que diz respeito às relações entre saúde e doença, Canguilhem não está dizendo
que não haja distinção entre o indivíduo saudável e o indivíduo doente, ou seja, que
não existam critérios para diferenciar a saúde da doença. O que o filósofo defende é
a tese de que essa diferenciação não pode ser feita através da comparação entre
um indivíduo e uma média do funcionamento orgânico de uma população, mas sim
que é preciso distinguir a saúde da patologia tendo o próprio indivíduo como ponto
de referência. Isso porque do ponto de vista canguilhemiano a saúde só pode ser
pensada considerando-se as relações do indivíduo com o meio específico em que
vive e não o indivíduo isoladamente. Com efeito, dependendo das exigências que
um determinado ambiente faça a um indivíduo, ele poderá apresentar traços
orgânicos (como frequência cardíaca, por exemplo) tão discrepantes em relação à
média da população que, se considerássemos o indivíduo isoladamente, não
hesitaríamos em considerá-lo doente. Não obstante, tal indivíduo pode estar
gozando de ótima saúde – suas normas biológicas adaptaram-se à relação
específica que mantém com seu ambiente.
Portanto, para Canguilhem a saúde não equivale à concordância entre o
padrão de funcionamento orgânico de um indivíduo e a média do funcionamento de
sua população, mas sim a uma capacidade, um potencial, uma disposição a tolerar
as transformações de seu meio circundante sem desfalecer. A particularidade da
norma vital instaurada pela doença é justamente o fato de só permitir que o indivíduo
sobreviva naquelas condições em que se encontra enfermo. Trata-se de uma norma
inferior de vida porque, conforme sustenta Canguilhem, o organismo saudável não
busca conservar-se em um determinado estado, mas antes expandir-se,
desenvolver-se, realizar sua natureza, ainda que isso implique o enfrentamento de
riscos e a superação de limites.
171
Para Canguilhem – e aqui nos encontramos novamente com Groddeck e
Spinoza – o vivente, diferentemente dos seres inanimados, não é indiferente ao que
acontece em seu meio. Os seres vivos estão sempre estabelecendo mais ou menos
conscientemente juízos valorativos sobre aquilo que lhes afeta, afirmando ou
negando aspectos do ambiente. Nesse sentido, mais do que apenas existirem em
determinado meio, os organismos, ao valorarem a existência, estabelecem o seu
próprio meio circundante. É justamente essa capacidade de desenvolver-se
estabelecendo normas de vida para si que Canguilhem denomina de “normatividade
biológica”. E a possibilidade de exercê-la é o que corresponderá, para o filósofo, à
saúde.
Nesse sentido, a medicina, uma prática eminentemente valorativa na medida
em que julga como superiores determinadas normas de vida em detrimento de
outras e aplica intervenções baseadas em tal juízo, nada mais é do que uma
extensão da capacidade normativa que todo organismo humano exerce de modo
natural. É essa capacidade normativa, essa normatividade biológica que se
manifesta nos fenômenos espontâneos de regeneração corporal e em todos os
eventos orgânicos relativos ao sistema imunológico. É por ser normativo que o
organismo humano diante de uma bactéria que o invade inicia um processo de
defesa contra ela (inflamação) a fim de expulsá-la. Trata-se da capacidade do
vivente de julgar um determinado elemento ambiental como prejudicial e buscar a
instauração de uma norma de vida tal que seja capaz de resistir a ele. Nesse
sentido, os próprios sintomas de uma doença podem ser vistos como resultado da
reação normativa do organismo:
A doença não é somente desequilíbrio ou desarmonia; ela é
também, e talvez sobretudo, o esforço que a natureza exerce
no homem para obter um novo equilíbrio. A doença é uma
reação generalizada com intenção de cura. O organismo
desenvolve uma doença para se curar. (CANGUILHEM, 2009,
p. 10)
Embora Canguilhem, nessa citação, esteja, sobretudo, fazendo referência ao
que ele denomina de “teoria dinamista ou funcional” da doença, presente
especialmente na medicina hipocrática, tal concepção se coaduna perfeitamente
com suas próprias idéias acerca da enfermidade. Com efeito, se o organismo é uma
“polaridade dinâmica”, que valora os eventos que lhe afetam, logo não se pode
172
conceber a doença como um acontecimento dissociado dessa atitude. Portanto, tal
como Groddeck, podemos dizer que Canguilhem sustenta aqui a tese de que
adoecer é uma das atividades próprias ao organismo tal como o comer, o dormir, o
andar, o falar etc. Aliás, o próprio filósofo afirma isso de modo explícito: “Estar com
boa saúde é poder cair doente e se recuperar; é um luxo biológico.” (CANGUILHEM,
2009, p. 150). E ainda:
Ao contrário de certos médicos sempre dispostos a considerar
as doenças como crimes, porque os interessados sempre são
de certa forma responsáveis, por excesso ou omissão,
achamos que o poder e a tentação de se tornar doente são
uma característica essencial da fisiologia humana.
(CANGUILHEM, 2009, p. 151).
Talvez conseguíssemos retirar um pouco do peso condenatório que paira
sobre a tese groddeckiana da doença como criação individual se a cotejássemos
com o conceito de normatividade biológica. Com efeito, se a patologia é uma
possibilidade sempre presente na fisiologia do vivente e se a doença se manifesta
por ocasião de um embate entre o organismo e determinadas condições de seu
meio, não seria inadequado pensar a doença como expressão da normatividade
biológica individual. A instauração de uma norma de vida inferior teria, assim, como
efeito justamente um impedimento momentâneo de o indivíduo arriscar sua saúde
na medida em que se encontra debilitado em função da batalha travada contra
condições adversas. Groddeck expressa essa mesma idéia com seu vocabulário
próprio:
Com a suscetibilidade à doença, o sensível Isso cria posições
seguras onde refugiar-se. A doença, seja ela aguda ou crônica,
infecciosa ou não, traz sossego, protege contra o agressivo
mundo exterior, ou pelo menos contra fenômenos bem
determinados, que são insuportáveis. (GRODDECK, 1992, p.
16)
Ao trabalhar com a noção de normatividade biológica, Canguilhem é levado
inevitavelmente a conceber a doença não como algo dissociado dos padrões de
interação do indivíduo com o meio (como o faz a biomedicina), mas sim como um
evento que possui uma função. Groddeck, por seu turno, em vez de “função”
preferirá o termo “sentido”: toda enfermidade, para o médico de Baden-Baden, porta
um sentido, o qual nada mais é do que a função que a doença exerce na existência
173
presente e na história do indivíduo consideradas não apenas do ponto de vista
orgânico, mas também subjetivo.
Acerca da atitude valorativa do vivente face ao meio postulada por
Canguilhem e expressa através do conceito de normatividade biológica, é possível
encontrar na obra groddeckiana indicações de que tal posicionamento é justamente
o que caracteriza o comportamento do Isso. De acordo com Groddeck, “O Isso tudo
examina, decide e conserva o melhor. Seu procedimento é equiparável ao da célula,
que, cercada de substâncias alimentícias, decide autonomamente o que quer
aproveitar.” (GRODDECK, 1992, p. 120, grifo nosso).
Mais uma vez consideramos relevante destacar a palavra “melhor” nessa
citação, pois ela nos parece o sinal da entrada em um terreno comum em que os
pontos de vista de Groddeck, Spinoza e Canguilhem parecem estar bastante
próximos. Com efeito, os três autores parecem postular o critério da utilidade como
parâmetro valorativo a partir do qual o indivíduo julga os eventos que lhe afetam.
Essa última citação de Groddeck deixa explícito que no tocante ao comportamento
do Isso se trata efetivamente de opções pelo “melhor”, isto é, pelo mais útil. Spinoza,
como vimos também concebe o funcionamento do humano orientado por esse
critério:
Será suficiente aqui que eu tome como fundamento aquilo que
deve ser reconhecido por todos, a saber, que todos os homens
nascem ignorantes das causas das coisas e que todos tendem
a buscar o que lhes é útil, estando conscientes disso.
(SPINOZA, 2009, p. 42)
Na medida em que é essencialmente um esforço em perseverar na própria
existência, uma potência de agir, o indivíduo necessariamente tenderá a valorar as
coisas em função do critério da utilidade.
A noção de normatividade biológica expressa, com um vocabulário diferente,
precisamente a mesma idéia. Para Canguilhem, todo vivente estabelece uma
interação normativa com seu ambiente, isto é, diante dos inúmeros tipos de
elementos e aspectos presentes no meio, afirma apenas aqueles que estão de
acordo com suas normas e nega todos os demais que as contrariam. É justamente
por isso que o funcionamento do organismo não pode ser julgado em termos de
saúde e doença a partir de uma análise físico-química:
174
Quando os dejetos de assimilação deixam de ser excretados
por um organismo e obstruem ou envenenam o meio interno,
tudo isso, com efeito, está de acordo com a lei (física, química
etc.), mas nada disso está de acordo com a norma, que é a
atividade do próprio organismo. Esse é o fato simples que
queremos designar quando falamos em normatividade
biológica. (CANGUILHEM, 2009, p. 88)
O conceito de normatividade biológica traduz uma especificidade dos
organismos vivos, o fato de que “... a vida não é indiferente às condições nas quais
ela é possível, que a vida é polaridade e, por isso mesmo, posição inconsciente de
valor, em resumo, que a vida é, de fato, uma atividade normativa.” (CANGUILHEM,
2009, p. 86)
4.5 Isso, normatividade biológica e conatus
Temos, tanto em Groddeck quanto em Canguilhem e Spinoza a postulação
de um indivíduo ativo, potente, que exerce um esforço espontâneo no sentido de sua
expansão e, quando necessário, conservação. Isso, conatus e normatividade
biológica: três termos diferentes que traduzem uma mesma realidade fundamental: a
de que o indivíduo não é passivo em relação ao meio. Trata-se de um ponto de vista
radicalmente distinto dos postulados que fundamentam o modelo biomédico. Se na
biomedicina encontramos uma ênfase no diagnóstico, no combate à doença e nas
tecnologias médicas é justamente por se encontrar em seus fundamentos teóricoconceituais uma visão mecanicista do organismo humano. Trata-se, como já
afirmamos anteriormente de uma concepção do indivíduo como máquina, isto é,
submetido unicamente às leis da física e da química e não dotado de uma
normatividade biológica.
No modelo biomédico, as intervenções de assistência à saúde são tomadas
como procedimentos indispensáveis ao restabelecimento do paciente, da mesma
forma que na modernidade a razão deveria dominar a natureza. Nesse sentido, na
biomedicina é o médico o componente principal da relação terapêutica, o elemento
racional que deverá dominar a doença, expressão da perigosa natureza.
Diferentemente, quando se enxerga o indivíduo como sendo uma posição
inconsciente de valor, um esforço em perseverar na própria existência, um Isso que
175
examina, decide e conserva o melhor, a dinâmica por inteiro do cuidado em saúde é
alterada, mas principalmente a relação entre o médico e o doente. O paciente já não
é pensado como um ser passivo e frágil diante da doença, mas sim como um
indivíduo que expressa justamente com a doença o confronto que trava contra
elementos prejudiciais de seu ambiente. Logo, a própria enfermidade já é signo de
sua potência e normatividade. O papel do médico, então, se torna relativizado, pois
ele já não é visto como sendo o único dos elementos da relação terapêutica que tem
a saúde e a recuperação em vista. O próprio organismo doente já exerce um esforço
no sentido de seu restabelecimento, o que não significa que o indivíduo sozinho
tenha condições de se recuperar de todas as enfermidades que lhe acometem. De
fato, para um grande número de doenças a intervenção médica é desnecessária,
pois o próprio organismo de forma mais ou menos lenta é capaz de curar-se. Não
obstante, para algumas patologias de fato a intervenção médica é necessária, mas
não porque ela seja o representante da racionalidade que deve subjugar a doença,
mas sim porque se constitui em extensão, como já dissemos, da normatividade
biológica de cada indivíduo.
Podemos expressar esse argumento de forma ilustrativa comparando o
indivíduo doente a um grande rio que apresente em determinado ponto de seu leito
um obstáculo que o impede de seguir seu curso natural. Em decorrência, para
permitir ao rio mover-se normalmente não seria preciso alterar seu curso, mas sim
eliminar aquilo que lhe obstaculiza. O curso natural do rio serve-nos como metáfora
na normatividade biológica, fluxo ininterrupto de expansão que pode ser
parcialmente interrompido em função de determinado evento. Assim, a tarefa do
médico e dos demais profissionais de saúde não é a de fazer com que o rio siga seu
curso. Ele o faz naturalmente. O papel do cuidado em saúde é o de descobrir em
que ponto do leito o obstáculo se encontra e retirá-lo. Em outras palavras, trata-se
de uma função facilitadora, auxiliadora. Nos termos de Spinoza, o profissional de
saúde não é o elemento capaz de fornecer ao ser o esforço em perseverar em sua
existência, mas sim um ambiente que pode aumentar esse esforço, levando-o à
passagem para uma perfeição maior.
Groddeck, em diversas passagens de seus escritos, defende de modo
bastante explícito que se deve recorrer ao profissional de saúde apenas nas
ocasiões estritamente necessárias e ainda que, mesmo em tais situações, a tarefa
176
do profissional deve ser somente a de reforçar a tendência do próprio organismo a
se recuperar:
Temos a obrigação de incentivar diretamente a tendência do
enfermo à convalescença – e isso é a primeira coisa que
devemos fazer – mas cabe perguntar se isso é o mais
importante. Na maioria dos casos, segundo a minha
experiência em mais de ¾ de toda a nossa atuação médica,
basta perfeitamente o incentivo direto à disposição à
recuperação. [...] Paulatinamente, reconhecerá que o
fundamental para a recuperação não foi ele quem fez e sim o
enfermo, a sua disposição à cura. (GRODDECK, 1992, p. 178)
***
Cremos ter conseguido ao longo deste capítulo demonstrar que conquanto
as proposições teóricas de Georg Groddeck tenham sido forjadas entre o final do
século XIX e início do século XX e tanto a medicina quanto a psicanálise as tenham
negligenciado totalmente, elas se mostram mais atuais do que nunca. Aliás, ocorre o
mesmo com Spinoza, filósofo cujo pensamento encontra hoje, no século XXI, um
terreno muito mais fértil do que no século XVII quando se encontrava na contramão
da ideologia moderna.
Como viemos defendendo ao longo deste texto, as transformações que hoje
se fazem necessárias e que são frequentemente reivindicadas pela literatura no
campo do cuidado em saúde só se manifestarão na prática quando os fundamentos
filosófico-conceituais sobre as quais a assistência à saúde está assentada forem
primeiramente modificados. Não se trata da postulação de uma soberania da teoria
sobre a prática. Pelo contrário, sustentamos que ambas caminham juntas e são
indissociáveis. É justamente por isso que não concordamos com o argumento de
que os impasses e limitações que são apontados no modelo biomédico são devidos
ao que se convencionou chamar de “má prática médica”, pois precisamente nas
ocasiões em que essa prática é considerada boa é que os impasses se apresentam
de modo mais explícito. Em outras palavras, é quando na prática a biomedicina se
mostra em sua versão mais concordante com suas concepções sobre doença,
saúde e cura que ela deixa claras suas limitações.
177
As contribuições extraídas especificamente do texto de Georg Groddeck
para o enfrentamento desses impasses nos levaram inevitavelmente à constatação
de que elas só poderiam de fato ser postas em prática no interior de um novo
modelo de cuidado em saúde. Tal modelo, por sua vez, deveria estar sustentado em
postulados filosóficos distintos dos que fundamentam a racionalidade biomédica.
Acreditamos ter encontrado em Spinoza e Canguilhem tais postulados; teses
frutíferas para a proposição desse novo modelo.
Spinoza, por conceber a natureza como substância única – e, por
conseguinte, corpo e psiquismo, matéria e razão como aspectos desse real uno e
indivisível – e o organismo como conatus, esforço de perseveração na existência e
não uma máquina passiva.
Canguilhem, por seu turno, nos fornece uma definição de saúde positiva: a
capacidade de instituir novas normas de vida para si, ou seja, de expandir-se,
desenvolver-se, podendo correr o risco de adoecer. Definição de saúde radicalmente
distinta daquela presente na biomedicina, a qual concebe o ser saudável como um
ente mítico em que há ausência de imperfeições ou, na definição ainda mais mítica e
ideológica da OMS, um organismo que se encontra em um estado de completo bemestar físico, psíquico e social. A definição positiva de saúde de Canguilhem está
diretamente associada a seu conceito de normatividade biológica que nos foi de
especial utilidade, pois além de se harmonizar perfeitamente com o conatus
spinozano, fornece uma descrição empírica do esforço em perseverar na existência.
Demonstramos que as contribuições que extraímos do pensamento de
Groddeck no capítulo anterior convergem adequadamente para as proposições
desses dois autores. A doença como criação e como manifestação da vida deixa de
ser uma idéia “mística” ou “selvagem” – designações que algumas vezes foram
atribuídas ao pensamento de Groddeck – quando modificamos nossa concepção de
natureza e de organismo. Se a natureza já não é pensada como o reino do
imperfeito e do imponderável a ser normatizado pela racionalidade humana, mas sim
como o real, a única substância, da qual procedemos e na qual vivemos, a doença já
não precisa ser pensada como inimigo, mas como expressão da existência. Da
mesma forma, a tese de que a natureza é quem de fato cura, sendo a função do
médico restrita à relatividade de tratar só não faz sentido no interior de um
178
paradigma que concebe o corpo humano como um aparato mecânico, incapaz de
resistir, de se defender e de valorar a existência, instaurando suas próprias normas
vitais. Por outro lado, se o organismo é visto como posição inconsciente de valor e
polaridade dinâmica, torna-se perfeitamente compreensível a asserção de que o
verdadeiro agente da cura é a natureza, isto é, o próprio esforço da vida em
perseverar em sua existência ou, em outras palavras, a normatividade biológica
tanto individual quanto desdobrada em forma de medicina.
179
CONCLUSÃO
Neste momento em que se nos exigem algumas palavras finais a fim de
concluir este estudo, nos parece conveniente retomar a hipótese central que ensejou
a produção desta pesquisa e que norteou todo o processo de investigação.
Consideramos também oportuno fazermos algumas considerações a respeito de
como se deu o processo de “gestação” deste trabalho, isto é, o percurso que se
iniciou com nossas primeiras intuições e questionamentos e que desembocou na
confecção definitiva dos objetivos da pesquisa. Ainda que estejamos cientes de que
tais apontamentos seriam igualmente pertinentes à parte introdutória de nossa
dissertação, julgamos que eles seriam mais bem aproveitados aqui na medida em
que possibilitariam ao leitor analisar as conclusões extraídas ao final do estudo à luz
das questões iniciais.
Iniciamos o trabalho crendo ser possível demonstrar que na obra de Georg
Groddeck, um autor pouco conhecido no campo da saúde, poderiam ser
encontradas proposições férteis para a discussão atual acerca dos impasses e
limitações experimentados no cuidado em saúde oriundos do predomínio da
racionalidade biomédica.
Por que escolhemos a obra de Groddeck e não a de outro autor como objeto
de estudo é uma questão cujas respostas certamente não se reduzem àquelas que
podemos extrair da consciência, afinal quem se propõe a investigar o pensamento
de um autor como Groddeck jamais poderá negligenciar a realidade das motivações
inconscientes, a realidade do Isso, como o próprio autor diria. Não obstante, como
não se trata aqui de nada semelhante a uma auto-análise, permaneçamos apenas
na dimensão do que nossa consciência é capaz de acessar e respondamos: “Por
que Groddeck?”.
Antes de iniciarmos este estudo, nossa intenção era a de trabalhar em torno
de outro tema: as diversas concepções de doença psicossomática presentes na
teoria psicanalítica. Nossa hipótese era de que havia dois grupos principais de
vertentes de pensamento sobre psicossomática em psicanálise: o grupo dos que
sustentavam suas concepções na separação entre corpo e psiquismo e o grupo
180
daqueles que poderíamos caracterizar como monistas, para os quais a referida
separação seria meramente didática. Groddeck nos pareceu o mais radical dentre os
monistas. O conceito de Isso se mostrava suficiente para que o autor passasse ao
largo das eternas discussões sobre a existência do que no século XIX se
denominava de “psicogênese das doenças orgânicas”. A própria noção de doença
psicossomática perdia todo o sentido ao ser confrontada com o pensamento
groddeckiano. Com efeito, para Groddeck não existem doenças “puramente
orgânicas”, ou seja, o outro grupo de patologias que se diferenciariam das
psicossomáticas.
Através da leitura de alguns dos textos mais importantes do autor, fomos
gradativamente nos dando conta que os pontos de vista de Groddeck eram tão
radicais e singulares a ponto de não haver na teoria psicanalítica nenhum autor que
pudesse ocupar junto com ele uma mesma categoria. Não havia (e ainda não há),
por exemplo, outro autor psicanalítico que admitisse explicitamente que toda doença
possui um sentido e pode, portanto, ser interpretada como um símbolo. Mesmo
autores que se negam a postular uma separação entre corpo e psiquismo, como
Winnicott, se abstinham de adotar posicionamento tão extremo. Esse cenário nos
fez pensar na hipótese de que a obra de Groddeck mereceria, talvez, um estudo
exclusivo, na medida em que somente não fazendo justiça a seu pensamento se
poderia alocá-lo em um mesmo grupo com outros autores.
Tal hipótese foi reforçada pelo fato de que Groddeck fora um autor bastante
negligenciado pelos campos médico e psicanalítico, de sorte que pouquíssimos
estudos e artigos sobre sua obra podem ser encontrados. Por outro lado, textos
recentes como “Definition, foundation and meaning of illness: locating Georg
Groddeck in the history of medicine”, de Aleksandar Dimitrijevic e “Embodiment”, de
Robert Langan, ambos publicados no The American Journal of Psychoanalysis em
2008 e 2007, respectivamente, sinalizavam a revivescência do interesse da
comunidade psicanalítica pelo pensamento groddeckiano 17. Interesse que nunca foi
forte o suficiente para que Groddeck adquirisse um lugar de proeminência entre os
17
Neste ano (2011), Lazslo Antônio Ávila, psicólogo e professor-adjunto da Faculdade de Medicina de São José
do Rio Preto (SP), que escreveu diversos livros e artigos sobre as idéias de Groddeck (alguns dos quais foram
por nós utilizados ao longo de nossa pesquisa), publicou o texto Groddeckian Interventions In Medical Settings”,
também no The American Journal of Psychoanalisis.
181
discípulos de Freud, embora, como vimos no capítulo 1, o próprio Groddeck não
anelasse tal posição.
Uma pesquisa que tivesse como objeto de estudo exclusivamente a obra
groddeckiana nos parecia, portanto, uma empreitada frutífera tanto porque
proporcionaria uma contribuição relevante para a psicanálise e também para a
medicina, inserindo-se numa tendência de retomada do pensamento do autor.
Por outro lado, nosso contato inicial com a produção bibliográfica da área de
Saúde Coletiva, na qual ainda éramos neófitos naquele momento, nos levou a uma
série de textos que davam conta de certa insatisfação crescente com os modelos,
paradigmas e racionalidades vigentes na medicina e no cuidado em saúde
contemporâneo de forma geral. Tal insatisfação geralmente se assentava em críticas
aos diversos reducionismos presentes no modo como a biomedicina (o referido
modelo vigente) pensava a doença, a saúde e o cuidado, modo esse que fomentaria
práticas de saúde ineficazes em muitos aspectos na medida em que não atentavam
para a dimensão subjetiva e social dos processos de adoecimento. Argumentava-se
que o modelo biomédico considerava o doente como um mero corpo disfuncional, a
ele não sendo direcionada uma escuta qualificada, mas apenas um olhar
escrutinador cujo principal objetivo era a certificação do diagnóstico mais que o
tratamento.
Constatamos que uma série de aspectos do pensamento de Groddeck se
coadunava bastante com as expectativas nutridas por tais críticas. Embora o autor
tivesse elaborado suas idéias entre o final do século XIX e início do século XX,
período em que essa discussão ainda não estava em voga, impressionava-nos o
quanto as proposições do autor vinham ao encontro das mudanças reivindicadas
pelos críticos do modelo biomédico. Foi nesse momento que chegamos à conclusão
de que seria mais produtivo realizar uma pesquisa específica sobre Groddeck, mas
que tivesse como objetivo não apenas analisar sua vida e obra, mas apontar quais
as contribuições de seu pensamento para a superação dos impasses da biomedicina
descritos na literatura. Estaríamos, assim, não apenas resgatando o autor e sua
obra, mas também demonstrando a fertilidade de suas idéias para as discussões
atuais no campo da saúde.
182
Agora, observando retrospectivamente, cremos que nossa escolha foi
acertada, pois acreditamos ter conseguido atingir o objetivo geral do estudo,
evidenciando a aplicabilidade do pensamento groddeckiano na atualidade. Não
obstante, estamos certos de que nosso trabalho não foi capaz de colher todos os
frutos que a fecundíssima árvore da obra de Groddeck é capaz de produzir. Muitos
textos do autor são de uma riqueza tão extraordinária que sentimo-nos em dívida por
não termos tido tempo suficiente para explorar todas as suas possibilidades. Nesse
sentido, as contribuições do autor que descrevemos e comentamos no capítulo 3
são só aquelas que o estudo realizado no curto espaço de tempo de um curso de
mestrado nos permitiram extrair. Várias outras ainda se encontram lá, nos textos de
Groddeck, à espera de um novo olhar investigativo.
Feitas tais ressalvas com o intuito de deixarmos explícitas as limitações
desta pesquisa, faremos agora uma síntese de nossa trajetória desde o primeiro
capítulo até aqui, apontando as conclusões a que chegamos a partir do alcance dos
objetivos de cada capítulo.
Dedicamos o capítulo 1 à exposição dos impasses vivenciados no campo do
cuidado em saúde em função da vigência do modelo biomédico. Concluímos que (1)
a biomedicina, enquanto racionalidade médica predominante na medicina ocidental,
está historicamente ligada aos princípios teórico-metodológicos da racionalidade
científica moderna e à ideologia cientificista que dela decorre; (2) a medicina das
espécies (medicina classificatória) como primeiro modelo de teoria e prática médicas
modernas bem como a anatomia patológica podem ser considerados como os
principais antecedentes históricos do modelo biomédico, sendo muitos dos impasses
vivenciados por esse modelo heranças de concepções daqueles movimentos; (3)
Alguns dos principais impasses advindos da biomedicina são: ênfase na doença e
no diagnóstico; diagnóstico reducionista baseado unicamente em sinais e sintomas
orgânicos; separação entre corpo e psiquismo; criação de um imaginário em que a
doença ocupa o lugar de inimigo; necessidade de correspondência entre sintomas e
lesões como forma de legitimar o sofrimento do paciente, dentre outros.
Tendo apresentado esse panorama de problemas para os quais a obra de
Groddeck traria contribuições, no capítulo 2 fizemos um extenso ainda que sintético
apanhado de fatos importantes da vida de Groddeck e de suas principais idéias.
183
Mencionamos o pouco reconhecimento que sua obra obteve ao longo dos anos
atribuindo-o ao fato de grande parte das proposições do autor estar na contramão da
racionalidade biomédica que, até algum tempo não recebia muitas críticas e,
portanto, gozava de hegemônica legitimidade e ao caráter assistemático do
pensamento groddeckiano bem como à própria personalidade excêntrica do médico,
fatores que acabaram inviabilizando o surgimento de uma “Escola Groddeckiana de
Psicanálise”.
Acompanhamos também, através das próprias narrativas do autor, as
relações entre fatos de sua infância, sua escolha profissional e seus pontos de vista
acerca da ciência, da doença e da medicina. Demonstramos a forte influência que
pensadores românticos, principalmente Goethe, tiveram sobre suas idéias, além das
influências de duas outras figuras essenciais: Ernst Schweninger e Sigmund Freud.
O primeiro com suas lições acerca da função ativa da natureza no processo de cura
e o papel relativo do médico e o segundo compartilhando com Groddeck a
descoberta das espantosas relações entre os símbolos e o corpo.
Vimos também como Groddeck acabou tendo acesso de modo autônomo a
experiências semelhantes às de Freud, o que gerou, inclusive, certa rivalidade
implícita na relação entre ambos. Foram justamente tais experiências – com
pacientes de doenças orgânicas e não histéricos – a fonte de onde Groddeck extraiu
os três eixos principais de seu pensamento, a saber: o simbolismo como produção
espontânea e não a conjugação arbitrária entre palavras e coisas; o conceito de Isso
como totalidade individual; e a concepção da doença como sendo portadora de
sentido. Esses três pilares de sua doutrina foram examinados com bastante rigor,
fazendo justiça ao sentido dos textos groddeckianos e, ao mesmo tempo,
esclarecendo determinados aspectos obscurecidos por seu estilo de escrita.
Ao final do capítulo 2, acreditávamos que o leitor já estaria suficientemente
capacitado a compreender o que apresentaríamos no capítulo seguinte, na medida
em que estaria ciente dos principais conceitos de Groddeck, podendo apreciar
adequadamente suas contribuições. Assim, no capítulo 3, núcleo de nosso estudo,
expusemos algumas das contribuições que pudemos extrair da obra de Groddeck
para a superação dos impasses da biomedicina examinados no capítulo 1.
184
No modelo biomédico, a medicina possui o estatuto de ciência, no sentido
estrito do termo, e não o de uma prática ou uma arte. Como toda ciência deve
necessariamente ter um objeto de estudo, o da medicina seria a doença. Daí o
enfoque maior dado no contexto do tratamento às características da doença em si
mesmas e não ao indivíduo que se apresenta doente. Se a doença é o verdadeiro
objeto de estudo, aquilo sobre o qual se deve produzir um saber o mais rigoroso
possível a fim, paradoxalmente, de eliminá-lo, o doente acaba tornando-se um
elemento estorvador dessa tarefa. Afinal, com suas queixas “mal” formuladas, sua
descrição “insuficiente” dos sintomas, o doente acaba dificultando o processo
desempenhado pelo cientista/médico de localização e determinação da doença.
Groddeck, por sua vez, seguindo os passos de seu mestre em medicina
Ernst Schweninger, defende que o doente seja colocado em primeiro plano,
argumentando que o diagnóstico da doença é, em última instância, apenas uma
ficção teórica, um nome dado a um conjunto de processos que ocorrem com um
indivíduo. Em outras palavras, para Groddeck o paciente e não a patologia é a única
realidade vivencial a que o profissional de saúde tem acesso, de sorte que o doente
deve ser o verdadeiro objeto do tratamento e não a doença.
Reconhecendo a impossibilidade de sustentar um cuidado em saúde sem
algum tipo de diagnóstico, Groddeck propõe que em vez do diagnóstico tradicional
feito em medicina, baseado apenas em sinais e sintomas corporais, se faça um
“diagnóstico do ser humano”, muito mais amplo.
Defendendo sua tese axial de que toda doença possui um sentido, ou seja,
que está inserida dentro de uma história subjetiva e simbólica, Groddeck não admite
a tendência beligerante em relação à enfermidade encontrada na biomedicina. Se a
doença, para o médico alemão, é um modo de expressão do indivíduo, não se deve
combatê-la, mas compreendê-la, a fim de superá-la, retirando-lhe sua necessidade.
Mesmo antes de conhecer o conceito freudiano de transferência, Groddeck
já era ciente das fantasias, afetos e toda a gama de conteúdos emocionais que se
fazem presentes na relação médico-paciente. Por conta disso, defende que muitos
obstáculos enfrentados no decorrer do tratamento podem estar relacionados ao que
Freud denominaria posteriormente de “dinâmica transferencial”. Em decorrência, a
185
transferência deve ser sempre levada em conta pelo profissional de saúde em todas
as fases do tratamento.
Vimos também que Groddeck não admite a separação entre corpo e
psiquismo, considerando ambos como linguagens do Isso. Tal separação, com
efeito, se faz presente no modelo biomédico e gera diversos impasses
especialmente nos casos de queixas somáticas para as quais não se encontra uma
lesão correspondente. A adoção do ponto de vista monista proposto por Groddeck
elimina tal limitação na medida em que não se faz necessária a localização de uma
lesão para legitimar uma queixa. Para o autor, toda e qualquer manifestação
individual, seja ela física ou psíquica é uma forma que o Isso encontra para se
expressar.
Finalizamos o terceiro capítulo apontando a contribuição que, a nosso ver, é
a mais notável que pôde ser extraída da obra de Groddeck, a saber: a tese de que a
doença está inserida na história de vida do doente e não é apenas uma disfunção
corporal sem significado subjetivo. Argumentando que a doença é uma manifestação
da vida, como todas as demais expressões humanas, o médico alemão elimina a
barreira entre doença e subjetividade que na biomedicina se impõe de maneira
bastante rígida.
No capítulo 4, que consideramos como sendo de natureza complementar,
quisemos valorizar ainda mais as contribuições de Groddeck relacionando-as a
idéias de outros autores cujos focos de reflexão são realidades de uma dimensão
mais ampla do que a do cuidado em saúde. Em outras palavras, como dissemos no
início daquele capítulo, nosso intuito era o de inserir as proposições de Groddeck no
interior de uma metadiscursividade. A fim de cumprir tais objetivos, fizemos uso
principalmente dos pensamentos de Baruch de Spinoza, filósofo do século XVII e de
Georges Canguilhem, filósofo do século XX que também se formou em medicina. De
Spinoza utilizamos principalmente suas teses da Natureza como substância única;
da matéria e pensamento como modalidades dessa Natureza; e do ser como
conatus, esforço de perseveração na existência. De Canguilhem colhemos sua
definição positiva de saúde, como capacidade normativa bem como seu conceito de
normatividade biológica, o qual se harmoniza bastante com o modo como Groddeck
define a atividade do Isso.
186
Encerramos este estudo com a esperança de que o trabalho de investigação
que fizemos na obra de Groddeck a fim de colaborar para a elaboração de um novo
modelo de cuidado em saúde possa ultrapassar os limites destas páginas.
Desejamos que o que escrevemos aqui seja capaz de inspirar o interesse dos
leitores pelos escritos de Groddeck, levando cada um a fazer a experiência pessoal
de verificar a riqueza presente naqueles textos. Além disso, esperamos que as
contribuições que extraímos do pensamento groddeckiano possam ser de fato
levadas em conta na discussão que hoje se faz sobre as limitações da biomedicina.
Nossa intenção não foi apenas a de realizar um exercício de pesquisa teóricoconceitual sem maiores conseqüências. A aposta é de que as idéias de Groddeck
que aqui apresentamos possam se desdobrar em propostas efetivas de
transformações na teoria e na prática do cuidado em saúde. Todavia, se, no mínimo
a pergunta que dá título a esse trabalho – Para que servem as doenças? – passar a
ser feita pelos profissionais de saúde que lerem essa dissertação já será o sinal de
que nosso esforço não foi em vão.
187
REFERÊNCIAS
ARISTÓTELES. Metafísica: Ética a Nicômaco: Poética. Livro I e Livro II. São Paulo:
Abril; Cultural, 1984. (Coleção Os Pensadores)
ÁVILA, L. A. Groddeckian Interventions In Medical Settings. The American Journal
of Psychoanalysis, v. 71, p. 278-289, 2011.
AYRES, J. R. Cuidado e reconstrução das práticas de saúde. Interface:
Comunicação, Saúde, Educação (Botucatu, SP), v. 8, n. 14, 2004.
______. Hermenêutica e humanização das práticas de saúde. Ciênc. saúde
coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, 2005.
______. Uma concepção hermenêutica de saúde. Physis, Rio de Janeiro, v. 17, n.
1, 2007.
CAMARGO JR., K. R. D. A biomedicina. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v.15,
n.1, p.45-68, 1997.
CANGUILHEM, G. Escritos sobre a medicina. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2005.
______. O Normal e o Patológico. 6. ed. rev. Rio de janeiro: Forense Universitária,
2009.
COELHO NETTO, J. T. O Fuçador das Almas. In: GRODDECK, G. O livro dIsso.
Trad.: José Teixeira Coelho Netto. São Paulo: Perspectiva, 2008. p. IX-XIII (Coleção
Estudos, 83).
COELHO, H. S. A religião de Goethe. 2007. 115 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências da Religião) – Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz
de Fora, Juiz de Fora, 2007.
DESCARTES, R. Discurso do Método.São Paulo: Martins Fontes, 1996. (Tradução
de: Maria Ermantina Galvão).
DIMITRIJEVIC, A. Definition, foundation and meaning of illness: locating Georg
Groddeck in the history of medicine. The American Journal of Psychoanalisis, v.
68, p. 139-147, 2008.
188
DURRELL, L. Prefácio. In: GRODDECK, G. O livro dIsso. Trad.: José Teixeira
Coelho Netto. São Paulo: Perspectiva, 2008. p. XV-XVI (Coleção Estudos, 83).
FOUCAULT, M. O Nascimento da Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2008.
FREUD, S. Esboço de psicanálise. In: ______. Edição Standard Brasileira das
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996b,
v. XXIII.
______. Projeto para uma psicologia científica. In: ______. Edição Standard
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de
Janeiro: Imago, 1996a, v. 1.
GRODDECK, G. Estudos psicanalíticos sobre psicossomática. São Paulo:
Perspectiva, 1992. (Coleção Estudos, 120).
______. O homem e seu isso. Trad.: Natan Norbert Zins. São Paulo: Perspectiva,
1994. (Coleção Estudos, 99).
______. O livro dIsso. Trad.: José Teixeira Coelho Netto. São Paulo: Perspectiva,
2008. (Coleção Estudos, 83).
GUEDES, C. R.; NOGUEIRA, M. I.; CAMARGO JR., K. R. D. A subjetividade como
anomalia: contribuições epistemológicas para a crítica do modelo biomédico.
Ciência & Saúde Coletiva, v. 11, n. 4, 2006.
______. Os sofredores de sintomas indefinidos: um desafio para a atenção médica?
Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 19, n. 3, 2009.
LANGAN, R. Embodiment. The American Journal of Psychoanalysis, v. 67, p.
249-259, 2007.
LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. Vocabulário da psicanálise. São Paulo: Martins
Fontes, 1992.
LOQUE, F. F. Notas sobre Galeno, a noção de saúde e o debate médico-filosófico
sobre a causalidade. Revista Archai: revista de estudos sobre as origens do
pensamento ocidental, Brasília, n. 3, 2009.
LUZ, M. Natural, Racional, Social: razão médica e racionalidade científica
moderna. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
189
______. Cultura contemporânea e medicinas alternativas: novos paradigmas em
saúde no fim do século XX. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.
7, n. 1, 2005.
MARTINS, A. Da Natureza espinosiana: ontologia, epistemologia e ética. Ethica, v.
5, n. 1, 1998.
______. Novos paradigmas e saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 9, n. 1,
1999.
______. Filosofia e saúde: métodos genealógico e filosófico-conceitual. Cad. Saúde
Pública, v. 20, n. 4, 2004a.
______. Biopolítica: o poder médico e a autonomia do paciente em uma nova
concepção de saúde. Interface [Botucatu, SP], v. 8, n. 14, 2004b.
______. Religiões e tecnologias médicas: soluções mágicas contemporâneas – uma
análise a partir de Spínoza, Winnicott e Nietzsche. In: BARROS et al. Os fármacos
na atualidade: antigos e novos desafios. Brasília: Anvisa, 2008.
______. Multi, inter e transdisciplinaridade sob um olhar filosófico. In: VEIT, M. T.
(org.). Transdisciplinaridade em oncologia: caminhos para um atendimento
integrado. São Paulo: ABRALE / HR, 2009, p. 24-30.
NIETZSCHE, F. Além do Bem e do Mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Porto
Alegre: L&PM, 2008.
PLASTINO, C. Os horizontes de Prometeu. Considerações para uma crítica da
modernidade. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 6, n. 1/2, p. 195–216, 1996.
QUEIROZ, M. D. S. O paradigma mecanicista da medicina ocidental moderna: uma
perspectiva antropológica. Revista de Saúde Pública, v. 20, n. 4, 1986.
ROSENBERG, C. E. Introduction – Framing Disease: Illness, Society, and History.
In: ROSENBERG, C. E.; GOLDEN, J. (ed.). Framing Disease: studies in cultural
history. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1992. p. xviii-xxvi.
ROZEMBERG, B.; MINAYO, M. C. S. A experiência complexa e os olhares
reducionistas. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, 2001.
RUDNYTSKY, P. L. Groddeck’s Gospel. In: ______. Reading psychoanalysis:
Freud, Rank, Ferenczi, Groddeck. New York: Cornell University Press, 2002.
190
SAYD, J. D. Mediar, medicar, remediar: aspectos da terapêutica na medicina
ocidental. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 1998.
SPINOZA, B. Ética. Trad.: Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
TESSER, C. D.; LUZ, M. T. Uma introdução às contribuições da epistemologia
contemporânea para a medicina. Ciência e Saúde Coletiva, v. 7, n. 2, p. 363-372,
2002.
______. Medicalização social (II): limites biomédicos e propostas para a clínica na
atenção básica. Interface [Botucatu, SP], v. 10, n. 20, p. 347-362, 2006.
______. A verdade na biomedicina, reações adversas e efeitos colaterais: uma
reflexão introdutória. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 17, n. 3, 2007.
______. Três considerações sobre a má medicina. Interface. [Botucatu, SP], v. 13,
n. 31, p. 273-286, 2009.
VALVERDE, R. R.; RIVERAS, H. R. N. Para conhecer Georg Groddeck. São
Paulo: Berggasse, 2004. p. 19.
WADE, D. T.; HALLIGAN, P. W. Do biomedical models of illness make for good
healthcare systems? BMJ, v. 329, n. 7479, p. 1398 -1401, 2004.
191
ANEXOS
192
ANEXO A - ARTIGO A SER SUBMETIDO À REVISTA INTERFACE –
COMUNICAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO
A originalidade da obra de Georg Groddeck e algumas de suas contribuições
para o campo da saúde
Resumo
Este artigo tem o objetivo de apresentar algumas idéias sobre medicina, doença,
saúde e cura extraídas da obra do médico e psicanalista Georg Groddeck (19661934). A hipótese que norteia o trabalho é de que tais proposições podem contribuir
ativamente para a discussão contemporânea sobre os limites da biomedicina e a
necessidade de reformulação do modelo de cuidado em saúde ocidental.
Primeiramente, são analisadas as origens históricas e filosóficas da biomedicina e
alguns dos impasses enfrentados por usuários e profissionais de saúde em função
do predomínio da racionalidade biomédica. Em seguida, são tecidas algumas
considerações sobre a vida e a obra de Groddeck, culminando na apresentação de
quatro importantes contribuições do autor avaliadas à luz dos limites biomédicos.
Palavras-chave: Georg Groddeck; doença; saúde; biomedicina
Introdução
Recentemente tem sido possível encontrar um número expressivo de trabalhos na
literatura do campo da saúde que se dedicam a apontar as limitações do que tem
sido chamado de biomedicina ou modelo biomédico. Uma amostra ilustrativa dessa
produção bibliográfica é constituída por Queiroz (1986); Camargo Jr. (1997); Bonet
(1999); Caprara & Franco (1999); Martins (1999; 2004); Ayres (2001); Barros (2002);
Caprara & Rodrigues (2004); Wade & Halligan (2004); Guedes; Nogueira & Camargo
Jr. (2006; 2008; 2009); Tesser (2006a; 2006b; 2007; 2009). É possível notar nesses
trabalhos certo consenso de que o modelo biomédico precisa ser modificado, na
medida em que as ações de assistência à saúde que dele decorrem têm provocado
193
muito mais efeitos deletérios do que vantajosos tanto para os usuários dos serviços
de saúde quanto para os próprios profissionais.
Antes, contudo, de analisarmos diretamente quais seriam tais efeitos e de onde eles
provêm,
é
necessário
fazermos um esclarecimento
de
cunho conceitual.
Dependendo da orientação epistemológica adotada por cada autor, a biomedicina
pode ser vista como um paradigma (segundo a terminologia proposta por Thomas
Khun), como um estilo de pensamento (na acepção de Ludwik Fleck), como
racionalidade médica (conceito elaborado por Madel Luz). A discussão referente a
qual conceito seria o mais adequado para caracterizar a biomedicina foge aos
nossos propósitos neste trabalho. Por conta disso, estabeleceremos aqui uma
definição operacional do que entendemos pelo termo biomedicina com vistas apenas
a situar o campo em que se localizam os impasses a que faremos referência
adiante.
Assim, podemos caracterizar como biomedicina o conjunto de diretrizes teóricas e
práticas que orientam a formação médica moderna no ocidente e que, por
conseguinte, guiam a prática não só dos médicos, mas também da maior parte dos
profissionais de
saúde.
Como
não
nos afiliaremos a
nenhuma
corrente
epistemológica específica, nos permitiremos a liberdade de utilizar termos como
“paradigma”, “racionalidade” e “modelo” para nos referirmos à biomedicina embora
esvaziados da carga conceitual específica que possuem no pensamento dos autores
que os propuseram.
No que concerne às origens históricas e conceituais da biomedicina, pode-se dizer
que ela foi gestada a partir dos princípios teórico-metodológicos que fundamentaram
a chamada racionalidade científica moderna (Luz, 1988; Camargo Jr., 1997; Martins,
1999).
Com a queda da visão de mundo teocêntrica na Europa a partir dos séculos XIV e
XV e o advento do movimento renascentista veio a lume a idéia de que a ordem do
mundo não decorre dos arbitrários decretos divinos, mas é fruto da ação humana e
pode, em decorrência, ser transformada (Luz, 1988). O homem passa, então, a ser
considerado o “gestor” de sua própria realidade e não mais apenas um servo a
cumprir as determinações de Deus. Logo, cabe-lhe fazer com que essa realidade
funcione de acordo com seus próprios desejos e ditames.
194
Para isso, contudo, é preciso que o ser humano passe a ser visto como um ente
separado do restante da natureza, que se eleva acima dela por possuir um atributo
que supostamente lhe seria exclusivo, a saber: a razão (Martins, 1999). Temos,
portanto, como conseqüências do movimento renascentista e da fragilização da
visão religiosa de mundo a instituição de uma dicotomia entre homem e natureza e o
surgimento da idéia de que a natureza é um objeto a ser dominado a partir da
racionalidade humana (Luz, 1988).
É precisamente a tese de que há uma separação radical entre homem e natureza, e
seus postulados correlatos, que estão no fundamento da racionalidade científica
moderna e, por conseguinte, também da biomedicina. Essa separação é feita no
plano conceitual a fim de sustentar ideologicamente a legitimidade de um objetivo de
ordem prática: o controle absoluto da natureza. Em outras palavras, só é possível
pensar como viável e lícito o desejo de estabelecer domínio sobre a natureza
negando-se deliberadamente o fato de que o homem está essencialmente inserido
nela (Martins 1999; 2009).
Todo o imaginário criado sobre a natureza ao longo, especialmente, dos séculos
XVII e XVIII, primeiro como força traiçoeira, obscura, imprevisível e, posteriormente,
como máquina, se prestava a justificar a elaboração de um tipo de conhecimento
que fosse capaz de dominar o chamado mundo natural (Luz, 1988). Afinal, se a
natureza é um continente desconhecido e perigoso é preciso lançar-lhe luz a fim de
que dela possamos nos defender; e, por outro lado, se ela é uma máquina, a tarefa
de dominá-la torna-se ainda mais alcançável: basta que se conheçam as leis que
regulam seu funcionamento.
A racionalidade científica moderna está calcada, portanto, no pressuposto de que
não apenas é desejável como também possível controlar absolutamente a natureza.
Possível na medida em que a razão humana, pela via da ciência, seria capaz de
refletir a verdade da natureza. Os métodos e conceitos utilizados pela ciência não
seriam apenas suportes capazes de auxiliar-nos a alcançar o conhecimento da
realidade, mas verdadeiros espelhos da natureza. Trata-se, como hoje nos parece
evidente, de uma concepção reducionista que advoga que toda a complexidade
existente na natureza é passível de ser reduzida aos modelos de compreensão
elaborados pela ciência (Martins, 1999; 2009).
195
O reducionismo que, é bom que se diga, não é um atributo da ciência, mas do
cientificismo, isto é, de uma ideologia científica destinada a justificar a pretensão de
controle absoluto da natureza (Martins 2009), é um traço que se encontra presente
com bastante força na biomedicina. Afinal, uma característica marcante dessa
racionalidade médica é o repúdio a outros tipos de abordagem dos processos
saúde-doença,
por
considerá-los
falsos
na
medida
em
que
não
estão
fundamentados em pesquisas com o uso dos métodos tradicionais da ciência
positivista. Dito de outro modo, para o modelo biomédico, assim como para a
racionalidade científica moderna, só se pode considerar um conhecimento como
verdadeiro se, e somente se, o método através do qual ele veio à luz for
cientificamente reconhecido, sobretudo se for um método experimental.
Outra característica da biomedicina que demonstra o quanto a ideologia cientificista
se faz presente nessa racionalidade é a sustentação da tese de que a medicina,
para ser considerada uma prática legítima, deve necessariamente ser concebida
como uma ciência e não como uma arte ou uma práxis. Essa seria a condição para
que o conhecimento médico pudesse ser tomado como digno de crédito. Perde-se
assim de vista a singularidade de cada encontro entre o profissional de saúde e o
paciente como potencialmente capazes de gerar conhecimento. Afinal, para a
racionalidade científica moderna, o único conhecimento válido é o saber do universal
e não do particular; as únicas conclusões verdadeiras seriam as que pudessem ser
generalizadas para todos os elementos de um mesmo universo (Martins, 1999).
Quando essa idéia é levada para o campo da saúde ela coloca em jogo sérios
impasses, pois conquanto seja possível estabelecer no plano da teoria uma ciência
das doenças, concebendo as enfermidades como entidades patológicas organizadas
em famílias e gêneros, na dimensão prática essa sistematização se revela
absolutamente
estéril.
Afinal,
embora
guardem
inúmeras
semelhanças
e
equivalências, o câncer de Pedro não é e jamais será igual ao câncer de Paulo
ainda que o órgão afetado em ambos os casos seja o mesmo e que os sintomas
sejam idênticos. Em decorrência, será um equívoco propor um mesmo protocolo
terapêutico para Pedro e para Paulo sem considerar as configurações singulares de
cada caso. Não obstante, ainda que nem sempre isso ocorra na prática, a pretensão
da biomedicina é justamente essa: estabelecer protocolos padrões para o
tratamento de cada tipo de enfermidade. O que dá sustentação para que se
196
considere que isso é possível são precisamente os postulados da racionalidade
científica moderna segundo os quais se poderia controlar a realidade de modo
absoluto, pois a natureza seria uma imensa máquina, com um funcionamento
regular e previsível.
Como
mencionamos anteriormente, na biomedicina as doenças não são
consideradas como processos ou experiências, mas sim como entidades patológicas
(Camargo Jr., 1997). Ainda que não se trate mais de pensá-las efetivamente como
coisas ou seres que invadiriam o organismo humano deixando-o debilitado –
concepção presente na chamada “medicina das espécies” do século XIX – no
imaginário biomédico a enfermidade ainda adquire tal forma. De fato, a própria
tentativa de construir um conhecimento universal acerca das doenças já faz com que
essas assumam contornos de objetos passíveis de serem isolados. Ao conceber a
patologia dessa forma, a biomedicina acaba promovendo uma separação entre a
doença e a história de vida do paciente. A única história que interessa é a chamada
história natural da doença a qual é justamente uma tentativa de estabelecer um
conhecimento universal sobre a enfermidade. A história natural da doença consiste
em um modelo teórico proposto por Leavell e Clark (citados por Camargo Jr., 1997)
que pretende dar conta de todos os processos que se manifestam ao longo da
trajetória de uma doença, indo desde as condições ambientais responsáveis pelo
surgimento da patologia, passando pelos períodos de agravamento e convalescença
e desembocando nos destinos finais do processo de adoecimento que, de acordo
com o modelo, podem ser a recuperação, a cronificação da doença, a invalidez ou a
morte.
O nome “história natural da doença” é, de fato, o mais apropriado, pois o que se
pretende efetivamente é circunscrever o curso da doença no organismo do paciente
e não a história do paciente que se vê às voltas com uma doença. Essa concepção,
que vê a doença como entidade dissociada da biografia individual está intimamente
associada com outro aspecto da biomedicina que é a exclusão da subjetividade na
análise dos processos saúde-doença (Guedes; Nogueira & Camargo Jr., 2006).
Com o termo “subjetividade” não estamos fazendo referência apenas aos chamados
fenômenos psicológicos ou variáveis emocionais. Aqui, entendemos subjetividade
como o conjunto de processos afetivos, psicológicos, sociais, históricos, políticos
197
que interagem entre si tendo um ponto comum: uma pessoa, um sujeito que, embora
seja propriamente constituído por tais processos, é capaz de reagir a eles, dar-lhes
sentido e organizá-los na forma de uma história de vida. É toda essa complexidade
que é sistematicamente escamoteada pelo modelo biomédico, na medida em que o
adoecimento é pensado como um evento apenas orgânico ou, no máximo, como
uma disfunção corporal influenciada por fatores “emocionais” os quais, em última
instância, podem ser reduzidos a variáveis orgânicas.
Essa ênfase nos índices e sinais orgânicos da doença caracteriza o que nos
autorizamos a assinalar como o reducionismo por excelência da biomedicina: o
reducionismo organicista.
Trata-se de um ponto de vista sobre a doença profundamente influenciado pela
criação, em meados do século XIX, da disciplina anatomia patológica, que se
distinguia por estudos comparativos entre a evolução e os sintomas das
enfermidades e lesões encontradas no corpo do doente. Na época, tal investigação
era feita fundamentalmente em cadáveres na medida em que ainda não se dispunha
de instrumentos e técnicas capazes de verificar as lesões no organismo vivo. O
advento da anatomia patológica operou uma transformação radical na compreensão
da doença. Se anteriormente a medicina das espécies destacava os sintomas como
os signos suficientes para determinar qual entidade patológica estava em jogo e a
qual família e gênero ela estaria vinculada, com a entrada em cena dos dados
anatômicos, o corpo passa a ser tomado como a sede onde se encontra a verdade
da doença (Foucault, 2008).
Não apenas observar, mas efetivamente ver, passaria a ser o lema da medicina
ocidental moderna. Posteriormente, com a invenção dos diversos métodos de
exame por imagem, o sentido da visão ganharia ainda mais prestígio no campo da
saúde. Por conta disso, o discurso do doente passaria a ter um valor bastante
reduzido no modelo biomédico. O que de fato é levado em conta é aquilo que os
exames são capazes de dizer. Desse modo, ainda que o paciente se queixe de
dores, caso os exames não apontem nenhuma lesão subjacente a tal sintoma, a fala
do doente é colocada em segundo plano e os dados anatômicos adquirem o estatuto
de veredicto final, levando o médico a proferir a famosa frase: “Você não tem nada.”.
198
Diante desse panorama de problemas, impasses e limitações do paradigma
biomédico, consideramos que não é suficiente apenas indicar e defender a
necessidade de transformação. É preciso efetivamente apontar possíveis soluções
ou, no mínimo, propostas que sejam capazes de contribuir para a elaboração de um
novo paradigma para o cuidado em saúde. Nossa hipótese aqui é a de que na obra
do médico e psicanalista Georg Groddeck (1866-1934) é possível encontrar
contribuições dessa natureza. Contudo, antes de analisarmos quais seriam tais
proposições, falemos um pouco acerca do autor.
Quem foi Georg Groddeck?
Georg Walther Groddeck nasceu em 13 de outubro de 1866 na cidade alemã de Bad
Kösen. Por influência do pai, que também era médico, e por contingências de sua
vida infantil, Groddeck seguiria a carreira médica especializando-se no tratamento
de doenças crônicas. Em 1900, funda um sanatório na cidade de Baden-Baden onde
trabalharia até o fim da vida. Para além da medicina, Groddeck também se
aventurou na carreira de escritor, tendo produzido livros de ficção, memórias e
artigos de análise de obras de outros autores, além dos inúmeros textos médicos e
psicanalíticos. O avô materno de Groddeck, August Koberstein, fora um renomado
historiador da literatura alemã e professor durante 50 anos na escola de Pforte,
tendo entre seus alunos o filósofo Friedrich Nietzsche, de quem Groddeck, décadas
depois, tomaria o conceito de “Isso” (das Es).
Groddeck fica relativamente conhecido no meio médico e psicanalítico a partir do
final da década de 1910 quando inicia sua correspondência com Sigmund Freud e
adere ao movimento psicanalítico. Quatro anos antes de escrever sua primeira carta
a Freud, Groddeck havia publicado o livro “NASAMECU”, título formado a partir das
sílabas iniciais do ditado latino “Natura sanat medicus curat” (“A natureza cura, o
médico trata”), adágio defendido como princípio de prática médica por seu mestre
em medicina, Ernst Schweninger. Nesse livro, que é uma espécie de tratado geral
sobre medicina para uso leigo, Groddeck tece agudas críticas à psicanálise sem
verdadeiramente, no entanto, ter lido os textos de Freud.
199
Reconhecendo tal injustiça, na primeira carta ao pai da psicanálise Groddeck relata
as descobertas a que teve acesso no tratamento de pacientes com doenças
orgânicas, achados que são bastante semelhantes aos que o próprio Freud obtivera
a partir do tratamento da neurose. Com efeito, Groddeck notara que os sintomas de
seus pacientes podiam ser lidos e interpretados como símbolos de uma dinâmica
subjetiva. Ora, Freud tivera contato com experiência análoga. A diferença estava no
fato de que os pacientes que Groddeck atendia sofriam de patologias somáticas e
não psíquicas como a histeria, a fobia e a neurose obsessiva – quadros clínicos
mais freqüentes na clínica freudiana (Groddeck, 1994).
A novidade trazida por Groddeck a Freud era, portanto, a extensão da psicanálise
para outros territórios além da neurose. De fato, como atestam os inúmeros
exemplos relatados por Groddeck em suas cartas a Freud e em seus artigos, o
médico de Baden-Baden obtinha êxito no tratamento de seus pacientes utilizando o
método psicanalítico. Freud manifestara-se explicitamente entusiasmado com as
pesquisas de Groddeck e lhe autorizara a considerar-se psicanalista, criticando
apenas o ponto de vista filosófico de Groddeck a respeito das relações entre corpo e
mente. Com efeito, Groddeck afirmara, na primeira carta, que não considerava que
haveria uma separação entre corpo e psiquismo, mas que ambos seriam facetas de
um mesmo todo. Freud considerara tal concepção um tanto quanto carregada de
misticismo (Groddeck, 1994).
Ao propor a aplicação da psicanálise no tratamento de doenças orgânicas e o
entendimento simbólico dos sintomas somáticos, Groddeck passou a ser
considerado como um dos fundadores da chamada “medicina psicossomática”,
embora o próprio autor tenha se esquivado de tal epíteto argumentando que, do seu
ponto de vista, não haveria “psicogênese”, ou seja, não se trataria de pensar a
doença orgânica como sendo causada por elementos de ordem psicológica. Para
Groddeck, não haveria a ação de uma instância sobre a outra. Ambos, psiquismo e
corpo se enfermariam ao mesmo tempo e é essa condição que permitiria que o
adoecimento pudesse ser lido simbolicamente: o fato de que qualquer doença
estaria inevitavelmente conectada à vida como um todo.
Outro ponto que levou Groddeck a adquirir algum destaque no campo psicanalítico
foi o fato de ter sido o criador do conceito de Isso (em alemão: das Es) que Freud
200
passaria a utilizar a partir do início da década de 1920 em sua segunda tópica.
Embora o próprio Freud tivesse indicado brevemente em “O Eu e o Isso”, obra em
que introduz os elementos da segunda tópica, que passara a utilizar o conceito por
influência de Groddeck, ainda há muitos analistas que ignoram a precedência do
médico de Baden-Baden quanto ao uso do termo.
A introdução do conceito de Isso e o pioneirismo na aplicação da psicanálise a
problemas orgânicos foram as contribuições de Groddeck que mais ficaram
conhecidas no campo psicanalítico. Não obstante, como Freud elaborara a noção de
Isso à sua própria maneira e outros autores também começaram a tomar como
objeto de estudo a relação da psicanálise com os adoecimentos somáticos adotando
posições mais moderadas do que as de Groddeck, gradativamente o autor foi caindo
no esquecimento. Atualmente, são escassos os trabalhos que se dedicam a explorar
o pensamento groddeckiano. Tal negligência à obra do autor por parte dos meios
médico e psicanalítico pode estar associada também ao fato de Groddeck não ter
feito parte de fato da comunidade psicanalítica. A originalidade e o desejo do autor
de se diferenciar fizeram com que ele não se preocupasse em seguir a ortodoxia
psicanalítica. Para Groddeck, a psicanálise era apenas mais uma arma a ser
agregada a seu arsenal terapêutico. Renunciando, portanto, ao destaque no interior
do território psicanalítico, o médico se contentava em publicar a maior parte de seus
artigos no periódico “Die Arche” (A Arca) que circulava apenas entre seus pacientes
no sanatório.
Por esses e outros motivos, a obra de Groddeck tornou-se com o tempo uma
espécie de tesouro enterrado, prenhe de riquezas, mas oculto pelas contingências
da história. Ousamos aqui abrir esse baú e trazer à luz algumas de suas
preciosidades.
O doente e não a doença é o verdadeiro objeto do tratamento médico
Fizemos referência anteriormente ao fato de que no paradigma biomédico, a
medicina é vista como ciência e, por conta disso, a doença adquire preeminência em
relação ao doente ao olhar do profissional de saúde. Afinal, se se trata de uma
atividade científica, tal como a concebe a racionalidade científica moderna, é preciso
201
reduzir a complexidade da experiência do doente à forma límpida da classificação
nosológica:
... a pessoa doente, traduzida no modo de pensar científico, metamorfoseiase na doença. Há aí um sutil e importante processo, ao mesmo tempo
epistemológico e de crucial importância ética: a tradução científica da
pessoa doente a transforma em alguém portador de uma doença, para, em
seguida, começar a desfocar da primeira (a pessoa) para focalizar na
segunda (a doença), que cresce em importância e ameaça monopolizar a
atenção, como objeto do trabalho médico. (Tesser, 2007, p.468)
Mesmo antes de conhecer a psicanálise, quando ainda escrevia apenas sobre
medicina, Groddeck já se posicionava veementemente contra a tendência que já era
possível ser encontrada entre seus colegas de profissão de ênfase na doença e não
no doente. O autor aprendera de seu mestre em medicina, o já citado Ernst
Schweninger, que não é a doença o verdadeiro objeto do tratamento médico, mas
sim os doentes. Groddeck argumenta, seguindo as conseqüências dessa asserção,
que a tendência a valorizar, para usar uma linguagem popular, o que o paciente tem
e não como o paciente está faz do profissional de saúde um especialista na
descrição de sintomatologias e quadros clínicos, mas não alguém que de fato é
capaz de ajudar – a verdadeira função da atividade médica para o autor. Numa carta
a escrita a um professor de medicina de Berlim por volta de 1895, Groddeck localiza
esse problema como tendo origem na formação médica:
A ciência que lá [na Universidade] se ensina não conhece doentes, somente
grupos de doenças. Não conhece o indivíduo, conhece apenas casos. Não
sabe nada de diagnóstico pessoal, ensina o diagnóstico em palavras,
nomes de doenças. Nada suspeita de tratamento individualizador do ser
humano, mas ensina o remédio contra as doenças. Ela ensina erudição,
mas nenhum saber-fazer. (Groddeck, 1994, p.98)
Note-se que Groddeck está fazendo referência nessa citação à formação médica de
sua época (final do século XIX), quando a medicina ainda não contava com todo o
aparato tecnológico que hoje está disponível. Por conseguinte, se já naquela época
o conhecimento da doença era mais valorizado do que o cuidado com o doente, hoje
essa situação se intensificou na medida em que atualmente se pode contar com
métodos mais eficazes de investigação de agentes patológicos e da própria
expressão da doença no corpo.
Para Groddeck, a única forma de dirimir os problemas oriundos da supervalorização
da doença em detrimento do doente é a inversão dos pólos. Em outras palavras, é
preciso que o conhecimento da doença e o diagnóstico se tornem procedimentos
202
meramente complementares à tarefa primordial do profissional de saúde que é a de
ajudar. Trata-se, em última instância, de repensar a legitimidade de se considerar a
medicina como uma ciência das doenças e não como uma arte de curar.
Por um diagnóstico do ser humano
A ênfase do paradigma biomédico na doença e não doente produz como
consequência a supervalorização do diagnóstico. Frequentemente, na prática, a
elaboração correta do diagnóstico constitui-se na atividade central do médico, de tal
modo que frente a quadros clínicos de difícil ou impossível classificação, o
profissional de saúde simplesmente não sabe o que fazer. Isso ocorre porque os
protocolos terapêuticos estão diretamente associados às classificações nosológicas,
fazendo com que o médico só saiba o que fazer caso consiga encaixar as
manifestações do doente numa categoria patológica específica.
Groddeck, por seu turno, considera o diagnóstico um procedimento não apenas
dispensável em alguns casos como também amiúde danoso para o doente e para o
tratamento. Seu argumento repousa na tese de que, tendo em vista as pretensões
daquele que elabora o diagnóstico de identificar a doença, trata-se, nesse processo,
de uma espécie de violação da realidade. Ao primar pela identificação da entidade
patológica da qual o indivíduo padeceria, aquele que diagnostica é forçado a excluir
do seu campo de visão toda a complexidade do real da qual a patologia é apenas
um fragmento:
Não é possível estabelecer um diagnóstico completo, que esgote todos os
aspectos, e só o desejo de fazê-lo já implica o maior risco que o médico
corre, o de superestimar sua capacidade. Insistimos em dizer que o
diagnóstico sempre deve ser questionado pelo médico, que este nunca
deve se esquecer de que muitas vezes o diagnóstico é insuficiente ou
errado, e que ao estabelecê-lo corre o risco de considerar a doença como
uma situação, quando na verdade ela é um processo. (Groddeck, 1992,
p.247)
Groddeck, portanto, não nega a relevância ou a utilidade do diagnóstico; só diz que
o diagnóstico cujo foco é exclusivamente o reconhecimento da doença consiste num
procedimento assaz equivocado na medida em que não contempla aspectos de
suma importância para o tratamento, como, por exemplo, o modo como doente e
médico se relacionam, a forma como o paciente formula sua demanda de cura,
203
entender a função da doença para aquele paciente, etc. Nesse sentido,
considerando que é impossível tratar um paciente sem algum tipo de diagnóstico,
Groddeck irá propor que, em vez do diagnóstico tradicional da medicina, isto é, o
diagnóstico que visa à classificação do sofrimento do paciente em alguma categoria
nosológica, se faça um diagnóstico do ser humano. Trata-se de um diagnóstico que
não contém dados relativos apenas a sinais e sintomas, mas ao máximo possível de
variáveis sobre o paciente, como aspectos psicológicos, sociais e relativos a sua
história de vida.
O diagnóstico do ser humano também está fundamentado na tese groddeckiana de
que o médico deve tratar o ser humano e não o doente. Ao se concentrar no fato de
que aquele que o procura está doente, os médicos automaticamente reduzem ainda
mais sua percepção para se dirigirem apenas àquilo que no discurso do indivíduo
tem relação imediata com a doença. Assim, o profissional exclui do seu campo de
observação toda a imensidão de fatores que está por trás do estar doente e dos
quais esse estado é a expressão. Groddeck propõe, então, que o médico deva
fornecer ajuda ao ser humano que a ele recorre e não ao estado doentio em que ele
se encontra.
Se entendermos a doença na perspectiva groddeckiana, isto é, como uma
expressão do Isso, quando se elimina somente o estar doente e deixa-se intacto o
ser humano, o indivíduo perde justamente o único modo possível que havia
encontrado até então para se expressar. Em decorrência, na falta daquele, talvez
passe a se expressar através de outro até mais grave...
Para diagnosticar o ser humano, segundo Groddeck, para além do estar doente, em
primeiro lugar o médico não deve limitar seu olhar ao corpo; deve realizar um estudo
completo do indivíduo, atentando para o que ele tem de comum em relação a outros
e o que lhe é singular. O profissional deve examinar “sua figura e a forma dos seus
órgãos e partes, internos e externos, suas funções desde respirar, dormir,
movimentar-se, digerir, pulsar o coração até falar, pensar, sentir.” (Groddeck, 1994,
p.258). Em segundo lugar, o médico deve considerar tudo o que o indivíduo sente e
faz, voluntária ou involuntariamente, como sintomas. Do ponto de vista de Groddeck,
sintomas não significam apenas indícios da existência de uma doença, mas sim
linguagens que o Isso utiliza para se expressar:
204
“... no conceito de sintoma não estão incluídos apenas a temperatura, a
pulsação e os diversos sinais de doença, mas tudo o que o isso do doente
mostra e o que o isso do médico é capaz de perceber, da forma do queixo
às comoções profundamente secretas, das presentes situações ao passado
mais longínquo” (Groddeck, 1994, p.228)
Para Groddeck, saúde e doença não são estados individuais completamente
distintos, pois ambos são formas de expressão do indivíduo, do Isso. A questão mais
importante, portanto, para o profissional de saúde, não é a eliminação da doença,
mas sim a compreensão acerca das razões pelas quais o indivíduo está se
expressando de modo patológico. Para esse discernimento, não é suficiente um
diagnóstico que tenha como foco os caracteres particulares da doença que se supõe
habitar o corpo do doente. Será preciso considerar toda e qualquer manifestação do
indivíduo como um índice para o entendimento de sua condição. Tudo aquilo que ele
faz será visto como sintoma não da doença, mas do ser humano, do indivíduo que
ele é e que, naquele momento específico, está se expressando pela via da doença.
No texto “Da visão, do mundo dos olhos e da visão sem os olhos”, no qual Groddeck
faz uma longa interpretação do significado simbólico dos órgãos visuais, o autor
aborda a importância do diagnóstico amplo do ser humano como ferramenta
essencial para o êxito do tratamento:
Para o juízo médico e humano é muito significativo se a pessoa que sofre
de algum mal da visão é um homem, uma mulher, uma criança ou um
ancião, como também é importante saber quais são as condições de vida
do paciente, quais são seus desejos e necessidades, como é o seu caráter,
suas características pessoais, como é a sua constituição, e tudo que se
possa descobrir sobre sua pessoa, seu consciente e seu inconsciente, para
tratá-lo de forma adequada. Uma parte dos enfermos que oferece
resistência a um tratamento baseado num diagnóstico anatômico irá
melhorar ao se ampliar a maneira de diagnosticar. (Groddeck, 1992, p.249)
Compreensão e não combate à doença
Herdeiro da racionalidade científica moderna, o modelo biomédico concebeu as
relações entre a medicina e a doença analogamente àquelas estabelecidas entre
razão e natureza. As doenças se tornaram, então, as inimigas naturais do homem.
As grandes pestes da Antiguidade e as representações sociais que se organizavam
em torno delas já forneciam o pano de fundo necessário para pensar a enfermidade
como o mal que vem desvirtuar a saúde humana. Com o advento da medicina das
espécies e sua concepção da patologia como entidade, o imaginário construído
205
sobre a doença se estabeleceu de vez sob o signo do medo e do ódio. As doenças
passaram então a serem pensadas como seres provenientes da perigosa natureza e
que deveriam, portanto, ser combatidos e extirpados. “As doenças, legitimadas e
objetivadas pela construção científica das entidades nosológicas (e dos riscos),
converteram-se em inimigos naturais e, como se tivessem vida própria, parecem
estar, a cada paciente, sintoma e/ou exame, prestes a atacar.” (Tesser, 2009, p.279)
A idéia de que a doença seria um mal proveniente da natureza, que, por colocar a
frágil saúde humana em risco, precisaria ser eliminado, deu ensejo na biomedicina
ao que Tesser chama de “obsessão pelo controle” (Tesser, 2009, p.278). Trata-se
da tendência de considerar o cuidado em saúde não apenas como salvador do
homem já invadido pela patologia, mas também como o protetor dos indivíduos, que
os impediria de ficarem doentes. Tesser (2009) mostra que o controle é também um
traço que a biomedicina herdou da racionalidade científica moderna. Com efeito, a
ciência moderna se concebe como destinada a controlar e prever fenômenos.
Assim, a medicina teria a função não apenas de combater e eliminar as doenças já
manifestas, mas de controlar determinados aspectos do indivíduo de modo a impedir
o aparecimento da doença. A noção de “fator de risco” como condição que
estatisticamente está associada a determinado tipo de doença contribui para que a
obsessão pelo controle seja assumida como postura não só pela medicina como
também pelos próprios usuários dos serviços de saúde. Assim, em nome de se
evitar riscos supostos, a medicina preconizará intervenções cirúrgicas ou
medicamentosas, mesmo que estas provoquem reações adversas e efeitos
colaterais por vezes incapacitantes, tornando-se nestes casos iatrogênica, causando
uma enfermidade no paciente em prol do combate a supostas complicações futuras.
Qual alternativa Groddeck propõe como contraponto à postura beligerante da
biomedicina? Trata-se de sua concepção da doença como um fenômeno de
expressão do indivíduo tal como o caminhar, o comer, o beber, o pensar etc. Não
obstante, a enfermidade é um tipo de expressão que o organismo só utiliza quando
as vias saudáveis através das quais poderia se manifestar encontram-se
indisponíveis. Em outras palavras, a doença é o último recurso empregado pelo Isso
para se expressar. Ela é sempre um estado de exceção. Nesse sentido, se o
profissional de saúde guia sua atuação clínica a partir da tese de que a doença é
apenas um mal que faz o indivíduo sofrer e que deve, portanto, ser extirpada para
206
dar lugar à saúde, do ponto de vista groddeckiano ele estaria prejudicando ainda
mais o paciente, pois estaria eliminando a única via que esse encontrara até então
para se revelar.
A retirada forçada de uma lesão que acompanha determinado doente há 40 anos
não significará simplesmente a remoção de um sintoma que debilitava o sujeito. A
intervenção incidirá no nível da própria identidade do sujeito que fora organizada ao
longo daqueles 40 anos tendo a lesão como um elemento constante e fixo. A atitude
beligerante não leva em conta, por conseguinte, a função que a enfermidade exerce
na vida do doente:
... acredito que seria bem melhor abandonar de vez a idéia do combate e
convencer-se de que é mais aconselhável para o doente, o médico e as
pessoas da nossa cultura, conceber a doença como uma providência
necessária do Isso, oportunamente introduzida com finalidades
determinadas e que decerto pode ser nociva para o ser humano como um
todo. (Groddeck, 1992, p.136)
Groddeck propõe, então, que a doença não seja propriamente combatida, mas
compreendida. Se o Isso só recorre à linguagem da doença quando a da saúde está
inviabilizada, logo é preciso compreender porque essa situação está acontecendo.
Em outras palavras, as principais questões que o médico deve se fazer perante o
doente são: por que esse indivíduo está precisando dessa doença? O que o impede
de se expressar por vias não dolorosas, saudáveis?
Groddeck acredita que espontaneamente o indivíduo tenda a se expressar por vias
salutares, de modo que a doença pode ser vista como a consequência de um
bloqueio dessa espontaneidade em função de alguma contingência: “Portanto, podese admitir que o Isso não recorra de bom grado ao recurso excepcional da doença,
procurando retornar o mais breve possível às suas formas habituais de expressão
na vida saudável.” (Groddeck, 1992, p.103). O médico deve, portanto, buscar
discernir as razões que levaram o indivíduo a recorrer à doença, um procedimento
que Groddeck costumava chamar de “interrogar o Isso” (Groddeck, 2008, p.97) e
que na prática diz respeito à observação criteriosa e a uma escuta atenta e
acolhedora que não fique restrita àquilo que o paciente relata acerca do que vem
sentindo corporalmente, mas que o convoque a falar de si da maneira mais
abrangente possível.
207
Compreender e ajudar o paciente a discernir os obstáculos que o impediam de se
manifestar por vias saudáveis obrigando-o a recorrer às veredas dolorosas da
doença, é o que cabe ao médico, não buscar a eliminação da doença a qualquer
custo. Para Groddeck, uma extirpação pura e simples da enfermidade pode resultar,
de fato, no seu desaparecimento. Não obstante, não se pode considerar que o
doente tenha sido verdadeiramente tratado, pois não se tocou na função que a
doença desempenhava, ou seja, a ação de saúde não interveio sobre a gênese do
problema, mas apenas sobre sua superfície:
É claro que, na maioria das vezes, o caminho mais curto e mais fácil para
ajudar é atacar a sua doença, mas não deve ser dessa forma; pois a
doença é apenas uma forma de expressão do isso sofredor, que acentua
em voz alta a sua doença, a fim de ocultar melhor ainda o seu segredo mais
profundo. (Groddeck, 1994, p.258)
Depois de “interrogar o Isso” e descobrir as motivações que o levaram a se refugiar
na doença, trata-se agora de estabelecer um processo de convencimento do Isso. É
preciso convencê-lo de que os perigos aos quais se julgara exposto e que estavam
impedindo-o de falar a linguagem da saúde, ao serem compreendidos perderam a
sua força destrutiva, de modo que a doença pode ser abandonada: “Cabe
primeiramente provar ao Isso doente e teimoso que ele pode sair-se bem
novamente, recorrendo às suas formas salutares de expressão.” (Groddeck, 1992,
p.104)
Corpo e psiquismo como dialetos do Isso
Um dos traços mais marcantes da racionalidade científica moderna é a enunciação
de uma série de dicotomias, como natureza/cultura, indivíduo/sociedade e a que
mais nos interessa nesse momento: corpo/mente, dissociação que de alguma forma
reitera aquela feita entre corpo e alma séculos antes pelos filósofos gregos
posteriores a Sócrates. A versão mais elaborada e, talvez, mais representativa
dessa separação encontra-se na filosofia de René Descartes. O pensador francês
concebeu corpo e mente como duas substâncias ou, em outros termos, como duas
coisas absolutamente distintas e que representavam a manifestação de dois mundos
separados: o mundo das coisas extensas, materiais e o mundo do pensamento ou
das coisas imateriais.
208
O modelo biomédico, na medida em que é erigido nas bases dessa racionalidade,
tomará a separação entre corpo e mente quase como um dado, uma premissa, um
postulado. Dessa dicotomia nascerá um processo de especialização e diferenciação
entre dois campos: as doenças orgânicas e as doenças mentais. Entre esses dois
grandes grupos de patologias existiria um terreno nebuloso, prenhe de incoerências
e contradições ao qual se dá o nome de psicossomática. Tradicionalmente, as
doenças que se localizam nesse grupo compreendem enfermidades cuja forma de
manifestação é orgânica, mas cuja etiologia estaria relacionada predominantemente
a elementos psicológicos. Como vimos anteriormente, Groddeck negara-se a ser
reconhecido como um dos pioneiros do campo psicossomático. São justamente as
razões que o levaram a negar-se a carregar essa alcunha, as contribuições que o
autor traz para as discussões sobre os impasses produzidos pela dicotomia
corpo/mente no paradigma biomédico. Para Groddeck,
O corpo é algo morto, portanto não pode adoecer; nós já nos esquecemos
que nossos antepassados, em vez da palavra corpo (Körper), usavam a
expressão cadáver (Lichnam), como os holandeses ainda utilizam, assim
como os ingleses só usam a palavra corps no sentido de cadáver. Não sei
se existe uma alma, uma psique independente e imaterial, ainda não travei
conhecimento com um ser dessa natureza. Mas nem todos os que estão
convencidos da existência de um mundo dos espíritos são loucos. Talvez
haja algo semelhante. Mas com toda a certeza esses espíritos, se existirem,
não podem ficar doentes no nosso sentido humano, pois para tanto é
preciso o corpo. (Groddeck, 1992, p.125-126, grifos do autor)
Eis a crítica de Groddeck ao pensamento dualista, crítica que evidencia que o autor
jamais concebeu as enfermidades com as quais trabalhava como afecções
psicossomáticas. Partindo do argumento exposto pelo autor nessa citação, a divisão
entre doenças somáticas e doenças mentais é absolutamente equivocada. Só se
poderia falar de doenças exclusivamente somáticas caso fosse possível conceber
um corpo sem psique que fosse capaz de adoecer. Nesse caso hipotético, sim,
poder-se-ia dizer que ocorreu um adoecimento sem a participação de qualquer
elemento psicológico. Não obstante, sabe-se que só um corpo vivo, ou seja, em que
há a presença de uma realidade psíquica, pode de fato adoecer. Nesse sentido, em
toda doença haveria a participação de fatores referentes à dimensão orgânica e à
dimensão psíquica do indivíduo, “[...] logo se deduz que não há ‘organismo’ e
‘psiquismo’, nem doenças físicas ou psíquicas e sim que são sempre os dois a
enfermar ao mesmo tempo, em quaisquer circunstâncias.” (Groddeck, 1992, p.125)
209
Trata-se efetivamente, no pensamento de Groddeck, de conceber corpo e psiquismo
como dimensões de uma realidade única e indivisível, duas formas de abordar o
Isso ou dois modos diferentes de se referir à totalidade individual. “São apenas
denominações cômodas para melhor entender certas singularidades da vida; no
fundo, ambas são uma mesma coisa” (Groddeck, 2008, p.111). Logo na primeira
carta que envia a Freud, Groddeck já deixa claro seu posicionamento acerca dessa
questão: “... formara-se em mim a convicção de que a distinção entre corpo e alma é
apenas uma diferença de nome e não de essência; que o corpo e a alma são
alguma coisa de comum, que neles habita um Isso, uma força pela qual somos
vividos, enquanto nós acreditamos viver.” (Groddeck, 1994, p.05).
A grande contribuição de Groddeck ao propor que corpo e psiquismo sejam vistos
como duas modalidades de apresentação do Isso e não como duas essências
separadas é a eliminação da separação estéril entre doenças orgânicas e doenças
mentais: “Em outras palavras, recusei de antemão separar doenças do corpo e
doenças da alma; tentei tratar o ser individual em si, o isso que existe nele; procurei
um caminho que levasse ao impenetrado, ao impenetrável.” (Groddeck, 1994, p.05)
Além disso, a substituição do dualismo pelo monismo levaria à extinção do campo
psicossomático na medida em que ele seria extenso a ponto de englobar toda e
qualquer patologia. Em decorrência, todo profissional da saúde seria levado a tomar
um ponto de vista integral sobre o doente, uma perspectiva que contemplasse a
dimensão orgânica e ao mesmo tempo fosse capaz de uma leitura psicológica do
adoecimento. De fato, é precisamente isso o que Groddeck preconiza: que todo
profissional de saúde seja capaz de utilizar um método de leitura simbólica dos
sintomas do doente, o que não consiste em um procedimento demorado, tampouco
caro. Basta que o profissional se disponha a ouvir e a acolher o doente em sua
totalidade, estando atento para perceber as vinculações entre suas queixas e sua
história subjetiva.
Considerações finais
Queremos frisar que nossa proposta aqui não é a de que a medicina deva, para
superar os impasses que vivencia em função do paradigma biomédico, adotar
210
integralmente as teses de Georg Groddeck acerca da doença e do tratamento.
Nosso interesse é o de demonstrar que as indicações desse autor fornecem aportes
teóricos férteis para se pensar em possíveis soluções para aqueles problemas.
Neste trabalho apresentamos pelo menos quatro importantes contribuições extraídas
da obra groddeckiana para um novo paradigma de cuidado em saúde:
(1) Estabelecimento do doente e não da doença como verdadeiro objeto das
intervenções em saúde;
(2) Concepção do diagnóstico como um processo amplo de conhecimento do
doente, abordando inúmeros aspectos que estão para além dos sinais e sintomas;
(3) Em vez do combate e controle da doença, a compreensão da enfermidade como
linguagem, modo de manifestação que exerce uma função na história de vida do
paciente.
(4) Eliminação da dicotomia entre corpo e mente e as categorias que decorrem
dessa separação, a saber: doenças orgânicas, doenças mentais e doenças
psicossomáticas; concepção das dimensões orgânica e psíquica como formas de
expressão individual e não como duas substâncias.
Referências
AYRES, J. R. D. C. M. Sujeito, intersubjetividade e práticas de saúde. Ciência &
Saúde Coletiva, v.6, n.1, p.63-72, 2001.
BARROS, J. A. C. Pensando o processo saúde doença: a que responde o modelo
biomédico? Saúde e Sociedade, v.11, n.1, p.67-84, 2002.
BONET, O. Saber e sentir: uma etnografia da aprendizagem da biomedicina.
Physis: Revista de Saúde Coletiva, v.9, n.1, p.123-150, 1999.
CAMARGO JR., K. R. D. A biomedicina. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v.15,
n.1, p.45-68, 1997).
211
CAPRARA, A.; FRANCO, A. L. E. S. A relação paciente-médico: para uma
humanização da prática médica. Cadernos de Saúde Pública, v.15, n.3, p.647-654,
1999.
CAPRARA, A.; RODRIGUES, J. A relação assimétrica médico-paciente: repensando
o vínculo terapêutico. Ciência & Saúde Coletiva, v.9, n.1, p.139-146, 2004.
FOUCAULT, M. O Nascimento da Clínica. 6. ed. Rio de janeiro: Forense
Universitária, 2008.
GRODDECK, G. Estudos Psicanalíticos sobre Psicossomática. São Paulo:
Perspectiva, 1992
______. O Homem e seu Isso. São Paulo: Perspectiva, 1994.
______. O Livro dIsso. São Paulo: Perspectiva, 2008.
GUEDES, C. R.; NOGUEIRA, M. I.; CAMARGO JR., K. R. D. A subjetividade como
anomalia: contribuições epistemológicas para a crítica do modelo biomédico.
Ciência & Saúde Coletiva, v.11, n.4, p.1093-1103, 2006.
______. Os sintomas vagos e difusos em biomedicina: uma revisão da literatura.
Ciência & Saúde Coletiva, v.13, n.1, p.135-144, 2008.
______. Os sofredores de sintomas indefinidos: um desafio para a atenção médica?
Physis: Revista de Saúde Coletiva, v.19, n.3, p. 797-815, 2009.
LUZ, M. Natural, Racional, Social: razão médica e racionalidade científica
moderna. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
MARTINS, A. Novos paradigmas e saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v.9,
n.1, p.83-112, 1999.
______. Biopolítica: o poder médico e a autonomia do paciente em uma nova
concepção de saúde. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.8, n.14, p.2132, 2004.
______. Multi, inter e transdisciplinaridade sob um olhar filosófico. In: VEIT, M. T.
(org.). Transdisciplinaridade em oncologia: caminhos para um atendimento
integrado. São Paulo: ABRALE / HR, 2009, p.24-30.
212
QUEIROZ, M. D. S. O paradigma mecanicista da medicina ocidental moderna: uma
perspectiva antropológica. Revista de Saúde Pública, v.20, n.4, p.309-317, 1986.
TESSER, C. D. Medicalização social (I): o excessivo sucesso do epistemicídio
moderno na saúde. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.10, n.19, p.61-76,
2006a.
______. Medicalização social (II): limites biomédicos e propostas para a clínica na
atenção básica. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.10, n.20, p.347-62, 2006b.
______. A verdade na biomedicina, reações adversas e efeitos colaterais: uma
reflexão introdutória. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v.17, n.3, p.465-484,
2007.
______. Três considerações sobre a má medicina. Interface - Comunic., Saúde,
Educ., v.13, n.31, p.273-86, 2009.
WADE, D. T.; HALLIGAN, P. W. Do biomedical models of illness make for good
healthcare systems? BMJ, v.329, n.7479, p.1398 -1401, 2004.
213
ANEXO B - ARTIGO A SER SUBMETIDO À REVISTA LATINOAMERICANA DE
PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL
Título: Apontamentos sobre a vida e o pensamento de Georg Groddeck
Resumo
O artigo analisa aspectos da biografia e do pensamento de Georg Groddeck, médico e
psicanalista tido como um dos pais da medicina psicossomática. Abordam-se as influências
familiares e de seu mestre em medicina, Ernst Schweninger, em suas convicções teóricas e em
sua obra. Analisa-se também sua inserção na psicanálise e o primeiro contato com Freud.
Trata-se, aqui, de uma tentativa de contribuir para o preenchimento da lacuna existente na
literatura em relação à obra de Groddeck.
Palavras-chave: Georg Groddeck; psicanálise; doença; medicina
Introdução
Pretendemos com este trabalho fornecer uma pequena contribuição tanto à história da
psicanálise quanto da medicina através da análise de alguns aspectos da biografia e do
pensamento de Georg Groddeck (1866-1934), médico e psicanalista considerado por alguns
como o pai da medicina psicossomática. Trata-se de um autor cuja obra vem sendo
negligenciada tanto pelo campo médico quanto pelo meio psicanalítico, mas que, no entanto,
apresenta uma riqueza notável, ainda não suficientemente explorada. Procuramos mostrar isso
214
na dissertação de mestrado que escrevemos entre os anos de 2010 e 201118. O estudo teve
como objetivo investigar, na obra de Georg Groddeck, contribuições para a superação dos
impasses advindos do predomínio da racionalidade biomédica no campo do cuidado em
saúde. Buscamos demonstrar que na obra pouco valorizada de Groddeck poderiam ser
encontradas proposições bastante frutíferas para a elaboração de um novo modelo de cuidado
em saúde fundamentado em um paradigma não-reducionista, não-mecanicista, nãocientificista, em suma, diferente do biomédico.
Aqui, nosso intuito não é ainda o de apresentar tais contribuições. Deixaremos tal
incumbência para um próximo artigo, pois, em função da escassa literatura existente sobre
Groddeck e sua obra, consideramos relevante, num primeiro momento, fornecer ao público
uma apresentação do autor a partir de elementos de sua biografia e de seu percurso teórico.
Nesse sentido, este artigo pretende ser apenas o primeiro de uma série de textos que
esperamos publicar sobre a obra de Groddeck e de suas contribuições para o campo da saúde.
O esquecimento da obra groddeckiana
As razões que levaram a medicina e a psicanálise a negligenciarem a obra de Groddeck são
diversas. Como veremos adiante, o fundador do método psicanalítico, Sigmund Freud,
mostrou-se simpático e, por que não dizer, até bastante entusiasmado com a novidade trazida
por Groddeck à psicanálise, a saber: o uso da terapia analítica no tratamento de pacientes com
doenças orgânicas.
No entanto, a forma como Groddeck organizava seu pensamento e alguns dos conceitos que
utilizava para explicar a efetividade da psicanálise em sintomas somáticos eram um tanto
18
O presente texto é a versão modificada de parte do segundo capítulo de nossa dissertação de Mestrado em
Saúde Coletiva.
215
discrepantes em relação à ortodoxia freudiana. Em decorrência disso, a maior parte dos
discípulos de Freud recebeu as teses de Groddeck com certa resistência e o próprio Freud
manifestou nas cartas trocadas entre os dois autores seu repúdio ao que ele considerava como
misticismo nos enunciados teóricos groddeckianos.
No tocante ao esquecimento de Groddeck pela medicina, trata-se, a nosso ver, de uma reação
do modelo teórico da medicina moderna àquilo que nele se constituiria como anomalia. De
fato, desde o início de sua formação como médico, Groddeck adotou um posicionamento
teórico-clínico distinto e, não raro, oposto ao da medicina tradicional. As principais teses do
autor acerca da compreensão de como se constitui o adoecimento e a terapêutica não se
coadunam à biomedicina, a racionalidade vigente na medicina moderna.
Uma das proposições mais fundamentais de Groddeck, como a tese de que toda doença
carrega uma significação e uma finalidade, não faz sentido algum no modelo biomédico, para
o qual as doenças constituem apenas lesões orgânicas, fenômenos corporais sem qualquer
relação com o que poderíamos chamar de subjetividade. Nesse sentido, a negligência da
medicina em relação à obra groddeckiana não se assenta no escândalo face à radicalidade das
teses do autor, como no caso da psicanálise, mas constitui um repúdio a um pensamento
calcado numa racionalidade distinta.
Raízes biográficas do pensamento de Georg Groddeck
Nascido na cidade alemã de Bad Kösen, em 13 de outubro de 1866, cerca de dez anos após o
nascimento de Freud, Georg Walther Groddeck levaria às últimas conseqüências a descoberta
psicanalítica de que é impossível dissociar o pensamento de um autor de aspectos de sua
biografia. Por conta disso, irá apontar em diversos momentos de sua obra as vinculações entre
216
suas teses e métodos de trabalho e sua história de vida, reconhecendo ser impossível separar a
história do homem Groddeck da trajetória do médico e psicanalista Groddeck.
Um dos aspectos mais proeminentes do pensamento de Groddeck é um afastamento dos
cânones tradicionais da ciência. Groddeck não confere ao saber científico o estatuto de um
conhecimento que se eleva acima dos demais por supostamente estar em condições mais
favoráveis de acesso à verdade. Para ele, “a ciência nada mais é que uma variedade da
fantasia” (GRODDECK, 2008, p. 5). Essa “aversão pela ciência” (Ibid.) é explicada por ele
não como um capricho, mas como estando relacionada diretamente a certos eventos de sua
vida infantil. Sua mãe, após dar à luz o primeiro filho (Groddeck era o caçula de uma família
de cinco) teve uma infecção nos seios e, em decorrência, suas glândulas mamárias secaram.
Por esse motivo, Groddeck foi obrigado a ser amamentado por uma ama-de-leite. É nessa
contingência que o autor localiza a raiz de sua aversão pela ciência. Com efeito, a incerteza
quanto a quem deveria se afeiçoar, se à mãe que o gerou ou à ama-de-leite que o amamentara
dificultaria sua adesão a um tipo de conhecimento em que justamente a certeza se constitui
como um dos traços fundamentais.
Quanto ao despertar de seu desejo de se tornar médico o autor o associa a um episódio
ocorrido aos três anos de idade. Trata-se de uma ocasião em que o garoto estava brincando
com uma boneca de sua irmã. O pai conta que, enquanto Lina insistia em colocar uma roupa
extra na boneca, o irmão lhe repreendia dizendo que a boneca ia se sufocar. Segundo
Groddeck, fora a partir desse episódio que seu pai concluíra que ele tinha vocação para a
medicina (GRODDECK, 2008).
Mas o papel de Lina no desenvolvimento profissional de Groddeck vai ainda mais longe.
Segundo o autor, ele e a irmã costumavam brincar de mãe e filho. Na brincadeira, se o filho se
comportasse mal, deveria levar algumas palmadas como castigo. Todavia, quando era Lina a
217
ocupar o papel de filho, a punição deveria ser aplicada de forma mais suave, pois a garota
possuía uma doença no coração. É nesse episódio que Groddeck localiza o fator determinante
de suas preferências em relação a métodos de trabalho na medicina: a impossibilidade de
aplicar as palmadas com a força devida fez com que desenvolvesse um horror a técnicas que
de alguma forma implicam em levar o paciente a sentir dor, como a cirurgia, e desse maior
valor a procedimentos não invasivos como a massagem e a psicoterapia. Ainda das
brincadeiras com uma irmã cardíaca, Groddeck levará como traço uma preferência pelo
tratamento de doentes crônicos (GRODDECK, 2008).
De fato, o médico manterá por mais de 30 anos um sanatório na cidade alemã de BadenBaden, atendendo pacientes, em sua maioria com doenças crônicas, que o procuravam vindo
de diversos países (VALVERDE & RIVERAS, 2004).
Outro evento que Groddeck considera como tendo influência direta sobre sua escolha
profissional foi a ocasião em que seu pai, Carl Groddeck, que também era médico, lhe
perguntou se gostaria de ser médico. A essa indagação, aparentemente banal, Groddeck
atribuirá um significado singular: naquele momento, o questionamento do pai parecera lhe
tornar diferente dos irmãos. “Foi assim que meu destino foi decidido, tanto em relação à
escolha de minha carreira quanto ao modo pelo qual eu deveria exercê-la.” (GRODDECK,
2008, p. 1-2). A partir daquele momento Groddeck passaria a imitar de maneira consciente o
pai, o que demonstra a grande transformação subjetiva que a pergunta ocasionou.
Carl Groddeck é descrito pelo filho como sendo um “herege, reconhecendo sua própria
autoridade, seguindo seu próprio caminho e às vezes perdendo-se nele, a seu bel-prazer”
(GRODDECK, 2008, p. 3). A respeito disso, Groddeck afirma que o pai fazia chacota com a
medicina tradicional, que à época iniciava as pesquisas sobre a ação de bacilos na etiologia do
cólera e da tuberculose. A menção a esse posicionamento contrário do pai em relação à
218
medicina de seu tempo parece deixar implícito que a tendência do próprio Groddeck em
seguir um caminho original, distinto da medicina tradicional, talvez tivesse origem numa
identificação com o pai.
Do lado materno Groddeck também recebeu importantes influências principalmente no que
diz respeito a suas concepções teóricas mais fundamentais. Caroline Groddeck, sua mãe, era
filha de um dos maiores historiadores da literatura alemã, o professor August Koberstein, que
deu aulas durante 50 anos em Pforte, instituição de ensino próxima da cidade alemã de Bad
Kösen19 (VALVERDE & RIVERAS, 2004).
Do pai, Caroline Groddeck herdará o gosto pela literatura alemã, em especial pela obra de
Goethe (GRODDECK, 1994a). Desse fascínio da mãe pelo maior nome da literatura alemã,
Groddeck não sairá ileso. Do contrário, como poderíamos apreciar o ensaio “Rumo a DeusNatureza” (“Hin zu Gottnatur”) que Groddeck publica em 1909, sem uma referência ao
próprio conceito de “Deus-Natureza”, encontrado em Goethe? Esse autor, cujos interesses não
se restringiam à literatura, mas se direcionavam também às ciências naturais e à filosofia,
propusera uma concepção filosófico-teológica inspirada na filosofia de Baruch de Spinoza
(1632-1677) cujo postulado primordial era a identidade entre Deus e Natureza (SPINOZA,
2009). Seguindo a perspectiva spinozana, Goethe afirmava que a divindade não seria
transcendente, mas imanente à Natureza ou, em outras palavras, que ambos seriam uma única
e mesma coisa. Contudo, diferentemente de Spinoza, Goethe advogava intencionalidades para
seu Deus-Natureza.
Essa descrição da concepção goetheana do Deus-Natureza se coaduna perfeitamente ao
conceito de Isso em Groddeck. Conquanto esse último conceito seja enunciado na obra
groddeckiana com contornos próprios e uma singularidade irredutível a qualquer outra noção,
19
Coincidentemente, o filósofo Friedrich Nietzsche, ao qual Groddeck se referencia como seu predecessor no
uso do conceito de Isso, foi aluno de Koberstein em Pforte.
219
é impossível negar que o conceito de Deus-Natureza em Goethe seja, por assim dizer, um
embrião do Isso.
A influência de Ernst Schweninger
Outra personagem que exercerá forte influência sobre o pensamento de Groddeck é o médico
Ernst Schweninger (1850-1924), que fora seu professor durante a formação médica e de quem
Groddeck foi assistente. Schweninger tornara-se famoso na Europa do final do século XIX
por ter conseguido fazer o inflexível chanceler alemão Bismarck obedecer-lhe.
Ernst Schweninger começara a tratar do chanceler Otto Von Bismarck em 1881 de uma grave
e perigosa doença. Segundo Groddeck, Schweninger havia levado a cabo o tratamento através
de uma observação minuciosa dos hábitos e condições de vida do chanceler e conseguira isso
depois de cerca de cem médicos o terem tentado e fracassado. Bismarck era conhecido por
seu temperamento forte e, por essa razão, não se submetia facilmente às orientações que os
médicos lhe recomendavam. Schweninger parece ter sido o único que conseguiu tornar
Bismarck mais “dócil” às prescrições médicas. Groddeck assinala que, ao final do tratamento,
Bismarck teria dito a Schweninger: “‘Até agora eu tratei de todos os médicos. O Sr. é o
primeiro que trata de mim.’” (GRODDECK, 1994a, p. 333)
De fato, Schweninger não era como os médicos de sua geração. O final do século XIX
testemunhava a transformação da medicina em ciência médica, isto é, em uma disciplina que
abdicava do estatuto de “arte de curar”, passando a ter como preocupação central o
conhecimento das patologias e sua caracterização. Nesse contexto, o diagnóstico assumira
uma importância fundamental; passara a ser visto como um objetivo em si mesmo e não mais
como uma etapa preliminar à escolha do melhor método terapêutico, como acontecia outrora.
220
O desejo que motivava a intervenção médica era mais o de conhecer a entidade mórbida que o
paciente portava em vez do de efetivamente tratar. Schweninger pensava e atuava na
contramão dessa tendência.
No texto “A natureza cura” (GRODDECK, 1994b), escrito originalmente como um
necrológio dedicado a Schweninger, um ano após o seu falecimento, Groddeck tenta
demonstrar que seu mestre estava muitos passos à frente de seus contemporâneos,
antecipando-se,
por
exemplo,
às
pesquisas
imunológicas
que
evidenciariam
experimentalmente o papel do organismo no processo de cura.
Groddeck conta no texto que Schweninger costumava sempre repetir-lhe duas frases que
tomaria como verdadeiros dogmas em sua atuação como médico: “A natureza cura, o médico
trata.” (“Natura sanat medicus curat”, um ditado latino) e “Não são as doenças, mas os
doentes o objeto do tratamento médico.”. Schweninger dizia que essas duas frases eram
representativas do verdadeiro espírito médico (GRODDECK, 1994b).
Em relação à primeira frase, “A natureza cura, o médico trata”, o interesse de Schweninger
era o de sublinhar o fato de que o verdadeiro agente da cura não é o médico ou outro
profissional de saúde, mas sim o próprio organismo que padece. O corpo não seria passivo em
face de seu ambiente, mas naturalmente tencionado para a saúde, de modo que a cura poderia
ser vista como algo que decorre da própria essência do organismo e não uma condição que se
lhe advém do mundo externo. A doença, portanto, era vista por Schweninger como aquilo que
obstaculiza as tendências de reparação e cura inerentes ao organismo, como uma pedra que
impede o curso normal de um rio. O cuidado médico deveria ser, em decorrência, aquilo que
retira essa pedra e permite ao rio correr naturalmente. Pode-se concluir desse raciocínio que o
tipo de tratamento escolhido não é o aspecto mais relevante da terapêutica, mas sim o decurso
221
da ação que o método adotado exercerá no organismo, isto é, se ele efetivamente auxiliará o
doente a atualizar sua potência imanente de cura ou não.
Groddeck salienta que as pesquisas já de sua época acerca do chamado sistema imunológico
conferem, de certo modo, validação empírica ao enunciado schweningeriano na medida em
que demonstram o papel terapêutico que o organismo tem em relação a si próprio
(GRODDECK, 1994b).
Além de enfatizar o caráter de agente do organismo no processo terapêutico, o ditado “A
natureza cura, o médico trata” aponta correlativamente para uma relativização do papel
exercido pelo profissional de saúde no tratamento. Ao longo da história, o campo do cuidado
em saúde foi adquirindo um estatuto social elevado precisamente por se imaginar que era o
médico quem devolvia a saúde ao doente, concepção que se fundava na imagem da natureza
como obscura, traiçoeira ou caótica, surgida a partir do Renascimento. É essa matriz que está
como pano de fundo de uma tendência autoritária e intervencionista no cuidado em saúde, que
vê na racionalidade do saber médico o elemento principal do processo terapêutico. Por outro
lado, ao postular a idéia de uma natureza que se exprime como direcionada para a saúde,
Schweninger coloca em xeque o caráter “salvífico” do cuidado em saúde e sua soberania
sobre o organismo doente.
A outra frase constantemente repetida por Schweninger explicita de forma ainda mais clara o
quão distinto era seu pensamento em relação ao de seus contemporâneos. “Não são as
doenças, mas os doentes, o objeto do tratamento médico” é a expressão radicalmente oposta
do que pensava o que poderíamos denominar de o mainstream médico da época – e ainda
hoje. Com efeito, vigorava no final do século XIX o que ficou conhecido como “medicina das
espécies” que sustentava a tese de que a doença seria uma entidade que existiria de modo
independente e se apossaria do indivíduo fazendo-o doente (FOUCAULT, 2008). Portanto, se
222
pudéssemos elaborar uma frase que definisse o pensamento médico naquele momento, ela
deveria ser exatamente oposta à asserção de Schweninger.
O mestre de Groddeck, no entanto, queria, com seu adágio, apenas asseverar uma constatação
óbvia: a de que o médico só tem acesso à doença na medida em que essa aparece de modo
manifesto no corpo do doente. Por conseguinte, extrair a doença, enquanto entidade, do
padecimento experimentado pelo indivíduo e estudá-la separadamente como o quiseram os
médicos da medicina das espécies é um procedimento inútil a não ser que o objetivo não seja
o tratamento do paciente, mas apenas a produção de conhecimento...
Groddeck levará consigo esses dois aforismos schweningerianos como princípios
fundamentais de sua prática clínica. O primeiro, em especial, será utilizado por Groddeck
como título de um de seus principais livros, escrito antes de o autor ter conhecido a
psicanálise. Trata-se de “Nasamecu”, nome formado a partir das sílabas iniciais de “Natura
sanat medicus curat”. Semelhante a inúmeros livros médicos da época, “Nasamecu” consiste
numa espécie de tratado de medicina para leigos. Nele, Groddeck aborda aspectos da
constituição física do organismo e como tais aspectos são apresentados pelo indivíduo sadio e
pelo indivíduo doente. Ainda que a intenção primordial de Groddeck não tenha sido a de criar
propriamente um livro de auto-ajuda médico, a obra acabou servindo a essa finalidade. O
tradutor de “O Livro dIsso”, José Teixeira Coelho Netto, conta que, após alguns anos da
publicação de “Nasamecu”, Groddeck teria recebido uma carta de um australiano dizendo que
o livro havia salvado-lhe a vida:
Aquele estranho lhe dizia que viajava pelo interior da Austrália quando ficou
seriamente doente. Não havia por ali, no interior, assistência médica. Como sempre.
Mas o missivista ouvira falar de um certo homem que vivia perto e que, dizia-se,
fazia milagres. Era sua única e provavelmente última alternativa: foi procurá-lo. E
curou-se. Mais tarde, aquele santo milagroso confessou-lhe que na verdade não era
médico, mas tinha um livro que o ajudava em suas curas, um livro maravilhoso. O
livro, claro, era Nasamecu (COELHO NETTO, 2008, p. IX, grifo do autor).
223
O encontro com a psicanálise
Em “Nasamecu”, tem-se a primeira menção de Groddeck à psicanálise, mas não como defesa
às idéias de Freud e sim como crítica à eficácia do tratamento psicanalítico. Cinco anos depois
da publicação do livro, Groddeck reconhecerá em sua primeira carta a Freud, de 27 de maio
de 1917 (GRODDECK, 1994), que seu desprezo pela psicanálise em “Nasamecu” não estava
baseado numa apreciação criteriosa da obra freudiana, até porque Groddeck não havia lido
sequer uma linha escrita por Freud. O que ele sabia acerca da psicanálise, sabia-o por
terceiros, de modo que o juízo que se encontrava no livro era preconceituoso.
Entretanto, todo preconceito, como evidencia a própria psicanálise, tem suas razões. E
Groddeck não teve pudores em reconhecê-las logo no início de sua carta a Freud, fazendo
uma espécie de mea culpa. O julgamento precipitado sobre a psicanálise teria se originado de
sentimentos de inveja e indignação que Groddeck sentira em relação a Freud quando ouvira
falar a respeito do método psicanalítico. De fato, parecia que Freud havia chegado por seus
próprios caminhos às mesmas conclusões que Groddeck havia extraído de sua experiência
médica! A diferença é que Freud publicara tais conclusões primeiro, adquirindo, assim,
precedência em relação a Groddeck.
Este é um capítulo interessante da história da psicanálise que talvez não tenha sido
devidamente apreciado. No senso comum da comunidade psicanalítica, considera-se
Groddeck apenas como um dos vários discípulos de Freud, quando na verdade o primeiro
descobriu, num certo sentido, a psicanálise por vias próprias. A sexualidade infantil, o
impacto das palavras e dos símbolos na vida subjetiva, os fenômenos da transferência e da
resistência, a tudo isso Groddeck não teve acesso lendo os textos de Freud, como acontecera
com os demais discípulos, mas sim a partir da sua própria experiência clínica com os
pacientes de seu sanatório em Baden-Baden. Em especial, foi uma paciente que Groddeck
224
tratou em 1909 que lhe forneceu as primeiras amostras dessas descobertas que o médico
posteriormente verificaria em outros doentes. Tal paciente – Groddeck garante – não possuía
conhecimentos acerca da psicanálise, o que asseguraria que a descoberta groddeckiana fora
realizada de modo completamente independente das investigações de Freud.
No encontro com o trabalho freudiano, é possível notar o quão forte era em Groddeck o
desejo de ser diferente e criar algo novo. Vendo nas obras do médico vienense a evidência de
que não era pioneiro, só restara a Groddeck, tomado de inveja e decepção, defender-se através
de um ataque à doutrina freudiana: “Como em minha vida toda, apesar das experiências
contrárias, mantive o desejo de criar alguma coisa, recusei-me a reconhecer que, também
desta vez, apenas havia acolhido e assimilado, por algum meio misterioso, idéias alheias.”
(GRODDECK, 1994, p. 4).
Apesar de Groddeck ter chegado a conclusões muito semelhantes às de Freud, é preciso
assinalar uma contingência inusitada. Enquanto Freud elaborou o método psicanalítico e a
estrutura teórica da psicanálise a partir da sua experiência com pacientes que apresentavam
transtornos manifestos pela via psíquica, isto é, as chamadas neuroses, Groddeck, por sua vez,
atendia pessoas que padeciam de doenças orgânicas, ou seja, que apresentavam lesões físicas:
Às minhas – ou devo dizer às suas – concepções não cheguei através do estudo das
neuroses, [mas] mediante a observação de doenças chamadas comumente de
corporais. Minha reputação médica, devo-a originariamente à minha atividade de
fisioterapeuta, mais particularmente de massagista. Em consequência, a minha
clientela é sem dúvida muito diferente da dos psicanalistas (Carta de Groddeck a
Freud, de 27 de maio de 1917 in GRODDECK, 1994, p. 5).
Ainda que essa própria experiência com doentes orgânicos lhe evidenciasse a
indissociabilidade entre corpo e psique na medida em que era possível notar a influência de
símbolos (fenômenos tradicionalmente agrupados na categoria de acontecimentos mentais) na
produção e desenvolvimento de enfermidades corporais, Groddeck diz a Freud que, mesmo
antes de haver tido acesso a essa experiência, já estava convicto de que corpo e psique eram
225
apenas duas formas de abordar uma mesma realidade ou duas palavras distintas para se referir
a uma substância única, o Isso. Deixaremos a abordagem mais detalhada deste que é o
conceito central das proposições teóricas de Groddeck para outro momento. Por ora,
concentremo-nos no processo de inserção de Groddeck no campo psicanalítico.
Nessa primeira carta enviada a Freud, a intenção de Groddeck é saber do médico vienense se
poderia de fato ser considerado um psicanalista. Com efeito, Groddeck desejava publicar em
breve um livro relatando o que descobrira no tratamento de seus pacientes. Apesar da dúvida
sobre se poderia ou não ser considerado um psicanalista, é possível notar claramente em
Groddeck um desejo de que Freud o reconhecesse como tal, intenção que pode ser
depreendida da narrativa de vários casos que o médico de Baden-Baden relata na carta para
demonstrar a efetividade do tratamento psíquico de doenças orgânicas. São casos que vão
desde uma simples herpes labial a hemorragias na retina, passando por sintomas de sífilis e
artrites. Em todas essas afecções, Groddeck havia operado junto com seus pacientes um
trabalho conjunto de interpretação do significado simbólico dos sintomas. Na medida em que
tal interpretação era levada a cabo, ou seja, quando se verificava a que questões de ordem
subjetiva os sintomas respondiam, as afecções desapareciam, o que comprovava que elas
funcionavam como substitutas de um sentido que precisava ser trazido à luz. A título de
ilustração, citemos um dos exemplos relatados por Groddeck:
Uma paciente acorda de manhã com o lábio superior bastante inchado; a inchação é
provocada por vesículas de herpes. Inquirida sobre uma data, ela menciona o dia
anterior, e como hora, precisamente a da minha visita. Durante essa visita, eu havia
dito em tom de brincadeira à paciente, de quem trato há muitos anos de uma grave
poliartrite, que seus lábios eram finos demais, que isso indicava uma paixão
incontida pelo beijo. Uma hora após essa constatação, o inchaço do lábio
desapareceu. (Carta de Groddeck a Freud, de 27 de maio de 1917 in GRODDECK,
1994, p. 6).
Ora, a dinâmica constatada por Groddeck como estando subjacente ao adoecimento somático
era precisamente a mesma que Freud verificava com seus pacientes neuróticos: quando o
sentido do sintoma vinha à luz, esse tende a desaparecer, pois perde sua função. A distinção
226
entre as duas experiências era a de que Freud verificava tal dinâmica com sintomas psíquicos,
próprios da neurose, ao passo que Groddeck a observava em sintomas orgânicos. Ao
questionar a Freud, portanto, se poderia se considerar psicanalista, Groddeck estava de fato
querendo mostrar a seu interlocutor que a psicanálise não precisaria ficar restrita aos
neuróticos, mas poderia servir como um método útil de tratamento para todos os campos da
medicina.
A carta de resposta de Freud, escrita em 5 de junho de 1917, é ao mesmo tempo elogiosa e
admoestadora. O médico vienense a inicia dizendo que gostou do que Groddeck lhe escrevera
e, além disso, lhe assegura que Groddeck pode se considerar, sim, um excelente analista, pois
havia compreendido a essência da psicanálise ao discernir os fenômenos da transferência e da
resistência. A respeito da noção de Isso, Freud não se acanha em dizer que, a princípio, entre
ela e o conceito de inconsciente a distinção é apenas de palavras e que não é preciso estender
o conceito de inconsciente para abarcar afecções somáticas, pois isso já se encontra implícito
no modo como elaborara o conceito. Cerca de seis anos depois, Freud adotaria uma posição
diferente, reconhecendo a especificidade do conceito de Isso e adotando-o precisamente no
lugar do termo inconsciente ainda que de maneira bastante diferente em relação ao modo
como Groddeck o concebia.
Na continuação da carta, Freud critica explicitamente o que ele supõe ser uma ambição banal
de originalidade e pioneirismo em Groddeck e considera-a vã. Levanta inclusive a
possibilidade de que Groddeck tenha se apropriado das idéias psicanalíticas por via
criptomnésica, ou seja, de que Groddeck poderia ter lido ou ouvido falar sobre psicanálise em
determinada época e, posteriormente, tendo se esquecido disso, julgara ter criado um método
original sem notar a influência que aquele aprendizado prévio teria exercido sobre sua própria
elaboração. Isso jogaria por terra a crença de Groddeck na autonomia de suas descobertas.
227
Não obstante, tal argumento freudiano, evidentemente, pode ser lido como a própria defesa de
Freud com relação a sua originalidade.
Após elogiar os exemplos clínicos de Groddeck e expressar certa surpresa para com eles,
Freud tece sua segunda crítica ao médico de Baden-Baden: acerca de seu pressuposto
monista, isto é, de não-separação entre corpo e psiquismo, que Freud afirma serem próprias de
correntes filosóficas sem propósito. Para o médico vienense, seria preciso conservar essa
separação:
A mim me parece tão audacioso dar uma alma à natureza quanto desespiritualizá-la
radicalmente. Deixemos-lhe, portanto, a sua grandiosa multiplicidade que se eleva
do inanimado ao animado orgânico, do vivo corporal ao espiritual. O ics constitui
certamente o intermediário correto entre o corporal e o espiritual, talvez o missing
link buscado há tanto tempo. Mas, porque afinal percebemos isso, não devemos
perceber nenhuma outra coisa mais? [...] Receio que o Sr. seja também um filósofo e
que tenha a tendência monística a desdenhar todas as belas diferenças na natureza
em troca do engodo da unidade. Estaremos assim nos livrando das diferenças?
(Carta de Freud a Groddeck, de 5 de junho de 1917, p. 11, grifo do autor)
Esse trecho da carta de Freud expõe de modo bastante explícito as diferenças entre os dois
autores no que diz respeito ao significado e às relações entre corpo e psique. Apesar de
Groddeck fazer uso da expressão “condicionamento psíquico” no próprio título do artigo que
marca sua entrada na psicanálise: “Condicionamento psíquico e tratamento de moléstias
orgânicas pela psicanálise” (GRODDECK, 1992), ao longo do texto o autor deixa claro que
a expressão é equivocada: “Desse jeito eu estaria a ponto de admitir que não existe um
condicionamento psíquico das enfermidades corporais. O inconsciente não é psíquico nem
corporal” (GRODDECK, 1992, p. 26). Como havia dito em sua primeira carta a Freud, do seu
ponto de vista, corpo e psique são duas dimensões do Isso, duas linguagens diferentes que o
Isso utiliza para se expressar: “[...] não existe separação entre corpo e alma para o
228
inconsciente20; conforme suas conveniências ele se utiliza alternadamente do corpo e da
alma” (GRODDECK, 1992, p. 19).
Nesse sentido, as experiências clínicas de Groddeck não demonstram uma influência de
fatores psíquicos sobre o corpo, como pensou Freud. Para Groddeck toda e qualquer
enfermidade poderia ser lida simbolicamente, ou seja, toda doença seria potencialmente
interpretável. Tal possibilidade não seria assegurada pelo fato de que em todas as doenças
seria presumível um elemento causal de ordem psíquica, mas sim porque a doença é um
fenômeno humano e, como todo fenômeno humano, não pode ser concebido como dissociado
das redes simbólicas que constituem sua realidade.
Referências
Coelho Netto, José Teixeira. O Fuçador das Almas. In: GRODDECK, Georg. O livro dIsso.
Trad.: José Teixeira Coelho Netto. São Paulo: Perspectiva, 2008. p. IX-XIII (Coleção
Estudos, 83).
Foucault, Michel. O Nascimento da Clínica. 6. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária,
2008.
Groddeck, Georg. Condicionamento psíquico e tratamento de moléstias orgânicas pela
psicanálise. In:______. Estudos psicanalíticos sobre psicossomática. Trad.: Neusa Messias
Soliz. São Paulo: Perspectiva, 1992. p. 09-28
Groddeck, Georg. Memórias. In: ______. Trad.: Natan Norbert Zins. O Homem e seu Isso.
São Paulo: Perspectiva, 1994a. p. 267-378
20
Groddeck costumava utilizar o termo “inconsciente” como sinônimo de “Isso” quando escrevia em revistas
psicanalíticas ou se dirigia a uma platéia composta essencialmente de analistas. Nos demais escritos, o autor
diferencia os dois termos, considerando o inconsciente como uma parte do Isso.
229
Groddeck, Georg. A Natureza Cura. In: ______. Trad.: Natan Norbert Zins. O Homem e seu
Isso. São Paulo: Perspectiva, 1994b. p. 139-142
Groddeck, Georg. O livro dIsso. Trad.: José Teixeira Coelho Netto. São Paulo: Perspectiva,
2008.
Groddeck, Georg; Freud, Sigmund. Correspondência entre Georg Groddeck e Sigmund Freud.
In: ______. Trad.: Natan Norbert Zins. O Homem e seu Isso. São Paulo: Perspectiva, 1994.
p. 03-81.
Spinoza, Baruch. Ética. Trad.: Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
Valverde, Ricardo R.; Riveras, Heidi. R. Nóbrega. Para conhecer Georg Groddeck. São
Paulo: Berggasse 19, 2004.