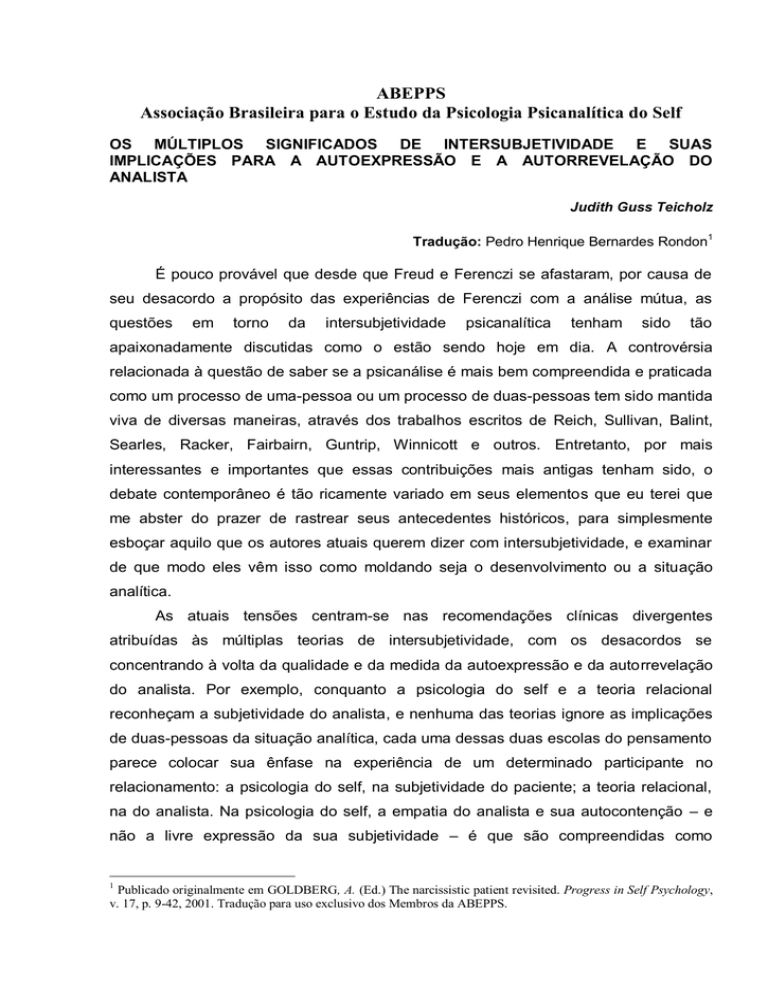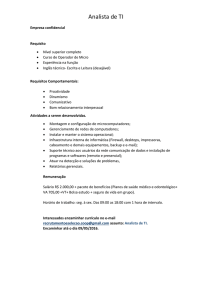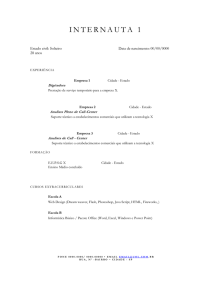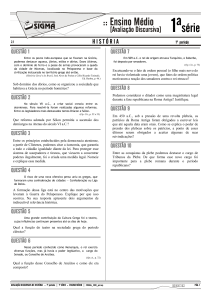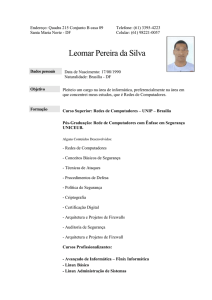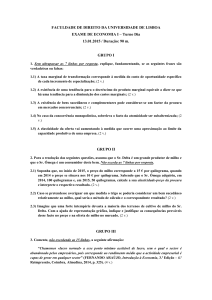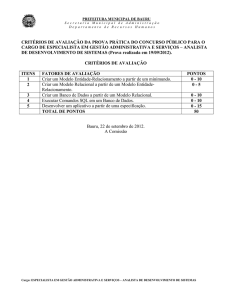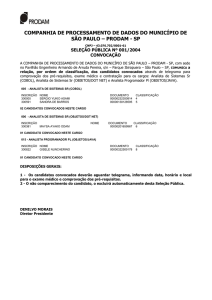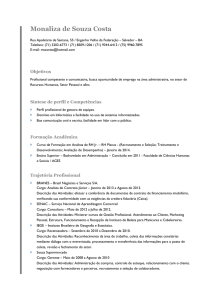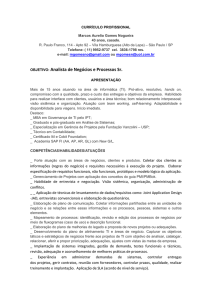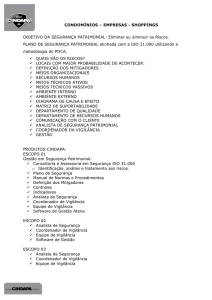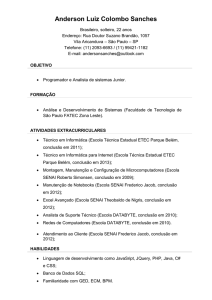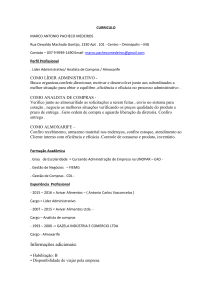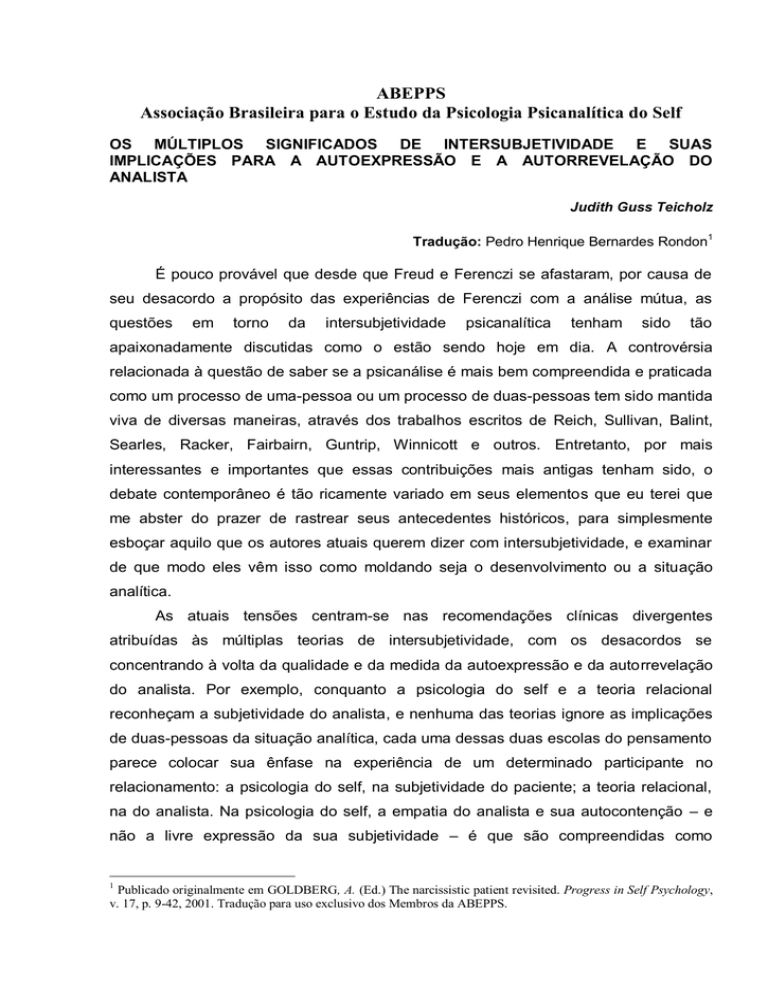
ABEPPS
Associação Brasileira para o Estudo da Psicologia Psicanalítica do Self
OS MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS DE INTERSUBJETIVIDADE E SUAS
IMPLICAÇÕES PARA A AUTOEXPRESSÃO E A AUTORREVELAÇÃO DO
ANALISTA
Judith Guss Teicholz
Tradução: Pedro Henrique Bernardes Rondon1
É pouco provável que desde que Freud e Ferenczi se afastaram, por causa de
seu desacordo a propósito das experiências de Ferenczi com a análise mútua, as
questões
em
torno
da
intersubjetividade
psicanalítica
tenham
sido
tão
apaixonadamente discutidas como o estão sendo hoje em dia. A controvérsia
relacionada à questão de saber se a psicanálise é mais bem compreendida e praticada
como um processo de uma-pessoa ou um processo de duas-pessoas tem sido mantida
viva de diversas maneiras, através dos trabalhos escritos de Reich, Sullivan, Balint,
Searles, Racker, Fairbairn, Guntrip, Winnicott e outros. Entretanto, por mais
interessantes e importantes que essas contribuições mais antigas tenham sido, o
debate contemporâneo é tão ricamente variado em seus elementos que eu terei que
me abster do prazer de rastrear seus antecedentes históricos, para simplesmente
esboçar aquilo que os autores atuais querem dizer com intersubjetividade, e examinar
de que modo eles vêm isso como moldando seja o desenvolvimento ou a situação
analítica.
As atuais tensões centram-se nas recomendações clínicas divergentes
atribuídas às múltiplas teorias de intersubjetividade, com os desacordos se
concentrando à volta da qualidade e da medida da autoexpressão e da autorrevelação
do analista. Por exemplo, conquanto a psicologia do self e a teoria relacional
reconheçam a subjetividade do analista, e nenhuma das teorias ignore as implicações
de duas-pessoas da situação analítica, cada uma dessas duas escolas do pensamento
parece colocar sua ênfase na experiência de um determinado participante no
relacionamento: a psicologia do self, na subjetividade do paciente; a teoria relacional,
na do analista. Na psicologia do self, a empatia do analista e sua autocontenção – e
não a livre expressão da sua subjetividade – é que são compreendidas como
1
Publicado originalmente em GOLDBERG, A. (Ed.) The narcissistic patient revisited. Progress in Self Psychology,
v. 17, p. 9-42, 2001. Tradução para uso exclusivo dos Membros da ABEPPS.
2
facilitando a máxima elaboração da subjetividade do paciente, e como possibilitando a
este o uso do funcionamento psíquico do analista como experiência selfobjetal
necessária; em contraste a teoria relacional estimula a autoexpressão e a
autorrevelação mais espontâneas do analista, considerando a exposição a essas
manifestações da subjetividade característica do analista como crucial para favorecer o
crescimento psíquico do paciente (BENJAMIN, 1988, 1990; RENIK, 1993, 1995;
MITCHELL, 1996, 1997).
Até aqui, as discussões de um paradigma a outro tenderam a ficar polarizadas.
Cada teoria é associada a uma única postura analítica, e pouco esforço tem sido feito
no sentido de considerar quando, ou com quais pacientes, as diferentes abordagens
terapêuticas poderiam ser proveitosas. Enquanto os proponentes dos diversos pontos
de vista concordam que o relacionamento analítico é caracterizado por algum grau de
“intersubjetividade”, este termo é empregado de maneiras bastante diferentes de uma
teoria para a seguinte. Por essa razão talvez faça sentido rever os múltiplos
significados de intersubjetividade como primeiro passo na busca da clarificação de
algumas das questões, tanto teóricas quanto clínicas, que ainda não estão resolvidas.
Embora uma revisão como essa possa exigir uma tediosa reiteração de conceitos
familiares, sigo a tarefa com o objetivo de ligar cada um dos diferentes significados de
intersubjetividade a recomendações clínicas específicas, algumas das quais podem
realmente correr em sentido contrário às recomendações feitas pelos próprios teóricos
da intersubjetividade. Posso também tentar alcançar algum grau de síntese.
Definições de termos
Os termos subjetividade e intersubjetividade serão apresentados através de todo
este artigo assim como são empregados diversamente pelos seguintes autores:
Stolorow, Atwood, Brandchaft, e Orange (STOLOROW & ATWOOD, 1979, 1992, 1997;
ATWOOD & STOLOROW, 1984; STOLOROW, BRANDCHAFT & ATWOOD, 1987;
STOLOROW, 1995; ORANGE & STOLOROW, 1998); Stern (1985; STERN et al.,
1998). Ogden (1986. 1992a, 1992b); Beebe e Lachmann (1988a, 1988b; LACHMANN
& BEEBE, 1996a, 1996b); e Benjamin (1988, 1990). Em contraste com essa extensa
atribuição de significado aos termos subjetividade e intersubjetividade, os termos
autoexpressão e autorrevelação tenderam a ser empregados sem definição na
literatura psicanalítica. Neste artigo optei por empregá-los como se segue: o termo
3
autoexpressão vai se referir à comunicação afetiva espontânea, aqui-e-agora do
analista na situação clínica, seja verbal ou não-verbal; vai incluir qualquer manifestação
direta – através de palavras, sons vocais, expressão facial, modificações de postura, ou
gestos – de cordialidade, interesse, humor, alegria, surpresa, tristeza, repulsa, raiva, e
outros estados afetivos complexos. Uma vez que a sintonia e a ressonância envolvem
o afeto do analista tanto quanto o do paciente, essas modalidades de interação serão
vistas como formas da autoexpressão do analista, por mais que possam ser
temperadas pelo desejo do analista de “combinar” com o paciente (TEICHOLZ, 2000).
O termo “autorrevelação” vai se referir à atitude do analista de transmitir
informação ao paciente acerca de qualquer aspecto da sua experiência de vida, dentro
ou fora do relacionamento de tratamento. Uma vez que pode também incluir um
componente afetivo maior ou menor, a autorrevelação pode igualmente ser
variadamente autoexpressiva. Tanto a autoexpressão quanto a autorrevelação estão
sujeitas à comunicação seja intencional ou desapercebida da parte do analista.
Comentário de Kohut acerca da subjetividade do analista
Na psicologia do self a experiência subjetiva do paciente é o foco primário da
atenção analítica. Kohut, entretanto, com frequência também fazia referência à
subjetividade do analista, prenunciando a virada intersubjetiva que a psicanálise viria a
fazer no último quartel do século XX (Id, 1999). Neste capítulo as ideias de Kohut serão
revistas visando a extrair daí e realçar seu potencial intersubjetivo, enquanto os
princípios da prática da psicologia do self vão ser examinados no sentido de sugerir de
que maneira se sobrepõem às – ou diferem das – recomendações terapêuticas
atribuídas a outras teorias mais explicitamente “intersubjetivas”.
Quando definiu empatia pela primeira vez como “introspecção vicária”, Kohut
(1959) moveu o analista de sua posição clássica como observador objetivo para uma
posição como participante no relacionamento afetivo de tratamento (TEICHOLZ, 2000,
op. cit). Na psicologia do self o analista faz referência interna a sua experiência afetiva
para o propósito de compreender melhor aquilo que o paciente poderia estar sentindo.
Além de sondar seu afeto imediato, o analista também pode tomar em consideração as
complexidades da situação atual do paciente fora da análise; a história do
desenvolvimento do paciente, especialmente a experiência selfobjetal; e a história do
próprio relacionamento analítico. Mas a sondagem empática – sendo um processo que
4
envolve o afeto de duas pessoas – informa e molda todos os outros modos pelos quais
o analista poderia abordar o paciente.
Além de ver a subjetividade do analista como fonte central de sua empatia e de
sua compreensão, Kohut (1984) disse-nos que a subjetividade do analista determina
sua escolha de teoria bem como a maneira como ele ouve, prioriza, e reage ao material
do paciente. Ele chamou nossa atenção para o impacto que o analista exerce sobre o
processo analítico através das sequências de empatia, ruptura e reparação, capazes
de construir estrutura (Id., 1971, 1977), processos que via como estando muito
intimamente ligados à experiência subjetiva e à participação pessoal do analista. Kohut
advertiu quanto às previsíveis respostas contratransferenciais às transferências
narcísicas do paciente – respostas que, se não forem contidas e empregadas
adequadamente pelo analista, poderiam ter consequências destrutivas para o paciente
(Id., 1971, op. cit). Ele escreveu que a “presença humana” do analista exercia influência
singular, porém muitas vezes inidentificável, sobre a situação analítica (Id., 1984, op.
cit, p. 36). E sugeriu que o analista contribui para – ou mesmo cria – aquilo que pensa
estar apenas observando no paciente (Id., ibid., p. 39-41). Estes e outros comentários
de Kohut o posicionaram claramente, dentro da psicologia do self, como precursor do
ponto de vista intersubjetivo contemporâneo.
A intersubjetividade psicanalítica e seus significados
Juntamente com diversos colaboradores (Atwood, Brandchaft, Lachmann,
Orange e Trop), Stolorow levou adiante as inovações de Kohut através da investigação
contínua da subjetividade do analista e sua ubíqua influência no processo e no
relacionamento psicanalítico. No emprego que fizeram do termo intersubjetivo,
Stolorow e seus colegas se referem à vasta esfera de influência mútua e
contextualização na vida psicológica.
Os pesquisadores de bebês também têm contribuído de maneira substancial
para a visão que temos acerca do relacionamento analítico como intersubjetivo, no
sentido de influência e regulação mútuas. Beebe e Lachmann (1988a, 1988b), por
exemplo, relataram acerca de estudos de mães e bebês em que gestos, expressões
faciais, estado de ânimo, e a extensão do intervalo entre as comunicações pode
realmente ser prevista, da iniciativa de um dos participantes até a seguinte, na díade
cuidadora. E Stern et al. identificaram “o relacionamento implícito compartilhado” (1998,
5
op. cit, p. 916) que veem como importante portador de aprendizagem afetiva e de
procedimentos, particularmente no assentamento de expectativas a propósito das
sequências comportamentais/experienciais na díade cuidadora. Todos esses estudos
sugerem influência e regulação mútua entre mãe e filho a partir do nascimento, em que
os dois parceiros contribuem igualmente para a qualidade do relacionamento diádico e
em que cada qual influencia os comportamentos e o afeto subsequentes do outro.
Para Beebe e Lachmann (1988a, op. cit, 1988b, op. cit), bem como para
Stolorow et al, intersubjetividade se refere a influência mútua, regulação sistêmica, ou
contextualização, todas vistas como qualidades de relacionamento ao nascer que
ocorrem naturalmente. Em contraste com esse, o emprego que Stern (1985, op. cit;
STERN et al. 1998, op. cit), Ogden (1986, op. cit, 1992a, op. cit, 1992b, op. cit) e
Benjamin (1988, op. cit, 1990, op. cit) dão a “intersubjetividade” se refere a uma
conquista do desenvolvimento da infância mais tardia, a saber, o primeiro
reconhecimento que a criança faz de sua própria mente e da do outro como centros
separados de experiência e iniciativa. Stern (1985, op. cit) e Ogden (1992a, op. cit,
1992b, op. cit) também incluem em suas noções de intersubjetividade a criação de
significado compartilhado entre dois indivíduos, coincidindo com a primeira conquista
da linguagem. São esses três significados de intersubjetividade – (1) a influência e a
regulação mútua, (2) o reconhecimento mútuo, e (3) a criação de significado
compartilhado – que eu vou destacar para elaboração conceitual e para a consideração
de suas implicações clínicas, em comparação com a psicologia do self de Kohut.
A Intersubjetividade de Stolorow, Brandchaft e Atwood: uma
comparação com a Psicologia do Self tradicional e as Teorias
Relacionais
O foco primário de Stolorow e seus colegas tem sido o contexto inevitável,
porém constitutivo, de todo desenvolvimento e de toda experiência psíquica, um ponto
no qual eles estão de acordo com Kohut. De fato, Stolorow e seus colegas (ATWOOD
& STOLOROW, 1984, op. cit; STOLOROW et al, 1987, op. cit) iniciam sua jornada com
a intenção declarada de promover as ideias de Kohut. Ao fazer isso, entretanto, eles
desviaram a terminologia de Kohut de “self” e “selfobjeto” para uma nova linguagem
psicanalítica de “subjetividade” e “intersubjetividade”. Essa transformação linguística foi
empreendida, em parte, para evitar a reificação teórica de importantes conceitos de
Kohut (STOLOROW et al., 1987, op. cit) – uma reificação contra a qual o próprio Kohut
6
(1984, op. cit) tinha lutado. Stolorow et al, porém, também viam o termo subjetividade
como conotando maior abertura e fluidez de experiência do que o termo self. Como
Kohut, eles desejavam enfatizar os aspectos contextuais da “condição de self”
[“selfhood”], porém acreditavam que poderiam fazer isso melhor com o termo
filosoficamente derivado intersubjetividade do que com o termo kohutiano selfobjeto.
Este talvez fosse mais expressivo e inovador, porém era algo desconcertante para
muita gente fora da psicologia do self. Atwood e Stolorow (1984, op. cit) definiram
“subjetividade” como sendo os padrões conscientes e inconscientes de organização da
experiência do indivíduo. Stolorow et al sugeriram que, porque esses padrões sempre
podem ser operados semelhantemente no paciente e no analista, os analistas devem
“continuamente esforçar-se para expandir sua apercepção reflexiva de seus próprios
princípios organizadores inconscientes [...] a fim de que seu impacto sobre o processo
analítico possa ser reconhecido e tornar-se, ele próprio, o foco da investigação
psicanalítica” (STOLOROW et al., 1987, op. cit, p. 6).
Em sua focalização explícita da subjetividade do analista, Stolorow et al,
estavam assentando os fundamentos da psicanálise relacional contemporânea
enquanto continuavam a pensar de maneira compatível, em larga medida, com os
pontos de vista de Kohut (1971, op. cit, 1977, op. cit, 1984, op. cit): compatível, por
exemplo, com as recomendações de Kohut de que os analistas fossem coerentes no
monitoramento de suas próprias vulnerabilidades narcísicas, ou de que regularmente
encorajassem seus pacientes a articular aspectos do comportamento do analista que
tivessem contribuído para as flutuações na experiência do paciente quanto à troca
analítica. Para Kohut a preocupação do analista para com sua própria contribuição ao
processo analítico tornou-se especialmente importante no rastro das rupturas do
vínculo analítico – no seu modo de ver, sempre desencadeadas pelas falhas da
empatia do analista.
Entretanto, ao passo que na psicologia do self e em seus aperfeiçoamentos
contemporâneos a noção de intersubjetividade conduz a uma atitude de observação
expectante mais intensificada por parte do analista a propósito do impacto que sua
própria subjetividade e a expressão inadvertida desta tenham sobre a experiência e o
comportamento do paciente, na teoria relacional o conceito de intersubjetividade leva
mais além dessa atenção, chegando a recomendar que o analista tenha uma atitude
mais aberta de autoexpressão e autorrevelação (ARON, 1991, 1996; HOFFMAN, 1992,
1994, 1998; MITCHELL, 1993, 1996, op. cit; RENIK, 1993, op. cit, 1995, op. cit, 1998).
7
Essa associação íntima, na teoria relacional, entre as noções de intersubjetividade, por
um lado, e a autoexpressão e autorrevelação do analista, por outro, em parte se baseia
na argumentação de que uma vez que, seja como for, há duas subjetividades
exercendo impacto sobre o relacionamento analítico, é muito melhor abrir as
percepções mútuas a propósito das duas subjetividades para serem examinadas
analiticamente, do que permitir que as percepções do paciente acerca da experiência
do analista passem sem ser analisadas.
Os analistas relacionais e os psicólogos do self buscam meios de ajudar o
paciente a articular a contribuição que o analista inadvertidamente traz ao processo.
Entretanto, enquanto um psicólogo do self poderia perguntar ao paciente o que o
analista teria acabado de dizer ou de fazer para desencadear um aparente desvio no
afeto do paciente, os analistas relacionais perguntam aos seus pacientes o que eles
imaginam que os analistas estão pensando e sentindo, ou que coisas observaram
acerca do analista (ARON, 1991, op. cit, 1996, op. cit). Estas são perguntas que
constituem um convite de caráter mais geral a que o paciente faça comentários a
propósito da subjetividade do analista, e é no contexto do exame dessas respostas que
algumas vezes devem ser tomadas decisões difíceis sobre a autorrevelação do
analista. Não obstante, a maioria dos teóricos relacionais e construtivistas pensa que o
potencial para o ganho terapêutico faz com que valha a pena correr esses riscos
(ARON, 1996, op. cit; HOFFMAN, 1998, op. cit; RENIK, 1998, op. cit). Um outro
raciocínio, oferecido na literatura relacional para a autoexpressão e a autorrevelação do
analista, é que a participação mais aberta e mais pessoal do analista no
relacionamento terapêutico pode proporcionar um modelo para a autoexpressão e a
autorrevelação similares por parte do paciente (RENIK, 1995, op. cit). Conquanto esta
seja uma premissa bem plausível, uma explicação de caráter excessivamente genérico
desse tipo desperta a preocupação de que alguns pacientes possam se sentir deixados
de lado ou mesmo superestimulados de tal modo que isso interferiria com a articulação
de suas próprias subjetividades.
Para Kohut, assim como para Stolorow et al., o reconhecimento, por parte do
analista, de sua própria subjetividade, não leva automaticamente à articulação mais
livre de sua experiência subjetiva consciente no encontro analítico. Kohut desejou
deixar o mais amplo espaço para o pleno desdobramento da experiência do paciente e
para o “florescimento” de suas transferências selfobjetais. Com essa finalidade, tanto
ele como Stolorow et al. (1987, op. cit) enfatizaram a elucidação das conseqüências
8
não-intencionais da subjetividade do analista, de preferência à promoção de sua
expressão deliberada. Na visão de ambos, aquilo que tradicionalmente tinha sido
compreendido em termos de organização intrapsíquica do paciente tinha que ser
reconfigurado para incluir a influência que a subjetividade do analista tem sobre a
experiência e o comportamento do paciente, incluídas as manifestações da
transferência.
Em contraposição à focalização de Kohut e Stolorow et al. na influência mútua
dentro da díade analítica, diversos autores relacionais focalizam, em vez disso, o
reconhecimento interpessoal
(BROMBERG, 1980, 1996; EHRENBERG, 1992;
MITCHELL, 1996, op. cit). Eles defendem que o analista transmita informação ao
paciente acerca do impacto que este exerce sobre os outros, quase como se o analista
não tivesse tido influência sobre a experiência e o comportamento do paciente no
relacionamento terapêutico. Esse feedback interpessoal contém uma objetividade
implícita que corre na direção contrária à própria insistência dos teóricos relacionais
acerca da subjetividade irredutível do analista (ARON, 1991, op. cit, 1992, op. cit;
RENIK, 1993, op. cit). É claro que os autores relacionais nunca empregam o termo
objetivo a este propósito. Porém, de seus trabalhos escritos presume-se que a
experiência que o analista tem do paciente será similar à experiência engendrada pelo
paciente em outras pessoas em sua vida fora do tratamento (MITCHELL, 1992, op. cit,
1997, op. cit). Essa referência implícita aos outros de fora, quanto a dar o feedback
interpessoal, pareceria estar sendo usada para dar peso objetivo à mensagem do
analista, apresentada, por outro lado, como singularmente pessoal e subjetiva.
Em freqüentes manifestações acerca dos limites da objetividade (científica),
Kohut discutiu o impacto contínuo da subjetividade do analista sobre a situação do
tratamento (KOHUT, 1977, op. cit, p. 63-69; 1982, p. 400; 1984, op. cit, p. 34-46). Mas
esse reconhecimento da “presença” pessoal do analista não o levou a recomendar que
o analista oferecesse feedback interpessoal ao paciente. Para Kohut, tanto quanto para
Stolorow et al., o ato de oferecer um feedback desse tipo tendia a ser atrapalhado pelo
desejo do analista de criar um clima em que o paciente pudesse fazer uso inconsciente
da função psíquica do analista como experiência selfobjetal necessária. Ou podia ser
atrapalhado pela luta contínua do analista no sentido de intensificar sua própria
apercepção quanto ao impacto que poderia estar exercendo sobre a experiência e o
funcionamento do paciente dentro do esforço psicanalítico.
9
Mais recentemente Stolorow e Atwood (1992, op. cit) definiram subjetividade
como sendo qualquer organização da experiência, independentemente de quão
primitiva seja. Eles veem o infante e o cuidador primário como constituindo uma díade
intersubjetiva desde o início, porque mesmo o recém-nascido possui algum grau de
organização que lhe permite participar no dar e receber da influência mútua. A
subjetividade nascente do infante está constantemente sendo moldada por seu
contexto intersubjetivo, enquanto o próprio contexto está sendo cocriado pelas
interações
mãe/bebê.
Deste
vantajoso
ponto
de
vista
a
intersubjetividade
absolutamente não é uma realização do desenvolvimento, mas sim um princípio
fundamental e contínuo do relacionamento humano desde o nascimento. Este aspecto
do pensamento de Stolorow et al. chega muito perto do conceito kohutiano de
selfobjeto, e para Kohut como para Stolorow et al. o self só é uma entidade viável
dentro do ambiente humano em que se constitui. Quando escreveram que a
“responsividade do analista pode ser experienciada subjetivamente [pelo paciente]
como um componente vital, funcional, da sua auto-organização” Stolorow et al. (1987,
op. cit, p. 17), apreenderam eloqüentemente a essência tanto do conceito de selfobjeto
de Kohut quanto de sua própria noção de intersubjetividade.
Entretanto, embora continuando a ver o conceito kohutiano de selfobjeto como
alinhado muito de perto com sua própria noção de intersubjetividade, Orange e
Stolorow (1998, op. cit) vieram a questionar a própria ideia de um self ligado ou
“isolado”. Talvez não tenham se dado conta do quanto o próprio Kohut os tinha
precedido nesse questionamento por meio de seu conceito de selfobjeto. Ao elucidar
sua teoria da intersubjetividade, Stolorow e Atwood (1992, op. cit, 1997, op. cit)
contrastaram-no com o “self” de Kohut, que associavam ao mito de uma mente isolada.
Penso, porém, que é provável que eles achassem um contraste melhor para sua noção
de intersubjetividade no conceito winnicottiano (1963/1965) de um self privativo que
não se comunica e não se esforça para alcançar os outros nem deixa entrar nada do
mundo exterior, do que em qualquer das ideias de Kohut. Kohut distinguiu nitidamente
seu conceito de “self” daquele de Winnicott quando fez uma ligação metafórica entre o
funcionamento do self em seu ambiente self-selfobjetal e o funcionamento de partículas
quânticas: afirmou que observador e observado são tão “indivisíveis” na situação
psicanalítica quanto o são na física moderna (KOHUT, 1984, op. cit, p. 39). O conceito
kohutiano de selfobjeto representou cada partícula do “self” como sendo não-fixada,
não-amarrada, contextualizada e aberta a influência mútua – e cada partícula como
10
incapaz de alcançar autonomia psíquica – como o é o “sujeito” na teoria da
intersubjetividade de Stolorow e seus colegas (KOHUT, 1984, op. cit, p. 47, 52, 61,63;
ver também TEICHOLZ, 1999, op. cit, 2000, op. cit).
Há, entretanto, outros conceitos, a cuja volta Stolorow et al. (1987) mais
claramente avançaram além da psicologia do self de Kohut, mesmo quando construíam
a partir das ideias dele. Por exemplo, eles sugerem que nem toda interação entre
paciente e analista se desenvolve a partir da necessidade de organização de self do
paciente. Portanto, o analista deve prestar atenção às orientações relacionais do
paciente que vão além da necessidade selfobjetal, movimentando-se para diante e
para trás entre interações sintonizadas às necessidades de organização e coesão de
self do paciente e outras em que a organização de self do paciente pode ser mais
tomada como certa, com a expectativa de que “conflitos a propósito de amor, ódio,
desejo e competição” venham para o primeiro plano (STOLOROW et al., 1987, op. cit,
p. 41).
Stolorow et al. dão o rótulo de “edipiano” a esta última qualidade de experiência
e funcionamento, e presumivelmente o paciente edipiano é mais capaz de tolerar a
exposição a aspectos disjuntivos da subjetividade do analista do que o paciente em
estado de necessidade selfobjetal aumentada. De fato, embora a teoria de Stolorow et
al. esteja mais centrada na influência mútua do que no reconhecimento, eles parecem
estar fazendo uma distinção aqui entre um estado menos coesivo, em que o paciente
precisa usar o analista primariamente como selfobjeto arcaico – onde a subjetividade
distinta do analista não é explicitamente reconhecida – e um estado mais altamente
organizado, onde a maior coesão do self permite que o paciente reconheça a
subjetividade distinta do analista e faça uso dela conforme pode ser transmitida por
meio da observação interpessoal, da interpretação ou do envolvimento autêntico.
Combinando os termos de Stolorow et al. e os de Kohut, poderíamos dizer que o
paciente edipiano (STOLOROW et al., 1987, op. cit), ou o paciente com mais
organização e coesão de self, foi capaz de avançar do relacionamento selfobjetal
“arcaico” para o relacionamento selfobjetal mais “maduro” (KOHUT, 1984, op. cit).
Kohut fez as seguintes distinções entre relacionabilidade selfobjetal arcaica e madura:
(1) o relacionamento arcaico tende a envolver primariamente um movimento
unidirecional da função psíquica do genitor para o infante ou do analista para o
paciente, enquanto o relacionamento maduro envolve um movimento mútuo ou
bidirecional em troca simultânea ou alternada. (2) Opondo-se à experiência selfobjetal
11
madura, o modo arcaico de relacionar-se envolve o fato de que o paciente não se dá
conta de que necessita de função selfobjetal que está faltando. Uma vez que não se dá
conta de que algo é necessário, o indivíduo sob a influência dos modos arcaicos de
experienciar também não vai se dar conta de que alguma função selfobjetal está sendo
posta à disposição por um outro de fora. De fato, quando a apercepção da provisão
“selfobjetal”
é
relacionabilidade
prematuramente
arcaica,
a
empurrada
experiência
no
indivíduo
provavelmente
num
vai
estado
de
precipitar
um
descarrilamento do desenvolvimento e uma ruptura do vínculo relacional (KOHUT,
1971, op. cit, 1977, op. cit). Em contraste, no modo selfobjetal maduro de relacionar-se
o reconhecimento está mais ao alcance: neste estado o “outro de fora” pode ser visto
igualmente como aquele que proporciona a necessária função psíquica e como um
centro separado de experiência e iniciativa.
Se aceitarmos as distinções que Kohut (1984, op. cit) fez entre modo arcaico e
maduro de relacionar-se, poderíamos esperar que o paciente que estivesse num modo
arcaico de experienciar exigisse que o analista reagisse de maneira a minimizar a
separação e a diferença. Em resposta a essa necessidade do paciente, o analista vai
tentar limitar sua participação à imersão empática na experiência do paciente, ou à
comunicação de sintonia afetiva e compreensão visando a proteger o paciente contra a
prematura confrontação com a subjetividade singular do analista. Em contraste, um
paciente que foi capaz de usar seu tratamento para avançar de um modo selfselfobjetal arcaico de relacionar-se para outro mais maduro, ou que conseguiu a maior
coesão de self do paciente edipiano de Stolorow et al., pode concebivelmente
empenhar-se numa troca mútua com o analista, bem como fazer uso mais construtivo
das suas interpretações diferenciadoras, da sua capacidade de autoexpressão e
autorrevelação. Ao argumentar que existia um espectro de experiência selfobjetal que
vai da mais arcaica à mais madura, Kohut falava da “unidade indivisível self-selfobjeto
... como sendo a essência da vida psicológica desde o nascimento até a morte”
(KOHUT, 1984, op. cit, p. 213). Ele estava dizendo que serão necessários diferentes
modos de interação por parte do analista, dependendo do ponto deste espectro em que
estão situados os modos de experienciar e funcionar do paciente.
O fato de que uma das maiores preocupações de Kohut era a falha da
responsividade do analista é, no meu modo de ver, um tributo à importância que a
influência mútua e o contexto tinham em seu pensamento. Ele era bastante explícito,
por exemplo, em sua sugestão de que as falhas do analista poderiam contribuir para a
12
natureza e a medida da psicopatologia do paciente, à medida que esta encontrava
expressão
no
relacionamento
terapêutico.
Essas
ideias
o
tornaram
um
“intersubjetivista” no sentido que Stolorow et al. dão ao termo. De conformidade tanto
com Stolorow et al. quanto com os teóricos mais “puramente” relacionais. Kohut (1984,
op. cit) reconheceu duas subjetividades no espaço do tratamento e enfatizou a
elucidação da contribuição do analista para o relacionamento terapêutico. E no entanto,
diferentemente dos autores relacionais, tanto Kohut quanto Stolorow mantêm seu foco
clínico na vida interior do paciente, nas necessidades do paciente, e na experiência que
o paciente tenha da subjetividade do analista. Dentro do arcabouço tanto de Kohut
quanto de Stolorow et al., qualquer exame da subjetividade do analista ou qualquer
autoexpressão ou autorrevelação da parte do analista permanecem estreitamente
ligadas à compreensão empática que o analista tenha das necessidades específicas,
dos afetos, dos estados de self e das capacidades funcionais do paciente no momento,
enquanto a compreensão que o analista tenha da história do desenvolvimento do
paciente e da história do relacionamento psicanalítico enriquece sua empatia aqui-eagora, e vice-versa.
As discussões de casos de Trop e Stolorow (1992, op. cit), de Lachmann e
Beebe (1996b, op. cit), de Stolorow e Atwood (1997, op. cit) e de Orange e Stolorow
(1998, op. cit) oferecem ilustração de uma abordagem clínica que é igualmente
compatível com uma intersubjetividade de influência mútua, regulação mútua e
contextualização (STOLOROW et al. 1987, op. cit; STOLOROW & ATWOOD, 1992, op.
cit; STOLOROW, ATWOOD & BRANDCHAFT, 1994) e com uma postura kohutiana.
Numa
vinheta
clínica de
Orange e
Stolorow,
por
exemplo,
as
criteriosas
autoexposições “experimentais” do analista (1998, op. cit, p. 535) para a paciente Erica
a propósito das atividades comuns de fim-de-semana do analista foram experienciadas
pela paciente como confirmando que ela era digna de confiança e respeito. As
revelações parecem ter tido o efeito adicional de proporcionar “tranqüilização” (Id., ibid.,
p. 536) ou contenção das ansiedades da paciente, especialmente no que se referia a
que o analista nada tinha sofrido e podia ser idealizado em seguida às rupturas de fimde-semana. Então, no mínimo fica implícito que Erica foi capaz de usar as
autorrevelações (bastante limitadas e cuidadosamente pensadas) do analista como
função selfobjetal, no sentido de espelhamento (confirmação de seu valor), idealização
(apontando que o analista nada tinha sofrido) e fusão onipotente (segurança e
tranqüilização).
13
Pensou-se que Erica precisava da segurança porque durante sua infância
estivera cronicamente exposta a assustadoras explosões emocionais da parte de seus
pais. Uma vez que as autorrevelações do analista visavam a ser “corretivas” em
relação a essas experiências anteriores, podemos observar que Kohut defendia uma
aceitação da “experiência emocional corretiva” contanto que fosse concebida como “um
único aspecto do multifacetado corpo de uma cura psicanalítica” (KOHUT, 1984, op. cit,
p. 78). Para torná-la curativa e não regressiva, Kohut também pensava que a
experiência corretiva tinha que ter lugar no contexto de um tratamento de longo prazo,
e que incluir processos de interpretação e elaboração (Id., ibid., p. 107-108): estes
critérios pareceram ter sido atendidos no trabalho relatado por Orange e Stolorow
(1998, op. cit).
No material do caso de Orange e Stolorow as autorrevelações do analista
envolveram apenas atividades rotineiras simples e agradáveis, escolhidas não para
chamar atenção para a experiência do analista em si mesma, mas para atender
necessidades psíquicas mais antigas da paciente, redespertadas pelo próprio
relacionamento analítico. Da perspectiva de Kohut esse redespertar era essencial para
o resultado terapêutico de qualquer análise (KOHUT, 1971, op. cit, 1977, op. cit;
KOHUT & SEITZ, 1963/1978). Até que o analista iniciasse a “experiência” com a
autorrevelação, o desmentido de Erica quanto a sua necessidade tinha estado
bloqueando o tratamento. Entretanto, seguindo bem de perto a introdução das
revelações da parte do analista, Erica se tornou mais aberta, cheia de vivacidade, e
empenhada. Essa seqüência de acontecimentos sugere que o que é crítico para o
potencial curativo de qualquer intervenção não é o fato de isso envolver a reserva ou a
autoexpressão do analista, mas sim o fato de o paciente ser ou não capaz de fazer uso
disso como uma experiência selfobjetal de que necessitava.
A intersubjetividade de Stern: sua ressonância dentro das ideias de
Kohut, e de Stolorow et al.
Enquanto a intersubjetividade de Stolorow et al. se refere à influência mútua e à
contextualização que se iniciam no nascimento, a de Stern diz respeito ao
reconhecimento da mente em si mesmo e no outro, visto como conquista de
desenvolvimento mais tardio. A descoberta por parte do bebê de que ele e sua mãe
têm vidas psicológicas separadas exige extenso desenvolvimento preparatório ao longo
14
de caminhos cognitivos, linguísticos, afetivos e relacionais. De acordo com essa
complexidade, Stern sugere que a intersubjetividade só emerge por volta do final do
primeiro ano de vida, num “salto gigantesco” que finalmente reúne os esforços de
diversos processos que estão em movimento nos primeiros meses, e levam a um
sentido subjetivo de self e de relacionabilidade intersubjetiva (STERN, 1985, p. 124). A
demora nessa realização sugere que seu estabelecimento bem-sucedido também
poderia
depender
de
determinadas qualidades
mantidas
da
experiência
de
autorregulações e de regulações mútuas anteriores, entre o bebê e os cuidadores
primários.
Stern postula um sentido de self “nuclear” ou físico (STERN, 1985, op. cit, p.
125) estabelecido inicialmente vários meses antes que o bebê tenha desenvolvido o
sentido “subjetivo” de self, e muito antes que seja capaz de reconhecer sua própria
mente ou a mente de qualquer outro. Em estágios anteriores o bebê pode fazer
distinções concretas entre ações que se originam em seu próprio corpo e aquelas que
se originam no corpo separado do outro, mas ainda não reconhece sua própria
intencionalidade nem a do outro, ou mesmo que ele ou alguém mais tem uma “mente”
da qual possam brotar intenções. A fim de alcançar a capacidade mais tardia de
reconhecimento-da-mente, as experiências do bebê com os cuidadores primários
devem ter sido suficientemente bem reguladas ao longo do tempo, para produzir algum
sentido de previsibilidade quanto àquilo que pudesse emanar do self e o que pudesse
provir dos outros. As seqüências relacionais suficientemente previsíveis no início da
vida dão ao bebê a capacidade de desenvolver “Representações de Interações que se
Generalizaram” (Id., ibid., p. 97), contribuindo para uma coesão da experiência que
culmina no estabelecimento de um sentido subjetivo ou psicológico de self entre as
idades de 7 e 9 meses. O self subjetivo não substitui o self nuclear, mas sim se constrói
a partir deste. E seu primeiro estabelecimento está inextricavelmente ligado ao
reconhecimento simultâneo, por parte do infante, de que “o outro” tem igualmente uma
vida interior semelhante, porém separada e singular. É a este último reconhecimento
da
vida
separada
do
outro
que
Stern
atribui
os
termos
intercambiáveis
intersubjetividade ou relacionabilidade intersubjetiva. As conquistas do reconhecimento
podem ser estimulantes, mas são também aterrorizantes porque a descoberta da
mente separada do outro exige uma aceitação de que necessidades, desejos e
interesses entre mãe e bebê podem se chocar, e que a mãe pode optar por ir embora.
15
O ponto de vista de Stern acerca de subjetividade e intersubjetividade como
realizações do desenvolvimento dependendo em larga medida, para se estabelecer, de
determinadas qualidades das interações anteriores com o ambiente humano, ressoa
com a noção kohutiana do desenvolvimento do self no ambiente self-selfobjetal. E
também com a visão de Kohut de que o sentido mais inicial de “eu” avança para a
coesão durante o segundo ano de vida. As diferenças entre as perspectivas de Stern e
Kohut têm muito a ver com as diferentes linguagens que eles escolheram para escrever
a propósito de suas ideias e, é claro, com o fato de que o ponto de partida de Kohut foi
a imersão empática na experiência de pacientes adultos que se submetiam a
tratamento psicanalítico. Foi sobre a base dessa experiência que ele desenvolveu
hipóteses retrospectivas acerca das necessidades e da experiência infantil, enquanto o
ponto de partida de Stern foi a observação direta de bebês com suas mães.
Os pontos de vista de Stern também se sobrepõem parcialmente aos de
Stolorow e seus colegas, ao ponto de que todos esses autores veem as influências
mútuas e a regulação mútua como se iniciando no nascimento, e o contexto humano
como contribuindo para a estruturação da experiência individual. Embora Stolorow e
Atwood (1992, op. cit) façam uma distinção entre sua própria teoria e aquelas que
consideram como sendo “do desenvolvimento”, eu diria que pelo menos algumas das
diferenças entre as teorias deles e as de outros refletem mais as diferenças de
empregos linguísticos do que dissonâncias conceituais fundamentais. Por exemplo,
quando
Stolorow
e
Atwood
rejeitam
uma
visão
“de
desenvolvimento”
da
intersubjetividade, eles estão se referindo não a reconhecimento-da-mente, mas sim a
contextualização, um fenômeno sobre o qual todos os teóricos da intersubjetividade,
em suas discussões clínicas, concordam quanto a que é universalmente operável do
nascimento até a morte. E embora Stolorow et al. (1987, op. cit) não incluam
“reconhecimento da mente” em sua definição de intersubjetividade, em suas
discussões clínicas (como observei anteriormente) eles levam em consideração o
reconhecimento como uma conquista do estágio edipiano, com o qual contrastam
estádios anteriores de necessidade selfobjetal aumentada.
Ao apontar as áreas de confluência entre os pontos de vista de Stern, Kohut e
Stolorow meu objetivo não é desvalorizar a singularidade da contribuição de cada um
desses autores, mas sim enfatizar sua concordância implícita quanto a um único ponto
crucial: a saber, que há um estagio normal de desenvolvimento em que a criança não
reconhece nem pode reconhecer a vida psicológica separada do outro. Para ir desse
16
estado mais inicial de não-reconhecimento para o reconhecimento – ou para avançar
do sentido físico para o sentido subjetivo do self com sua relacionabilidade
intersubjetiva (na significação que Stern dá a esse termo) – o bebê deve primeiro
desfrutar de um ambiente apropriadamente facilitador, sem traumas indevidos.
Na teoria de Stern só depois que o self subjetivo se estruturou adequadamente é
que o infante é capaz de reconhecer a condição de separação da mente em si mesmo
e no outro. E Stern vê isso como uma complexa realização psíquica com ampla
oportunidade para que as coisas corram mal ao longo de algum de seus caminhos
anteriores de desenvolvimento. Por causa dessa fragilidade do estabelecimento inicial
da subjetividade e da relacionabilidade intersubjetiva, a teoria de Stern sugere que os
pacientes entram em tratamento trazendo variados graus e qualidades de sucesso
quanto à conquista de tais capacidades. Onde tenha havido falha ou comprometimento
nessas realizações do início da vida, o paciente pode manifestar acentuada intolerância
em relação a qualquer comportamento por parte do analista que chame atenção para a
subjetividade diferenciada deste e pode precisar de um período durante o qual possa
usar o funcionamento psíquico do analista primariamente visando ao atendimento da
necessidade selfobjetal básica. Os esforços analíticos podem ir em direção à melhora
do sentido do paciente quanto a ser compreendido e aceito, ou em direção à
intensificação de seu sentido de estar em ressonância afetiva com uma figura parental
idealizada (KOHUT, 1971, op. cit), e outras formas de autoexpressão da parte do
analista podem ter que ser restringidas. Podemos ver aqui como a obra de Stern (1985,
op. cit) apoia as recomendações clínicas de Kohut.
Benjamin, Stern, Kohut: pontos de concordância e de desacordo
A noção de reconhecimento intersubjetivo de Stern (1985, op. cit) foi empregada
por Benjamin (1988, op. cit) na elucidação que fez do problema das relações
mãe/criança e das relações de gênero. Neste capítulo vou examinar apenas o
relacionamento mãe/criança. Benjamin vê as mães na nossa cultura como sacrificando
suas subjetividades por causa de seus filhos e contribuindo dessa maneira, através das
identificações maternas de suas filhas, para a perpetuação das falhas de subjetividade
e de relacionabilidade intersubjetiva nas mulheres. Diferentemente de Stern ou de
Ogden, Benjamin acredita que o estabelecimento inicial da subjetividade e da
relacionabilidade intersubjetiva exige a exposição prévia à alteridade expressada pela
17
mãe. É por essa razão que ela estimula as mães a expressar mais abertamente suas
subjetividades singulares no relacionamento com seus filhos. Presumivelmente
Benjamin favoreceria uma autoexpressividade equivalente da parte dos analistas com
seus pacientes.
Entretanto, o encorajamento geral de Benjamin à autoexpressão da mãe
pareceria correr ao contrário de determinadas descobertas do próprio Stern (1985, op.
cit). Em especial, a obra de Stern sugere que, antes da realização inicial de um self
subjetivo, com seu reconhecimento da mente por volta do final de primeiro ano de vida,
o bebê não consegue fazer uso significativo de informação acerca da subjetividade
separada da mãe. Quaisquer que sejam eles, os aspectos da subjetividade separada
da mãe que possam ser transmitidos por meio de seus modos de regulação afetiva,
sintonia e por sua atitude lúdica ao exercer seu papel de cuidadora certamente são
necessários. São desfrutados pelo bebê que reage a eles e os internaliza muito antes
que a relacionabilidade intersubjetiva “propriamente dita” seja atingida, por volta dos 8
meses de idade (STERN et al., 1998, op. cit). Mas até esse momento decisivo o bebê
só concede à mãe reconhecimento implícito, e só a reconhece como fonte de
experiências afetivas vitais nas consoladoras e divertidas trocas com os cuidadores
(STERN, 1985, op. cit). Eu sugeriria que esse reconhecimento implícito contrasta
acentuadamente com o reconhecimento do “outro” como entidade psicológica distinta
com sua própria iniciativa.
Stern et al. (1998, op. cit) argumentam que o bebê manifesta uma capacidade
de reconhecimento mais inicial do que aquilo que tinha sido relatado anteriormente pelo
próprio Stern (1985, op. cit). Mas mesmo assim, seu Grupo de Estudos de Processo
atribui ao conhecimento inicial de processo o rótulo de “relacionamento compartilhado
implícito” (STERN et al., 1998, op. cit, p. 916), aparentemente optando por essa
terminologia exatamente para distinguir as formas de reconhecimento mais iniciais e
mais implícitas, das outras mais tardias e mais explícitas. Eu argumentaria que
beneficiar-se implicitamente da subjetividade separada da mãe, e reconhecê-la
explicitamente como tal, absolutamente não são um mesmo fenômeno. E é
problemático que na teoria de Benjamin e em outras teorias relacionais, essas
experiências tendam a ficar confundidas. Eu faria a distinção entre o fato da
subjetividade separada da mãe, inclusive os múltiplos usos implícitos e silenciosos que
mesmo os bebês mais novinhos conseguem fazer dela, e o reconhecimento explícito
da subjetividade separada da mãe fora de seu papel de cuidadora direta. Este último é
18
uma forma de reconhecimento que o bebê só pode alcançar por volta do final do
primeiro ano. Kohut, Stern e Ogden semelhantemente vêem esse reconhecimento
como exigindo desenvolvimento prévio através de um impressionante cortejo de
realizações psíquicas e como exigindo determinadas qualidades de interações
regulatórias anteriores entre os pais e a criança (KOHUT, 1971, op. cit, 1977, op. cit,
1984, op. cit; STERN, 1985, op. cit; OGDEN, 1986, op. cit, 1992a, op. cit; 1992b, op.
cit; EMDE, 1990, op. cit).
Stern sugere que, mesmo quando essas condições tenham sido bem atendidas,
uma das primeiras coisas que acontecem depois que o bebê se apercebe da existência
separada de sua mente e da de sua mãe, é que ele se torna muito interessado em
descobrir similaridades, experiências que possam ser compartilhadas, e “pontes de
empatia” (STERN, 1985, p. 126) entre si mesmo e sua mãe. Em outras palavras, o
bebê que recentemente se apossou do conhecimento da condição de separação e
diferença psicológica faz árduas tentativas de fechar a experiência direta que tem
dessa lacuna. Esta observação da parte de Stern oferece apoio adicional à focalização
clínica de Kohut na empatia e na ressonância afetiva do analista, particularmente com
pacientes cujo sentido de self é frágil. Sugere também que, mesmo depois que nossos
pacientes atinjam a capacidade de reconhecimento intersubjetivo, pode haver ocasiões
em que o analista faria melhor conter a expressão de sua subjetividade distinta em
proveito de criar pontes de empatia. Kohut apontava especialmente a fragilidade das
estruturas e das funções recentemente estabelecidas e, portanto, indicava a
necessidade de um período de consolidação depois que qualquer desenvolvimento
desse tipo tivesse ocorrido (KOHUT, 1971, op. cit, 1977, op. cit; KOHUT & SEITZ,
1963/1978, op. cit).
Enquanto com suas “pontes de empatia” Stern se inclina em direção às noções
kohutianas de imersão e ressonância empática, ele pareceria avançar mais para perto
do ponto de vista de Benjamin quando fala do “desejo de conhecer e ser conhecida”
recentemente emergente na criança pequena (STERN, 1985, op. cit, p. 126). Ele
sugere que, uma vez que o self subjetivo se consolidou, a criança pode empenhar-se
em formas mais explícitas e mútuas de exploração e reconhecimento relacional.
Extrapolando disso para a situação de tratamento, podemos esperar que os pacientes
avencem das formas implícitas de reconhecimento para outras mais explícitas, à
medida que o tratamento progride e que, com esse desvio, eles podem desenvolver
maior interesse pela autoexpressão diferenciada do analista. Em sua obra de 1985,
19
então, Stern pareceria apoiar os pontos de vista ou de Kohut ou de Benjamin, conforme
a qualidade e o grau de consolidação do sentido de self do paciente, bem como a
qualidade da relacionabilidade do paciente. Já a sintonia a essas distinções pareceria
ser um aspecto da obra de Kohut, enquanto pareceria ter pouco ou nenhum lugar na de
Benjamin.
Mais recentemente, Stern et al. parecem afastar-se de Kohut e aproximar-se da
posição de Benjamin, com uma sugestão de que o reconhecimento-do-outro poderia
ser possível e desejável para todas as crianças todo o tempo. Stern et al. identificam
aquilo que chamam de “momentos agora” tanto na díade mãe/criança quanto na
situação analítica. Eles dizem que na clínica, nos “momentos de encontro, o analista
deve corresponder com algo ... experienciado como específico do relacionamento com
o paciente e ... expressivo da própria experiência e da pessoalidade [do analista]”
(STERN et al., 1998, op. cit, p. 917). Eles enfatizam que esses momentos “são
construídos em conjunto, exigindo a provisão de alguma coisa singular das duas
partes” (Id., ibid., p. 908). Estas observações podem ser vistas como oferecendo apoio
para a recomendação de Benjamin de que o genitor (ou o analista) se empenhe em
autoexpressão e autorrevelação mais livres em todos os aspectos.
Entretanto, embora de fato sugira que o bebê precisa da presença e das
capacidades funcionais de uma mãe possuidora de uma mente singular, a obra de
Stern et al. não proporciona nenhuma evidência de que o bebê tenha a capacidade de
reconhecer tais qualidades de diferença psíquica num outro percebido como separado.
O que os autores descreveram aqui tem mais a ver com a provisão relacional de
interesse adequado à fase, estimulação e surpresa por parte da mãe suficientemente
boa, dentro de um contexto de familiaridade reconfortante, do que com o
reconhecimento de uma mente em si mesmo e no outro. As observações de Stern et
al., para mim, ilustram não o reconhecimento inicial, por parte do bebê, de uma
entidade psíquica separada num outro, mas sim a influência distintiva da mãe sobre o
bebê e a influência mais inicial do bebê sobre a mãe. Inicialmente essas experiências
contribuem primariamente para a autorregulação e para a regulação mútua. Só mais
tarde – quando tudo correu suficientemente bem durante um tempo suficientemente
longo – é que de fato as contribuições das mães, e o registro que o infante tem dessas
contribuições à medida que o tempo passa, vêm a aglutinar-se para formar o
reconhecimento explícito, por parte do bebê mais velho, da mente separada e
diferenciada do outro.
20
Stern e Benjamin parecem divergir de Kohut a propósito de que tipos de
experiências mais provavelmente vão facilitar a mais inicial consolidação de um self
subjetivo. Os autores também diferem quanto à qualidade do afeto envolvido no
primeiro estabelecimento de um reconhecimento intersubjetivo. Kohut (1971, op. cit,
1977, op. cit, 1982, op. cit, 1984, op. cit), por exemplo, vê alegria para os dois parceiros
no reconhecimento mútuo, enquanto a ênfase de Benjamin (1988, op. cit, 1990, op. cit)
é muito mais na relutância envolvida. Ela aponta aquilo temos que abandonar de nossa
própria onipotência e de nossa condição de self para podermos fazer um doloroso
desvio que exige a luta de uma vida inteira para conservar. Porém, o reconhecimento
cheio de ressentimento de Benjamin e o reconhecimento cheio de alegria de Kohut não
são tão discordantes quanto poderia parecer, porque Kohut (1977, op. cit, 1984, op. cit)
também advertiu quanto a que o reconhecimento mútuo é difícil de atingir, e sugeriu um
resultado trágico para os fracassos quanto a isso. É claro que na visão dele o
movimento da criança, do abençoado desconhecimento da realidade psíquica
separada do outro para a aceitação do outro como um centro independente de
experiência e iniciativa, exige a confirmação alegre e adequada à fase, por parte dos
pais, da grandiosidade da criança. Entretanto, é igualmente importante que esse brilho
inicial nos olhos do genitor seja seguido pela oportuna introdução de um feedback mais
nítido a propósito das reais habilidades e talentos da criança, à medida que se
desenvolvem. Para Benjamin, como para Kohut, o objetivo é o reconhecimento, por
parte da criança, das fraquezas, das limitações e das subjetividades separadas, tanto
em si mesma quanto no outro.
O foco de Kohut na empatia e na experiência selfobjetal não o impediu de
antecipar ulteriores interesses de Benjamin (1988, op. cit), antevistos em sua afirmação
de que os relacionamentos self-selfobjeto maduros podem atender necessidades da
vida inteira de ser reconhecido por outros importantes, bem como de reconhecer esses
outros (KOHUT, 1984, op. cit). Para Kohut, como para Benjamin, esse reconhecimento
se baseava não na sintonia perfeita, mas na aceitação, tão difícil de conquistar, da
frustração e do desapontamento em relação à disponibilidade e à responsividade dos
outros. A psicologia do self tem sido criticada por sua sugestão de que o analista deixe
“entre parênteses” ou “deixe de lado” sua subjetividade em favor do paciente (RENIK,
1995, op. cit; MITCHELL, 1996, op. cit). Mas os conceitos kohutianos interrelacionados
de “falha da empatia” e de “frustração ótima” [optimal] enfatizam que tal façanha é
igualmente impossível e indesejável. Trabalhando mais acerca das inevitáveis
21
imperfeições e falhas dos nossos selfobjetos “através de toda a extensão de nossas
vidas”, Kohut sugeriu que tais experiências fazem parte da “essência da vida” (KOHUT,
1984, op. cit, p. 27). Ele chegou a afirmar que a frustração poderia resultar em
benefícios
psíquicos,
sugerindo
que,
dentro
de
determinados
limites,
o
desapontamento poderia estimular “internalizações transmutadoras e mudança
criativa”, consequentemente ajudando as crianças expostas a isso a “sair-se melhor na
vida” (Id., ibid., p. 214).
Embora Kohut, muito mais do que Benjamin, enfatizasse que as crianças devem
crescer tendo sua individualidade emergente reconhecida e correspondida pelos outros
importantes, ambos estão de acordo quanto a que, uma vez que a mutualidade tenha
sido conseguida, os relacionamentos envolvem um contínuo dar e receber de
reconhecimento. Os dois autores também concordam que o reconhecimento
inevitavelmente leva consigo intrusões indesejadas da subjetividade do outro. Esses
pontos de concordância entre Kohut e Benjamin podem ficar perdidos porque,
enquanto Benjamin destaca a expressão da subjetividade distinta dos pais como
ingrediente crítico para a ulterior realização, por parte da criança, de sua própria
subjetividade e do reconhecimento do outro. Kohut vê a infância inicial como um
período
em
que
são
abundantes
as
vulnerabilidades
do
desenvolvimento.
Conseqüentemente, ele enfatiza a importância do reconhecimento, da confirmação ou
da resposta especular dos pais a qualquer que seja o aspecto da experiência subjetiva
da criança que esteja espontaneamente começando a emergir. Mesmo assim, Kohut
compartilha com Benjamin a convicção de que a responsividade perfeita da parte do
ambiente não é possível nem desejável.
Para resumir suas diferenças, Benjamin se preocupa acima de tudo com as
mães que muito prontamente deixam de lado suas subjetividades em favor de seus
filhos, enquanto Kohut se preocupa acima de tudo por causa das mães que não são
capazes de deixar de lado sua própria experiência o bastante para corresponder
adequadamente ás necessidades psíquicas de seus filhos. Filhos de pais que
funcionam seja num ou no outro desses dois polos podem algum dia terminar num
tratamento psicanalítico, e uma vez em tratamento, podem encontrar inadequações
similares no funcionamento de seus analistas: seja confirmação demais ou de menos
da experiência do paciente. Em sua concepção da frustração ótima [optimal] Kohut
tinha a esperança de estar nos ajudando a evitar experiências traumáticas de excesso
ou de escassez nas nossas interações com os pacientes e as crianças.
22
Benjamin (1995, op. cit) realmente expressou apreço pela insistência de Kohut
na sintonia e na empatia. Mas ela também se preocupa quanto a que os aspectos da
“alteridade” que promovem o crescimento possam ficar perdidos se uma confiança
exclusiva na empatia impedir outros modos de interação da parte de pais ou de
analistas. Eu sugeriria que empreguemos a empatia como uma orientação em relação
a fazer juízos amplos quanto a como interagir com cada paciente (KOHUT, 1982, op.
cit). E entre esses juízos estariam incluídos aqueles que se referem a saber se é
provável que uma determinada autoexpressão ou autorrevelação leve a ganho
terapêutico para o paciente ou se é mais provável que desencadeie uma ruptura no
vínculo entre paciente e analista. Kohut lembrava-nos que a empatia é apenas uma
orientação: nossas ações, dizia ele, escolhidas à base da empatia, é que fazem com
que um intercâmbio promova ou não o crescimento (Id., ibid., p. 397). Dessa maneira
ele parece ter deixado bem aberta a questão da participação do analista, contanto que
a ressonância afetiva do analista, suas interpretações, sua expressividade emocional
ou suas autorrevelações sejam encenadas à base da imersão empática na experiência
do paciente.
A Intersubjetividade de Ogden e o self-selfobjeto de Kohut
Além das ricamente elaboradas contribuições de Benjamin, Stern e Stolorow et
al., Ogden levou adiante o discurso sobre a subjetividade e a intersubjetividade. As
ideias de Ogden se desenvolveram a partir de seu trabalho com adultos, mas ressoam
notavelmente com as descobertas de Stern na observação de bebês. Esses dois
autores viam a intersubjetividade em termos de conquistas do desenvolvimento ao
longo de caminhos cognitivos/linguísticos e afetivos/relacionais. A visão de Ogden
(1992a, op. cit, 1992b, op. cit), entretanto, é altamente idiossincrásica: ele credita a
Freud, por exemplo, a noção de uma subjetividade que consistia de movimentos
dialéticos entre experiência consciente e experiência inconsciente, e credita a Klein ter
identificado um movimento dialético entre dois modos de organizar a experiência, ou
duas “posições” psíquicas (1992b, op. cit). Para Ogden a subjetividade é, assim, um
movimento para diante e para trás ao longo de duas dimensões multifacetadas:
consciência/inconsciência e modos de experienciar self e outro.
Às posições esquizo-paranóide e depressiva de Klein, Ogden (Ibid.) acrescentou
um terceiro modo de experienciar que ele chama de posição “autista/contígua”. As três
23
posições
emergem
sequencialmente
ao
longo
de
um
caminho
inicial
de
desenvolvimento. A posição autista/contígua se estabelece primeiro, e concerne
primariamente a experiências sensoriais fugazes. A posição esquizo-paranóide se
segue e é caracterizada pela fragmentação e por relacionamentos de “self
parcial/objeto parcial”. A posição depressiva vem em terceiro lugar, referindo-se a um
sentido coesivo de self e ao reconhecimento de objetos totais compreendidos como
tendo vidas psicológicas distintas.
Eu sugeriria que no esquema de Ogden a posição depressiva corresponde muito
de perto à noção kohutiana de um self coesivo capaz de relacionamentos selfselfobjeto ”maduros” (TEICHOLZ, 1999, op. cit). Buscando outras ligações entre as
teorias, observo que Stern e Ogden vêem a “intersubjetividade” como uma realização
do desenvolvimento que envolve o reconhecimento de si mesmo e do outro como
centros distintos de experiência e iniciativa – e a linguagem deles dois nitidamente
ecoa a de Kohut (1971, op. cit) em sua descrição do self. Entretanto, apesar dessas
áreas de sobreposição entre Ogden e Kohut, Ogden leva sua noção de “subjetividade”
a um fenômeno mais fluido, mais aberto a discussão e modificações [open-ended],
mais inefável do que aquilo que ele entende que Kohut quis dizer com “self”, e
expressa preocupação quanto a que este possa se tornar uma rigidez prejudicial ou
estática. Certamente Kohut nunca adotou as “posições” relacionais objetais de Klein ou
de Ogden, com seus movimentos trialéticos, mas também não pretendeu que seu “self”
se referisse a uma entidade fixa ou rígida. Ele queria que o termo se referisse apenas à
coleção aberta de “experiências interiores introspectivamente [...] percebidas, a que
mais tarde nos referimos como „eu‟” (Id., 1977, op. cit, p. 310), descrição que parece
ressoar bem com as qualidades de fluidez e de inefável que Ogden valoriza.
Continuando a identificar áreas de sobreposição entre as ideias de Ogden e as
de Kohut, eu sugeriria que a noção kohutiana de relacionamento selfobjetal maduro
(Id., 1984, op. cit) nitidamente envolve “reconhecimento do outro”. Na visão de Kohut
acerca dos relacionamentos maduros há um predomínio de mutualidade nas trocas de
empatia e função selfobjeto, enquanto o reconhecimento às ambições, aos objetivos e
ideais distintos de cada parceiro é proporcionado pelo outro. O objetivo principal da
psicanálise, do ponto de vista de Kohut (Ibid.) é abrir caminhos mútuos de empatia
entre o self e o outro, e é inegável que a empatia envolve o reconhecimento daquele
em cuja direção ela flui.
24
Entretanto, no esquema de Ogden só a posição depressiva envolve o
reconhecimento da mente em si mesmo e no outro. Conseqüentemente, para ele,
como para Kohut, há um período antes que o reconhecimento se torne operativo: tanto
na posição esquizo-paranóide quanto na autista-contígua o reconhecimento ainda não
está a postos. Se aceitarmos o ponto de vista de Ogden de que a experiência adulta
normalmente se alterna entre todas essas três posições, então poderemos esperar que
não apenas os nossos pacientes mais frágeis, mas também os mais saudáveis irão
ocasionalmente perder seu sentido de coesão do self; perderão sua capacidade de
relacionar-se com objetos totais; e perderão seu reconhecimento da condição de
separação psíquica do outro. Como analistas devemos estar alerta para essas
repentinas perdas de capacidade nos nossos pacientes, e ainda prestar atenção
quanto a que eles podem ficar agudamente incapazes de tolerar nossos
comportamentos que sinalizem sua condição de separação e diferença. Embora o
analista nem sempre possa evitar sinalizar sua condição de separação, ao menos ele
deverá permanecer sintônico e tentar transmitir sua compreensão do distúrbio do
paciente em reação a esses sinais: para alguns pacientes estes incluiriam as falhas da
empatia do analista, as rupturas de fim-de-semana e as férias. Muitos pacientes vão
entrar em tratamento em primeiro lugar nunca tendo confiavelmente alcançado a
“posição depressiva” com seu self coesivo e com a capacidade de reconhecer o self e
o outro como centros separados de experiência e iniciativa. Nas fases iniciais desses
tratamentos, o analista pode ter que limitar sua autoexpressão e sua autorrevelação
disjuntiva. Estas são algumas das implicações clínicas que extraio da teoria de Ogden,
e elas parecem ter notável semelhança com aquelas minuciosamente explicadas por
Kohut no tratamento pela psicologia do self.
Na visão de Ogden (1986, op. cit, 1992b, op. cit) a conquista da linguagem, e
especialmente a separação entre símbolo e simbolizado, é crucial para o
estabelecimento da subjetividade, com seu reconhecimento da mente separada em si
mesmo e no outro. Uma vez que o bebê compreende que a palavra e a “coisa” não são
idênticas, abre-se um espaço potencial entre símbolo e simbolizado, levando em conta
a interpretação singular do bebê para sua experiência. Em concordância com o novo
espaço entre símbolo e simbolizado, um espaço paralelo toma forma no território
psíquico entre a mãe e a criança, e isso também leva em conta a criação de algo novo
no “terceiro intersubjetivo” do relacionamento (Id., 1994, op. cit).
25
Então, para Ogden como para Stern, as realizações da intersubjetividade são
notáveis em sua complexidade multifacetada. Na visão desses dois autores, muitas
coisas podem sair tortas entre a criança e seu ambiente nesse caminho em direção a
tais objetivos fundamentais. Por causa desse potencial para armadilhas, ambos
compreendem que muitos pacientes chegarão ao tratamento analítico tendo sofrido
reveses anteriores ao longo de algumas das múltiplas linhas de desenvolvimento que
levam à primeira conquista de um self subjetivo e à intersubjetividade do
reconhecimento. Os dois sugerem também que as influências iniciais, especialmente
as primeiras qualidades da autorregulação e da regulação mútua entre genitor e
criança, são capazes de fazer ou de romper o ulterior sucesso da criança quanto a
estabelecer as estruturas e funções mais altamente desenvolvidas.
Outras descobertas da pesquisa com bebês
Beebe e Lachmann (1987, op. cit, 1988, op. cit; LACHMANN & BEEBE, 1992,
op. cit, 1996a, op. cit, 1996b, op. cit) escreveram extensamente sobre as questões da
influência e da regulação mútuas, integrando suas descobertas da pesquisa com
infantes à compreensão obtida por meio do tratamento psicanalítico de adultos. Sua
obra também se destaca pela forma como equilibra interesses intrapsíquicos e
interpessoais. Beebe, Lachmann e Jaffe (1997) descrevem pesquisa em que
encontraram sintonia mútua de “rastreamento de afeto” incomum ou intensificada em
díades de cuidados em que os infantes estavam inseguramente apegados aos seus
cuidadores. Em contraste, bebês apegados com segurança mostravam padrões mais
moderados de rastreamento e sintonia. Modos de apego – seja seguro ou inseguro –
são vistos como aspectos emergentes do contexto intersubjetivo, cocriados por mãe e
bebê. Extrapolando da situação de mãe/bebê para a situação clínica, poderíamos
esperar que na díade analítica igualmente a modalidade de apego seja cocriada pelos
dois parceiros do relacionamento. E ainda pacientes cujas experiências iniciais e
formativas tenham levado a apegos inseguros provavelmente vão fazer desde o início
maiores exigências de sintonia de “rastreamento elevado” na díade analítica.
Os analistas diferem quanto a suas capacidades de responder aos seus
pacientes inseguramente apegados ou com “rastreamento elevado”. Porém, nossa
compreensão dos processos autorregulatórios e de regulação mútua (BEEBE &
LACHMANN, 1987, op. cit, 1988, op. cit) levam-nos a esperar que quanto menos
26
sintônico seja o analista, tanto mais inseguros esses pacientes vão se tornar. Se, por
outro lado, o analista conseguir destacar primariamente os aspectos de sua experiência
que são mais convergentes com os do próprio paciente, enquanto evita os aspectos
divergentes, a qualidade do apego do paciente poderá avançar em direção a maior
segurança.
Inversamente, esperaríamos que, com pacientes mais seguramente apegados, a
sintonia do analista será menos problema. Desde o início estes pacientes podem ser
capazes de tolerar autoexpressão e autorrevelação mais completas por parte do
analista, ou de explorar suas próprias percepções da subjetividade separada do
analista (STOLOROW ET. AL., 1987, op. cit; ARON, 1996, op. cit; HOFFMAN, 1998,
op. cit). O alcance da atividade do analista, de maneira geral, pode ser muito mais
amplo com estes pacientes, e pode haver espaço para expressão e revelação mesmo
de aspectos disjuntivos da experiência do analista. Diferentemente do paciente com
história de apegos inseguros, o paciente que começa o tratamento com um padrão
mais seguro de apego pode não exigir qualquer período inicial em que a participação
do analista seja primariamente buscada por causa de sua provisão selfobjetal arcaica
(KOHUT, 1971, op. cit, 1977, op. cit, 1984, op. cit; STOLOROW et al., 1987, op. cit;
TROP & STOLOROW, 1992, op. cit) ou por sua função de holding (SLOCHOWER,
1996).
As descobertas de Beebe, Lachmann e Jaffe – especialmente à medida que as
combinamos com as ideias de Stern, Ogden, Kohut e Stolorow et al. – nos levariam a
empregar os múltiplos significados de intersubjetividade para ficarmos sintonizados
mais de perto com as diferentes qualidades da experiência subjetiva de nossos
pacientes e sintonizados às diferentes qualidades de suas capacidades relacionais e
de seus padrões de apego. Esta abordagem integrativa contrasta com aquilo que foi
proposto na teoria relacional, em que o conceito de intersubjetividade, no sentido seja
de influência mútua ou de reconhecimento, leva quase exclusivamente a uma defesa
de mais expressividade e mais revelação por parte do analista.
O que as nossas múltiplas teorias têm em comum
Tomando todas essas teorias e recomendações clínicas em conjunto, o analista
precisa ter um vasto repertório e atitude flexível em relação à forma, à qualidade e ao
conteúdo de seu funcionamento analítico. Talvez nem a empatia por si só nem a
27
autoexpressão e a autorrevelação do analista possam fazer isso. Mas fora da
psicologia do self hoje em dia mesmo o papel de apoio da empatia é rejeitado como
sendo uma prescrição, ou como carente de autenticidade (HOFFMAN, 1983, 1996,
1998, op. cit; SLAVIN & KRIEGMAN, 1992; MITCHELL, 1996, op. cit, 1997, op. cit).
Mitchell (ibid.) corretamente nos diz que apenas podemos esperar ter “melhores
estimativas” na tentativa de fazer o que seja certo para nossos pacientes, mas ele
desvaloriza a empatia e não diz em que outra base poderíamos presumir se um
determinado paciente vai mais provavelmente fazer uso de uma confrontação com
aspectos disjuntivos do mundo do analista, ou se vai se sentir arrasado.
Para Kohut a empatia do analista não era uma “prescrição” baseada numa
norma, mas sim um empreendimento aqui-e-agora. Ele nunca sugeriu que alguma
coisa pudesse ser decidida por antecipação, nem no que se refere ao estado do
paciente nem quanto à qualidade da reação do analista a esse estado. O que orientava
o analista era a qualidade imediata da sondagem empática, e não alguma noção
formada por antecipação quanto ao que os pacientes pudessem precisar. Na visão de
Kohut mesmo aquilo que o analista coleta por meio da empatia acerca de um estado
extremo de fragilidade num determinado paciente não conduz automaticamente a uma
única espécie de interação (isto é, em direção à reserva e à autocontenção). Penso
que a obra de Kohut era bem compatível com a noção de que poderia haver ocasiões
em que modalidades novas de participação da parte do analista, intensidades
incomuns na expressão de seu afeto, ou o compartilhamento de algum conteúdo
proveniente de uma área estritamente pessoal de sua vida, poderiam ser usados
seletiva e criativamente para elevar o sentido de um paciente determinado de estar se
sentindo compreendido e confirmado, ou para restaurar o sentido de self de um
paciente após uma ruptura particularmente dolorosa do vínculo analítico. A discussão
que fiz anteriormente do material clínico de Orange e Stolorow (1998, op. cit) oferece
pelo menos algum apoio a este ponto de vista, e a literatura oferece mais ainda (por
exemplo, Lachmann & Beebe, 1996b, op. cit).
É um problema que os teóricos relacionais e construtivistas pareçam não fazer
nenhuma
concessão
a
modalidades
diferentes
de
funcionamento
ou
de
relacionabilidade psicológica em seus pacientes. Embora algumas vezes citem as
obras de Stern e de Ogden, eles não integraram em seus trabalhos escritos o conceito
de uma continuidade de desenvolvimento em direção à capacidade de reconhecimento.
Entretanto, eu sugeriria que a apercepção dessa continuidade poderia ajudar qualquer
28
analista a fazer melhores julgamentos acerca de quando e como empregar seu self
pessoal em seu trabalho. Eu também sugeriria que combinemos essas inovações
teóricas de Stern e Ogden com as noções kohutianas de adequação ao estado ou ao
estágio, e com seus conceitos de imersão empática e ressonância afetiva. Sem algum
desses diversos componentes, acho que ficaríamos com um conjunto muito incompleto
de princípios clínicos.
Embora as terminologias favoritas sejam diferentes, pareceria haver elementos
comuns ao longo da obra de nossos vários teóricos, com cada conjunto de autores
indicando um grupo de realizações de desenvolvimento que formam um divisor de
águas: (1) na obra de Kohut (1984, op. cit) é a noção do self robusto em seu ambiente
de relacionamento selfobjetal maduro, caracterizado por trocas empáticas e função
selfobjetal e contribuindo de maneira contínua para a regulação do afeto tanto quanto
para o reconhecimento; (2) na obra de Stern (1985, op. cit) é a noção de self subjetivo
e de relacionabilidade intersubjetiva, envolvendo reconhecimento da mente em si
mesmo e no outro, e a criação de significado compartilhado; (3) na obra de Stolorow et
al. (1987, op. cit) são as modalidades “edipianas” de experiência, envolvendo maior
organização e coesão de self, bem como a tolerância por relacionamentos triádicos em
que a singularidade do outro pode ser reconhecida e aceita; e (4) na obra de Ogden, é
a posição depressiva, envolvendo também um self coesivo e trazendo com ele novas
capacidades, a saber, o reconhecimento da mente diferenciada em si mesmo e no
outro, a separação de símbolo e simbolizado, a capacidade de fazer interpretações
singulares da experiência, e a conquista do modo de relacionar-se de “objeto total”.
(Omiti as ideias de Benjamin nesta seção porque aqui estou tratando daquilo que é
comum entre eles e, diferentemente dos outros teóricos da intersubjetividade, Benjamin
não reconhece a necessidade de modalidades diferentes de participação dos pais ou
do analista com base em diferentes estados de reconhecimento ou de nãoreconhecimento na criança).
Vemos que todos os quatro grupos de teóricos identificaram realizações
altamente complexas e multifacetadas, que eles distinguem de organizações psíquicas
mais iniciais e menos complexas. Em cada teoria as organizações menos complexas
são caracterizadas por capacidades funcionais e modalidades de experiência que não
levam em conta o reconhecimento da mente separada em si mesmo e no outro. As
recomendações clínicas que se seguem dessas distinções, em todas as teorias,
envolvem diferentes graus e qualidades da autocontenção e da autoexpressão do
29
analista com base na percepção que este tem do estado do paciente: estado de self,
subjetividade,
relacionabilidade
selfobjetal,
relacionabilidade
intersubjetiva
ou
modalidades edipianas de função e experiência.
Eu não incluí a noção de “apego seguro” na minha lista de realizações psíquica
porque, conquanto os diversos modos de apego de fato denotem diferentes qualidades
de relacionabilidade, eles não representam marcos do desenvolvimento. Não obstante,
nossa compreensão das várias qualidades de apego nos leva a recomendações
clínicas que são bastante semelhantes àquelas identificadas em relação aos marcos
importantes do desenvolvimento. Por exemplo, tal como os indivíduos em estados de
não-reconhecimento, aqueles que têm padrões inseguros de apego ficam ansiosos por
causa das interações que apontam para a condição de separados e para a diferença.
Em contraste, aqueles que são apegados de maneira mais segura, juntamente com
aqueles cujas capacidades de reconhecimento estão intactas, tendem a receber com
interesse e prazer os mesmos sinais de alteridade que lançam em estado de fúria ou
de pânico os indivíduos menos seguramente apegados, e os que não sejam capazes
de reconhecimento.
Tensões teóricas que persistem
Algumas tensões teóricas persistem entre a intersubjetividade de influência
mútua, em que o compartilhamento e a mistura de subjetividades são enfatizados, e a
intersubjetividade de reconhecimento mútuo, em que a ênfase é na separação, na
diferenciação e na expressão das distintas subjetividades. Renik (1993, op. cit, 1995,
op. cit, 1998, op. cit), por exemplo conquanto admitindo teoricamente a influência
mútua, em discussões clínicas parece ignorar tanto o impacto que o paciente tem sobre
o analista, quanto o impacto que este tem sobre o paciente. Em particular ele falha
quanto a levar em conta a possibilidade de que a chamada subjetividade distinta do
analista
possa
não
ser
tão
distinta, à
medida
que
as inevitáveis trocas
transferenciais/contratransferenciais se põem em marcha. De maneira similar, Mitchell
falha quanto a admitir a probabilidade de que o comportamento encrenqueiro ou os
“estratagemas” do paciente (MITCHELL, 1992, op. cit, p. 447) – quanto aos quais o
analista é estimulado a dar um feedback interpessoal – terão sido criados, ao menos
parcialmente, pelo próprio analista. De fato, a defesa relacional do feedback
interpessoal (EHRENBERG, 1992, op. cit; RENIK, 1993, op. cit, 1995, op. cit, 1998, op.
30
cit; MITCHELL, 1996, op. cit, 1997, op. cit) pareceria sugerir que o analista tem pouca
ou nenhuma responsabilidade pelos sentimentos ou pelo comportamento do paciente
no relacionamento terapêutico, uma sugestão que evapora ante a ênfase que os
próprios teóricos põem na intersubjetividade.
Também na literatura relacional há alguma insistência quanto a que o paciente
reconheça a subjetividade do analista. Isso parece não levar em consideração os
contextos intersubjetivos anteriores do paciente que possam ter sido caracterizados
pela deficiência de reconhecimento. Deficiências de reconhecimento no início da vida
podem ter deixado no paciente um impacto que vai exigir correção no tratamento
analítico, algumas vezes alcançada somente por meio de umas “férias” da exigência de
reconhecer os outros. Embora os teóricos relacionais claramente valorizem o
reconhecimento mútuo, a ênfase que se vê em seus trabalhos escritos é em que o
paciente reconheça a subjetividade do analista, e não vice-versa. A focalização deles
em que o paciente reconheça a subjetividade do analista serve para solapar a crítica
que fazem à psicologia do self, em que problematizam a abordagem kohutiana de
“uma-pessoa”. Eles também pareceriam ser igualmente “uma-pessoa", só que na
direção contrária.
Há também tensões conceituais na obra de Stern et al. que, mais do que os
outros pesquisadores de bebês ou que os teóricos relacionais, parecem lutar
diretamente com os múltiplos significados de intersubjetividade. Mas essa luta até aqui
não resultou na clarificação das confusões que persistem. Por exemplo, Stern et al.
empregam o termo intersubjetividade para referir-se à realização psíquica do
reconhecimento mútuo, mas então prosseguem até identificar dois objetivos de
regulação mútua. O primeiro objetivo de regulação é o fisiológico, que na visão deles é
“atingido por meio de ações que produzem um ajustamento comportamental entre os
dois parceiros” (STERN, et al., 1998, op. cit, p. 908). Eu concordo com a importância
que eles dão ao ajustamento comportamental, porém acrescentaria igualmente um
componente de ajustamento afetivo, ou combinação na regulação. O segundo objetivo,
ou “objetivo paralelo” de regulação que eles propõem é mais problemático: trata-se da
“experiência de um reconhecimento mútuo das motivações e dos desejos um do outro”
(loc. cit.). Ao designar o reconhecimento mútuo como “objetivo intersubjetivo” de
regulação mútua, Stern et al. parecem ter feito desmoronar num só os dois conceitos,
de regulação e reconhecimento, borrando todas as distinções entre eles feitas
anteriormente.
31
Stern et al. ilustram sua noção de “reconhecimento na regulação” com o
exemplo de sintonia de afeto, sugerindo que a sintonia exige o reconhecimento mútuo
entre os dois parceiros. Mas quanto será essencial o reconhecimento para os
processos de influência e regulação? Eu diria que a regulação fisiológica ou afetiva é
possível na díade dos cuidados mais iniciais exatamente porque a influência mútua
está em marcha exatamente desde o início, independentemente do reconhecimento.
Em contraste com esse lançamento imediato da intersubjetividade de reconhecimento
mútuo e contextualização no nascimento, a capacidade do recém-nascido para
reconhecer uma entidade psicológica distinta, seja em si mesmo ou no outro, só existe
em forma muito incipiente, se é que existe.
Assim, eu faria uma distinção entre processos universais e processos ubíquos
de influência mútua que inquestionavelmente se iniciam no nascimento, e graus e
qualidades de reconhecimento da mente em si mesmo e no outro, que só evoluem com
o crescimento e o desenvolvimento psíquico. Ademais, eu diria que somente se o peso
das primeiras influências regulatórias tiver se inclinado em direção ao positivo e ao
construtivo é que a capacidade para o pleno reconhecimento, no sentido psíquico, vai
emergir. (Lembrem-se que aqui não estamos falando do reconhecimento de corpos
separados, mas do reconhecimento de mentes separadas e de vida interior de si
mesmo e dos outros).
Stern et al. (1998, op. cit) citam a obra anterior de Stern (1985, op. cit) em que
ele apontava o reconhecimento mútuo como sendo a suprema conquista do
desenvolvimento psíquico na infância mais tardia. Mas o atual Grupo de Estudo de
Processo (1998, op. cit) de Stern não aborda a questão de saber se o reconhecimento
implícito, a ser encontrado mesmo nas primeiras experiências de sintonia mútua, é
qualitativamente diferente do reconhecimento explícito da mente envolvido na
conquista plena da relacionabilidade intersubjetiva, que anteriormente Stern (1985, op.
cit) afirmava que era a realização especial da última quarta parte do primeiro ano. Se
Stern et al. (1998, op. cit) agora estão argumentando que não há diferença entre
aquela forma mais inicial e esta ulterior de reconhecimento, então estarão borrando
uma distinção muito importante feita por Stern (1985, op. cit) entre o sentido físico ou
“nuclear” de self e o self intersubjetivo mais tardio. Na obra mais inicial de Stern isso
representava duas modalidades de experiência claramente diferentes, estabelecidas
em seqüência, porém continuando relacionadas entre si através de toda a extensão da
vida.
32
Proponho que a sintonia mútua na díade mãe/bebê mais inicial – embora
claramente envolva reconhecimento implícito e responsividade mútua à experiência
subjetiva do outro – não exige que a mãe expresse, nem que o bebê reconheça
explicitamente, a subjetividade distinta da mãe com seu espectro total de interesses e
desejos fora de seu envolvimento direto na díade dos cuidados. E eu sugeriria que, na
situação analítica como na díade mãe/bebê, a subjetividade separada do analista
freqüentemente permanece implícita, mais do que explícita, durante importantes fases
do tratamento. A proteção que o analista ofereça ao paciente contra a exposição a
aspectos divergentes da experiência na díade pode mesmo ser necessária para que
alguns tratamentos progridam, conforme foi sugerido tanto por Kohut (1971, op. cit,
1977, op. cit, 1984, op. cit) quanto pelo autor relacional Slochower (1996, op. cit).
Poderíamos esperar que quando um paciente está num estado de capacidade
de relacionar-se que é mais primitivo ou arcaico do ponto de vista do desenvolvimento
– um estado em que o analista é apenas implicitamente reconhecido como entidade
psíquica separada – o melhor de tudo é que o analista possa restringir-se aos esforços
de compreender, no sentido kohutiano (KOHUT, 1984, op. cit). Em contraste, quando o
paciente funciona de conformidade com a modalidade intersubjetiva ou mais madura
do ponto de vista do desenvolvimento e é capaz de ver o analista como entidade
psíquica separada, então este pode iniciar uma fase kohutiana (loc. cit.) de “explicação”
e interpretação, ou pode participar num envolvimento relacional mais autêntico que
inclui expressividade afetiva e autorrevelações, mesmo que de natureza disjuntiva
(RENIK, 1995, op. cit, 1998, op. cit; HIOFFMAN, 1996, op. cit, 1998, op. cit; MITCHELL,
1996, op. cit, 1997, op. cit). A maioria dos analistas leva em conta uma mistura e um
entrelaçamento de interações interpretativas e “relacionais”, mas qualquer forma de
participação por parte do analista é mais bem informada por seus esforços contínuos
no sentido da imersão empática, ou por um movimento para diante e para trás entre o
ponto de vista do paciente e o do analista (FOSSHAGE, 1995).
Recentemente Stern et al. (1998, op. cit) parecem estar trabalhando em direção
a uma intersubjetividade que inclui tanto a regulação quanto o reconhecimento. Eu,
porém, sugeriria que Kohut (1977, op. cit, 1984, op. cit) já abordou alguns dos mesmos
desafios teóricos por meio de seu conceito de selfobjeto que, em si mesmo, diz
respeito a necessidades de regulação e reconhecimento psíquico da vida inteira. Todas
as três funções do selfobjeto de Kohut – espelhamento, gemelaridade e idealização –
33
envolvem igualmente influência e reconhecimento seja numa troca de mão única ou
numa troca mútua.
É provável que seja óbvia a conexão entre regulação do afeto e provisão
selfobjetal: a tranqüilização envolvida em fantasias onipotentes de fusão (KOHUT,
1984, op. cit) ou na silenciosa elevação do estado de ânimo e intensificação da
autoestima nas experiências ótimas de espelhamento e idealização. É também fácil de
apreender a associação entre reconhecimento e espelhamento. Na gemelaridade o
indivíduo se reconhece como ser humano entre outros seres humanos, ou como
potencialmente similar a outros quanto a sentimentos, interesses e atividades (Id.,
ibid.). Mas não basta ao indivíduo, por si próprio, perceber similaridades entre si
mesmo e outros importantes: é preciso que ele se sinta reciprocamente reconhecido e
mesmo bem recebido nessas percepções. Experiências ótimas de idealização
envolvem igualmente sentir-se reconhecido por aquele que é idealizado. A criança
espera um dia ser capaz de atingir tudo aquilo que admira na imago parental
idealizada, mas essa esperança deve encontrar o brilho do reconhecimento nos olhos
da figura admirada. Eu trabalhei com muitos analisandos que atravessaram fases de
transferência em que me idealizavam, porém ficavam em conflito ou mesmo
desesperados quanto a suas idealizações até que eram capazes de perceber que eu
reconhecia e recebia bem seus desejos de se tornar semelhantes a mim (mesmo que
em silêncio eu lutasse para conter minhas dúvidas a propósito da exatidão de suas
percepções ou da sabedoria de tais anseios).
Proposta de uma teoria integrada da Intersubjetividade
Baseando-me em seus diversos significados, eu proporia duas formas de
intersubjetividade
psicanalítica,
estabelecidas
inicialmente
em
seqüência
de
desenvolvimento, porém depois coexistindo em experiência psíquica através de todo o
ciclo da vida. A intersubjetividade que se desenvolve em primeiro lugar envolve
influência mútua ou autorregulação e regulação mútua, conforme está descrita na obra
de Stolorow e seus colegas e nos trabalhos escritos de Lachmann e Beebe. Refere-se
à contextualização da experiência e da estrutura intrapsíquica. A segunda forma de
intersubjetividade envolve o reconhecimento da mente em si mesmo e no outro, uma
conquista que coincide com o emprego da linguagem e a capacidade de distinguir entre
símbolo e simbolizado. Esta segunda forma é a intersubjetividade de Stern e Ogden.
34
Nessa conceituação de intersubjetividade em duas camadas, suas formas mais
iniciais e mais universalmente operáveis, que dizem respeito a influência mútua e a
processos de regulação que se iniciam no nascimento, contribuem consideravelmente
para a conquista de suas formas ulteriores, mais complexas, tendo a ver com
reconhecimento mútuo da mente e a criação de significado compartilhado. Kohut
(1977, op. cit), Stern (1985, op. cit) e Ogden (1992b, op. cit), todos vêem a conquista
gradativa, à medida que o tempo passa, da capacidade de reconhecer o self e o outro
como centros separados de experiência e iniciativa, capacidade que é mediada pelo
ambiente e, portanto, que se espera que oscile em qualidade mesmo depois de ter sido
inicialmente estabelecida.
Uma vez que as qualidades de influência e regulação mútuas durante os
primeiros meses de fato contribuem para o sucesso ou o fracasso da conquista ulterior
do reconhecimento e para a criação de significado, pais e analistas semelhantemente
devem ser capazes de fazer, a cada momento, avaliações dos estados subjetivos e da
relacionabilidade intersubjetiva de seus filhos ou de seus pacientes. E devem se dar
conta, a todo o tempo, de que sua própria participação pode estar afetando as
qualidades da experiência ou modalidades de funcionamento que estão tentando
“observar”. Aí onde essas avaliações parentais ou analíticas falhem, a criança ou o
paciente podem experienciar trauma ou retraumatização (KOHUT, 1977, op. cit;
KOHUT & SEITZ, 1963/1978, op. cit).
Abordando a situação clínica, Kohut disse que essas avaliações só podem ser
feitas por meio da imersão empática do analista na experiência do paciente, e
estimulando o paciente a falar das percepções que tenha quanto à contribuição do
analista para tal experiência. Nossos juízos acerca das capacidades de nossos
pacientes para fazer uso terapêutico do processo de interpretação/reconstrução ou
para fazer uso de nossa autoexpressão ou autorrevelação devem, portanto, estar
conectados ao sentido, colhido por meio da empatia, que tenhamos sobre o self
subjetivo e a relacionabilidade intersubjetiva do indivíduo. Estes, em conjunto,
determinam sua capacidade de ver o analista como um outro separado e diferenciado.
Quando esta habilidade do paciente pareça estar declinando, o analista deve interagir
melhor de modos que mais provavelmente minimizem o sentido de separação do
paciente, de preferência a fazê-lo de maneiras que realcem a alteridade do analista.
Embora nossas múltiplas teorias da intersubjetividade nos digam que os dois tipos de
interações serão necessários, à medida que o tempo passa, para favorecer o
35
desenvolvimento ótimo, em algum momento dado um tipo poderia ser essencial para o
bem-estar imediato do paciente e para os objetivos analíticos de longo prazo, enquanto
o outro poderia revelar-se traumático.
Cada uma das teorias que estamos discutindo neste capítulo leva em conta um
período de desenvolvimento durante o qual a criança pequena ainda não reconhece a
experiência psicológica distinta e singular de self e outro. Segue-se daí que alguns
pacientes vão iniciar seu tratamento incapazes de usar a autoexpressão e a
autorrevelação mais livres do analista, porque estas serão experienciadas como
assustadoramente disjuntivas. Quando este é o caso, pode ser necessário escolher
cuidadosamente ou conter inteiramente qualquer autoexpressão, autorrevelação,
interpretação ou mesmo observação da parte do analista, visando a ajudar o paciente a
se sentir espelhado, ou fundido, capaz de se sentir como gêmeo ou de experienciar o
analista em termos de uma imago parental que pode ser idealizada.
Um exemplo que me vem à mente são as interações inicialmente espontâneas e
depois deliberadamente “sossegadas e sem alarde” de Lachmann (LACHMANN &
BEEBE, 1996b, op. cit) em resposta a uma paciente cuja expressividade severamente
cerceada era facilmente esmagada por qualquer modalidade de resposta que não
combinasse muito de perto com a dela em tonalidade e intensidade. Para o paciente
que nunca estabeleceu um sentido coesivo de self (KOHUT, 1977, op. cit, 1984, op.
cit), para o outro que não atingiu a “posição depressiva” (OGDEN, 1992b, op. cit), ou
para aquele que nunca conquistou a capacidade de relacionabilidade intersubjetiva
(STERN, 1985, op. cit) – e para todos os pacientes que transitoriamente perderam seu
sentido anterior dessas conquistas – o analista provavelmente vai fazer o possível para
manter uma atitude empática, esforçando-se ao máximo em busca da imersão, da
ressonância empática ou da “combinação” com a experiência afetiva do paciente.
Em contraste, quando trabalha com pacientes para quem essas realizações são
relativamente mais seguras e robustas – ou cujo afastamento dessas capacidades
psíquicas tende a ser mais breve e menos devastador – o analista não precisa se
esforçar tanto para prender-se ao ponto de vista do paciente, e é provável que possa
introduzir mais livremente tipos diferenciadores de autoexpressão e autorrevelação.
Embora os teóricos relacionais tendam a empregar o conceito de intersubjetividade
mais geralmente como argumento lógico para a autoexpressão e a autorrevelação do
analista, eu argumentaria que os diversos conceitos de intersubjetividade realmente
nos proporcionam uma maneira de pensar muito mais finamente sintônica acerca do
36
alcance total de responsividade, intervenção ou envolvimento, provavelmente mais útil
para pacientes individuais e para díades.
O conceito de selfobjeto de Kohut parece equilibrar a preocupação com
regulação e reconhecimento, mas a maioria dos outros teóricos focaliza ou a
influência/regulação ou o reconhecimento da mente como o principal impulso de
desenvolvimento. Não obstante, nas teorias que têm como alvo a influência ou a
regulação mútua, há pelo menos uma preocupação latente com o reconhecimento da
mente em si mesmo e no outro, enquanto nas teorias que têm como alvo o
reconhecimento, é atribuído pelo menos um papel subsidiário à influência e à regulação
mútua. Mesmo aqueles autores que insistem no reconhecimento interpessoal e que
conseqüentemente estimulam uma atitude mais aberta em relação à autoexpressão e à
autorrevelação do analista emitem advertências quanto a perder de vista a experiência
subjetiva do paciente, ou suas necessidades e seus objetivos psíquicos (BOLLAS,
1989; MITCHELL, 1991, 1997, op. cit; ARON, 1996, op. cit; HOFFMAN, 1998, op. cit).
Mas não se associam a Kohut em sua sugestão de que só se fizermos da tentativa de
imersão empática o nosso primeiro passo em cada encontro clínico é que estaremos
fazendo uso da única orientação disponível até aqui na luta para chegar a um grau, a
uma intensidade e a um conteúdo ótimos de autoexpressão e autorrevelação no nosso
trabalho.
É importante lembrar, entretanto, que só podemos confiar na empatia com um
paciente de cada vez, um momento de cada vez. E mesmo então ela pode orientar-nos
seja para o silêncio seja para a franqueza vocal, ou para falar nossos próprios
pensamentos e sentimentos ou para dizer aquilo que imaginamos que sejam os
pensamentos e sentimentos do paciente. Hoffman (Ibid.) adverte que há riscos
envolvidos cada vez que optamos por não dizer alguma coisa, tanto quanto cada vez
que realmente damos voz a pensamentos e sentimentos que parecem subjetivamente
mais arriscados. Mas apesar daquilo que pareceria ser a tendência de Hoffman para a
autoexpressão do analista, os teóricos relacionais e construtivistas cada vez mais falam
de equilíbrio, de tensão dialética, entre autoexpressão e reserva (MITCHELL, 1997, op.
cit; HOFFMAN, 1998, op. cit). Portanto, eles poderiam concordar, pelo menos com
pouco entusiasmo, se não com todo o entusiasmo, com uma frase que tomo
emprestada de Emily Dickinson, sugerindo que, se oferecermos mensagens aos
nossos pacientes acerca deles mesmos ou de nós mesmos, devemos “causar
deslumbramento pouco a pouco, caso contrário todo mundo vai ficar cego”.
37
Eu equiparo, aqui, “deslumbrar” à personalidade e ao carisma singular do
analista, à sua subjetividade em seus aspectos mais disjuntivos, ou à sua própria
grandiosidade ou onipotência. Deslumbramento demais por parte do analista pode ser
superestimulador, pode infantilizar ou de outras maneiras ser disruptivo para o
paciente, em vez de facilitar seu crescimento psíquico. Um deslumbramento mais lento,
mais sossegado, se ajusta melhor ao lembrete de Kohut de que mesmo no melhor dos
mundos possíveis sempre vamos esbarrar com desapontamentos a propósito da nossa
grandiosidade, e com frustração em relação à onipotência de nossos pais.
Desapontamentos e frustrações manejáveis podem ser transitoriamente dolorosos,
mas sem nenhum desapontamento e nenhuma frustração permaneceríamos cegos à
singularidade
separada
dos
outros;
com
desapontamentos
devastadores
ou
impossíveis de manejar, terminaremos cegos, seja às nossas próprias forças e talentos
ou a nossas falhas humanas inevitáveis (KOHUT, 1971, op. cit, 1977, op. cit, 1984, op.
cit). Todas essas formas de cegueira psíquica podem contribuir para os problemas
característicos do viver, originalmente identificados por Kohut como distúrbios
narcísicos da personalidade, ora chamados de distúrbios do self.
Para Kohut, ver os inevitáveis fracassos tanto de nós mesmos quanto dos outros
era o marco da saúde mental. Na psicologia do self esse reconhecimento definiu
mesmo a maturidade e a sabedoria. Finalmente aceitamos as falhas e idiossincrasias
dos outros porque sabemos que nós mesmos não somos capazes de fazer melhor.
Essa aceitação se ajusta bem com uma intersubjetividade tanto de regulação quanto
de reconhecimento: lutamos para aceitar a condição de separação, alteridade e
imperfeição tanto em nós mesmos quanto nos outros, e se pudermos conservar esse
“reconhecimento”, isso pode ajudar-nos a que nos sintamos menos “desregulados”
pelos reveses previsíveis e imprevisíveis da vida. Assim, embora do ponto de vista do
desenvolvimento a autorregulação e a regulação mútua devem preceder o
reconhecimento da mente em si mesmo e no outro, uma vez que as duas coisas
estejam estabelecidas, a regulação e o reconhecimento vão servir de apoio um ao
outro através de toda a extensão das nossas vidas.
Referências
ARON, I. (1991) “The patient‟s experience of the analyst‟s subjectivity”. Psychoanal.
Dial, 1:29-51.
38
________ (1992) “Interpretation as expression of the analyst‟s subjectivity”.
Psychoanal. Dial, 2:475-507.
________ (1996) A Meeting of Minds. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
ATWOOD, G. & STOLOROW, R. (1984) Structures of subjectivity: Explorations in
Psychoanalytic Phenomenology. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
BEEBE, B. & LACHMANN, F. (1988a) “Mother-infant mutual influence and precursors of
psychic structure”. In: GOLDBERG, A. (Ed.) Frontiers in Self Psychology: Progress in
Self Psychology, vol. 3. Hillsdale, NJ: The Analytic Press, p. 3-25.
________ & ________ (1988b) “The contribution of mother-infant mutual influence to
the origins of self and object representations”. Psychoanal. Dial, 5:305-337.
________, ________ & JAFFE, J. (1997) “Mother infant interaction structures and
presymbolic self and object representations”. Psychoanal. Dial, 7:133-182.
Benjamin, J. (1988) Bonds of love: Psychoanalysis, Feminism and the problem of
Domination. New York: Pantheon.
________ (1990) “An outline of intersubjectivity: The development of recognition”.
Psychoanal. Psychol., 7(Supl.):33-46.
________ (1995) Like Subjects, Love Objects: Essays on Recognition and Sexual
Difference. New Haven, CT: Yale University Press.
BOLLAS, C. (1989) Forces of Destiny. London: Free Association Books.
BROMBERG, P. (1980) “Empathy, anxiety and reality: A view from the bridge”.
Contemp. Psychoanal., 16:223-236.
________ (1996) “Standing in the spaces: The multiplicity of self and the psychoanalytic
relationship”. Contemp. Psychoanal., 32:509-535.
EHRENBERG, D. B. (1992) The Intimate Edge. New York: Norton.
EMDE, R. (1990) “Mobilizing fundamental modes of development: Empathic availability
and therapeutic action”. J. Amer. Psychoanal. Assn., 38:881-914.
FOSSHAGE, J. (1995) ”Countertransference as the analyst‟s experience of the
analysand: The influence of listening perspectives”. Psychoanal. Psychol., 12:375-391.
HOFFMAN, I.Z. (1983) “The patient as the interpreter of the analyst‟s experience”.
Contemp. Psychoanal., 19:389-422.
________ (1992) “Some practical implications of a social-constructivist view of the
psychoanalytic situation”. Psychoanal. Dial, 2:287-304.
39
________ (1994) “Dialectical thinking and therapeutic action in the psychoanalytic
process”. Psychoanal. Quart., 63:187-218.
________ (1996) “The intimate and ironic authority of the psychoanalyst‟s presence”.
Psychoanal. Quart., 65:102-136.
________ (1998) Ritual and Spontaneity in the Psychoanalytic Process: A dialecticalConstructivist View. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
KOHUT, H. (1959) “Introspection, empathy and psychoanalysis”. J. Amer. Psychoanal.
Assn., 7:459-483.
________ (1971) The analysis of the Self. New York: International Universities Press.
________ (1977) The Restoration of the Self. New York: International Universities
Press.
________ (1982) “Introspection, empathy and the semi-circle of mental health”. Internat.
J. Psycho-Anal., 63:395-407.
________ (1984) How Does Analysis Cure? Ed. A. Goldberg & P. Stepansky. Chicago
Il: University of Chicago Press.
________ & SEITZ, P. (1963) “Concepts and theories of psychoanalysis”, In:
ORNSTEIN, P. (ed.) The Search for the Self: Selected Writings of Heinz Kohut. New
York: International Universities Press, 1978.
LACHMANN, F. & BEEBE, B. (1992) “Reformulations of early development and
transference: Implications for psychic structure formation”. In: BARRON, J., EAGLE, M.
& WOLITZKY, D. (eds.) Interface of Psychoanalysis and Psychology. Washington DC:
American Psychological Assn., p. 133-153.
________ & ________ (1996a) “Three principles of salience in the organization of the
patient-analyst interaction”. Psychoanal. Psychol., 13:1-22.
________ & ________ (1996b) “The contribution of self- and mutual regulation to
therapeutic action: A case illustration”. In: GOLDBERG, A. (Ed.) Basic Ideas
Reconsidered: Progress in Self Psychology, vol. 12. Hillsdale, NJ: The Analytic Press,
p. 123-140.
MITCHELL, S. (1991) “Wishes, needs and personal negotiations”. Psychoanal. Inq.,
11:147-170.
________ (1992) “Commentary on Trop & Stolorow‟s „Defense analysis in self
psychology‟”. Psychoanal. Dial, 3:441-453.
________ (1993) Hope and Dread in Psychoanalysis. New York: Basic Books.
40
________ (1996) “When interpretation fail: a new look at the therapeutic action of
psychoanalysis”. In: LIFSON, L. (ed.) Understanding Therapeutic Action:
Psychodynamic Concepts of Cure. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
________ (1997) Influence and Autonomy in Psychoanalysis. Hillsdale, NJ: The
Analytic Press.
OGDEN, T. (1986) The Matrix of the Mind. Northvale NJ: Aronson.
________ (1992a) “The dialectically constituted/decentered subject of psychoanalysis”.
I: The Freudian Subject. Internat. J. Psycho-Anal., 73:517-526.
________ (1992b) “The dialectically constituted/decentered subject of psychoanalysis”.
II: The contributions of Klein and Winnicott. Internat. J. Psycho-Anal., 73:613-626.
________ (1994) “The analytic third: Working with intersubjective clinical facts”.
Internat. J. Psycho-Anal., 75:3-20.
ORANGE, D. & STOLOROW, R. (1998) “Self-disclosure from the perspective of
intersubjectivity theory”. Psychoanal. Inq., 18:530-537.
RENIK, O. (1993) “Analytic interaction: conceptualizing technique in the light of the
analyst‟s irreducible subjectivity”. Psychoanal. Quart., 62:553-571.
________ (1995) “The ideal of the anonymous analyst and the problem of selfdisclosure”. Psychoanal. Quart., 64:466-495.
________ (1998) “Getting real in analysis”. Psychoanal. Quart., 67:566-593.
SLAVIN M. & KRIEGMAN, D. (1992) The Adaptive Design of the Human Psyche:
Psychoanalysis, Evolutionary Biology and the Therapeutic Process. New York: Guilford
Press.
SLOCHOWER, J. (1996) “Holding and the fate of the analyst‟s subjectivity”.
Psychoanal. Dial, 6:323-353.
STERN, D. N. (1985) The Interpersonal World of the Infant. New York: Basic Books.
________, SANDER, L. NAHUM, J., HARRISON, A., LYONS-RUTH, K., MORGAN, A.,
BRUSCHWEILER-STERN, N & TRONICK, E. (1998) “Noninterpretive mechanisms in
psychoanalytic therapy. The „something more‟ than interpretation”. Internat. J. PsychoAnal., 79:903-922. (Os autores também se identificam como “O Grupo de Estudos de
Processo”.)
STOLOROW, R. (1995) “An intersubjective view of self psychology”. Psychoanal. Dial,
5:393-400.
________ (1999) Kohut, Loewald and the Postmoderns. A comparative Study of Self
and Relationship. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
41
________ (2000) “The analyst‟s empathy, subjectivity and authenticity: Affect as the
common denominator”. In: GOLDBERG, A. (Ed.) How Responsible Should We Be?:
Progress in Self Psychology, vol. 16. Hillsdale, NJ: The Analytic Press, p. 33-53.
________ & ATWOOD, G. (1979) Faces in a Cloud: Subjectivity in Personality Theory.
Northvale NJ: Aronson.
________ & ________ (1992) Contexts of Being. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
________ & ________ (1997) “Deconstructing the myth of the neutral analyst: An
alternative from intersubjective systems theory”. Psychoanal. Quart., 66: 431-449.
________, ________ & BRANDCHAFT, B. (Eds.) 1994)
Perspective. Northvale NJ: Aronson.
The Intersubjective
________, BRANDCHAFT, B. & ATWOOD, G. (1987) Psychoanalytic Treatment: An
Intersubjective Approach. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
TEICHOLZ, J. G. (1999) Kohut, Loewald and the Postmoderns: A Comparative Study of
Self and Relationship. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
________ (2000) “The analyst‟s empathy, subjectivity and authenticity: Affect as the
common denominator. In: GOLDBERG, A. (Ed.) How Responsible Should We Be?:
Progress in Self Psychology, vol. 16. Hillsdale, NJ: The Analytic Press, p. 33-53
TROP, J. & STOLOROW, R. (1992) “Defense analysis in self psychology: a
developmental view”. Psychoanal. Dial, 2:427-441.
WINNICOTT, D. (1963) “Communicating and not communicating leading to a study of
certain opposites”. In: ________ The Maturational Processes and the Facilitating
Environment. New York: International Universities Press, 1965.
TEXTO TRADUZIDO PARA USO EXCLUSIVO DE MEMBROS DA ABEPPS