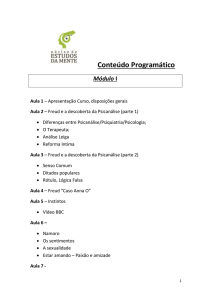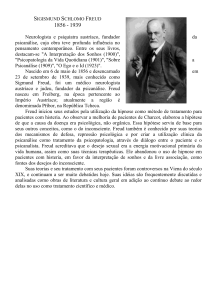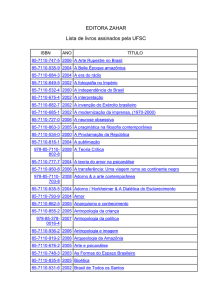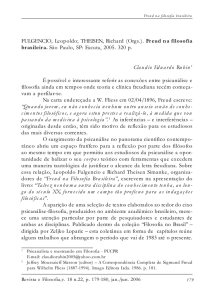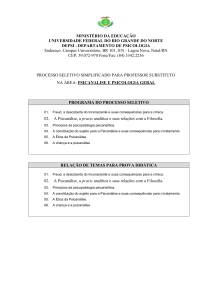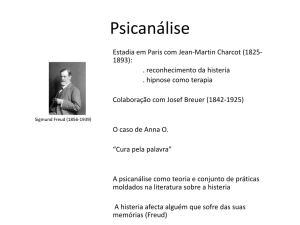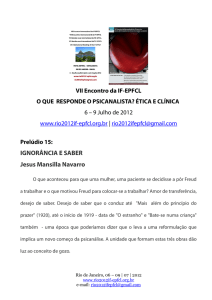Os sentidos da atuação em psicanálise em instituições de saúde mental
João Paulo Brunelo Miguel (UFPR)
Angela Cristina da Silva (UFPR)
Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre os sentidos da atuação
em psicanálise em instituições e organizações sociais, especialmente em contextos de saúde
mental pública. Neste trabalho realizamos um levantamento na obra Freud sobre as suas
posições acerca das possibilidades de aplicação da psicanálise em contextos para além do
setting clínico convencional, pois, a psicanálise, como uma modalidade de tratamento
exercida prioritariamente em consultórios privados, tem sido alvo de renovados debates a
respeito de seus fundamentos, assim como as problemáticas deixadas em aberto na obra
freudiana, quanto às aplicações da psicanálise ao campo social e institucional têm sido
revisitadas por pesquisadores contemporâneos para uma reflexão em torno da questão da
atuação e da técnica em psicanálise em instituições e organizações sociais.
Palavras-chave: Psicanálise; Instituição; Saúde Mental
Introdução
Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica acerca das possibilidades e
limites das aplicações da psicanálise em instituições e organizações sociais, especialmente em
contextos de saúde mental pública. Neste trabalho traremos a debate algumas das
considerações de Freud sobre os sentidos da atuação em psicanálise, para então refletirmos,
por meio do levantamento de alguns tópicos em sua obra, sobre a pertinência das
contribuições de pesquisadores contemporâneos nas quais analisam e se dedicam a atualizar o
debate e a investigação sobre a temática em questão.
Freud e as possibilidades de aplicação da psicanálise
Este questionamento sobre os sentidos da atuação em psicanálise em instituições de
saúde mental parte também de nossas inquietações suscitadas pela observação de práticas
profissionais empreendidas em instituições psiquiátricas. Tais angústias versam sobre uma
dúvida acerca das possibilidades e impossibilidades de a psicanálise realizar-se dentro de um
contexto institucional. À medida que este trabalho constituiu-se a partir de questionamentos
formulados para uma reflexão sobre a atuação em psicanálise para além da clínica enquanto
consultório privado, nos foi possível reconhecer que muitas são as críticas e as resistências a
esta inserção e que elas encontram-se no próprio campo psicanalítico, conforme Freud já
havia reiterado em A história do movimento psicanalítico (1914/1996).
No entanto, no decorrer de sua vida, que se confunde com o desenvolvimento de sua
própria obra, Freud nos situa seu posicionamento de acordo com o qual a psicanálise empresta
àquele que é por ela tocado um tom de subversão, subversão que ultrapassa o campo de
discussão propriamente ideológico de se a psicanálise deve se pretender, ou não, a ser uma
visão de mundo. Desse modo, pensar sobre os sentidos da psicanálise em instituições,
especialmente em instituições de saúde mental, adquire cores e tons muito distintos daqueles
assumidos pelo doutrinamento por palavras vazias que, por vezes, encontramos dentro dos
locais em que atuam aqueles que falam em nome da psicanálise.
Freud, na conferência Psicanálise e psiquiatria (1917/1996), afirma que, para ser
possível ser tocado pela psicanálise, é necessário pressupor que ela atue na vida do sujeito.
Desse modo, não são as palavras cujo tom soa psicanalítico que demonstram a existência e a
possibilidade de ela ter algo a oferecer dentro do contexto da saúde mental.
Em A história do movimento psicanalítico (1914/1996) Freud reitera as possibilidades
que se abrem à psicanálise e por isso abre o campo aos que se interessam em construir
conhecimento sobre ela e a partir dela em áreas de atuação diversas das referenciadas em seu
campo de origem. Freud acredita ser possível estender a terapêutica psicanalítica para
contextos públicos, conforme conclui em Linhas de progresso na terapia psicanalítica
(1919[1918]/1996), mas faz algumas advertências:
No entanto, qualquer que seja a forma que essa psicoterapia para o
povo possa assumir, quaisquer que sejam os elementos dos quais se
componha, os seus ingredientes mais efetivos e mais importantes
continuarão a ser, certamente, aqueles tomados à psicanálise estrita e
não tendenciosa (FREUD, 1919[1918]/1996, p. 181).
Assim, pensar acerca das possibilidades de aplicação da psicanálise às instituições de
saúde mental nos faz partir da tentativa de esquadrinhar os elementos que situam isto que
Freud chama de psicanálise ‘estrita’. Tentando evidenciar o próprio posicionamento
freudiano, será a partir de seus textos sobre tratamento e técnica que lançaremos o parâmetro
de nossa discussão.
Prosseguindo nesta direção, podemos observar que a história da psicanálise demonstra
que a abertura deste campo foi possível a partir da mudança de posicionamento de Freud de
médico à analista, mudança essencial motivada pelos resultados insatisfatórios obtidos pela
hipnose. Muitos são os textos através dos quais podemos compreender de que maneira se
efetua a ruptura que permite a psicanálise nascer. Em Tratamento psíquico (ou anímico)
(1905a/1996), Freud demonstra que ela demarca-se a partir do valor atribuído à palavra. Em
Sobre psicoterapia (1905b/1996), ele refere-se aos efeitos da sugestão que se dão a partir da
transferência, efeitos que conduziram Freud a “[...] mudanças de técnica; estas, porém,
levaram a novos resultados e, em seguida, exigiram uma concepção diferente do trabalho
terapêutico [...]” (FREUD, 1904[1903]/1996, p. 236). A partir desta nova compreensão, Freud
situa a diferença entre a psicanálise e a sugestão: a psicanálise, como a escultura, atua per via
de levare, ao passo que a sugestão, tal qual a pintura, funciona per via de porre.
Esta afirmação nos incita a questionar como pode efetuar-se essa operação cujo
objetivo é o de extrair algo do paciente. E a resposta pode ser obtida em As perspectivas
futuras da terapêutica psicanalítica (1910/1996), em que Freud debruça-se sobre a ação
exercida pela transferência. A colocação da psicanálise primeiramente como a ‘ciência do
inconsciente’ (FREUD, 1926/1996, p. 254) é antes afirmada em Sobre psicanálise
(1913a[1911]/1996), em que Freud afirma ter ela nascido a partir de um método de pesquisa
da neurose que culmina em um método de tratamento cujos alicerces estruturam-se na própria
etiologia neurótica (FREUD, 1913[1911]/1996, p. 225). Voltamos, assim, às origens da
psicanálise, ao momento em que este campo começa o seu desenvolvimento, o que foi
possível pelo fato de ter Freud respondido afirmativamente à exigência que suas descobertas
começavam a fazer, situação que se evidencia em ter se constituído não da ordem,
unicamente, de uma escolha, mas de uma impossibilidade de fazer outra coisa, o que denota
que, antes de ser possível a alteração na técnica, foi necessário ter nascido o primeiro
psicanalista.
A figura do analista é evidenciada por Freud também em O interesse científico da
psicanálise (1913b/1996), texto em que reitera que a psicanálise descobriu que o tratamento
da neurose relaciona-se à influência do analista, influência que se evidencia quando ele é
capaz de traduzir “[...] um método estranho da expressão para outro que nos é familiar”.
(FREUD, 1913b/1996, p. 179), evidenciando aí a função do praticante, função que se
evidencia na tradução de uma linguagem que, segundo afirma Freud, “[...] fala mais que um
dialeto” (FREUD, 1913b/1996, p.180).
Os sintomas são os catalisadores da tentativa de tradução dos “dialetos”, de tal modo
que é impossível não situar, dentre as atribuições da psicanálise, seu valor terapêutico, que é
justamente o que Freud enfatiza no Prefácio ao relatório sobre a policlínica psicanalítica de
Berlim, em 1923, delineando este campo enquanto “[...] capaz de fornecer ajuda àqueles que
sofrem em sua luta para atender às exigências da civilização [...]” (FREUD, 1923/1996, p.
319), isto é, com vistas a atender à população pobre, além de formar de maneira competente,
analistas, evidenciando que a aplicação da psicanálise encontra-se em estrita relação com a
atividade do psicanalista, bem como com a sua formação.
O peso do materialismo atribuído à vida mental, e que até hoje vemos ser corroborado
no campo da ciência, vem de encontro ao fato de ter a psicanálise descoberto que a vida
mental ‘normal’ também apresenta desvios e que são eles responsáveis pelas maiores
realizações humanas (FREUD, 1925[1924]/1996, p. 243). Tais realizações, amparadas por um
rígido ideal de moralidade, podem representar para alguns, um peso psíquico que vai além dos
recursos subjetivos disponíveis.
Em Linhas de progresso na terapia psicanalítica (1919[1918]/1996), Freud afirma ser
o objetivo da psicanálise possibilitar ao paciente conhecimento acerca de seu inconsciente a
partir da exploração da dinâmica transferencial. O analista deverá prescindir da tentativa de
transformar o paciente em uma versão mais adaptada e eficaz a partir de seus próprios ideais.
Os objetivos terapêuticos encaminham-se em direção à satisfação da natureza do paciente, do
seu desejo, e não do desejo do analista (FREUD, 1919[1918]/1996, p. 178), do contrário
estaríamos violando a individualidade do paciente que recorre à psicanálise e que já vem o
tempo todo forçada à inexpressão, já que pautada em ideais, de modo que o direito que Freud
chama de ‘assistência à mente’ deverá ser reconhecido e garantia de saúde pública (FREUD,
1919[1918]/1996, p.180).
Essa extensão, para Freud, que pode levar à adaptação da técnica, é uma adaptação
que não abre mão daquilo que é estrito à psicanálise (FREUD, 19119[1918]/1996, p.181).
Em Construções em análise (1937/1996), Freud afirma que quando um paciente se propõe ao
tratamento analítico e contempla suas profundezas, fornece fragmentos deformados de si
mesmo, evidenciando mais uma vez o papel que exerce no tratamento a transferência,
enquanto mecanismo que favorece o “[...] retorno dessas conexões emocionais. É dessa
matéria prima – se assim podemos descrevê-la – que temos de reunir aquilo de que estamos à
procura” (FREUD, 1937/1996, p. 276).
Retornamos assim ao nosso ponto de partida: a transferência é um dos fatores que
permite que o analista realize suas construções e, por isso, exerça sua atividade em diferentes
contextos, incluindo os campos da saúde mental. Cada analista constituirá seu estilo e é por
possuir esse estilo que poderá realizar as suas construções e que o paciente poderá, portanto,
recebê-las (idem). O psicanalista procura elementos preservados que se evidenciam nas
palavras, aquelas trazidas pela associação livre e para as quais Freud atribui o poder de magia,
porque revelam, em cada investigação individual, as conexões íntimas existentes entre o
material da rejeição atual e o do recalque original.
As aplicações da psicanálise em instituições e organizações sociais: Um debate
contemporâneo
Diante do exposto até o momento, podemos então assinalar na obra de Freud o quanto
o desenvolvimento da psicanálise é devedora de suas práticas e de suas experiências com a
clínica, de forma a visualizarmos, em sua trajetória biográfica e intelectual, a caracterização
originária dessa que se tornou uma das mais influentes teorias psicológicas dentre as
diferentes abordagens de psicologia científica moderna.
No que concerne aos sentidos da atuação em psicanálise, conforme as discussões
levantadas anteriormente, a clínica psicanalítica foi estabelecida inicialmente como o meio de
trabalho e de experiência por excelência de exercício da psicanálise, pois, enquanto locus de
fundação e de referência às construções metapsicológicas freudianas, foi também a via na
qual inicialmente se operacionalizaram os seus conceitos básicos. Nela se instaurou, no
primeiro momento de surgimento da psicanálise, o seu método (sui generis) de produção de
conhecimento, cuja natureza comporia, indissociavelmente, pesquisa e intervenção.
A respeito desta questão, Lacan (2003) ponderou, em um de seus escritos aonde reflete
sobre o estatuto da psicanálise enquanto tratamento, que, o que propriamente se denominaria
de psicanálise é a experiência com o inconsciente, pois ela “tem seu fundamento na relação do
homem com a fala” (LACAN, 2003, p.173), isto é, uma modalidade de trabalho com a fala,
sendo ela um veículo de objetivação da posição do sujeito no discurso, ao qual se deu o
campo de exercício da prática analítica da clínica freudiana.
No entanto, segundo observa Figueiredo (1997), esta problemática da psicanálise
enquanto prática tem sido objeto de revisão por parte de profissionais atuantes em psicanálise,
e, conjuntamente, as suas aplicações têm sido indagadas em relação às suas possibilidades de
intervenção em espaços diversos ao setting clínico tradicional. Como exemplo deste recente
reposicionamento no campo de atuação da psicanálise, podemos citar, a partir das pesquisas
de Figueiredo (1997), Enriquez (1996, 1997), Kaës (1991), Bleger (1984) e Barus-Michel
(2004), a gradual inserção de psicanalistas dentro de instituições e organizações sociais,
especialmente, em nosso contexto brasileiro, nas instituições de saúde pública e de saúde
mental.
Para Figueiredo (1997) e Enriquez (2005), o sentido deste reposicionamento dos(as)
profissionais atuantes em psicanálise, no qual se dá, inevitavelmente, em um confronto ao
campo de debates dentro das tradições e apropriações estabelecidas sobre a obra freudiana,
porta um desafio incontornável quanto a se pensar quais são as possibilidades e limites de
suas aplicações institucionais.
Segundo Enriquez (2005), apesar de ser necessário reconhecer o campo originário de
atuação em psicanálise como sendo o setting da clínica psicanalítica, a obra freudiana
“anexou, pouco a pouco, novos campos do saber, (...) podendo dar nascimento a uma nova
‘antropologia’” (ENRIQUEZ, 2005, p.02).
Desta forma, ao que defende este autor, ao lado de Kaës (1991) e Barus-Michel
(2004), é possível rastrear ao longo do desenvolvimento da obra de Freud alguns pontos em
que a psicanálise poderia ser aplicada para além da clínica psicanalítica, apesar das reservas
feitas por Freud a respeito de seu uso estrito. Neste sentido, em O mal-estar na civilização,
Freud (1930/2011) afirma que o manuseio de seus conceitos fundamentais deve ser ponderado
com rigor, quando as suas aplicações, para além da clínica psicanalítica, destinam-se a
caminhos ainda pouco explorados pela mesma. Sendo mais específico, Freud escreveu:
“Não posso dizer que uma tentativa dessas, de transferência da
psicanálise para a comunidade cultural, não teria sentido ou estaria
condenada à esterilidade. Mas teríamos de ser muito prudentes, e não
esquecer que se trata apenas de analogias, e que não apenas com
seres humanos, também com conceitos é perigoso retirá-los da esfera
em que surgiram e evoluíram. O diagnóstico das neuroses da
comunidade também encontra uma dificuldade especial. Na neurose
individual nos serve de referência imediata o contraste que distingue
o enfermo de seu ambiente, tido como ‘normal’. Tal pano de fundo
não existe para um grupo igualmente afetado, teria que ser arranjado
de outra forma. E no que diz respeito à aplicação terapêutica da
compreensão, de que adiantaria a mais pertinente análise da neurose
social, se ninguém possui a autoridade para impor ao grupo a
terapia? Apesar de todas essas dificuldades, pode-se esperar que um
dia alguém ouse empreender semelhante patologia das comunidades
culturais.” (FREUD, 1930/2011, p.120).
Podemos perceber, nesta declaração de Freud, escrita em um período avançado de sua
vida e obra, uma espécie de balanço sobre a técnica em psicanálise aonde apresenta uma
ambigüidade quanto às suas aplicações em uma dada comunidade cultural.
Ora, nessa passagem, assim como em algumas outras passagens levantadas
anteriormente neste artigo, há a presença de uma relutância de sua parte em estender, mesmo
que sejam por analogias, alguns dos recursos metapsicológicos e práticos da psicanálise para
outros campos que não se identifiquem propriamente ao contexto da clínica, mas que, de
alguma forma, com ela manteve uma relação intrínseca, pois, segundo Enriquez (1996), o que
se evidencia, por exemplo, nos textos ditos antropológicos de Freud, levando em
consideração as relações destes com a totalidade de sua obra, são análises feitas por ele sobre
a formação da cultura e dos vínculos sociais, nos quais o tema das instituições humanas foi o
operador central, na construção da psicanálise, de uma teoria do laço social.
Neste sentido, e em diálogo às pesquisas de Enriquez (1996, 1997), Kaës (1991) e
Barus-Michel (2004), passa a ser pertinente, e de suma relevância, o tema da atuação em
psicanálise em instituições e organizações sociais, visto que, diante dos vínculos e relações
interpessoais potencialmente constituídas nestes contextos de trabalho e de convivência,
também a figura do psicanalista, talvez, em posição semelhante ao de um psicólogo
institucional, deva tomar frente enquanto profissional e interventor dos processos instituídos e
instituintes desses contextos em questão, já que, de certa maneira, essa modalidade de
trabalho se apresenta em consonância às problemáticas deixadas em aberto por Freud sobre a
técnica e as suas possíveis modificações para a atuação com a coletividade e a grande
população.
Algo desta monta também foi analisado por Figueiredo (1997), especialmente quando
esta autora levanta a problemática das possibilidades de atuação em psicanálise em
ambulatórios de saúde pública brasileiros. No entanto, ao que ela coloca como aposta para a
redefinição da prática psicanalítica em instituições de saúde mental, é a construção do espaço
do analista na instituição pública, isto é, uma institucionalização desta posição peculiar no(a)
qual o(a) profissional em psicanálise faz operar, em sua escuta e intervenção, o resgate dos
sujeitos que demandam atendimentos nessas instituições, sendo esta prática, então, um
direcionamento possível para essa inserção institucional da psicanálise.
Conclusão
Em confluência a esta consideração elencada acima, retomamos aqui, então, o tema de
inspiração deste artigo, porém, mais a título de reflexão do que de conclusão desse debate que
se encontra ainda incipiente nas tradições e formações em psicanálise.
Essa questão levantada sobre a posição e figura do(a) psicanalista em instituições de
saúde mental públicas contém, em essência, não unicamente a reivindicação da legitimidade
deste modo de atuação como uma prática válida para as formas de tratamento em saúde
mental, mas sim, o ideal de que a intervenção dos(as) profissionais, que procuram sustentar
este lugar institucional para a psicanálise, possa, dentro das condições de seus contextos,
resgatar os sujeitos neles envolvidos, seja no sentido de atendimento de suas demandas, ou
mesmo na tentativa de instauração de práticas e condições de trabalhos mais satisfatórias para
todos(as) os(as) integrantes desses espaços públicos, aonde, incessantemente, instituem-se
modos de relacionamento sociais e de constituição identitárias.
Por fim, a atuação em psicanálise em instituições de saúde mental congregaria, assim,
através de práticas institucionais de enfrentamento e manejo das dinâmicas e tensões
presentes nesses múltiplos contextos de trabalho e de convivência, a união entre técnica, ética
e política, de forma a dar apontamentos possíveis às problemáticas abertas por Freud sobre os
sentidos e a pertinência das aplicações da psicanálise para além de seu setting originário.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARUS-MICHEL, J. O sujeito social. Tradução de Eunice Dutra Galery e Virgínia Mata
Machado. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2004.
BLEGER, J. Psico-higiene e psicologia institucional. Tradução de Emília de Oliveira Diehl.
Porto Alegre: Artes médicas Ed., 1984.
FIGUEIREDO, A. C. Vastas confusões e atendimentos imperfeitos: A clínica psicanalítica no
ambulatório público. RJ: Relume-Dumará, 1997.
FREUD, S. (1905a). Tratamento psíquico ou anímico. In: Edição Standard Brasileira das
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_________ (1905b). Sobre psicoterapia. In: Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_________ (1910). As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. In: Edição Standard
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol. XI. Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
_________ (1913a[1911]). Sobre psicanálise. In: Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_________ (1913b). O interesse científico da psicanálise. In: Edição Standard Brasileira das
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol. XIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_________ (1914). A História do Movimento Psicanalítico. In: Edição Standard Brasileira
das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol.XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_________ (1917). Uma dificuldade no caminho da psicanálise. In: Edição Standard
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol. XVII. Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
_________ (1919[1918]). Linhas de progresso na terapia psicanalítica. In: Edição Standard
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol. XVII. Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
_________ (1923). Prefácio ao relatório sobre a policlínica psicanalítica de Berlim. In:
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol. XIX.
Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_________ (1925[1924]). Resistências à psicanálise. In: Edição Standard Brasileira das
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_________ (1926). Psicanálise. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas
Completas de Sigmund Freud vol. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_________ (1937). Construções em análise. In: Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud vol. XIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
_________. O uso da interpretação dos sonhos na psicanálise (1911). In: Obras Completas de
Sigmund Freud – Volume 10. Tradução e notas de Paulo César de Souza. SP: Companhia das
Letras, 2010.
__________. A dinâmica da transferência (1912). In: Obras Completas de Sigmund Freud –
Volume 10. Tradução e notas de Paulo César de Souza. SP: Companhia das Letras, 2010.
__________. Recomendações ao médico que pratica a psicanálise (1912). In: Obras
Completas de Sigmund Freud – Volume 10. Tradução e notas de Paulo César de Souza. SP:
Companhia das Letras, 2010.
__________. O início do tratamento (1913). In: Obras Completas de Sigmund Freud –
Volume 10. Tradução e notas de Paulo César de Souza. SP: Companhia das Letras, 2010.
__________. Recordar, Repetir e Elaborar (1914). In: Obras Completas de Sigmund Freud –
Volume 10. Tradução e notas de Paulo César de Souza. SP: Companhia das Letras, 2010.
__________. Observações sobre o amor de transferência (1915). In: Obras Completas de
Sigmund Freud – Volume 10. Tradução e notas de Paulo César de Souza. SP: Companhia das
Letras, 2010.
__________. Caminhos da terapia psicanalítica (1919). In: Obras Completas de Sigmund
Freud – Volume 14. Tradução e notas de Paulo César de Souza. SP: Companhia das Letras,
2010.
__________. Psicologia das massas e análise do Eu (1921). In: Obras Completas de Sigmund
Freud – Volume 15. Tradução e notas de Paulo César de Souza. SP: Companhia das Letras,
2011.
__________. “Psicanálise” e “Teoria da Libido”. (1923) In: Obras Completas de Sigmund
Freud – Volume 15. Tradução e notas de Paulo César de Souza. SP: Companhia das Letras,
2011.
__________. O mal-estar na civilização (1930). In: Obras Completas de Sigmund Freud –
Volume 18. Tradução e notas de Paulo César de Souza. SP: Companhia das Letras, 2011.
ENRIQUEZ, E. Da horda ao Estado: Psicanálise do vínculo social. Tradução de Teresa
Cristina Carreteiro e Jacyara Nasciutti. RJ: Jorge Zahar Ed., 1996.
____________. A organização em análise. Tradução de Francisco da Rocha Filho. RJ: Vozes
Ed., 1997.
____________. Psicanálise e ciências sociais. (2005) Tradução de Pedro Cattapan. Artigo
disponível on-line em: (...)
KAËS, R. Realidade psíquica e sofrimento nas instituições. In: A instituição e as instituições:
Estudos psicanalíticos. R. Kaës (Org.); et al; Tradução de Joaquim Pereira Neto. SP: Casa do
psicólogo, 1991, p.01-39.
LACAN, J. A psicanálise verdadeira, e a falsa. In: Outros escritos. Tradução de Vera Ribeiro.
RJ: Jorge Zahar Ed., 2003, p.173-182.