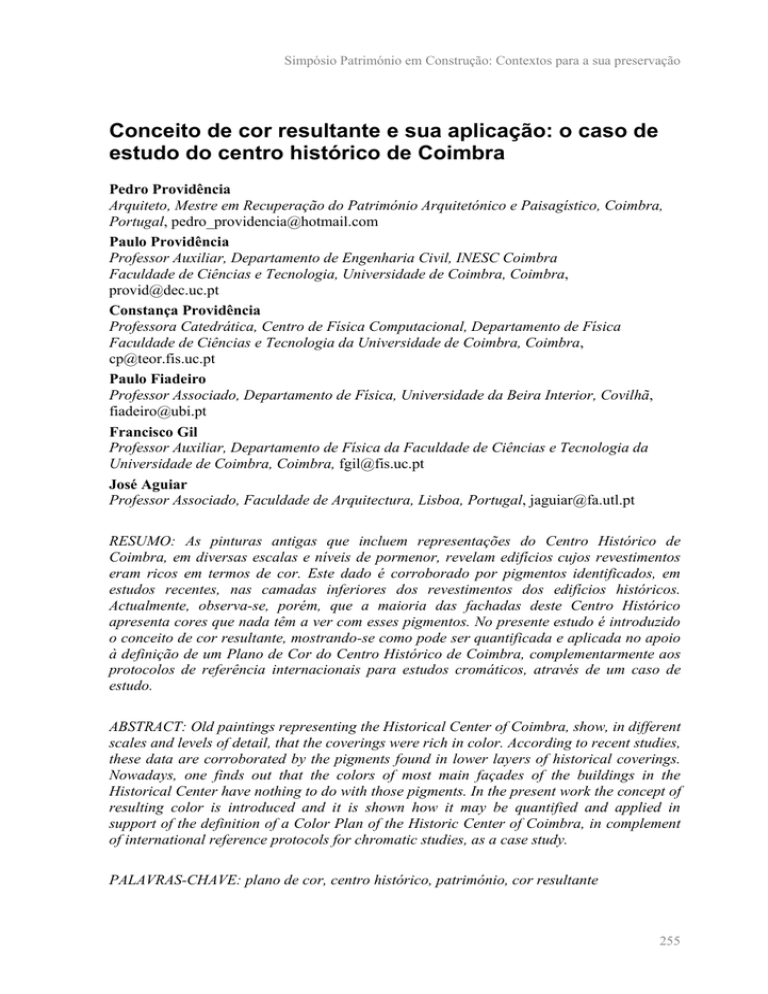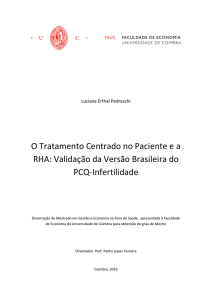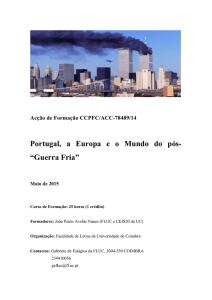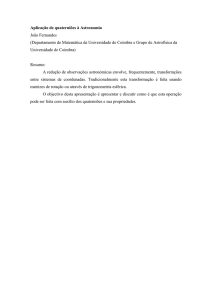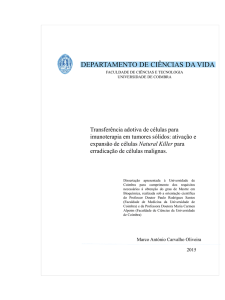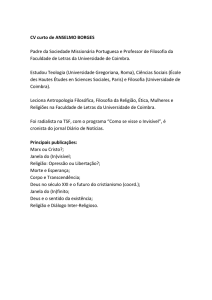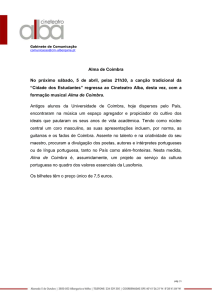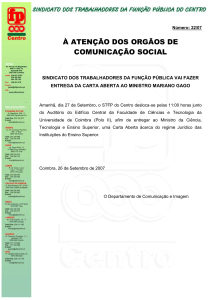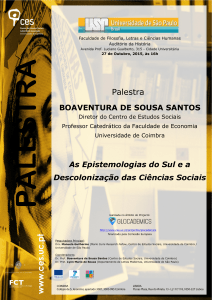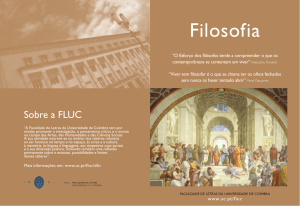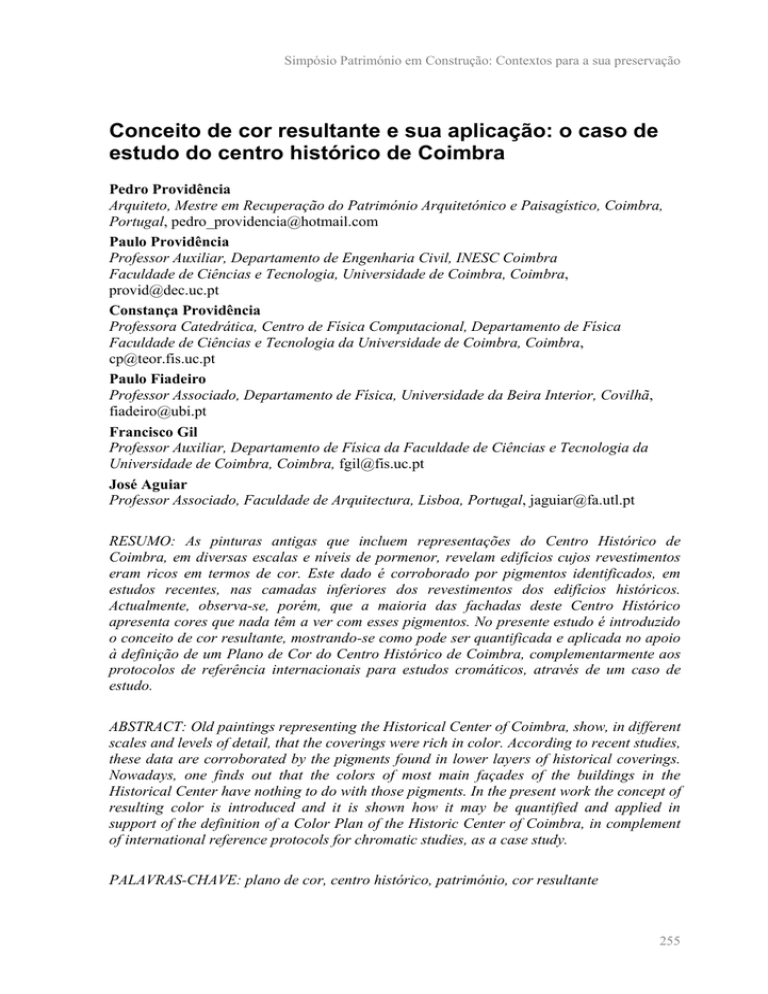
Simpósio Património em Construção: Contextos para a sua preservação
Conceito de cor resultante e sua aplicação: o caso de
estudo do centro histórico de Coimbra
Pedro Providência
Arquiteto, Mestre em Recuperação do Património Arquitetónico e Paisagístico, Coimbra,
Portugal, [email protected]
Paulo Providência
Professor Auxiliar, Departamento de Engenharia Civil, INESC Coimbra
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, Coimbra,
[email protected]
Constança Providência
Professora Catedrática, Centro de Física Computacional, Departamento de Física
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Coimbra,
[email protected]
Paulo Fiadeiro
Professor Associado, Departamento de Física, Universidade da Beira Interior, Covilhã,
[email protected]
Francisco Gil
Professor Auxiliar, Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, Coimbra, [email protected]
José Aguiar
Professor Associado, Faculdade de Arquitectura, Lisboa, Portugal, [email protected]
RESUMO: As pinturas antigas que incluem representações do Centro Histórico de
Coimbra, em diversas escalas e níveis de pormenor, revelam edifícios cujos revestimentos
eram ricos em termos de cor. Este dado é corroborado por pigmentos identificados, em
estudos recentes, nas camadas inferiores dos revestimentos dos edifícios históricos.
Actualmente, observa-se, porém, que a maioria das fachadas deste Centro Histórico
apresenta cores que nada têm a ver com esses pigmentos. No presente estudo é introduzido
o conceito de cor resultante, mostrando-se como pode ser quantificada e aplicada no apoio
à definição de um Plano de Cor do Centro Histórico de Coimbra, complementarmente aos
protocolos de referência internacionais para estudos cromáticos, através de um caso de
estudo.
ABSTRACT: Old paintings representing the Historical Center of Coimbra, show, in different
scales and levels of detail, that the coverings were rich in color. According to recent studies,
these data are corroborated by the pigments found in lower layers of historical coverings.
Nowadays, one finds out that the colors of most main façades of the buildings in the
Historical Center have nothing to do with those pigments. In the present work the concept of
resulting color is introduced and it is shown how it may be quantified and applied in
support of the definition of a Color Plan of the Historic Center of Coimbra, in complement
of international reference protocols for chromatic studies, as a case study.
PALAVRAS-CHAVE: plano de cor, centro histórico, património, cor resultante
255
Lisboa • LNEC • 25 e 26 de Novembro de 2011
INTRODUÇÃO
No decurso do século XX, muitos sistemas construtivos tradicionais foram sendo
substituídos por outros de natureza industrial. Este processo, entre outros fatores, contribuiu
para uma profunda e rápida descaracterização da imagem urbana dos centros históricos. O
Centro Histórico (CH) de Coimbra constitui um exemplo desta realidade, como o evidencia
a actual proliferação de tonalidades distintas das que o caracterizaram no passado [1].
Sustentando-se nos resultados duma investigação recente dos ciclos cromáticos dos revestimentos e acabamentos do CH de Coimbra [1], o presente estudo propõe a aplicação judiciosa do conceito de cor resultante (CR) em complemento à utilização dos protocolos de referência nacionais e internacionais para estudos cromáticos [2]. O conceito de cor resultante é
apresentado e testado através da definição da cor num caso de estudo.
A quantificação e aplicação da cor resultante, programadas no sistema Mathematica [3], e a
sua conjugação com os procedimentos reconhecidos para estudos cromáticos em centros
históricos, envolveu uma equipa interdisciplinar, abarcando diferentes áreas,
designadamente, arquitetura, conservação do património arquitetónico, física e engenharia.
Ao contemplarmos o planeta Terra a partir de um ponto situado no seu exterior, registamos
imagens com diferentes colorações em função da região observada. Excluindo o efeito das
condições atmosféricas e eventuais manipulações cromáticas durante ou após o registo das
imagens, esta diferença de cores resulta, entre outros fatores, da presença de água e do tipo
de ocupação dos solos, Figs. 1 a 6. Para além do branco das zonas de gelo, nos continentes
identificam-se os cinzas, os verdes acinzentados e os amarelos acinzentados, com
correspondência a zonas urbanas (para grandes escalas), florestais e desérticas,
respectivamente. A diferença de tonalidade pode estar também relacionada com acidentes
geográficos. Nos oceanos identificam-se diversas tonalidades de azul, que de algum modo
resultam das diferentes profundidades do seu fundo.
Figura 1.
África
Figura 2.
América
Figura 3.
Antártida
Figura 4.
Ásia
Figura 5.
Europa
Figura 6.
Oceânia
Se nos aproximarmos muito do planeta e observarmos uma zona urbana, por exemplo o
Centro Histórico de Coimbra, Figs. 7 a 10, registamos cores que resultam das características
das superfícies que o revestem, incluindo as suas construções e, particularmente, da cobertura destas. Designaremos a cor média de cada registo de cor resultante.
Figura 7.
Península Ibérica
256
Figura 8.
Portugal (centro)
Figura 9.
Coimbra
Figura 10.
CH de Coimbra
Simpósio Património em Construção: Contextos para a sua preservação
A IMAGEM DO CENTRO HISTÓRICO DE COIMBRA: ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES
A imagem de um dado objeto resulta da sobreposição, nem sempre evidente, da sua
representação, ou seja, das suas características físicas, com a projeção dos seus atributos,
formas, texturas e cores, captadas pelo observador, por via de uma determinada fonte de
radiação (iluminante). Por outras palavras, no ato de olhar o observador adiciona à
representação de um objeto uma série de elementos que são alheios a esta representação,
mas que fazem inevitavelmente parte daquilo que é percebido e apreendido pelo observador
como a imagem deste objeto [4].
Em termos metodológicos, o estudo da cor da cidade histórica requer a análise estratigráfica
dos revestimentos das edificações. Este procedimento permite identificar as diversas
camadas e cores utilizadas no passado. É frequentemente possível a confirmação desta
informação através de documentos iconográficos ou outros registos locais.
De facto, as representações do Centro Histórico de Coimbra em pinturas antigas, Figs. 11 e
12, sugerem revestimentos ricos de cor [5-6], para além do branco dominante, corroborando
as cores e pigmentos encontrados, em estudos recentes, nas camadas inferiores dos
revestimentos dos edifícios históricos [1]. Porém, essas cores pouco têm a ver com as
patenteadas pela maioria das fachadas daquele Centro Histórico presentemente, Fig. 13.
A riqueza de cor, existente no passado, não residia apenas nas pinturas, rebocos e azulejos.
De facto, as fachadas apresentavam outros elementos decorativos com impacto colorido,
como sejam os esgrafitos, grafitos, guarnição dos vãos em pedra policromada ou os socos
das fachadas marcados por cores diferentes do resto do pano.
Figura 11. Coimbra, barcas
serranas no Mondego;
António Victorino,
c. 1940/1950
Figura 12.
Coimbra, terra de encanto;
Artur Loureiro,
1907
Figura 13.
Perfil sul/poente do CH de Coimbra,
2005
Os estudos acima referidos incluem a pesquisa, deteção, extração, caracterização e datação
dos pigmentos. Esta datação é fundamental por localizar no tempo a utilização de cada tipo
de pigmento e a cor que com ele se produzia, possibilitando a contextualização dos edifícios
nos quais eles foram recolhidos e a definição da paleta cromática de um centro histórico. A
datação é efetuada com base numa análise morfotipológica da estratigrafia dos revestimentos e acabamentos de cal, comparando o tipo e número das diferentes camadas de pintura,
barramentos, rebocos e aparelho-base com as épocas das intervenções nos edifícios. A
257
Lisboa • LNEC • 25 e 26 de Novembro de 2011
caracterização destas intervenções apoia-se na análise química e mineralógica dos
componentes das sucessivas camadas. A paleta cromática do centro histórico de uma cidade,
ou de parte dele, é determinada aplicando este método de forma sistemática. Esta paleta cromática deve conter toda a informação referente aos pigmentos identificados, nomeadamente
a sua proveniência, composição química, datação, contextualização histórica e a referência
(num sistema cromático – NCS, RGB, etc.) da cor que com ele se produz(ia). A paleta cromática de um determinado centro histórico é uma peça fundamental do seu Plano de Cor.
DEFINIÇÃO DO PLANO DE COR PARA O CENTRO HISTÓRICO
DE COIMBRA: UMA METODOLOGIA
Seguindo as metodologias utilizadas em estudos de referência, de planeamento e projeto da
cor no património urbano [2], como o do Projeto Integrado do Castelo em Lisboa [7-9], o
Projeto Cromático do CH de Coimbra [1] prevê o estudo de um conjunto de edifícios
previamente selecionados. Concluída a primeira etapa deste processo, nomeadamente a
determinação da paleta cromática, é proposto um conjunto de princípios orientadores de
intervenções cromáticas baseado na informação resultante do estudo estratigráfico aos
revestimentos [2,8], eventualmente complementada pela análise iconográfica. Destes princípios, enumeramos aqueles que serão referidos no presente estudo [2,8]: (i) aplicação da cor
nos edifícios em conformidade com as frequências por leitura dos levantamentos colorimétricos e por grupos de cores identificadas; (ii) aplicação das cores mais intensas nas fachadas
de menores dimensões; (iii) determinação da “luz-de-rua” de cada rua, ou seja, a cor
dominante que a caracteriza; (iv) nas frentes de rua que apresentam uma cor dominante,
acentuação desta cor pela introdução de elementos com cor complementar.
Tendo em vista a aplicação destes princípios orientadores nas intervenções cromáticas no
CH de Coimbra, considerou-se oportuno o desenvolvimento de ferramentas auxiliares, que
permitam determinar combinações possíveis de reconstituição cromática de fachadas.
UTILIZAÇÃO DA COR RESULTANTE NO APOIO À DEFINIÇÃO
DE UM PLANO DE COR
Partindo do princípio de Cesare Brandi [10] de que “o restauro termina onde a hipótese
começa”, entendemos que orientações objectivas para regular combinações possíveis de
reintegração cromática de um CH, como, por exemplo, a utilização da cor resultante, a
seguir apresentada, só devem ser utilizadas quando não existam registos da estratigrafia dos
revestimentos históricos que permitam determinar de forma mais ou menos aproximada a
cor existente no passado.
Newton descobriu que a luz branca é constituída por todas as cores do espectro visível. Nos
humanos a visão da cor resulta de três tipos de recetores que captam luz em três regiões
espectrais distintas. É a combinação destas três componentes que dá a variedade de cores
que vemos. Por exemplo, a sobreposição das três “cores” primárias, vermelho (R), verde (G)
e azul (B) produz o branco (W) – no sistema cromático RGB este resultado é representado
pela relação
. Assim, cada cor pode ser, em boa aproximação, traduzida por
três valores numéricos, correspondentes à intensidade da luz nos comprimentos de onda
centrais das três regiões espectrais referidas, sendo possível, através de equações algébricas,
determinar como combinar as três cores primárias, ou outras, de modo a produzir uma
determinada cor [11-12].
258
Simpósio Património em Construção: Contextos para a sua preservação
Este procedimento pode ser utilizado em espaços de cor como o L*a*b* ou HSV, mas não
no NCS, que é meramente descritivo. Apesar do espaço de cor L*a*b* ser mais homogéneo
do ponto de vista de peso relativo dos três valores numéricos L*, a* e b*, sendo por isso
mais rigoroso em termos de obtenção dos valores resultantes de uma manipulação de cor,
optou-se por realizar todos os cálculos no sistema RGB por razões práticas relacionadas com
o software disponível e o erro associado ser irrelevante para o objectivo deste estudo.
Quando percorremos uma dada zona urbana, em condições de luz normais, a cor que vemos
resulta das radiações não absorvidas pelas superfícies iluminadas. Considere-se a
representação das cores pelo respetivo valor no modelo de cor RGB. Então, a cor que vemos
numa superfície iluminada é dada pela média das cores presentes pesadas pelas respetivas
áreas – designaremos a cor assim definida de cor resultante dessa superfície. Por exemplo,
considere-se um observador estático frente a um edifício. Admita-se que a parte da fachada
deste edifício que este observador vê é decomponível em quatro regiões com áreas A1, …,
A4, e cores, definidas pelo valor RGB, C1 R1 , G1 , B1 , …, C4 R4 , G4 , B4 . O valor RGB
da cor resultante (CR) desta fachada é dado pela seguinte fórmula:
CR RCR , GCR , BCR
R1 , G1 , B1 A1 R4 , G4 , B4 A4
A1 A2 A3 A4
sendo A1 A2 A3 A4 a área total da parte visível da fachada. Suponha-se agora que a
fachada do edifício contíguo a este, visível pelo mesmo observador, é decomponível em seis
regiões com áreas A1* , …, A6* e cores C1* R1* , G1* , B1* , …, C6* R6* , G6* , B6* , que
correspondem à resultante CR * . De modo a obter uma “harmonia cromática” entre estas
duas fachadas, pode estabelecer-se para o conjunto de áreas e cores da segunda fachada
valores tais que os valores RGB das respectivas resultantes CR e CR* sejam próximos.
Esta definição de harmonia cromática nunca poderá ser aplicada de forma cega – pelo
contrário, não passa de uma possibilidade cujo resultado tem de ser analisado em termos
práticos caso a caso pelo especialista em conservação do património. As Figs. 14 e 15
ilustram este procedimento. Por exemplo, a Fig. 14 apresenta a combinação das três cores
representadas por círculos na linha superior, com os valores RGB entre chaves sobre a área.
Na segunda linha, o diagrama de fatias ilustra o peso relativo das três áreas, e o círculo da
direita a cor resultante calculada do modo indicado. O triângulo à esquerdo, representa todas
as possíveis cores resultantes obtidas por combinação das três cores em análise, por variação
das áreas relativas. A mira indica a cor resultante para as áreas do exemplo específico.
Figura 14
Figura 15
259
Lisboa • LNEC • 25 e 26 de Novembro de 2011
Tomando por referência o edifício representado na Fig.16, passamos de seguida a ilustrar
algumas das possíveis aplicações de procedimentos baseados na cor resultante em estudos
de cor do espaço urbano. Este edifício, localizado no CH de Coimbra, data de finais do séc.
XIX, inícios do séc. XX, tendo sido construído em duas fases: a primeira fase, corresponde
ao piso térreo, marcado por quatro módulos, cujos panos de fachada apresentam
revestimentos com cores diferentes; a segunda fase, corresponde ao primeiro piso, em que o
pano de fachada assume a cor branca.
O edifício no seu conjunto está afecto a quatro habitações distintas de tipologias diferentes.
Por outro lado, apresenta uma dimensão em comprimento considerável, passível de ser
representativo de um perfil urbano de pequena escala, adequado para ilustrar algumas das
possíveis aplicações de procedimentos baseados na cor resultante.
Figura 16.
Figura 17.
A Fig.17 apresenta um primeiro exemplo de uma intervenção que preserva a cor resultante
da fachada original, não tendo sido considerado qualquer requisito adicional. Usou-se em
cada habitação a cor resultante (CR) da média das cores dos dois pisos pesada pelas
respectivas áreas. Ou seja, em resultado da adição da cor branca do primeiro piso, às cores
do piso térreo, em processos isolados por módulo de cor, as CR correspondem a cores que
preservam as tonalidades anteriores (verde, ocre, rosa e azul) mas mais “esbatidas” por
causa do aumento de percentagem de branco.
Um segundo exemplo encontra-se ilustrado na Fig.18, as Figs. 14 e 15 ilustram esta solução.
A solução proposta teve em consideração alguns dos princípios orientadores propostos para
o Projecto Cromático do CH de Coimbra, nomeadamente os itens (i), (ii), (iii) e (iv)
enunciados na secção anterior. Existindo um conhecimento prévio dos revestimentos dos
edifícios históricos da zona em estudo, obtido a partir de análises realizadas à estratigrafia
dos edifícios, nomeadamente a proporção das cores associadas a diferentes pigmentos
minerais, identificadas nos elementos arquitetónicos distintos que constituem os edifícios,
torna-se possível desenvolver estudos de reconstituição cromática de fachadas.
Este exercício apresenta uma simulação do que poderia constituir uma proposta de cor para
o edifício se não existisse qualquer tipo de informação sobre os seus revestimentos
históricos. Por hipótese, o edifício localiza-se numa rua cuja “luz-de-rua”, determinada em
estudos prévios, é o ocre. Apresentamos duas combinações possíveis de reconstituição
cromática de fachadas com a mesma CR e tendo o cuidado de apenas selecionar cores que
integram a paleta cromática do CH de Coimbra [1]. Numa primeira fase do estudo, foi
selecionado da paleta cromática uma cor (ocre) escolhida como “luz-de-rua”. No caso em
260
Simpósio Património em Construção: Contextos para a sua preservação
estudo esta cor coincide com a CR da rua. Com base na CR, selecionaram-se outras cores da
paleta cromática, que respeitassem mais dois dos critérios tomados por referência,
nomeadamente a aplicação de cores mais intensas nas fachadas de menor dimensão, e a
acentuação da cor dominante pela introdução de cores complementares. No primeiro ensaio,
ilustrado no painel esquerdo da Fig. 18, foi articulado o rosa, enquanto cor complementar,
de modo a acentuar a cor dominante, ver Fig. 14. No segundo ensaio, selecionou-se um azul
como cor complementar, ver Fig. 15, obtendo-se a mesma CR. Importa referir que, no
primeiro ensaio, evitou-se o azul e o verde por serem cores raras no CH, enquanto que, no
segundo ensaio, apenas se omitiu o verde por ser mais rara que o azul.
Figura 18.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na ausência de informação sobre qual foi, no passado (ou nos sucessivos passados), a cor de
determinada edificação ou conjunto de edificações, o recurso a procedimentos baseados na
quantificação da cor resultante apresenta-se em alternativa a outras hipóteses,
salvaguardando sempre os princípios orientadores mais gerais para intervenções deste tipo,
bem como dados específicos da zona de intervenção, como o Plano de Cor.
Partindo dos resultados obtidos em estudos para um Projeto Cromático do CH de Coimbra
[1], nomeadamente no que respeita às amostras de tinta em velatura de silicatos que foram
produzidas com o apoio da indústriai, de acordo com a paleta cromática do CH de Coimbra,
e aos pigmentos identificados neste CH, afigura-se possível produzir novas cores com
diferentes diluições e avaliar em que medida os valores RGB das novas cores correspondem
aos determinados utilizando o conceito de cor resultante.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos a João da Providência a sugestão do algoritmo que define a cor resultante.
Agradecemos, ainda, o apoio do IGESPAR e do MNMC pela disponibilidade de imagens.
As imagens 1 a 10 encontram-se em www.earth.google.com. Este trabalho tem o apoio da
FCT e FEDER através da bolsa SFRH/BD/60389/2009 e do projeto FCT PTDC/AURURB/113635/2009.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] PROVIDÊNCIA, Pedro, A Epiderme do Centro Histórico de Coimbra – Estudos Cromáticos e
Contributos para a sua Conservação; Dissertação de Mestrado; Universidade de Évora, 2009.
[2] AGUIAR, José, Cor e Cidade histórica, Estudos cromáticos e conservação do património. Porto:
Grupo Edições FAUP, 2003.
[3] Wolfram Research, Inc., Mathematica, Version 8.0, Champaign, IL, 2010.
[4] PEREIRA, Paulo, Reference-Lessê. Revista nada, N.º 3, Lisboa, 2004.
261
Lisboa • LNEC • 25 e 26 de Novembro de 2011
[5] Catálogo: Coimbra e seus Pintores nas Colecções da Cidade, editado pelo Instituto Português de
Museus, com coordenação de Adília Alarcão, Autores Raquel Henriques da Silva e Virgínia
Gomes, Lisboa, 2001.
[6] PROVIDÊNCIA, Pedro, “A epiderme” do Centro Histórico de Coimbra, algumas considerações,
Construção Magazine N.º 11, 2004.
[7] LNEC, Análises Cromáticas para o Projecto Integrado do Castelo, Relatório /96 – NA, 1996.
[8] VIEIRA, Clara; CLAUDINO, Cristina, Projecto Integrado do Castelo: Estudos cromáticos, em
Seminário A Cidade de Cor, 30 a 31 de Outubro, Póvoa de Varzim, 1997.
[9] VIEIRA, Clara, Projecto Cromático, Freguesia do Castelo. Reabilitação urbana de bairros
históricos de Lisboa, architécti; n.º 52, Triforio, 2000.
[10] BRANDI, Cesare, Teoria do Restauro, 1.ª Edição. Lisboa Orion: 2006. Tradução e revisão
técnica: Cristina Pratas, José Delgado Rodrigues, José Aguiar, Nuno Proença. Edição original em
italiano: Teoria del Restauro, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino, 2000.
[11] SANTOS, António; Luz, cor e visão, LNEC, 1999.
[12] BERNARDO, Luís, História da luz e das cores, Volume III, Universidade do Porto Editorial,
Porto, 2010.
CITAÇÕES E NOTAS
i
No desenvolvimento do referido estudo [1], constituiu-se uma pareceria com a firma KEIM, com
experiência na execução de tintas de silicatos desde finais do séc. XIX, tendo em vista a execução da
paleta cromática do CH de Coimbra e a execução de tintas de velaturas de silicatos. Desta parceria
resultou uma carta de cores em tintas de velaturas de silicatos de potássio como substituto das tintas
de cal, actualmente difíceis de produzir e aplicar. As tintas de silicato de potássio são tintas minerais
que apresentam características similares às de cal pertencentes ao mesmo grupo químico e possuem
maior durabilidade. Contudo, a transparência dada pela tinta de cal só é conseguida por velaturas,
técnica complexa quando realizada com silicatos de potássio.
262