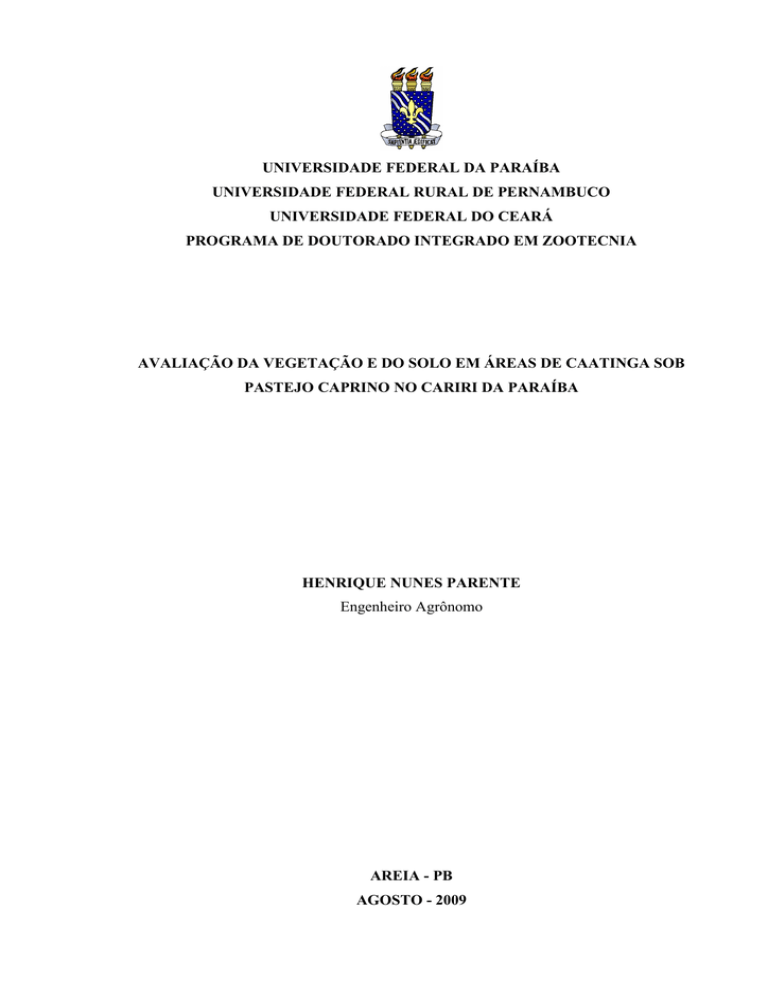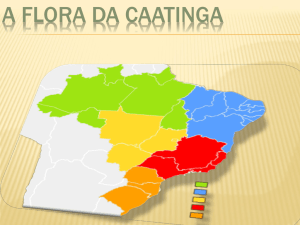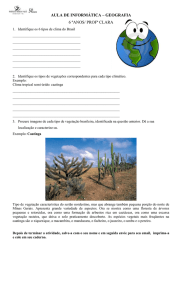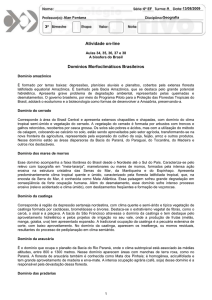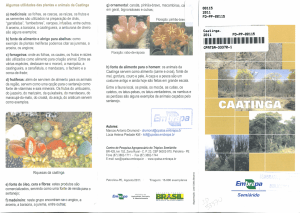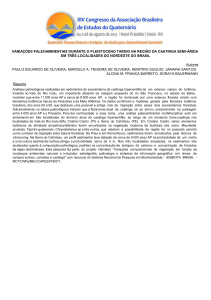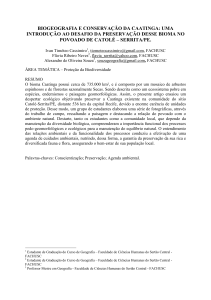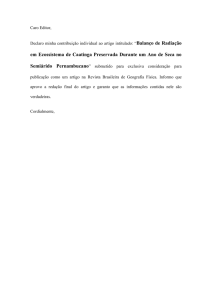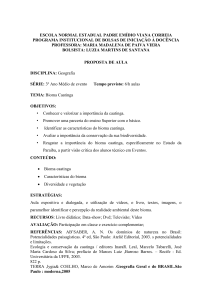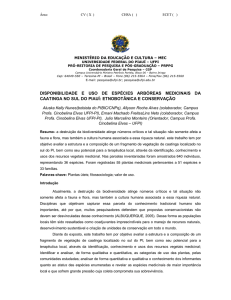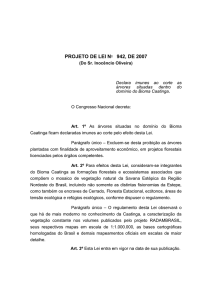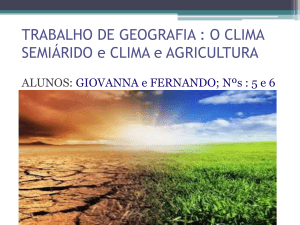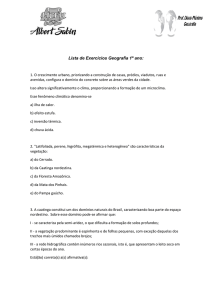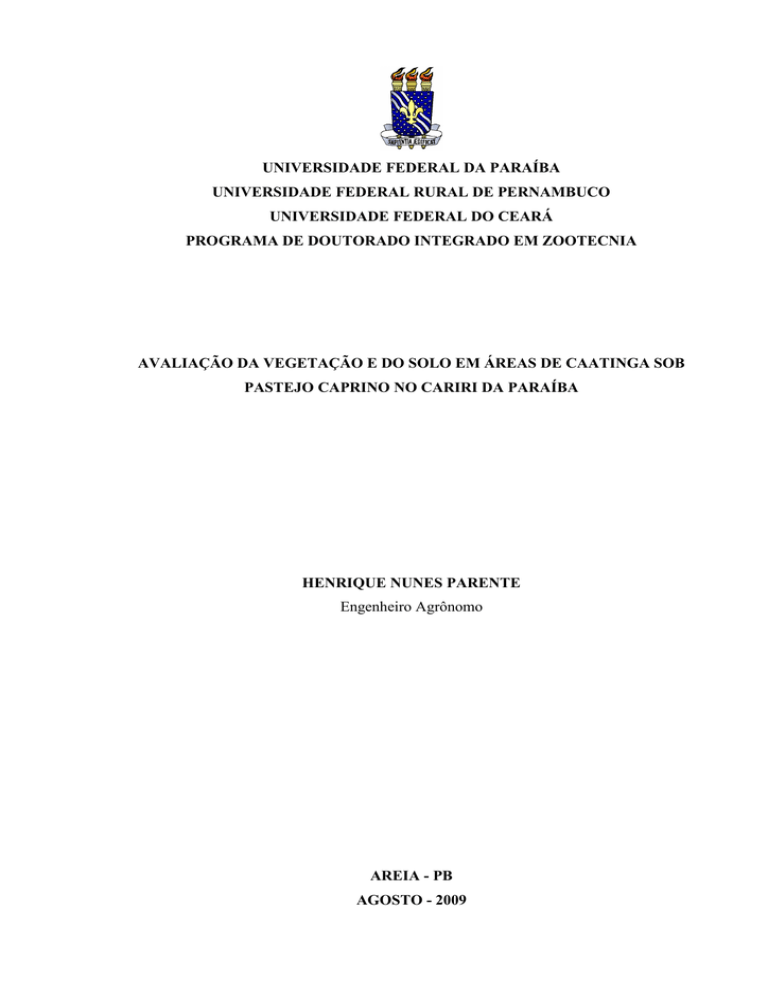
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PROGRAMA DE DOUTORADO INTEGRADO EM ZOOTECNIA
AVALIAÇÃO DA VEGETAÇÃO E DO SOLO EM ÁREAS DE CAATINGA SOB
PASTEJO CAPRINO NO CARIRI DA PARAÍBA
HENRIQUE NUNES PARENTE
Engenheiro Agrônomo
AREIA - PB
AGOSTO - 2009
ii
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PROGRAMA DE DOUTORADO INTEGRADO EM ZOOTECNIA
AVALIAÇÃO DA VEGETAÇÃO E DO SOLO EM ÁREAS DE CAATINGA SOB
PASTEJO CAPRINO NO CARIRI DA PARAÍBA
HENRIQUE NUNES PARENTE
AREIA-PARAÍBA-BRASIL
AGOSTO-2009
iii
HENRIQUE NUNES PARENTE
AVALIAÇÃO DA VEGETAÇÃO E DO SOLO EM ÁREAS DE CAATINGA SOB
PASTEJO CAPRINO NO CARIRI DA PARAÍBA
Tese Apresentada ao Programa de Doutorado Integrado
em Zootecnia, da Universidade Federal da Paraíba, do
qual participam a Universidade Federal Rural de
Pernambuco e Universidade Federal do Ceará, como
requisito para obtenção do título de Doutor em
Zootecnia.
Área de concentração: Forragicultura
Comitê de Orientação:
Prof. Dr. Divan Soares da Silva (CCA/UFPB)
Prof. Dr. Alberício Pereira de Andrade (INSA/MCT)
AREIA - PB
AGOSTO – 2009
iv
Ficha Catalográfica Elaborada na Seção de Processos Técnicos da
Biblioteca Setorial do CCA, UFPB, campus II, Areia - PB
P228a
Parente, Henrique Nunes.
Avaliação da vegetação e do solo em áreas de caatinga sob pastejo
caprino no Cariri da Paraíba. / Henrique Nunes Parente. - Areia:
UFPB/CCA, 2009.
115 f. : il.
Tese (Doutorado em Zootecnia) - Centro de Ciências Agrárias.
Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2009.
Bibliografia.
Orientador: Divan Soares da Silva.
Co-orientador: Albéricio Pereira de Andrade.
1. Pasto – vegetação 2. Pasto – solo 3. Pasto – caprino - Cariri Paraibano I.
Silva, Divan Soares da (Orientador) II. Andrade, Albéricio Pereira de III. Título.
UFPB/CCA
CDU: 633.2.033(813.3)
v
HENRIQUE NUNES PARENTE
AVALIAÇÃO DA VEGETAÇÃO E DO SOLO EM ÁREAS DE CAATINGA SOB
PASTEJO CAPRINO NO CARIRI DA PARAÍBA
Tese defendida e aprovada pela Comissão Examinadora em: 17 de agosto de 2009
Comissão Examinadora
____________________________________________________
Prof. Dr. Divan Soares da Silva (UFPB)
Presidente
__________________________________________________
Profa. Dra. Ana Cláudia Ruggieri (UNESP)
Examinadora
__________________________________________________
Profa. Dra. Maria Socorro de Souza Carneiro (UFC)
Examinadora
__________________________________________________
Profa. Dr. Jacob Silva Souto (UFCG)
Examinador
__________________________________________________
Prof. Dr. José Carlos Batista Dubeux Júnior (UFRPE)
Examinador
Areia-Paraíba-Brasil
Agosto-2009
vi
Dedico
Aos meus pais José Wilson e Ana Maria e minha irmã Mariana pelo amor,
solidariedade e ensinamentos,
A Michelle Maia pela fidelidade e companheirismo,
Aos meus amigos por concretizar minha vida de alegrias.
vii
AGRADECIMENTOS
A Deus, nosso eterno pai protetor, pela vida e oportunidade de conquistas.
A minha família, pelo apoio e compreensão constante.
Ao Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia, em especial a Universidade
Federal de Paraíba, pela disponibilidade do curso.
Ao CNPq, pela concessão da bolsa de estudo.
Aos professores Divan Soares da Silva e Alberício Pereira de Andrade, pela
orientação, compreensão, dedicação e ensinamentos ao longo do trabalho.
Aos meus colaboradores, professores Ivandro de França da Silva e Eduardo Soares
Souza (UFRPE), pela atenção e discussões cedidas durante a realização deste trabalho.
Aos professores Jacob Souto Silva (UFCG), José Carlos Dubeux Júnior (UFRPE) e
Maria Socorro de Souza Carneiro (UFC) pelos questionamentos e sugestões ao longo do
processo de qualificação.
A Tobyas, Carol, Lucas e toda a família Mariz, que me acolheu em Areia como
minha segunda casa, concretizando momentos inesquecíveis de alegria, carinho e respeito.
(Como esquecer o sítio Mazagão, as festas juninas, os churrascos, a sopa da tia Lêda, os
passeios em João Pessoa...) Obrigado pelo exemplo de amizade!
Aos professores e amigos, Edson Mauro Santos e Juliana Silva Oliveira, acima de
tudo pela amizade eterna, além de muitos ensinamentos e acolhimento.
Aos amigos da nossa querida república: Wellington, Ebson, Marcelo, André (tetéu),
Arakén, Alexandre e todos que ali compartilharam momentos de solidariedade e amizade.
Tenho certeza que ficará uma lembrança eterna!
Ao amigo Marcelo Hipólito, pelas cavalgadas e atenção concedida em Areia.
A todos os professores do Departamento de Zootecnia, especialmente aos professores
envolvidos no programa de pós-graduação, pelos avanços nas pesquisas e pela convivência
diária no CEPEC.
Aos colegas e funcionários da Estação Experimental Bacia Escola, Hugo Moraes e
Alessandro Santos pelo fornecimento dos dados meteorológicos e apoio técnico concedido.
Aos amigos do Grupo de Pesquisa Lavoura Xerófila e GEABOV, em especial ao
meu amigo Maurício Leite!
Ao amigo Bruno Viana, pela ajuda no experimento e pela recepção sempre em
Campina Grande e no Balanço.
A todos os amigos da pós-gradução em Zootecnia e Agronomia pelo convívio em
Areia e aos que compartilharam momentos únicos de estadia em São João do Cariri.
viii
As amigas Kallianna Dantas Araujo e Maria Verônica Meira de Andrade, pela ajuda
incontestável na execução do experimento, trabalhos realizados, e acima de tudo, pela
amizade e respeito.
Ao amigo José Nerivaldo, por toda atenção e pelos momentos divertidos em São
João do Cariri.
As professoras e amigas Claudinha e Ana Sancha pela recepção, amizade, e
disponibilidade concedida ao longo de toda esta caminhada.
Aos funcionários da Estação Experimental de São João do Cariri, em particular ao
José Morais, pela ajuda sempre que necessária.
A Seu Antônio e Claudemir pelo auxílio de campo no experimento!
Obrigado!
ix
BIOGRAFIA DO AUTOR
HENRIQUE NUNES PARENTE, filho de José Wilson Lima Parente e Ana Maria de
Carvalho Nunes Parente, nasceu em Teresina-PI, no dia 26/08/1980. Estudou no Colégio
Sagrado Coração de Jesus, em Teresina-PI, concluindo o segundo grau em 1998. No início
de 1999 ingressou no curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal de
Viçosa-MG, concluindo o mesmo em janeiro de 2004. Durante a graduação estagiou nos
Departamentos de Biologia Animal, Fitotecnia e Zootecnia e foi bolsista atividade (LUVE)
de 1999 a 2001. Ingressou no Mestrado em Zootecnia em março de 2004 na Universidade
Federal de Viçosa-MG na área de Produção e Nutrição de Ruminantes concluindo o curso
em fevereiro de 2006. Em março de 2006 ingressou no Doutorado pela Universidade
Federal da Paraíba-PB (Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia), concluindo o
mesmo em agosto 2009 na área de Forragicultura. Durante este período foi bolsista do
CNPq e representante discente no ano de 2007.
x
A solução da pecuária Nordestina é o cultivo do capim panasco!
Mesmo sabendo que o conhecimento não tem fim devemos sempre insistir em aprender!
xi
SUMÁRIO
Lista de Tabelas....................................................................................................................
xii
Lista de Figuras.....................................................................................................................
xii
Resumo Geral........................................................................................................................
xv
Abstract................................................................................................................................. xvii
Considerações Iniciais...........................................................................................................
1
Capítulo I - Referencial Teórico........................................................................................
3
Bioma Caatinga....................................................................................................................
4
Interação solo-planta-animal........................................................................................................5
Herbivoria de caprinos.........................................................................................................
9
Fenologia das espécies da caatinga.....................................................................................
12
Efeito do pisoteio animal nos atributos do solo...........................................................................13
Referências Bibliográficas.................................................................................................... 18
Capítulo II - Levantamento Florístico do Estrato Arbóreo-Arbustivo em Áreas de
22
Caatinga no Cariri da Paraíba..................................................................
23
Resumo.................................................................................................................................
Abstract.................................................................................................................................
24
Introdução.............................................................................................................................
25
Material e Métodos...............................................................................................................
27
Resultados e Discussão.........................................................................................................
29
Conclusões............................................................................................................................. 38
Referências Bibliográficas....................................................................................................
39
Capítulo III – Impacto do Pastejo Caprino Sobre a Vegetação da Caatinga no
41
Semiárido da Paraíba..............................................................................
Resumo.................................................................................................................................
42
Abstract.................................................................................................................................
43
Introdução.............................................................................................................................
44
46
Material e Métodos...............................................................................................................
Resultados e Discussão.........................................................................................................
50
Conclusões............................................................................................................................
67
Referências Bibliográficas....................................................................................................
68
Capítulo IV – Influência do Pastejo Sobre a Fenologia de Quatro Espécies em uma
70
Caatinga no Cariri da Paraíba.................................................................
71
Resumo.................................................................................................................................
Abstract.................................................................................................................................
72
Introdução.............................................................................................................................
73
Material e Métodos...............................................................................................................
75
Resultados e Discussão.........................................................................................................
77
Conclusões............................................................................................................................
95
Referências Bibliográficas....................................................................................................
96
Capítulo V – Impacto do Pisoteio Caprino Sobre Atributos do Solo em Área de
Caatinga......................................................................................................
98
Resumo..................................................................................................................................
99
Abstract.................................................................................................................................. 100
Introdução............................................................................................................................... 101
Material e Métodos................................................................................................................. 103
Resultados e Discussão........................................................................................................... 105
Conclusões.............................................................................................................................. 112
Referências Bibliográficas....................................................................................................... 113
Considerações Finais.................................................................................................................115
xii
Lista de Tabelas
Capítulo II – Levantamento Florístico do Estrato Arbóreo-Arbustivo em Áreas de
Caatinga no Cariri da Paraíba
Tabela 1. Listagem de espécies inventariadas nas três áreas de caatinga, em São
João do Cariri-PB.........................................................................................
31
Tabela 2. Número de indivíduos amostrados, famílias e espécies encontradas nas
três áreas de caatinga, em São João do Cariri-PB......................................... 32
Tabela 3. Famílias e número de indivíduos encontrados nas três áreas de caatinga,
em São João do Cariri................................................................................... 33
Tabela 4. Relação das famílias e espécies encontradas e número de indivíduos nas
três áreas de caatinga, em São João do Cariri-PB......................................... 36
Tabela 5. Índice de similaridade de Jaccard para três áreas de caatinga em São João
do Cariri-PB.................................................................................................. 37
Capítulo III – Impacto do Pastejo Caprino Sobre a Vegetação da Caatinga no Semiárido
da Paraíba
Tabela 1. Composição bromatológica, em percentagem, do pool de serrapilheira ao
longo do período seco e do estrato herbáceo no período chuvoso em São
João do Cariri-PB.........................................................................................
64
Tabela 2. Composição bromatológica, em percentagem, das folhas do pereiro,
marmeleiro e da malva em São João do Cariri-PB....................................... 65
Capítulo V – Impacto do Pisoteio Caprino Sobre Atributos do Solo em Áreas de
Caatinga
Tabela 1. Análise granulométrica dos solos nos respectivos tratamentos T1 (3,1
an/ha), T2 (1,5 an/ha) e T3 (0 an/ha) em São João do Cariri-PB................... 104
Tabela 2. Tempo acumulado expressos em segundos para a infiltração de 1,5 L de
água nos respectivos tratamentos e anos em São João do Cariri-PB............ 108
Lista de Figuras
Capítulo II – Levantamento Florístico do Estrato Arbóreo-Arbustivo em Áreas de
Caatinga no Cariri da Paraíba
Figura 1. Curva do coletor para as três áreas I, II e III com o número de espécies
registradas em uma área acumulada de 9.000m2 em São João do CaririPB.................................................................................................................. 29
Figura 2. Número de espécies das famílias amostradas nas áreas I, II e III em São
João do Cariri-PB.......................................................................................... 34
Capítulo III - Impacto do Pastejo Caprino Sobre a Vegetação da Caatinga no Semiárido
da Paraíba
Figura 1. Ilustração esquemática dos três transectos paralelos e das parcelas
eqüidistantes (1m2) para leituras da estrutura do estrato herbáceo em São
João do Cariri-PB.......................................................................................... 47
Figura 2. Imagens dos pontos amostrados para leituras e coletas da serrapilheira em
São João do Cariri-PB................................................................................... 48
Figura 3. Evolução da cobertura do solo pela espécie Cyperus uncinulatus Schrad
(A), nas áreas submetidas a diferentes intensidades de pastejo por
51
caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba....
xiii
Figura 4.
Evolução da cobertura do solo pela espécie Paspalum scutatum (B), nas
áreas submetidas a diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1
an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba................................
Figura 5. Evolução da cobertura do solo pela espécie Diodia sp. (C), nas áreas
submetidas a diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1
an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba................................
Figura 6. Evolução da cobertura do solo pela espécie Aristida adscensionis L. (D),
nas áreas submetidas a diferentes intensidade de pastejo por caprinos (T1:
3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba..........................
Figura 7. Evolução da cobertura do solo pela espécie Chamaecrista desvauxii
(Collad) Fillip (E), nas áreas submetidas a diferentes intensidades de
pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri
da Paraíba......................................................................................................
Figura 8. Evolução da cobertura do solo pela espécie Evolvulus filipes (F)., nas
áreas submetidas a diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1
an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba................................
Figura 9. Evolução da cobertura do solo nas áreas submetidas a diferentes
intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0
an/ha), no Cariri da Paraíba...........................................................................
Figura 10. Evolução do desaparecimento da serrapilheira nas áreas submetidas a
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba.......................................................
Figura 11. Evolução do desaparecimento da serrapilheira nas áreas submetidas a
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba.......................................................
Capítulo IV – Influência do Pastejo Sobre a Fenologia de Quatro Espécies em
Caatinga no Cariri da Paraíba
Figura 1. Ilustração das plantas demarcadas para o estudo da fenologia na área
experimental em São João do Cariri-PB.......................................................
Figura 2. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Croton sonderianus
Mull. Arg., ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2007), em função de
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha).........................................................................................
Figura 3. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Croton sonderianus
Mull.Arg., ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2008), em função de
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha).........................................................................................
Figura 4. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Caesalpina
pyramidalis Tul., ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2007), em
função de diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha;
T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha).............................................................................
Figura 5. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Caesalpina
pyramidalis Tul., ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2008), em
função de diferentes pressões de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2:
1,5 an/ha; T3: 0 an/ha)...................................................................................
Figura 6. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Herissantia crispa
(L.) Briz, ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2007), em função de
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha).........................................................................................
53
55
56
58
59
61
62
63
uma
76
79
80
83
84
88
xiv
Figura 7.
Figura 8.
Figura 9.
Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Herissantia crispa
(L.) Briz, ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2008), em função de
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha).........................................................................................
Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Aspidosperma
pyrifolium Mart., ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2007), em
função de diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha;
T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha).............................................................................
Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Aspidosperma
pyrifolium, ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2008), em função de
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha).........................................................................................
Capítulo V – Impacto do Pisoteio Caprino Sobre Atributos do Solo em Áreas de
Caatinga
Figura 1. Teste de infiltração tridimensional com infiltrômetro de anel realizado em
São João do Cariri-PB...................................................................................
Figura 2. Densidade média dos solos nas áreas submetidas a diferentes intensidades
de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha, T3: 0 an/ha) em São
João do Cariri-PB. As barras representam o desvio padrão da média..........
Figura 3. Distribuição espacial da densidade do solo (g/cm-3) nos tratamentos I
(Aa), II (Bb) e III (Cc) em São João do Cariri-PB. Letras maiúsculas
representam o ano de 2007 e minúsculas representam o ano de 2008..........
Figura 4. Condutividade hidráulica e sorvidade dos solos nas áreas submetidas a
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha, T3: 0 an/ha) em São João do Cariri-PB. As barras representam o
desvio padrão da média.................................................................................
Figura 5. Umidade inicial e umidade final dos solos nas áreas submetidas a
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha, T3: 0 an/ha) em São João do Cariri-PB. As barras representam o
desvio padrão da média.................................................................................
89
92
93
104
105
107
109
110
xv
Avaliação da Vegetação e do Solo em Áreas de Caatinga sob Pastejo Caprino no
Cariri da Paraíba
RESUMO GERAL
Estudos que avaliam a interação solo-planta-animal no ecossistema caatinga são
determinantes para se estabelecer estratégias de manejo que propiciem a manutenção deste
ecossistema em condições sustentáveis. Neste contexto, objetivou-se com este trabalho
realizar o levantamento florístico do estrato arbustivo-arbóreo na área estudada (II), avaliar
o efeito do pastejo caprino sobre a estrutura do estrato herbáceo e do consumo da
serrapilheira, caracterizar bromatologicamente o pool da serrapilheira, da vegetação
herbácea e de três espécies do estrato arbustivo-arbóreo em uma caatinga do semiárido
paraibano (III), avaliar o efeito do pastejo caprino sobre a fenologia do marmeleiro (Croton
sonderianus Müll. Arg.), catingueira (Ceasalpinia pyramidalis Tull.), malva (Malva sp.) e
pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) em área de caatinga (IV) e avaliar o efeito do
pisoteio caprino sobre a densidade e algumas propriedades hidráulicas de um solo em área
de caatinga (V). O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Bacia Escola, em
São João do Cariri-PB pertencente à UFPB, nos anos de 2007 e 2008 em uma área de
caatinga de 9,6 ha. Os tratamentos consistiram em três taxas de lotação contínua,
distribuídos em três piquetes, sendo estes: T1 (3,1 an/ha), T2 (1,5 an/ha) e T3 (0 an/ha). O
levantamento florístico foi realizado pelo método de Parcelas Permanentes de
Monitoramento, sendo realizada uma análise de agrupamento usando o índice de
similaridade de Jaccard. As famílias com maior número de espécies no estrato arbóreoarbustivo foram Cactaceae e Euphorbiaceae, com predomínio de espécies de hábito
arbóreo. A análise realizada com base no índice de similaridade florística indicou que para
as três áreas a similaridade foi considerada alta, já que apresentaram índices de Jaccard
superior a 0,25. As espécies monitoradas do estrato herbáceo foram Cyperus uncinulatus
schander, Paspalum scutatum, Diodia teres Walt, Aristida adscensionis L., Chamaecrista
desvauxii (Collad) Fillip e Evolvulus filipes mest. Foi determinado o índice de cobertura
por espécie e o índice de cobertura total do solo em cada parcela. Para determinação do
consumo de serrapilheira, foram analisados quinze pontos de cobertura vegetal, com
leituras semanais (índice percentual de cobertura) e realizadas coletas mensais em outros
quinze pontos, cinco por tratamento, para realização de pesagens mensais. As espécies do
estrato arbustivo-arbóreo coletadas para análise bromatológica foram Croton sonderianus
Mull. Arg., Herissantia crispa (L.) Briz e Aspidosperma pyrifolium Mart. Foram também
xvi
coletadas amostras do pool de espécies do estrato herbáceo e da serrapilheira. O pastejo
animal promoveu redução na cobertura do solo em função do consumo das espécies
constituintes do estrato herbáceo e da serrapilheira, sendo esta bastante consumida pelos
animais no período seco. Houve redução intensa na freqüência das espécies monitoradas,
sendo as mais persistentes Aristida adscensionis L. e Evolvulus filipes mest. Todas as
espécies avaliadas mostraram-se sensíveis aos pulsos de precipitação, suficientes para
desencadear uma resposta fisiológica da planta. Os teores de nutrientes contidos no pool
das espécies herbáceas indicam qualidade baixa da dieta dos animais que pastejam a
caatinga na época chuvosa. A serrapilheira pode ser considerada de valor nutritivo
intermediário, ressaltando que este componente é responsável pela alimentação dos
animais no período seco. Com relação à fenologia, foram monitoradas cinco plantas por
piquete, com leituras semanais, observando-se as seguintes variáveis; total de folhas, folhas
verdes, folhas amarelas, folhas secas, frutos e flores, totalizando 18 leituras em 2007 e 28
em 2008. Verificou-se que as espécies monitoradas mostram-se sensíveis aos pulsos de
precipitação, sendo estes suficientes para desencadear os eventos fisiológicos e as
fenofases. O pastejo promoveu alterações no comportamento fenológico do marmeleiro e
da malva-branca, reduzindo o percentual de folhas, flores e frutos, notadamente no
tratamento com maior taxa de lotação. Não houve efeito do pastejo sobre a fenologia da
catingueira. A precipitação influenciou no comportamento fenológico das espécies, tendo o
período de brotamento iniciado logo após os primeiros eventos de chuvas, bem como a
floração e frutificação acontecendo em meados do período chuvoso. A queda de folhas
ocorreu logo após o término do período chuvoso para a catingueira, marmeleiro e malvabranca, sendo mais persistente para o pereiro. Com relação ao pisoteio no solo, foram
realizados vinte ensaios de infiltração e coletadas amostras de solo no início e ao término
do experimento, por tratamento, para análise da densidade do solo, umidade inicial,
umidade final, sorvidade e condutividade hidráulica. Os resultados mostraram que a
densidade do solo, condutividade hidráulica, sorvidade e umidade final não foram
influenciadas pelo pisoteio caprino. A umidade inicial do solo foi superior no tratamento
sem pastejo, bem como houve redução no tempo de infiltração para este tratamento.
Palavras-Chave: densidade, diversidade, estrato herbáceo, fenologia, semiárido
xvii
Evaluation on Vegetation and Soil in Areas of Caatinga under Goat Grazing in Cariri
of Paraíba
ABSTRACT
Studies that evaluate the interaction soil-plant-animal in the caatinga ecosystem are
decisive to establish handling strategies for the maintenance of this ecosystem under
sustainable conditions. In this context, this work aimed to accomplish the floristic survey
of shrub and arboreous strata in the studied area (II); to evaluate the effect of the goat
grazing on the herbaceous stratum structure and on litterfall intake; to bromatologically
characterize the pool of litterfall, of herbaceous vegetation and of three shrub species and
arboreal stratum in the caatinga of the semiarid paraibano (III), to evaluate the effect of
goat grazing on the phenology of the marmeleiro (Croton sonderianus Müll. Arg.),
catingueira (Ceasalpinia pyramidalis Tull.), malva (Malva sp.) and pereiro (Aspidosperma
pyrifolium Mart.) in the caatinga area (IV) and to evaluate the effect of goat trampling on
soil density and hydric properties in the caatinga area (V). The experiment was carried out
on the experimental farm of “Bacia Escola - UFPB” - São João do Cariri-PB , in 2007 and
2008 in a caatinga area with 9.6 ha. The treatments consisted of three stocking rates
distributed in three paddocks: T1 (3.1 an/ha), T2 (1,5 an/ha) and T3 (0 an/ha). The floristic
survey was accomplished by the method of Monitoring Permanent Portions, being
accomplished a grouping analysis using the index of similarity of Jaccard. The families
with larger number of species in the shrub and arboreous strata were Cactaceae and
Euphorbiaceae, with prevalence of species of arboreal habit. The analysis accomplished
with basis on the index of floristic similarity indicated that the similarity was considered
high for the three areas, because they presented Jaccard indexes superior to 0.25. The
monitored species of the herbaceous stratum were Cyperus uncinulatus schander,
Paspalum scutatum, Diodia teres Walt, Aristida adscensionis L., Chamaecrista desvauxii
(Collad) Fillip and Evolvulus filipes mest. The covering index was determined by species
and the index of total covering of the soil in each portion. For determination of the litterfall
intake, fifteen points of vegetable covering were analyzed, with weekly readings
(percentile index of covering) and monthly collections accomplished in other fifteen
points, five per treatment, to carry out the monthly weighing. The shrub and arboreous
stratum species collected for bromatological analysis were Croton sonderianus Mull. Arg.,
Herissantia twitches (L.) Briz and Aspidosperma pyrifolium Mart. Samples from the pool
of species of the herbaceous stratum and of the litterfall also were collected. The animal
xviii
grazing promoted reduction in the covering of the soil due to the intake of constituent
species of the herbaceous stratum and of the litterfall, being this highly consumed by
animals in the dry period. There was intense reduction of frequency of monitored species,
being the most persistent Aristida adscensionis L. and Evolvulus filipes mest. All the
evaluated species showed sensitivity to precipitation pulses, enough to generate a
physiological response from the plant. The level of nutrients found in the pool of the
herbaceous species indicated low quality of diet of animals that graze in the savanna in
rainy times. The litterfall can be considered of intermediate nutritional value, pointing out
that this component is responsible for the feeding of animals in the dry period. As for the
phenology, five plants were monitored by paddock, with weekly readings, being observed
the following variables: total of leaves, green leaves, yellow leaves, dry leaves, fruits and
flowers, totaling 18 readings in 2007 and 28 in 2008. It was verified that the monitored
species showed sensitivity to precipitation pulses that cause physiological events and
phenological phase. The grazing promoted changes on the phenological behavior of the
marmeleiro and malva, reducing the percentual of leaves, flowers and fruits, especially in
the treatment with larger capacity rate. There was not effect of grazing on the phenology of
the catingueira. The precipitation influenced the phenological behavior of the species, with
the start of sprouting soon after the first events of rains, as well as the flowering and
fruiting happening in the middle of the rainy period. The fall of leaves happened soon after
the end of the rainy period for the catingueira, marmeleiro and malva, being more
persistent for the pereiro. Concerning animal trampling the soil, twenty infiltration tests
were accomplished and collected soil samples at the beginning and end of the experiment,
per treatment, to analyze soil density, initial humidity, final humidity, sorptivity and hydric
conductivity. Results showed that the soil density, hydric conductivity, sorptivity and final
humidity were not influenced by the goat trampling. The initial soil humidity was superior
in the treatment without grazing, and there was reduction in the infiltration time for this
treatment, as well.
Key-words: density, diversity, herbaceous stratum, phenology, semiarid
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Diversos estudos estão sendo realizados na região semiárida, no entanto, a
compreensão dos recursos naturais regionais ainda não está totalmente elucidada, restando
diversas lacunas a serem esclarecidas.
A atividade pecuária é de extrema importância na região, pois é certamente o
alicerce de estabilidade de grande parte dos produtores rurais. A distribuição irregular de
chuvas dentro do próprio ano e entre anos tem apontado esta atividade de menor risco
quando comparado a agricultura, portanto deve-se melhor compreendê-la.
O bioma Caatinga apresenta sinais de degradação, sendo estes apontados muitas
vezes de forma precipitada, pela ação do pastoreio de pequenos ruminantes que utilização a
vegetação nativa como principal fonte de alimentos. Estudos mais detalhados neste tema
precisão ser abordados com o objetivo de melhor elucidar as questões levantadas.
Respostas calcadas em dados científicos precisam ser fornecidas a sociedade.
As práticas atualmente observadas de exploração agropecuária no semiárido
Nordestino têm uma visão extrativista, onde se apresenta um modelo de caráter extensivo
preocupando-se em solucionar problemas imediatos. Trabalhos científicos clássicos
preocupam-se com respostas diretas e simples, como: Que área e por quanto tempo uma
pastagem suporta certo número de animais? Provavelmente, os fatores mais importantes de
degradação dos ecossistemas da caatinga que resultam no declínio generalizado da
produtividade, queda da renda e da qualidade de vida das populações humanas decorrem
de respostas como estas. O conhecimento das características intrínsecas da caatinga, como
a alta eficiência no uso de água e nutrientes por algumas espécies, bem como, o
“descompasso” (termo sugerido por Andrade et al., 2006) existente nas características
reprodutivas garante a sobrevivência destas promovendo o equilíbrio e a sustentabilidade
do ecossistema. A partir dessas indagações surge a idéia de compreender algumas
situações observadas no cotidiano e que levam a seguinte reflexão. Até que ponto o animal
interfere no sistema solo-planta-atmosfera ao longo do tempo e do espaço?
Para responder esse questionamento faz-se necessário acompanhar a dinâmica da
caatinga, sob o ponto de vista da sua sustentabilidade e potencialidades de uso forrageiro,
enfocando o seu potencial de utilização sob a ótica da pecuária para encontrar alternativas
de exploração dos seus recursos naturais de forma sustentável. A compreensão dessas
interações poderá esclarecer até que ponto o sistema se ajusta para adquirir um novo
equilíbrio através de sua dinâmica.
1
Baseado na hipótese de que o pastejo, sob lotação contínua com carga leve, pode
estimular a regeneração da vegetação, bem como manter ou melhorar os atributos do solo,
contribuindo para a sustentabilidade do ecossistema, pretende-se neste trabalho de Tese,
estudar o impacto do pastejo caprino sobre a estrutura da vegetação da caatinga e atributos
do solo, visando à sustentabilidade do ecossistema.
Para melhor compreensão, o trabalho está dividido em cinco capítulos, onde são
abordados os seguintes temas: Referencial Teórico (capítulo I), Levantamento florístico do
estrato arbóreo-arbustivo em áreas contíguas de caatinga no Cariri da Paraíba (capítulo II),
Impacto do pastejo caprino sobre a vegetação da caatinga no semiárido da Paraíba (capítulo
III), Influência do pastejo sobre a fenologia de quatro espécies em uma caatinga no Cariri
da Paraíba (capítulo IV) e Impacto do pisoteio caprino sobre atributos do solo em área de
caatinga (capítulo V).
2
Capítulo I
Referencial teórico
3
Avaliação da Vegetação e do Solo em Áreas de Caatinga sob Pastejo Caprino no
Cariri da Paraíba
Bioma Caatinga
O semiárido do Nordeste brasileiro apresenta uma expansão territorial em torno
de um milhão de km2 e uma população aproximada em 20 milhões de habitantes,
apresentando-se como uma das regiões com maior densidade populacional do mundo
(Sampaio e Araújo, 2005). É caracterizado por uma distribuição irregular de chuvas,
apresentando grande variabilidade entre anos e dentro do próprio ano, com alta radiação
solar e evapotranspiração potencial em torno de 2000 mm.
Em função destas variações os agroecossistemas funcionam através dos pulsos de
disponibilidades de recursos, controlados fortemente pela disponibilidade de água
(Menezes et al., 2005). Nesse sentido, a compreensão de como estes pulsos desencadeia
eventos sobre a vegetação (germinação, crescimento, ciclagem de nutrientes, biota do solo,
dentre outros) é de extrema importância para a estabilização de estratégias de utilização
racional dos recursos locais da região, bem como ajudam a explicar a adaptabilidade e
persistência de muitas espécies neste ecossistema.
A caatinga, vegetação nativa da região semiárida do Brasil, é um ecossistema de
extrema importância para a região Nordeste, uma vez que milhares de pessoas sobrevivem
neste local. É constituída por um mosaico de espécies, sendo estes arranjados em três
estratos: herbáceo, arbustivo e arbóreo. De acordo com Souto (2006) a caatinga apresenta
grande biodiversidade com espécies de portes e arranjos fitossociológicos variados que o
torna bastante complexo, onde pouco se conhece sobre a sua dinâmica.
Assim, ressalta-se a necessidade do conhecimento das relações entre os eventos de
pulsos e interpulsos de precipitação e o efeito destes eventos nos aspectos fisiológicos
determinantes no crescimento das plantas, particularmente sobre a germinação de sementes
das espécies presentes (Andrade et al., 2006). Entende-se que dentre estes eventos, o
principal seja a precipitação, levando-se em conta a quantidade e sua distribuição. A
dinâmica da água é a principal variável de controle dos processos que determinam as
transformações dos nutrientes no solo e sua disponibilidade para as plantas (Menezes et al.,
2005). Nesse sentido, o conhecimento do efeito destes pulsos sobre a decomposição dos
resíduos orgânicos é decisivo para se quantificar o processo de ciclagem de nutrientes.
Do ponto de vista da composição botânica, ressalta-se a grande quantidade e
diversidade de espécies que compõem este bioma. Recentemente diversos trabalhos têm
4
sido reportados sobre a composição do bioma caatinga, sendo a grande maioria
identificada através de levantamentos fitossociológicos.
O entendimento da dinâmica das espécies, e no caso específico do estrato
herbáceo da caatinga e suas manifestações biológicas estão condicionados à produção de
conhecimento sobre a distribuição espacial e temporal dessas espécies e suas relações com
os fatores ambientais. Entretanto, faltam dados quantitativos sobre a representatividade das
espécies desse estrato ao longo do ano (Andrade, 2008), principalmente em áreas sob
pastejo.
De acordo com Santana (2004) a caatinga se apresenta sob diversas facetas
florísticas, de matas até formações arbustivas, apresentando cerca de 20 mil espécies de
plantas. Uma característica peculiar das espécies que compõe esta vegetação é a presença
de mecanismos anátomos-fisiológicos responsáveis pela persistência destas espécies em
características tão particulares. Dentre outros aspectos que auxiliam na persistência destas
espécies, destacam-se as características adaptativas como à queda de folhas no período
seco, presença de xilopódios, sistema radicular profundo e/ou muito superficial e o
equilíbrio na abertura e fechamento de estômatos.
Os solos desta região são geralmente jovens, rasos, pedregosos, com baixa
capacidade de retenção de água e fertilidade mediana. Menezes et al. (2005) citam que na
maioria dos trabalhos realizados nessa região é frequente encontrar deficiência
generalizada de fósforo, além da baixa necessidade de aplicação de calcário. Ainda
segundo os autores, isso proporciona uma visão geral, em uma escala ampla que demonstra
a necessidade marcante do manejo de algumas características dos solos para melhoria de
sua fertilidade.
Diante deste contexto, o conhecimento das características intrínsecas da caatinga,
como a alta eficiência no uso de água e nutrientes por algumas espécies, bem como, o
“descompasso” existente nas características reprodutivas (Andrade et al., 2006), o
comportamento peculiar sobre o padrão de deposição das folhas no período seco e as
relações existentes entre os compartimentos, garantem a persistência destas espécies
promovendo o equilíbrio e a sustentabilidade de todo o ecossistema.
Interação solo-planta-animal
A compreensão dos compartimentos solo-planta-animal em sistemas de produção
intensivos têm sido tema de discussão em algumas revisões de literatura. Porém, as
informações disponíveis que avaliam esta interação são poucas ou quase inexistentes
5
quando se trata do ecossistema caatinga. O mesmo não pode ser dito para outras regiões,
principalmente em condições que envolvem pastejo em pastagens cultivadas.
De acordo com Escosteguy (1984) para que haja um incremento da produção
pecuária na região Nordeste é necessário uma profunda reavaliação do ambiente onde esta
atividade se desenvolve. A ecologia e produtividade dos campos naturais e/ou pastagens
nativas bem como, suas principais espécies, devem se melhor compreendidas,
principalmente, nas distintas regiões e condições de manejo.
Certamente, o conceito de produtividade deverá estar associado ao conceito de
sustentabilidade, que remete a compreensão dos compartimentos solo-planta-animal e
principalmente procurando-se entender as relações existentes entre os mesmos. A
sustentabilidade deste ecossistema ocorre mediante as práticas de manejo que garantam o
aporte de nutrientes, a conservação do solo e a manutenção das espécies neste bioma.
Neste contexto faz-se necessário a utilização dos novos conceitos no manejo da pecuária
de precisão, ressaltando o manejo do pastoreio como ressaltado por Carvalho et al. (2009).
A compreensão do balanço de nutrientes e do processo de decomposição
existente no ecossistema caatinga é fundamental para tomadas de decisões, principalmente
no tocante ao manejo dos animais, buscando favorecer a manutenção da vegetação e a
compreensão dos processos que determinam sua persistência.
A pecuária tem grande relevância no semiárido, sendo reportados na literatura por
inúmeros autores como uma atividade de menor risco nessa região, quando comparado a
agricultura, em função das variações intra e inter anuais de precipitação. Contudo, para a
manutenção do equilíbrio nesse ecossistema é necessária a manutenção da cobertura
vegetal (serrapilheira) que é a principal constituinte da matéria orgânica no solo, sendo
esta também a principal fonte de nutrientes para as plantas e responsável por manter as
condições químicas, físicas e biológicas dos solos.
Turco e Blume (1998) ressaltam que para garantir a produtividade é preciso
promover o retorno e a manutenção da matéria orgânica, conseguindo com isso estabilizar
a diversidade biológica do solo, sendo este um dos mais importantes indicadores da
qualidade do mesmo. No entanto, o consumo da serrapilheira pelos animais,
principalmente na época seca do ano, onde a parte aérea (folhas) da maioria das plantas
arbóreas passa a ser a principal fonte de alimentos para os animais pode limitar o
fornecimento de nutrientes para as plantas e para a formação da cobertura vegetal do solo,
comprometendo todo o equilíbrio do ecossistema.
Alguns fatores estão correlacionados com a mudança da matéria orgânica do solo,
como: a condição da vegetação (estrutura e diversidade), fatores ambientais (precipitação,
6
radiação e temperatura), intensidade e freqüência de pastejo e tipo de animal. Neste
contexto, experimentos que estudam a relação solo-planta-animal são imprescindíveis para
elucidar algumas estratégias de manejo, assim como a compreensão da dinâmica da
vegetação sob pastejo.
A decomposição dos resíduos orgânicos é um processo importante no
ecossistema terrestre para a manutenção da produtividade por regular a disponibilidade de
nutrientes necessários para o crescimento das plantas (Koukoura et al., 2003). A matéria
orgânica é o principal reservatório de nutrientes no sistema solo-planta-animal, entretanto
devida sua baixa taxa de mineralização anual, pode não ser a principal fonte de nutrientes
disponíveis para o crescimento vegetal, principalmente em sistemas mais intensivos
(Dubeux Jr. et al., 2004). Nesses sistemas, a decomposição de resíduos vegetais e da
excreta animal são fontes mais importantes de nutrientes na pastagem devido a maior taxa
de decomposição anual, quando comparados com a matéria orgânica do solo (Lira et al.,
2006).
A decomposição da serrapilheira é fundamental para a manutenção da oferta de
nutrientes, porém o acúmulo se dá em função da constituição destas espécies e dos
diferentes padrões de deposição que são observados. Quanto maior a quantidade de
material que chega ao solo via parte aérea e quanto menor sua taxa de decomposição,
maior será o acúmulo líquido.
A velocidade de decomposição é regida principalmente por um fator inerente ao
próprio material: a sua composição (relação C:N, C:P e teor de lignina) e relacionado a
fatores edáficos e abióticos (precipitação e temperatura) que se referem à abundância e
diversidade dos microorganismos do solo. A decomposição deste material é talvez a
principal fonte de contribuição por parte dos microorganismos, sendo este um processo
essencialmente biológico (Bayer, 2004) e dependente da interação entre as funções dos
diferentes organismos edáficos (Dias et al., 2007). De acordo com Correia e Andrade
(1999) a decomposição da serrapilheira possibilita que parte do carbono incorporado na
biomassa pela fotossíntese retorne a atmosfera em forma de CO2 e outros elementos
absorvidos passem para uma forma novamente utilizável pelas plantas.
Merlin (2005) ressalta que diversos parâmetros físicos e químicos têm sido
propostos como indicadores de qualidade do material que aporta o solo: relação C/N e
Lignina/N, o conteúdo de polifenóis, sílica e fibras, a dureza e espessura da cutícula.
A retirada da caatinga, vegetação nativa nas regiões semiáridas do Nordeste,
aliada a longos períodos de estiagem, provoca acentuada degradação física, química e
biológica, deixando o solo totalmente descoberto e exposto por mais tempo às ações da
7
temperatura e dos ventos, reduzindo, consequentemente, seu potencial produtivo,
causando danos muitas vezes irreversíveis ao meio (Souto et al., 2005). Tradicionalmente,
o declínio da fertilidade do solo na caatinga e no semiárido como um todo é caracterizado
pelo uso constante das áreas, com redução no tempo de pousio e a não utilização de
fertilizantes para repor os nutrientes extraídos do solo (Menezes e Sampaio, 2002), bem
como o pastejo intenso dos animais na sua grande maioria.
Entretanto, para que a sustentabilidade seja alcançada, é necessário o
entendimento do funcionamento dos compartimentos integrantes do ecossistema caatinga,
já que este sistema encontra-se constantemente perturbado pela ação antrópica.
É complexa a compreensão da dinâmica dos compartimentes no ecossistema
caatinga. Além disso, grande parte dos trabalhos que procuram compreender o balanço de
nutrientes no ecossistema pastagem, envolvendo o compartimento animal, trabalham em
áreas de pastagens cultivadas e em lotações fixas. A utilização de equações para
recomendação de adubações baseadas em ciclagem de nutrientes têm sido trabalhado,
sendo que o principal aspecto a determinar as doses de fertilizantes e corretivos
recomendados para pastagens é a meta de produtividade animal por unidade de área
estabelecida pelo produtor (Dubeux Júnior et al., 2004). Na região semiárida dificilmente
trabalha-se com lotações fixas em pequenas áreas, o que certamente dificulta as
mensurações. Nessa região, em sua maioria, predominam a utilização de sistemas de
pastejo contínuos e extensivos.
Nos sistemas de pastejo na vegetação da caatinga, a utilização da serrapilheira
como parte da dieta dos pequenos ruminantes, principalmente no período seco do ano,
promove a exposição total do solo às intempéries, sendo este efeito bastante negativo sobre
a manutenção da matéria orgânica, que por sua vez iria contribuir para a estabilização e
manutenção das propriedades físicas, químicas e biológicas dos mesmos.
Este comportamento parece ser ideal para o entendimento da necessidade de
manutenção da serrapilheira no solo, como forma imprescindível para a manutenção da
estabilidade dos agregados, retenção de água, dentre outros. Assim, qualquer sistema de
manejo que possibilite a retirada total da cobertura vegetal (serrapilheira) por parte dos
animais, deve ser evitado na caatinga.
Portanto, em solos rasos, com baixa capacidade de retenção de água, estratégias
de conservação da cobertura vegetal a fim de propiciar melhorias nas condições físicas e
promover uma maior retenção de água seriam necessárias para facilitar a penetração e
estabelecimento das raízes. Desta forma, haveria um maior “tempo útil” para que a planta
pudesse absorver a água disponível naquele momento.
8
Baudena et al. (2007) afirmam que a vegetação é parte de um complexo sistema
onde a atmosfera, os organismos e o solo interagem entre si em diferentes escalas espacial
e temporal. A dinâmica da vegetação é afetada pela chuva e pelas características do solo,
que exerce importante controle no balanço de água.
Portanto, a compreensão da dinâmica dos compartimentos e processos envolvidos
na ciclagem dos nutrientes, incluindo o compartimento animal, é um fator de grande
importância no manejo intensivo da caatinga, embora seja ainda um tema pouco discutido
na maioria dos trabalhos realizados na região semiárida. Sendo assim é necessária a
realização de pesquisas que envolvam os efeitos do pastoreio sobre a qualidade e
sustentabilidade do solo, uma vez que, alguns aspectos dentro do ecossistema caatinga
ainda não foram totalmente elucidados, como a complexa interação existente entre o efeito
do pastejo e o conteúdo de matéria orgânica e sobre a ciclagem de nutrientes no
ecossistema caatinga.
Herbivoria de caprinos
Sem dúvida, a produção de caprinos é uma atividade com inquestionável
importância econômica no semiárido Nordestino. Em função disso, muitos projetos de
desenvolvimento na região estimulam a atividade. Existem diversos trabalhos que estudam
a manipulação da caatinga e a utilização de novas raças, ambos com o objetivo de
aumentar a produtividade por área.
Embora a caatinga seja um dos ecossistemas brasileiros mais degradados, em
torno de 60% (Castelleti et al., 2003), há poucos estudos que avaliem o efeito da herbivoria
por caprinos sobre a manutenção de populações de plantas e sobre a estrutura dos tipos de
vegetação que compõe essa vegetação.
De acordo com Leal et al. (2003) os caprinos são importantes herbívoros da
caatinga, pois utilizam parte da maioria das espécies de árvores e arbustos encontrados na
região como forragem. São considerados muito generalistas, uma vez que se alimentam de
plântulas e todas as partes de plantas adultas da maioria das espécies presentes na área.
Ainda, parecem hábeis em consumir uma enorme variedade de tipos de frutos, seja ele seco
ou carnosos, assim como flores e sementes de tipos e tamanhos variados. Desta forma, os
autores afirmam que os caprinos são folívoros-granívoros generalistas no que se refere às
plantas lenhosas da caatinga. Em termos gerais com o avanço da estação seca os caprinos
aumentam a porcentagem de utilização de folhas de arbustos e árvores, passando a
9
consumir troncos, tubérculos e as folhas caídas no solo após a perda das espécies decíduas
(Mesquita et al., 1989).
Scarnecchia e Kthman (1982) afirmaram que a natureza da pastagem é dinâmica,
e, portanto, seu estudo deve ser conduzido no sentido de conhecer esta dinâmica. O
conhecimento desta sugere o estudo das relações verificadas na pastagem, tais como,
animal/área, forragem/área, animal/forragem e forragem/animal.
Do ponto de visto de produção de forragem, a produção de fitomassa da folhagem
e ramos herbáceos da parte aérea da vegetação da caatinga perfaz cerca de 4,0 toneladas
por hectare/ano (Araújo Filho et al. 1995), porém, com variações significativas em função
da estação do ano, da localização e do tipo de caatinga. Ademais, a composição florística
da forragem produzida, mormente pelos componentes herbáceos anuais dominantes varia
fortemente em virtude dos fatores acima mencionados. Durante a estação das chuvas,
grande parte da forragem é proporcionada pelo estrato herbáceo, no entanto, à medida que
a estação seca se pronuncia, a folhagem das espécies lenhosas decíduas, passa a constituir
praticamente a única fonte de forragem para os animais.
Em condições de superpastejo, caprinos e ovinos podem induzir mudanças
substanciais na florística da caatinga, quer pelo anelamento dos troncos das árvores e
arbustos, causando-lhes a morte, quer pelo consumo das plântulas impedindo a renovação
do estoque de espécies lenhosas.
Os caprinos e ovinos têm sido reconhecidos como grandes agentes de degradação
da vegetação de ambientes áridos de todo o mundo. Mais especificamente, a herbivoria por
ovinos está associada à redução de várias espécies de plantas herbáceas. Todavia,
certamente o manejo inadequado destes animais, com uma incompatibilidade entre oferta e
demanda de forragem pelo animal têm ocasionado estas deduções.
Cumpre salientar, que mesmo diante deste fato, no final do período seco a
escassez dos alimentos é grave, podendo levar animais a morte. A procura do equilíbrio no
sistema solo-planta-animal seria em função de um ajuste na pressão de pastejo, ou seja,
trabalhando-se com uma relação entre número de animais e oferta de forragem. No caso
particular da caatinga, a serrapilheira deverá ser considerada como aporte de nutrientes
tanto para os vegetais como para os animais. Segundo Kirmse e Provenza (1982) Apud
Cavalcante e Resende (2007) as folhas caídas das árvores e arbustos se constituem no
alimento mais importante para os rebanhos da região semiárida na época seca. Em
contrapartida, no período chuvoso há uma grande quantidade de produção de biomassa
pelo estrato herbáceo, sendo este a principal fonte alimentar para os animais,
principalmente os ovinos. Neste aspecto, observa-se uma necessidade de alternância de
10
espécies, pois parece ser esta forma, em função dos diferentes hábitos de pastejo dos
animais uma alternativa de manejo para minimizar o efeito da retirada do material
depositado e garantir a persistência das espécies.
Severson e Debando (1991) Apud Leal et al. (2003) constataram que o efeito do
pisoteio por caprinos diminuiu o acumulo de nitrogênio na serrapilheira e no solo, em
estudo desenvolvido no Chaparral do Arizona. Os autores ainda relatam que outro efeito da
herbivoria é a redução de arbustos fixadores de nitrogênio acarretando em menor
disponibilidade desses nutrientes para as plantas. Este fato pode comprometer o
crescimento e o futuro aporte de serrapilheira por parte destes vegetais, ocasionando
novamente em redução no incremento de matéria orgânica e confirmando a influência do
componente animal na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas semiáridos.
Em uma área manejada exclusivamente com caprinos, pode-se garantir o estoque
do banco de sementes no período chuvoso, pela preferência desses animais em pastejar os
arbustos e em decorrência do rápido ciclo da maioria das espécies do estrato herbáceo, que
em poucos dias garantem a sua sobrevivência pela disseminação de sementes em toda a
área. Esta compreensão pode ajudar no manejo das áreas e dos animais, na tentativa de
conciliar o período de pastejo e/ou espécie em pastejo com a oferta de forragens. O intenso
acúmulo de biomassa nessa época, quando pastejadas por caprinos, pode contribuir para a
manutenção e ou incremento do resíduo vegetal nesses solos.
O estrato herbáceo é de grande importância, principalmente no contexto da
produção de alimento para pequenos ruminantes, porém, se conhece muito pouco sobre as
consequências diretas do efeito do pastejo. As plantas herbáceas apresentam um ciclo curto
concentrado principalmente na estação chuvosa, período esse em que os animais pastejam
mais intensamente. É importante conhecer sua dinâmica para traçar estratégias de uso
racional e seu melhor aproveitamento sem causar danos ao ecossistema (Andrade, 2008).
Pereira et al. (1989) relata que nos sertões cearenses, a exploração animal ao
longo dos anos, tem causado efeitos danosos à vegetação da região, geralmente relacionado
a um manejo inadequado do rebanho e da vegetação. Destaca-se o uso de espécies muitas
vezes inadequadas, associado a altas taxas de lotação, desconsiderando a época de pastejo
e a distribuição do rebanho no pasto. Neste sentido, o conhecimento da resposta temporal
da vegetação aos pastejos seletivos é necessário para o equilíbrio da pastagem (Thurow e
Hussein, 1989). Estes mesmos autores trabalhando com pastejo alternado ovino-caprino,
concluíram que o pastejo com caprinos aumentou a diversidade botânica da vegetação
herbácea (gramíneas e dicotiledôneas), enquanto o pastejo com ovinos diminuiu. Ainda, os
autores supracitados concluíram que este sistema de produção possibilitou a estabilização
11
da composição florística do estrato herbáceo, sugerindo como estratégia adequada para
manutenção deste componente florístico.
Fenologia das espécies da caatinga
Os padrões fenológicos reprodutivos podem ser influenciados por uma série de
fatores abióticos como pluviosidade, temperatura e comprimento do dia (Morellato et al.,
2000). Estes fatores externos funcionam como um sinal para os fatores endógenos das
plantas que acionam as fenofases. A abordagem correlativa entre o clima e a fenologia
combina questões de botânica aplicada a questões meteorológicas. Essa abordagem é
baseada no início e na duração de alterações visíveis do ciclo de vida das plantas e procura
correlações estatísticas entre fatores climáticos e estádios definidos do desenvolvimento de
certas espécies indicadoras (Lacher, 2000).
Estudos fenológicos dos ecossistemas florestais têm sido realizados em todo o
mundo basicamente em dois níveis de abordagem: populações (espécies) ou comunidades.
Eles podem ter também caráter qualitativo, onde são levantadas as épocas em que ocorrem
as fenofases, ou quantitativo, onde as fenofases são também medidas em termos de
intensidade do evento. Bencke e Morellato (2002) relatam que os estudos fenológicos
devam ser realizados de forma qualitativa e quantitativa, ou seja, a fase de ocorrência dos
eventos é determinada e quantificada, utilizando-se a nomenclatura de pico de atividade
referente ao período e pico de intensidade referente ao percentual.
O conhecimento dos padrões de florescimento e de frutificação de uma espécie,
fornecido por levantamentos fenológicos, é básico para compreender, tanto o seu processo,
quanto o seu sucesso reprodutivo. Normalmente são levantamentos mais comuns para as
espécies cultivadas em plantios do que para as populações naturais em florestas, por
exemplo, (Fisher et al, 2000). O conhecimento dessas fases fenológicas proporciona
importantes subsídios para a racionalização das atividades agropecuárias da região (Pereira
et al., 1989).
Poucos são os trabalhos sobre fenologia realizada na caatinga, tendo os autores
enfatizados a importância do conhecimento dos padrões fenológicos nos diferentes
ambientes de caatinga, uma vez que as flutuações sazonais das plantas são importantes do
ponto de vista ecológico. Não obstante, a compreensão dos aspectos reprodutivos destas
espécies poderá subsidiar estratégias de manejo dos animais visando garantir o estande da
vegetação.
12
Os estudos de fenologia da grande maioria das espécies da caatinga estão
correlacionados com os eventos climáticos, destacando-se os pulsos de precipitação.
Normalmente, a brotação ocorre após as primeiras chuvas esporádicas, a floração e a
frutificação ocorrem durante o período chuvoso e a queda acentuada de folhas acontece no
início do período seco. No entanto, segundo Lima (2007), diversos e complexos são os
fatores que controlam o comportamento fenológico das espécies vegetais. Fatores como
disponibilidade hídrica, armazenamento de água no caule e profundidade do sistema
radicular (Borchet e Rivera, 2001) pode determinar os padrões fenológicos das espécies.
Para Lima (2007) para que as espécies lenhosas da caatinga com alta densidade de
madeira brotem e floresçam haverá necessidade de água disponível no solo, ou seja, no
período chuvoso, e as espécies com baixa densidade de madeira podem desencadear suas
fenofases na estação seca, utilizando a água armazenada nos seus tecidos.
Para Holbrook et al. (1995) Apud Lima (2007) algumas características
morfológicas das plantas, como espessura da cutícula, a textura da lâmina foliar, a
profundidade e a biomassa do sistema radicular e a densidade da madeira podem explicar a
relação entre a conservação de água nas plantas que interfere nas suas fenofases. Barbosa
et al. (2003) ressaltam que espécies com madeiras menos densas armazenam mais água nos
caules, suportando melhor a época do período seco.
Apesar dos fatores abióticos serem hierarquicamente superiores na determinação
dos padrões fenológicos das espécies estudadas, estes podem também responder a fatores
bióticos, tais como a herbivoria (Leal et al., 2007). A compreensão do comportamento
fenológico é uma ferramenta para o monitoramento da diversidade florística da caatinga,
particularmente em estudos envolvendo alterações fenológicas promovidas pelo pastejo.
Ajustes na taxa de lotação e no período de pastejo podem evitar alterações nas fenofases
destas espécies, não comprometendo sua persistência no ecossistema.
O detalhamento da fenologia reprodutiva destas espécies torna-se importante tanto
do ponto de vista econômico quanto ecológico, pois é sabido da importância de
conhecimentos práticos que auxiliem no entendimento da dinâmica e regeneração de
populações naturais (Mantovani et al., 2004).
Efeito do pisoteio animal nos atributos do solo
A alteração das propriedades físicas do solo causada pelo pisoteio animal em
sistemas de produção intensivos tem sido tema de discussão, porém, as informações
disponíveis que avaliam este efeito são poucas em se tratando da região do Nordeste.
13
A utilização da pecuária semi-extensiva ou extensiva nas regiões semiáridas passa
a ser fator de alteração ambiental devido à lotação excessiva de animais em limites
superiores à capacidade de suporte do ecossistema. Em médio prazo pode exercer forte
pressão sobre o solo devido ao pisoteio excessivo provocando a compactação (na época
chuvosa) e desagregação (no período seco) ocasionando efeitos negativos sobre as suas
propriedades físicas, químicas e biológicas. Em longo prazo, contribui para a irreversível
degradação dos solos e da vegetação gerando áreas susceptíveis ao processo de
desertificação.
Em pastagens nativas da região Nordeste, acredita-se que o principal fator seja a
utilização de taxas de lotações inadequadas, com sobrecarga animal em função da
disponibilidade de oferta forrageira, causando além de outros, danos às propriedades
físicas dos solos. Outro fator é, sem dúvida, a utilização de sistemas de pastejo
inadequados que não respeitam o desenvolvimento das plantas forrageiras.
De forma geral os ecossistemas que estão apresentando sinais de degradação estão
sob forma de uso inapropriado que resultam no aumento da degradação da vegetação,
promovendo erosão do solo e redução nos nutrientes. Estes processos causam redução na
capacidade de estoque de água no solo, com conseqüente queda de produtividade da
vegetação. Zhao et al. (2007) relatam que estudos envolvendo estratégias de
sustentabilidade com processos emergenciais contra a degradação de pastagens são
necessários para a estabilidade destes ecossistemas, pois segundo estes autores o pastejo
associado com a atividade animal altera as propriedades hidráulicas e mecânicas do solo.
Atributos físicos do solo favoráveis ao crescimento do sistema radicular são
necessários para a obtenção e manutenção de elevadas produtividades. Os solos devem
possuir suficiente espaço poroso (microporos e macroporos) para o movimento da água e
gases, respectivamente, bem como resistência favorável a penetração e desenvolvimento
das raízes. Sem dúvida, o comprometimento dessas propriedades é um dos principais
responsáveis pela degradação das pastagens, que diante desta situação de solo reduzem
consideravelmente a sua longevidade.
O pastejo intenso de animais em solos úmidos causa compactação, ocasionando
redução na macroporosidade, aumento na densidade e redução da infiltração de água nas
camadas mais superficiais do solo (Bertol et al., 2000). Essas alterações levam também a
um aumento da pressão de pré-consolidação do solo (Lima et al., 2004).
As alterações nas propriedades físicas do solo podem acontecer com maior ou
menor intensidade, provocadas pelo pisoteio animal que por sua vez depende da
intensidade e freqüência do pastejo. Além desses aspectos, outros fatores condicionam a
14
degradação dos atributos físicos do solo, tais como o hábito de crescimento das forrageiras,
a textura do solo, a umidade no momento do pastejo além dos condicionadores do pastejo
(Luz e Herling, 2004).
A compactação induz aumento da densidade, redução de porosidade total e
alteração na distribuição no tamanho dos poros, alteração nas propriedades hidráulicas do
solo (Horton e Lebert, 1994), estabilidade e tamanho dos agregados (Warner et al., 1986) e
resistência a penetração das raízes (Murphy et al., 1995).
Certamente a intercalação de culturas e/ou atividades é uma estratégia para
minimizar alterações nos atributos do solo, como geralmente acontece no ecossistema da
região Sul do país. Neste sentido ressalta-se a importância da cobertura vegetal em
promover a estabilidade dos agregados e manter as propriedades físicas do solo adequadas.
Na Caatinga, a permanência da liteira sobre o solo poderia exercer função semelhante.
A capacidade da planta em absorver água pode ser reduzida com a compactação
do solo, associada a pequenos períodos de chuva nas regiões semiáridas que limitam o
crescimento das plantas e reduz o aporte de liteira, consequentemente o aporte de carbono
orgânico. Entretanto, este é um efeito indireto do pastejo sobre a infiltrabilidade do solo,
que segundo Zhao et al. (2007), ainda não está muito bem descrito e quantificado.
De acordo com Antonino et al. (2004) a condutividade hidráulica da camada
superficial do solo desempenha papel importante na partição da quantidade de água, seja
de precipitação pluviométrica ou de irrigação, que atinge o solo em infiltração e/ou
escoamento superficial. Geralmente, as crostas presentes nos solos do semiárido brasileiro
ocorrem nas camadas superficiais (primeiros milímetros) e são responsáveis por grande
parte do escoamento superficial.
Albuquerque et al. (2001) trabalhando com diferentes sistemas de uso da terra,
conduziram um estudo por oito anos e relataram perdas de sedimentos de 3 e 30 t ha-1ano-1
em pastagens e campos agrícolas, respectivamente, enquanto nos solos sob caatinga as
perdas médias foram de cerca de 0,1 t ha-1ano-1. Os autores ainda relataram grande
variabilidade nas perdas por erosão, relatando valores da ordem de 438 t ha-1 de solo em
solos descobertos em um só ano.
Valentin e Bresson (1992) consideram três tipos de crosta, sendo as crostas de
superfície, aparentemente mais envolvidas com os processos de erosão e perda de água.
Estas apresentam maior densidade e menores poros, e consequentemente, uma
condutividade hidráulica saturada menor do que o solo subjacente (Souza et al. 2007),
acarretando em uma menor taxa de infiltração de água. No caso particular do Nordeste
brasileiro, esta parece ser uma das características mais agravantes no que diz respeito ao
15
armazenamento de água no solo, pois grande parte da água é escoada em função da
presença destas crostas. Aliada a este fator, esta região apresenta grande quantidade de
solos rasos e com baixa capacidade de retenção de água, além de apresentar uma
evapotranspiração potencial de até 2000 mm, o que certamente otimiza a perda de água no
sistema solo-planta.
Zhao et al. (2007) em estudo realizado na Mongólia, avaliaram o efeito de
diferentes pressões de pastejo de ovinos nas propriedades físicas e mecânicas do solo e
suas interações. Os autores trabalharam com cinco áreas sob diferentes períodos de pastejo
e relataram através da análise dos resultados que a distribuição espacial das propriedades
do solo foi descrita através de modelos exponenciais. Neste experimento o pastejo
promoveu redução no conteúdo de água no solo e no estoque de carbono e promoveu
aumento na densidade do mesmo.
Sendo assim, em uma situação onde o manejo do pastejo possa a vir comprometer
essas propriedades, agrava-se ainda mais esta situação, reduzindo a produtividade das
pastagens em longo prazo. Nesta ocasião, o ajuste na taxa de lotação animal, evitando a
degradação da vegetação nativa e o superpastoreio, que pode comprometer as propriedades
físicas do solo, é ferramenta importante que auxilia na manutenção do equilíbrio do
ecossistema.
Souza et al. (2007) trabalhando em um solo cultivado com mamona avaliaram o
efeito do encrostamento superficial nas propriedades hidráulicas. Os autores determinaram
a condutividade hidráulica e a sorvidade, por intermédio da análise do regime transitório da
infiltração tridimensional realizadas em superfícies com a presença e a ausência de crosta e
concluíram que a análise do regime transitório da infiltração, pelos métodos de
Haverkamp, permitiu a determinação das características hidráulicas das superfícies dos
solos com a presença e ausência de crosta. Os solos sem crosta foram em média quase 3
vezes mais condutores que os com crosta, em função da quantidade de poros
hidraulicamente ativos por unidade de área.
Para Luz e Herling (2004) o efeito na compactação é diferente, decorrente da
espécie e da categoria dos animais utilizados em pastejo. A compactação ainda pode
influenciar os organismos do solo e o crescimento radicular das plantas.
Outro aspecto a ser considerado é que as espécies forrageiras exercem grande
função nas respostas do solo ao efeito do pastejo animal sobre a taxa de infiltração no solo.
Alegre e Lara (1991) observaram uma menor taxa de infiltração nas pastagens constituídas
de espécies de hábito ereto que não protegem o solo do efeito do pisoteio, favorecendo a
compactação.
16
De acordo com Siqueira Júnior (2005) pode-se obter algum efeito benéfico de
descompactação do solo pela ação do sistema radicular e pela atividade da mesofauna do
solo. Isto é possível de se obter em uma situação de descanso da pastagem, onde haverá um
intenso crescimento da parte aérea e consequentemente do sistema radicular. Novamente a
necessidade de ajuste nos períodos de pastejo na caatinga deve ser considerada, pois em
função do consumo da serrapilheira pelos animais, como já relatado, e a exposição do solo,
esta prática de descanso poderá amenizar em algumas situações.
De forma complementar, Greenwood et al. (1998) em estudo de longo prazo
avaliaram o potencial de regeneração natural das propriedades físicas degradadas de um
solo sob pastejo ovino na Austrália. Após dois anos e meio de exclusão do pastejo os
autores observaram melhoria nas propriedades do solo, aumentando a condutividade
hidráulica não saturada dos solos estudados em relação à área que continuava sendo
pastejada. A recuperação ocorreu em função da atividade biológica e ciclos de
umedecimento e secagem na ausência do efeito de compactação pelo pisoteio animal.
17
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
ALBUQUERQUE, A. W.; LOMBARDI NETO; F. SRINIVASAN, V. S.; CATANEO, A.
Efeito do desmatamento da caatinga sobre as perdas de solo e água de um Luvissol em
Sumé - PB. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.25, p.121-128, 2001.
ALEGRE, J. C.; LARA, P. D. Efecto de los animales em pastoreo sobre lãs propriedades
físicas de suelos de la región tropical húmeda de Peru. Pasturas Tropicales, v.13, p.18-23,
1991.
ANDRADE, M. V. M. Dinâmica e Qualidade do Estrato Herbáceo e Sub-arbustivo na
Caatinga do Cariri Paraibano. (Tese de Doutorado), Universidade Federal da Paraíba,
UFPB, p.159, 2008.
ANDRADE, A. P.; SOUZA, E. S. de; SILVA, D. S. da; SILVA, I. de F. da; LIMA, J. R. S.
Produção animal no bioma caatinga: paradigmas dos pulsos - reservas. Revista Brasileira
de Zootecnia, v. 35, p. 138-155, 2006.
ANTONINO, A. C. D.; RUIZ, C. F.; SOUZA, E. S.; NETTO, A. M.; ANGULOJARAMILLO, R. Distribuição probabilística do fator de escala de dois solos do Estado da
Paraíba. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.8, p.220-224, 2004.
ARAÚJO FILHO, J. A. Manipulação da vegetação lenhosa da Caatinga para fins
pastoris. Sobral: Embrapa-CNPC, 1995. 18p. (Embrapa-CNPC. Circular técnica, 11).
BARBOSA, D. C. A.; BARBOSA, M. C. A.; LIMA, L. C. M. Fenologia de espécies
lenhosas da caatinga. In: Leal, I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. Ecologia e
Conservação da Caatinga. Recife, Editora Universitária da UFRPE, 822 p, 2003.
BAUDENA, M.; BONI, G.; FERRARIS, L.; von HARDENBERG, J.; PROVENZALE, A.
Vegetation response to rainfall intermittency in drylands: results from a simple
ecohydrological box model. Advances in Water Resources, v.30, p.1320-1328, 2007.
BAYER, C. Manejando solos agrícolas para alta qualidade em ambientes tropicais e
subtropicais. In: Fertbio, Lages-RS, 2004.
BENCKE, C. S. C.; MORELLATO, L. P. C. Estudo comparativo da fenologia de nove
espécies arbóreas em três tipos de floresta atlântica no sudeste do Brasil. Revista
Brasileira de Botânica, v.25, p.237-248, 2002.
BERTOL, I.; ALMEIDA, J. A.; ALMEIDA, E. X.; KURTZ, C. Propriedades físicas do
solo relacionadas a diferentes níveis de ofertas de forragem de capim-elefante anão cv.
Mott. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.35, p.1047-1054, 2000.
BORCHERT, R.; RIVERA, G. Photoperiodic control of seasonal development and
dormancy in tropical stem suculent trees. Tree Physiology, v. 21, p. 213-221, 2001.
CARVALHO, P. C. F.; TRINDADE, J. K.; MEZZALIRA, J. C.; POLI, C. H. E. C.;
NABINGER, C.; GENRO, T. C. M.; GONDA, H. L. Do bocado ao pastoreio de precisão:
compreendendo a interface planta-animal para explorar a multi-funcionalidade das
pastagens. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 38, p.109-122, 2009.
18
CORREIA, M. E. F. e ANDRADE, A. G. Formação da serapilheira e ciclagem de
nutrientes. In: Santos, G. A.; Camargo, F. A. O. (ed.). Fundamentos da matéria orgânica do
solo: ecossistemas tropicais e subtropicais. Porto Alegre: Gênesis, 1999. p.197-225.
DIAS, A.; GATIBONI, L. C.; WILDNER, L. do P.; BIANZI, D.; BIANCHET, F. J.;
LORENTZ, L. H. Modificações na abundância e diversidade da fauna edáfica durante a
decomposição da palhada de aveia, centeio e ervilhaca em sistema plantio direto. In: XXXI
Congresso brasileiro de ciência do solo, Gramado. Anais... Gramado, SBCS, 2007. CDROM.
DUBEUX JUNIOR, J. C. B.; SANTOS, H. Q.; SOLLENBERGER, L. Ciclagem de
Nutrientes: Perspectivas do Aumento da Sustentabilidade da Pastagem Manejada
Intensivamente. In: Simpósio Sobre Manejo da Pastagem, 2004, Piracicaba, SP. Anais...
XXI Simpósio Sobre Manejo da Pastagem. Piracicaba : FEALQ, 2004. p.357-400.
ESCOSTEGUY, C. M. D. Avaliação agronômica de uma pastagem natural sob níveis de
pressão de pastejo. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
UFRGS. p.231, 1984.
GREENWOOD, K. L.; MACLEOD, D. A.; SCOTT, J. M.; HUTCHINSON, K. J. Changes
to soil physical properties after grazing exclusion. Soil use and Management. v.14, p.1924, 1998.
HOLBROOK, N. M., J. L. WHITBECK, AND H. A. MOONEY. Drought responses of
neotropical dry forest trees. In S.H. Bullock, H.A. Mooney, E. Medina (Eds.) Seasonally
dry tropical forests, p.243-276, 1995. Cambridge: Cambridge University Press.
HORTON, R.; LEBERT, M. Soil compactability and compressibility. In: SOANE, B. D.;
OUWERKERK, C. van (Ed.). Soil compaction in crop production. Amsterdam: Elsevier,
1994. p.45-69. (Develo-pments in Agricultural Engineering, 11).
KOUKOURA, Z.; MAMOLOS, A. P.; KALBURTJI, K. L. Decomposition of dominant
plant species litter in a semi-arid grassland. Applied Soil Ecology, v.23, p.13-23, 2003.
LARCHER, W. 2000. Ecofisiologia vegetal. São Carlos: RIMA.
LEAL, I. R.; PERINI, M. A.; CASTRO, C. C. Estudo fenológico de espécies de
Euphorbiaceae em uma área de caatinga. Anais... VIII Congresso de Ecologia do Brasil,
Caxambu–MG, p.1-2, 2007.
LEAL, I. R.; VIVENTE, A.; TABARELLI, M. Herbivoria por caprinos na caatinga da
região de xingó: uma análise preliminar. In: Leal, I.R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M.C.
Ecologia e Conservação da Caatinga. Recife, Editora Universitária da UFRPE, 822 p,
2003.
LIMA, A. L. A. Padrões fenológicos de espécies lenhosas e cactáceas em uma área do
semi-árido do Nordeste do Brasil. (Tese de Doutorado). Universidade Federal Rural de
Pernambuco, p.71, 2007.
19
LIMA, C. L. R.; SILVA, A. P.; IMHOFF, S.; LIMA, H. V.; LEÃO, T. P. Heterogeneidade
da compactação de um Latossolo Vermelho-Amarelo sob pomar de laranja. Revista
Brasileira de Ciência do Solo, v.28, p.409-414, 2004.
LIRA, M. A.; FARIAS, M. V. F.; DUBEUX JR., J. C. B.; MELLO, A. C. L.; LIRA JR.,
M. A. Sistemas de produção de forragem: alternativas para a sustentabilidade da produção.
In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, João Pessoa.
Anais... João Pessoa: SBZ, 2006. (CD-ROM).
LUZ, P. H. C.; HERLING, V. R. Impactos do pastejo sobre as propriedades físicas do solo.
In: II SIMPÓSIO ESTRATÉGICO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 2004, Viçosa.
Anais... Viçosa, 2004. p.209-250.
MANTOVANI, A.; PATRICIA, L.; MORELLATO, C.; REIS, M.S. Fenologia reprodutiva
e produção de sementes em Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze. Revista Brasileira
de Botânica, v.27, p.787-796, 2004.
MENEZES, R. S. C.; GARRIDO, M. S.; MARIN, A. M. P. Fertilidade dos Solos no SemiÁrido. In: XXX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, Recife, PE. CD ROM, 2005. v.1,
p.1-30, 2005.
MENEZES, R. S. C e SAMPAIO, E. V. S. B. 2002. Simulação de fluxos e balanço de
fósforo em uma unidade de produção agrícola familiar no semi-árido paraibano. In:
Silveira, L.; Petersen, P.; Sabourin, E. Agricultura Familiar e Agroecologia no SemiÁrido; avanços a partir do Agreste da Paraíba. Esperança, AS-PTA, 2002.
MORELLATO, L. P. C.; TALORA, D. C.; TAKAHASI, A.; BENCKE, C. S. C.,
ROMERA, E. C.; ZIPPARRO, V. Phenology of Atlantic rain forest trees: A comparative
study. Biotropica, v.32, p.811-823, 2000.
MURPHY, W. M.; MENA BARRETO, D.; SILMAN, J. P.; DINDAL, D. L. Cattle and
sheep grazing effects on soil organisms, fertility and compaction in a smoothstalked
meadowgrass-dominant white clover sward. Grass and Forrage Science, v.50, p.191-194,
1995.
PEREIRA, R. M. A; ARAÚJO FILHO, J. A.; LIMA, R. V.; PAULHO, F. D. G.; LIMA, A.
O. N.; ARAÚJO, Z. B. Estudo fenológico de algumas espécies lenhosas e herbáceas da
caatinga. Ciência Agronômica, v.20, p.11-20, 1989.
SAMPAIO, E.V.S.B. e ARAÚJO, M.S.B. Desertificação no Nordeste do Brasil. In: XXX
Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, 2005, Recife. Sociedade Brasileira de Ciência do
Solo, 2005. v.1. p.1-29.
SAMPAIO, E. V. S. B.; FREITAS, A. D. S. Produção de biomassa na vegetação da
caatinga do semi-árido nordestino. In: MENESES, R. S. C.; SAMPAIO, E. V. S. B.;
SALCEDO, I. H. (Org). Fertilidade do solo e produção de biomassa no semi-árido.
Recife, 2008, p.11-24.
SANTANA, A. C. A. Caatinga: esquecimento e riqueza. In: 8º Congresso Internacional e
9º Brasileiro de Direito Ambiental, 2004, São Paulo. Fauna, Políticas Públicas e
Instrumentos Legais. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2004.
20
SEVERSON, L. E.; DEBANO, L. F. Influence of spanish goats on vegetation and soils in
Arizona chaparral. Journal of Range Management, v.44, p.111-117, 1991.
SIQUEIRA JÚNIOR, L. A. Alterações de características do solo na implantação de um
sistema de integração agricultura-pecuária leiteira. 2005. 93f. Dissertação (Mestrado) –
Universidade federal do Paraná.
SOUTO, P. C; SOUTO, J. S; SANTOS, R. V; ARAUJO, G. T; SOUTO, S. L.
Decomposição de estercos dispostos em diferentes profundidades em área degradada no
semi-árido da Paraíba. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.29, p.25-130, 2005.
SOUTO, P. C. Acumulação e decomposição da serapilheira e distribuição de
organismos edáficos em área de caatinga na Paraíba, Brasil. 2006. 146 f. Tese
(Doutorado em agronomia) – Centro de Ciência Agrárias, Universidade Federal da
Paraíba, Areia - PB.
SOUZA, E. S.; ANTONINO, A. C. D.; LIMA, J. R. S.; GOUVEIA NETO, C. G.; SILVA,
J. M.; SILVA, I. F. Efeito do encrostamento superficial nas propriedades hidráulicas de um
solo cultivado. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.2, p.69-74, 2007.
SOUZA, Z. M.; ALVES, M. C. Movimento de água e resistência à penetração em um
Latossolo Vermelho distrófico de cerrado, sob diferentes usos e manejos. Revista
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.7, p.18-23, 2003.
TURCO, R. F. e BLUME, E. Indicators of soil quality. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE
FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 23.; REUNIÃO BRASILEIRA
SOBRE MICORRIZAS, 7. SIMPÓSIO BRASILEIRA DE MICROBIOLOGIA DO
SOLO, 5.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 2., Lavras, 1998.
Anais… Lavras, UFLA/SBCS/SBM, p.836, 1998.
VALENTIN, C., BRESSON, L. M. Morphology, genesis and classification of surface
crusts in loamy and sandy soils. Geoderma, v.55, p.225-245, 1992.
ZHAO, Y.; PETH, S.; KRUMMELBEIN, J.; HORN, R.; WANG, Z.; STEFFENS, M.;
HOFFMANN, C.; PENG, X. Spatial variability of soil properties affected by grazing
intensity in Inner Mongolia grassland. Ecological Modelling, v.205, p.241-254, 2007.
21
Capítulo II
Levantamento Florístico do Estrato Arbóreo-Arbustivo em Áreas de Caatinga no
Cariri da Paraíba
22
Levantamento Florístico do Estrato Arbóreo-Arbustivo em Áreas de Caatinga no
Cariri da Paraíba
Resumo: A vegetação xerófila da caatinga é essencialmente heterogênea no que se refere à
fitofisionomia e estrutura, tornando difícil à elaboração de esquemas classificatórios das
inúmeras tipologias ali ocorrentes. Com a necessidade de obter o máximo de informações
sobre a vegetação da caatinga, realizou-se o levantamento florístico do estrato arbóreoarbustivo em três áreas de caatinga no Cariri da Paraíba. O trabalho foi realizado na
Estação Experimental Bacia Escola/UFPB, município de São João do Cariri-PB. O
experimento consistiu em três áreas de 3,2 ha, onde foram estabelecidos três transectos
paralelos em cada área, distando 20 m entre si e marcadas dez parcelas com distribuição
sistemática eqüidistante (10x10 m), tendo sido amostradas 30 unidades experimentais por
área. O levantamento florístico foi realizado pelo método de Parcelas Permanentes de
Monitoramento. Realizou-se uma análise de agrupamento usando o índice de similaridade
de Jaccard. O número de unidades amostrais nas três áreas foi suficiente para refletir a
fitodiversidade dos locais estudados; As famílias com maior número de espécies no estrato
arbóreo-arbustivo foram Cactaceae e Euphorbiacea; As espécies que foram comuns nas
três áreas pela análise de agrupamento, foram: Aspidosperma pyrifolium Mart., Croton
sonderianus Müll. Arg., Caesalpinia pyramidalis Tull, Jatropha mollisssima Müll. Arg.,
Malva sp., Pilosocereus gounellei Byl et Rowl., Spondias tuberosa Arruda e Opuntia
palmadora Br. et Rose; O porte arbóreo apresentou sete espécies, sendo superior ao
componente arbustivo que apresentou-se com cinco espécies. Os elementos arbóreos mais
conspícuos foram: Caesalpinia pyramidalis Tull. (Caesalpineaceae) e Aspidosperma
pyrifolium Mart. (Apocinaceae). Os arbustos que mais se detacaram foram: Croton
sonderianus Müll. Arg. e Jatropha mollisssima Müll. Arg. (Euphorbiaceae); A análise
realizada com base no índice de similaridade florística indicou que para as três áreas a
similaridade foi considerada alta, já que apresentaram índices de Jaccard superior a 0,25.
Palavras chave: fitofisionomia, semiárido, variabilidade
23
Floristic Survey of Shrubby-Arboreal Stratum in Areas of Caatinga in the Cariri of
Paraiba
Abstract: The vegetation of Caatinga essentially heterogeneous in terms Concerning
phytophisiognomy and structure, making difficult the preparation of classification the
many types occurring there. The purpose of this research was to make a floristic survey of
the shrubby-arboreous stratum in three areas of caatinga in the Cariri of Paraiba. The
survey was carried through in the “Estação Experimental Bacia Escola/UFPB”,
municipality of São João do Cariri-PB. The experiment consisted of three areas of 3.2 ha,
where three parallel transects had been established, in a distance of 20 m from each other,
and there were marked ten parcels with equidistant systematic distribution (10x10 m2),
having been sampled 30 experiments unites from each area. The floristic survey was
carried through by the method of parcels. There was fulfilled a grouping analysis using the
index of similarity of Jaccard. The number of parcels showed in three environments was
enough to reflect the phytodiversity of the studied places; the families with bigger number
of species in the arboreous-shrubby stratum were Cactaceae and Euphorbiacea; the species
that had been common in the three areas by the grouping analysis, was: Aspidosperma
pyrifolium Mart., Croton sonderianus Müll. Arg., Caesalpinia pyramidalis Tull, Jatropha
mollisssima Müll. Arg., Malva sp., Pilosocereus gounellei Byl et Rowl., Spondias tuberosa
Arruda and Opuntia palmadora Br. et Rose; The arboreous habitat presented seven
species, being superior to the shrubby component that was presented with five species. The
more conspicuous arboreous elements had been: Caesalpinia pyramidalis Tull.
(Caesalpineaceae) e Aspidosperma pyrifolium Mart. (Apocinaceae). The most important
shrubs were: Croton sonderianus Müll. Arg. and Jatropha mollisssima Müll. Arg.
(Euphorbiaceae); The analysis made by the index of floristic similarity indicated that the
similarity was considered high for the three area, because they presented a Jaccard index
higher than 0.25.
Key works: phytophisiognomy, semiarid, variability
24
INTRODUÇÃO
O Bioma Caatinga é considerado uma das maiores regiões geográficas do planeta
com distribuição no Brasil pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do Estado de Minas Gerais (Araújo e
Martins, 1999). A caatinga ou savana estépica é considerada um dos biomas brasileiros
menos conhecidos, razão por que, sua diversidade biológica tem sido subestimada
(Salcedo, 2004).
A vegetação da caatinga é caracterizada dentre os biomas nacionais como o que
apresenta maior número de tipologias, caracterizado por uma formação de floresta seca
composta de vegetação xerófila de porte herbáceo, arbustivo e arbóreo, com ampla
variação florística e de fisionomia. A grande extensão territorial, os tipos de clima, solo e
multiplicidade nas formas de relevo do semiárido é traduzido em diferentes paisagens
como os vales úmidos, as chapadas sedimentares e as amplas superfícies pediplainadas,
razões estas que caracterizam o alto grau de variabilidade (Santana e Souto, 2006).
Na caatinga, cerca de 70% da área está submetida ao antropismo, o que tem
provocado um acentuado processo de degradação, causado principalmente pelo
desmatamento, uso inadequado dos recursos naturais e manejo animal inapropriado
(Drumond et al., 2000). Diante desta realidade, o conhecimento e a conservação do
referido bioma se tornam imprescindíveis particularmente nas áreas prioritárias (Leal et al.,
2003). Para Santana e Souto (2006) este tipo de exploração em uma área tão pouco
conhecida e complexa poderá levar o mesmo a um processo irreversível de degradação.
O levantamento florístico e fitossociológico da caatinga como um todo, deve ser
realizado em áreas conhecidas, determinando-se seus padrões de distribuição geográfica,
abundância e relação com os fatores ambientais, para se estabelecer com base em dados
quantitativos, os diferentes tipos de caatinga (Rodal, 1992). Para Rodrigues (1989) os
levantamentos florísticos são importantes, para mostrar as espécies ocorrentes numa
determinada área de estudo, assim como para fazer o reconhecimento prévio da área.
O sistema agropastoril apresenta-se como o fator que maior pressão exerce sobre a
cobertura vegetal do semiárido nordestino, variando de intensidade em função da
localização, estrutura e tamanho dos remanescentes. Os baixos e irregulares índices
pluviométricos da região, juntamente com o uso das áreas como pastagem de forma não
controlada, dificultam o processo de regeneração e desenvolvimento da vegetação da
caatinga (Andrade et al., 2005).
25
Face ao exposto, objetivou-se com este trabalho identificar e quantificar o número
de indivíduos, famílias e espécies do estrato arbóreo-arbustivo em áreas de caatinga no
Cariri da Paraíba.
26
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na Estação Experimental Bacia Escola pertencente à
UFPB, localizado no município de São João do Cariri-PB, nas coordenadas 7o23’30”S e
36o31’59”W, numa altitude de 458 m. O município está inserido na zona fisiográfica do
Planalto da Borborema, fazendo parte da microrregião do Cariri Oriental.
Segundo a classificação de Köppen, predomina na região o clima Bsh-semiárido
quente com chuvas de verão. Apresenta temperatura média mensal máxima de 27,2 °C e
mínima de 23,1 °C, precipitação média em torno de 400 mm/ano e umidade relativa do ar
70%.
O levantamento florístico do estrato arbustivo-arbóreo foi realizado no período
seco (dezembro/2007), em três áreas contíguas de caatinga. A área do experimento perfaz
um total de 9,6 ha, sendo divididas em três áreas iguais de 3,2 ha. Em cada área foram
estabelecidos três transectos paralelos, distando aproximadamente 20 m entre si e em cada
transecto foram marcadas dez unidades experimentais eqüidistantes (100 m2), de modo que
foram amostradas 30 por área, totalizando uma área amostral de 9.000 m2. Utilizou-se o
método de amostragem para a coleta dos dados de vegetação em Parcelas Permanentes de
Monitoramento (PPM), aplicadas nas três áreas de pesquisas. As parcelas foram instaladas
de maneira sistematizada, permitindo a melhor cobertura para detectar possíveis diferenças
na estrutura da vegetação (Rodal et al., 1992).
Foram considerados para árvores indivíduos com circunferência a altura da base
(CAB) ≥ a 3 cm e arbustos com altura mínima de 1 m (Amorim et al., 2005). Em casos de
indivíduos ramificados a área basal individual resultou da soma de áreas basais de cada
ramificação (Rodrigues, 1989). Foram consideradas todas as plantas vivas em cada parcela.
Foram realizadas coletas representativas das espécies vegetais, parte aérea com
folhas, flores e frutos, ocorrentes na área de condução do experimento. Os indivíduos
coletados foram prensados, secos e acondicionados, sendo em seguida encaminhando para
o Herbário Jayme Coelho de Moraes, pertencente ao CCA/UFPB, para continuação da
secagem em estufa e posterior identificação do indivíduo. O sistema de Classificação
seguido foi o de Cronquist (1988). Na escrita de parte dos binômios científicos das
espécies vegetais e seus respectivos autores, recorreu-se ao índice de espécies da Missouri
Botanical Garden. Desta forma a composição florística corresponde ao número de famílias,
gêneros e espécies que foram identificados no trabalho.
Para essa avaliação, adaptou-se o índice de Shannon-Weaver (H’), que determina
a diversidade de espécies em cada área amostral (Rodal et al., 1992). Esse índice assume
27
valor máximo quando cada indivíduo pertencer a uma espécie diferente e no mínimo
quando todos pertencerem à mesma espécie. Quanto maior for o valor de H’, maior será a
diversidade florística da população estudada. Este índice pode expressar a riqueza e
uniformidade da vegetação.
H’ = N.ln (N) - s∑i=l ni ln (ni)/N..........................................................................................(1)
em que:
H’ = Índice de diversidade de Shannon-Weaver;
N = número total de indivíduos amostrados;
ni = número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie;
ln = logaritmo na base neperiana;
i = 1, 2, ..., i-ésima espécie amostrada;
S = número de espécies amostradas.
Para o cálculo de similaridade florística utilizou-se o índice de Jaccard, que
trabalha com dados qualitativos. É usado tanto para comparar floras gerais de grandes
áreas, como para determinar similaridade de parcelas em composição de espécies. Nesse
índice, a similaridade é máxima quando o valor é igual a 1 e inexistente quando for 0, pois
o mesmo trabalha com o critério de presença e ausência de espécies:
Sj = al (a + b + c).................................................................................................................(2)
em que:
Sj = Coeficiente de similaridade de Jaccard;
al = número de espécies comuns em ambas as parcelas (ou área);
a = número de espécies presentes na parcela a;
b = número de espécies presentes na parcela b;
c = número de espécies presentes na parcela c.
O software utilizado para as análises foi o Mata Nativa 2, desenvolvido pelo
Cientec da Universidade Federal de Viçosa - MG (Mata Nativa, 2006).
28
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As espécies registradas em função do número de unidades experimentais
amostradas foram representadas na curva do coletor feita para as três áreas estudadas
(Figura 1). Assim, foi possível constatar que o número de parcelas amostradas foi
suficiente para refletir a fitodiversidade dos locais estudados, possivelmente limitada pelo
pastejo, uma vez esse era o histórico da área, aliado aos rigores do balanço hídrico,
característica marcante da região.
Na área I observou-se aparecimento progressivo de novas espécies até a terceira
parcela, com o início de estabilidade a partir da quarta parcela. Não obstante houve
aparecimento de novas espécies a partir da sexta parcela (Mimosa tenuiflora) e oitava
parcela (Combretum leprosum) com regularização parcial da curva a partir desta.
Analisando a curva do coletor para a área II, constatou-se que o aparecimento de novas
espécies foi progressivo até a quarta parcela, com parcial estabilização a partir desta,
voltando a aparecer uma nova espécie apenas na décima nona (Cnidoscolus phyllacanthus)
e na vigésima oitava parcela (Cereus jamacaru). Com relação à curva do coletor da área
III, observa-se que a inclusão de espécies novas estabiliza a partir da segunda parcela,
surgindo uma nova espécie apenas na décima quarta (Mimosa tenuiflora), voltando
novamente a estabilizar-se no restante da área amostrada (Figura 1).
14
12
Nº de espécies
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
N º d e p a rc e la s
Á re a I
Á re a II
Á re a III
Figura 1. Curva do coletor para as áreas I, II e III com o número de espécies registradas
em uma área acumulada de 9.000 m2 em São João do Cariri-PB
29
Santana e Souto (2006) verificaram que houve um processo de estabilização da
curva do coletor à medida que se aumentou o número de parcelas, em estudo realizado em
área de caatinga no Seridó do Rio Grande do Norte. Essa tendência à estabilização pode ser
considerada suficiente par indicar o número mínimo de parcelas a ser utilizado. Assim,
pode-se sugerir que mesmo aumentando a área amostral nas três áreas estudadas haveria
pouca probabilidade de ocorrer espécies inéditas. Luna e Coutinho (2007) observaram
comportamento semelhante da curva para área estudada também no município de São João
do Cariri-PB, fato que demonstra baixa diversidade de espécies nesse município,
provavelmente em decorrência dos baixos índices pluviométricos, bem como da
degradação existente na vegetação daquele município.
A flora arbustiva e arbórea das três áreas estudadas foi representada por nove
famílias e quatorze espécies (Tabela 1). Observou-se que as espécies Aspidosperma
pyrifolium, Croton sonderianus, Caesalpinia pyramidalis, Jatropha mollisssima, Malva
sp., Pilosocereus gounellei e Opuntia palmadora, foram comuns às três áreas. As oito
espécies citadas são comumente encontradas em áreas de caatinga, a exemplo de
Caesalpinia pyramidalis, citada na maioria dos levantamentos realizados na fitofisionomia
da caatinga (Sampaio, 1996). As espécies Mimosa tenuiflora, Combretum leprosum,
Spondias tuberosa e Commiphora leptophloeos, foram exclusivas da área I.
No levantamento realizado, apenas o gênero Pilosocereus apresentou duas
espécies presentes nas três áreas amostradas (Tabela 1). Acrescido a estas informações e de
outros levantamentos na caatinga, verifica-se baixa diversidade dentro dos táxons.
Das espécies levantadas sete apresentaram o hábito de crescimento arbóreo, sendo
superior ao componente arbustivo que apresentou cinco espécies. Na área I foram
identificadas seis espécies arbóreas e cinco espécies do estrato arbustivo. Na área II foram
identificadas quatro espécies do estrato arbóreo e quatro do arbustivo. O número de
espécies na área III pertencentes ao estrato arbóreo compreendeu duas e o estrato arbustivo
contabilizou quatro (Tabela 1).
Os indivíduos arbóreos mais notáveis nas áreas estudadas foram: Caesalpinia
pyramidalis (Caesalpineaceae) e Aspidosperma pyrifolium (Apocinaceae). Para os arbustos
detacaram-se as espécies Croton sonderianus e Jatropha mollisssima (ambas
Euphorbiaceae), citados na maioria dos levantamentos realizados na vegetação caducifolia
espinhosa e não espinhosa do Nordeste brasileiro (Pereira et al., 2002). Dos parâmetros
acima discutidos, pode-se considerar que as áreas de estudo apresentam a fisionomia
arbustivo-arbórea semelhante aos padrões encontrados nos levantamentos realizados em
áreas de caatinga (Andrade et al., 2005).
30
Tabela 1. Listagem das famílias e espécies inventariadas nas três áreas de caatinga em São
João do Cariri-PB
Família/Espécie
Anacardiaceae
Spondias tuberosa Arruda
Apocynaceae
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Burseraceae
Commiphora leptophloeos (Mart.) Gillett
Cactaceae
Pilosocereus pachiycladus Ritter
Cereus jamacaru DC.
Opuntia palmadora Br. et Rose
Pilosocereus gounellei Byl et Rowl.
Caesalpinaceae
Caesalpinia pyramidalis Tull.
Combretaceae
Combretum leprosum Mart.
Euphorbiaceae
Cnidoscolus phyllacanthus Pax & K. Hoffm.
Croton sonderianus Müll. Arg.
Jatropha mollisssima Müll. Arg.
Malvaceae
Malva sylvestris L.
Mimosaceae
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret
Total
Nome vulgar
Área
Porte
I
II
III
Umbuzeiro
1
0
0
Árvore
Pereiro
1
1
1
Árvore
Imburana
1
0
0
Árvore
Faxeiro
Mandacaru
Palmatória
1
0
1
1
1
1
0
0
1
Árvore
Árvore
Arbusto
Xique-xique
1
1
1
Arbusto
Catingueira
1
1
1
Arvore
Mofumbo
1
0
0
Arbusto
Faveleira
Marmeleiro
Pinhão
0
1
1
1
1
1
0
1
1
Árvore
Arbusto
Arbusto
Malva
1
1
1
Arbusto
Jurema
1
12
0
10
0
7
Árvore
*Ausência (0); Presença (1)
Nas três áreas contíguas analisadas (I, II, III), foram encontrados o total de 1.854,
1.000 e 1.093 indivíduos, respectivamente, com circunferência à altura da base (CAB) ≥ 3
cm, respectivamente, totalizando 3.947 indivíduos (Tabela 2).
Estudos florísticos realizados por Moreira et al. (2007), em região de caatinga no
município de Carnaúbas-RN, foram encontradas apenas 11 espécies distribuídas em sete
famílias. No município de São João do Cariri-PB, Andrade et al. (2005) encontraram 7
famílias, quinze gêneros e dezesseis espécies. Desta forma fica evidente a proximidade de
valores quando se observa o número de espécies nas diferentes áreas estudadas de caatinga,
contudo, ocorre diferença no número de famílias analisadas.
Estes baixos valores são provavelmente reflexos das condições climáticas que
ocorrem nessa região, caracterizada por apresentar baixa pluviosidade caracterizando o
clima tipo semiárido (BSh), além de uma grande irregularidade temporal das chuvas,
agravada por altas taxas de evapotranspiração potencial. Destacam-se ainda os efeitos
31
sistêmicos ocorridos pelo manejo inadequado da pecuária, que historicamente ali vem
sendo praticada (Andrade et al., 2005).
Tabela 2. Número de indivíduos amostrados, famílias e espécies encontradas nas três áreas
de caatinga em São João do Cariri-PB
Nº de indivíduos
Áreas
I
II
III
Total
Nº de
unidades
amostrais
30
30
30
Área amostral/ha
Parcelas
Hectare
Famílias
Espécies
0,30
0,30
0,30
1.854
1.000
1.093
3.947
6.180
3.333
3.643
13.156
9
5
6
9
12
10
7
14
A família Euphorbiaceae apresentou maior número de indivíduos nas três áreas
estudadas com 1.094 indivíduos na área I, 643 indivíduos na área II e 599 indivíduos na
área III, totalizando 2.336 indivíduos. As demais famílias que apresentaram valores
relevantes no número de indivíduos foram Cactaceae e Caesalpinaceae, seguidos de
Apocynaceae (Tabela 3). Vale ressaltar que o maior número de plantas não significa que a
área é mais conservada ou rica em termos de diversidade, no entanto, foi constatado o
predomínio do número de arbustos em relação ao de árvores para todas as áreas estudadas.
Nas três áreas, havia a destacada presença de clareiras que exponha os solos as intempéries
como a alta radiação solar direta, podendo prejudicar o desenvolvimento das plantas.
Com relação a área I, cinco famílias detiveram 98,92% dos indivíduos
amostrados, dentre elas: Euphorbiaceae (59%), Cactaceae (18,18%), Caesalpinaceae
(11,22%), Apocynaceae (9,82%) e Malvaceae (0,7%). Verificou-se que na área II as cinco
famílias que se destacaram totalizaram 99,9% dos indivíduos: Euphorbiaceae (64,24%),
Caesalpinaceae (15,28%), Cactaceae (13,59%), Apocynaceae (5,69%) e Malvaceae
(1,1%). Na área III as famílias detiveram 99,73% dos indivíduos amostrados, dentre elas:
Euphorbiaceae (54,80%), Malvaceae (13,45%), Caesalpinaceae (11,89%), Cactaceae
(11,72%) e Apocynaceae (7,87%) (Tabela 3). Diante do exposto pode ser verificado que as
cinco famílias se demonstram predominantes, mudando apenas a ordem de distribuição
devido a variação no número de espécies que compõe.
Vale ressaltar que as famílias Euphorbiaceae, Caesalpinaceae e Mimosaceae são
as mais representativas em número de espécies na maioria dos levantamentos realizados
em área de caatinga instalada no cristalino, podendo ser explicado pela característica de
abranger a região semiárida como um todo (Amorim et al., 2005). Alguns autores as
32
definem como as famílias com maior riqueza de espécies no componente arbustivo e
arbóreo (Lacerda et al., 2005).
Tabela 3. Famílias e número de indivíduos encontrados nas três áreas de caatinga em São
João do Cariri-PB
Família
Área I
Nº I
%
Anacardiaceae
1
0,05
Apocynaceae
182
9,8
Burseraceae
1
0,05
Cactaceae
337
18,1
Caesalpinaceae
208
11,2
Combretaceae
4
0,2
Euphorbiaceae
1094
59,0
Malvaceae
13
0,7
Mimosaceae
14
0,7
Total
1.854
100,0
Nº I - número de indivíduos
Área II
Nº I
%
57
5,7
136
13,6
153
15,3
643
64,3
11
1,1
1000
100,0
Área III
Nº I
%
86
7,8
128
11,7
130
11,8
599
54,8
147
13,4
3
0,27
1093
100,0
I + II + III
Nº I
%
1
0,03
325
8,2
1
0,03
601
15,2
491
12,4
4
0,1
2336
59,1
171
4,3
17
0,4
3.947 100,0
Nas áreas estudadas, as famílias com maior número de espécies no estrato
arbustivo e arbóreo foram: Cactaceae (28,57%) com quatro espécies e Euphorbiaceae
(21,42%) representada por três espécies. Assim, nessas duas famílias estão representadas
sete espécies ou, 50% de todas as espécies registradas. As demais famílias apresentaram
apenas uma espécie (Tabela 4). Diversos autores têm citado as famílias Euphorbiaceae e
Cactaceae como de grande representatividade em vários levantamentos realizados em áreas
de caatinga (Ferreira et al., 2007).
O número de famílias e espécies observadas para as três áreas são pouco
diversificadas (Figura 2), possivelmente estando relacionado aos fatores edafoclimáticos,
bem como a pressão antrópica exercida sobre as áreas. Segundo Pereira et al. (2003) o
número de espécies vegetais é influenciado pelo uso prévio da área, com redução quando o
grau de antropização for excedente.
33
5,0
4,5
4
4,0
3
3,0
2,5
2,0
1
1
1
1
1
Combretaceae
Malvaceae
Mimosaceae
1
Caesalpinaceae
1
Burseraceae
1,0
Apocynaceae
1,5
Anacardiaceae
Nº de espécies
3,5
0,5
Euphorbiaceae
Cactaceae
0,0
Famílias
Figura 2. Número de espécies das famílias amostradas
nas áreas I, II e III em São João do Cariri-PB
As espécies da área I foram representadas principalmente por Croton sonderianus
(54,05%), Pilosocereus gounellei (13,05%) e Caesalpinia pyramidalis (11,22%), as quais
totalizaram 78,23% dos indivíduos amostrados com maior freqüência. Na área II quatro
espécies totalizaram 90,40% dos indivíduos amostrados, com freqüência distribuída entre
as espécies Croton sonderianus (51,70%), seguida de Caesalpinia pyramidalis (15,30%),
Jatropha mollisssima (12,40%) e Pilosocereus gounellei com 11,50%. Já na área III
79,75% das espécies foram representadas por Croton sonderianus, seguido de Malva sp.,
Jatropha mollisssima e Caesalpinia pyramidalis, representando em porcentagem
respectivamente 42,73; 13,45; 12,08 e 11,89%.
Nas áreas estudadas verifica-se grande número de indivíduos da espécie Croton
sonderianus em relação às demais, este fato pode ser representado pelo alto potencial de
rebrota da espécie, com base as informações do estudo realizado na região semiárida de
Serra do Mel-RN (Maracajá et al., 2003). De modo semelhante, em estudo realizado em
São João do Cariri-PB, constatou-se que além do Croton sonderianus outras espécies como
Caesalpinia pyramidalis, Aspidosperma pyrifolium e Jatropha mollissima detiveram 97%
dos indivíduos amostrados (Andrade et al., 2005). As três primeiras espécies supracitadas
se destacam em relação ao número de indivíduos para maioria dos trabalhos realizados em
áreas com vegetação caatinga (Sampaio, 1996).
34
Observou-se ainda que as famílias Anacardiaceae, Burseraceae e Cactaceae
representadas pelas espécies Spondias tuberosa (Umbuzeiro), Commiphora leptophloeos
(Imburana), Pilosocereus pachiycladus (Facheiro) e Combretum leprosum (Mofumbo)
foram encontradas apenas na área I. As espécies Cereus jamacaru (Mandacaru) e
Cnidoscolus phyllacanthus (Faveleira) foram encontradas apenas na área II. Estas
informações demostram que as áreas apresentavam diferenças, o que ressalta a
variabilidade existente entre áreas contíguas nesta particular vegetação, contudo, o número
de indivíduos não é expressivo para determinar diferenças na fisionomia da caatinga.
35
Tabela 4. Relação das espécies encontradas e número de indivíduos nas três áreas em São João do Cariri-PB
Espécie
Nome vulgar
Spondias tuberosa Arruda
Umbuzeiro
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Pereiro
Commiphora leptophloeos (Mart.) Gillett
Imburana
Pilosocereus pachiycladus Ritter
Faxeiro
Cereus jamacaru DC.
Mandacaru
Opuntia palmadora Br. et Rose
Palmatória
Pilosocereus gounellei Byl et Rowl.
Xique-xique
Caesalpinia pyramidalis Tull.
Catingueira
Combretum leprosum Mart.
Mofumbo
Cnidoscolus phyllacanthus Pax & K. Hoffm.
Faveleira
Croton sonderianus Müll. Arg.
Marmeleiro
Jatropha mollisssima Müll. Arg.
Pinhão
Malva sp.
Malva
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret
Jurema
Total
*NPC - Número de parcelas em que foi registrada a ocorrência da espécie
Área I
1
182
1
1
94
242
208
4
1002
92
13
14
1854
Nº de indivíduos por Área
Área II Área III I+II+III
1
57
86
325
1
1
1
1
20
52
166
115
76
433
153
130
491
4
2
2
517
467
1986
124
132
348
11
147
171
3
17
1000
1093
3948
*NPC
1
84
1
1
1
11
27
89
1
3
50
70
70
1
-
36
O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) encontrado para as áreas foram
de 1,47 (área I), 1,45 (área II) e 1,69 (área III). Estes valores estão próximos dos
verificados em alguns levantamentos realizados em áreas de caatinga no estado do Rio
Grande do Norte por Freitas et al. (2007) (1,44 e 0,19) e no Estado da Paraíba na região do
Cariri por Andrade et al. (2005) (1,51 e 1,43), demonstrando haver semelhança na riqueza
de espécies. O valor de H’ é maior quanto mais elevada for a diversidade, portanto as
informações obtidas do índice demonstram que a vegetação encontra-se dentro dos padrões
para a caatinga.
Segundo Christianini (1999) pode-se relacionar a maior ou menor diversidade de
uma vegetação ao seu estágio sucessional, fertilidade do solo, extensão da área amostrada,
variações micro ambientais e de acordo com Pagano et al. (1995) também pelo método de
amostragem e ou pelos critérios de inclusão dos indivíduos. Dois componentes afetam
diretamente a diversidade: a riqueza em espécies, que representa o número de espécies da
comunidade e a eqüabilidade, que expressa a distribuição dos indivíduos entre as espécies.
A análise realizada com base no índice de similaridade florística indicou que para
as três áreas a similaridade foi considerada alta (Tabela 5). Comparando a vegetação da
área I com a II, através do Índice de Jaccard, em São João do Cariri-PB, o valor foi de
0,75; a área I em relação a área III o valor foi de 0,67 e em relação as áreas II e III o índice
foi o mais elevado com valor de 0,89. Para Mueller-Dombois e Ellemberg (1974) as áreas
consideradas similares são as que apresentam índice de Jaccard superior a 0,25.
Tabela 5. Índice de similaridade de Jaccard para três áreas de caatinga em São João do
Cariri-PB
Área I
Área II
Área III
Área I
0,75
0,67
Área II
0,89
De modo geral, o conjunto de fatores responsáveis pelos níveis de similaridade
entre as áreas de caatinga analisadas podem ser explicado principalmente pelo nível de
antropização das áreas, visto que estas eram utilizadas como pastagens nativas para
diversas espécies animais.
37
CONCLUSÕES
A família Euphorbiaceae é a que apresenta o maior número de indivíduos nas três
áreas estudadas;
As espécies que foram comuns nas três áreas foram: Aspidosperma pyrifolium,
Croton sonderianus, Caesalpinia pyramidalis, Jatropha mollisssima, Malva sylvestris L.,
Pilosocereus gounellei, Spondias tuberosa e Opuntia palmadora;
A análise realizada com base no índice de similaridade florística indicou que as
três áreas tiveram altos os índices de Jaccard, pois, foram superiores a 0,25.
38
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMORIM, I. L. de; SAMPAIO, E. V. S. B.; ARAÚJO, E. de L. Flora e estrutura da
vegetação arbustivo e arbórea de uma área de caatinga do Seridó, RN, Brasil. Acta
Botânica Brasileira, v.19, n.3, p.615-623, 2005.
ANDRADE, L. A. de; PEREIRA, I. M.; LEITE, U. T.; BARBOSA, M. R. V. Análise da
cobertura de duas fitofisionomias de caatinga, com diferentes históricos de uso, no
município de São João do Cariri, Estado da Paraíba. Cerne, Lavras, v.11, n.3, p.253-262,
2005.
ARAUJO, F. S.; MARTINS, F. R. Fisionomia e organização da vegetação do carrasco no
planalto da Ibiapaba, Estado do Ceará. Acta Botanica Brasílica. v.13, n.1, p.1-13, 1999.
CHRISTIANINI, S. R. 1999. Florística, fitossociologia e comparação entre critérios de
inclusão em uma mata mesófila semidecídua no município de Agudos, SP. Tese
(Mestrado). Universidade Estadual Paulista, Botucatu.
CRONQUIST, A. The evolution and classification of flowering plants. 2.ed. New York:
New York Botanical Garden, 1988.
DRUMOND, M. A.; KIILL, L. H. P.; LIMA, P. C. F.; OLIVEIRA, M. C.; OLIVEIRA, V.
R.; ALBUQUERQUE, S. G.; NASCIMENTO, C. E. S.; CAVALCANTE, J. Estratégias
para o uso sustentável da biodiverdidade da caatinga. IN: Seminário para avaliação e
identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de
benefícios da biodiversidade do bioma Caatinga. Anais… EMBRAPA/CPATSA, UFPE,
Conservation International do Brasil, Petrolina, 2000.
FERREIRA, L. M. R.; TROVÃO, D. M. de B. M.; FREIRE, A. M.; SOUZA, B. C. de;
CARVALHO, E. C. D. de; OLIVEIRA, P. T. B. Análise fitossociológica comparativa de
duas áreas serranas de caatinga no Cariri paraibano. IN: VIII CONGRESSO DE
ECOLOGIA DO BRASIL, Caxambu, Anais... Caxambu, CEB, 2007. CD-ROM.
FREITAS, R. A. C.; SIZENANDO FILHO, F. A.; MARACAJÁ, P. B.; DINIZ FILHO, E.
T.; LIRA, J. F. B. Estudo florístico e fitosociológico do extrato arbustivo arboreo de dois
ambientes em Messias Targino Divisa RN/PB. Revista Verde de Agroecologia e
Desenvolvimento Sustentável, Mossoró, v.2, n. 1, p.135-147, 2007.
LACERDA, A. V. de; NORDI, N.; BARBOSA, F. M.; WATANABE, T. Levantamento
florístico do componente arbustivo-arbóreo da vegetação ciliar na bacia do rio Taperoá,
PB, Brasil. Acta Botânica Brasileira, v.19, n.3, p.647-656, 2005.
LEAL, I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. 2003. Ecologia e conservação da
Caatinga. Editora Universitária, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.
822p.
LUNA, R. G. de; COUTINHO, H. D. M. Efeitos do pastejo descontrolado sobre a
fitocenose de duas áreas do Cariri Oriental Paraibano. Revista Caatinga. v.20, n.2, p.0815, 2007.
39
MARACAJÁ, P. B.; BATISTA, C. H. F.; SOUSA, A. H. de; VASCONCELOS, W. E. de.
Levantamento florístico e fitossociológico do estrato arbustivo e arbóreo de duas Áreas na
Vila Santa Catarina, Serra do Mel-RN. Revista de Biologia e Ciências da Terra. v.3, n.2,
p.1-13p, 2003.
MATA NATIVA 2. Manual do usuário. Viçosa: Cientec, 2006. xii, 295p.
MOREIRA, A. R. P.; MARACAJÁ, P. B.; GUERRA, A. M. N. M.; SIZENANDO
FILHO, F. A.; PEREIRA, T. F. C. Composição florística e análise fitosociológica
arbustivo e arbóreo no município de Caraúbas-RN. Revista Verde de Agroecologia e
Desenvolvimento Sustentável, Mossoró, v.2, n. 1, p.113-126, 2007.
MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, H. Aims and methods of vegetation ecology.
New York: John Willey e Sons, 1974. 525 p.
PAGANO, N. S.; LEITÃO FILHO, H. de F.; CAVASSAN, O. Variação temporal da
composição florística e estrutura fitossociológica de uma floresta mesófila semidecídua em
Rio Claro-SP. Revista Brasileira de Biologia, v.55, p.241-258, 1995.
PEREIRA, I. M. ANDRADE, L. A. de; COSTA, J. R. M.; DIAS, J. M. Regeneração
natural em um remanescente de caatinga sob diferentes níveis de perturbação, no agreste
paraibano. Acta Botânica Brasileira. v.15, n.3, p.413-426, 2002.
PEREIRA, I. M.; ANDRADE, L. A.; SAMPAIO, E. V. S. B.; BARBOSA, M. R. V. Usehistory effects on structure and flora of caatinga. Biotropica. v.35, n.2, p.154-165, 2003.
RODAL, M. J. N. Fitossociologia da vegetação arbustivo-árborea em quatro áreas de
caatinga em Pernambuco. 1992. 198 f. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de
Campinas, Campinas.
RODAL, M. J. N. F; SAMPAIO, E. V. S. B.; FIGUEIREDO, M. A. 1992. Manual sobre
métodos de estudos florísticos e fitossociológicos – ecossistema caatinga. Sociedade
Botânica do Brasil, Brasília. 32p.
RODRIGUES, R. R. Análise estrutural das formações florestais ripárias. In: BARBOSA,
L. M. (Coordenador). Simpósio sobre mata ciliar. Campinas. Anais... Campinas. Fundação
Cargill, p.99-119, 1989.
SALCEDO, I. H. Fertilidade do solo e agricultura de subsistência: desafios para o
semiárido nordestino. In: FERTBIO, Lages, Anais... Lages, SBCS, 2004. CD-ROM.
SAMPAIO, E. V. S. B. Fitossociologia. In: SAMPAIO, E, V. S. B.; MAYO, S. J.;
BARBOSA, M. R. V. (Eds.). Pesquisa botânica nordestina: progresso e perspectivas.
Recife: Sociedade Botânica do Brasil/Seção Regional de Pernambuco, p.203-230, 1996.
SANTANA, J. A. da S.; SOUTO, J. S. Diversidade e estrutura fitossociológica da caatinga
na estação ecológica do Seridó-RN. Revista de Biologia e Ciências da Terra, v.6, n.2,
p.232-242, 2006.
SHANNON, C. E. WEAVER. The mathematical theory of communication. University
of Liois. Estados Unidos. 1949.
40
Capítulo III
Impacto do Pastejo Caprino Sobre a Vegetação da Caatinga no Semiárido da Paraíba
41
Impacto do Pastejo Caprino Sobre a Vegetação da Caatinga no Semiárido da Paraíba
Resumo: Objetivou-se com este experimento avaliar o efeito do pastejo caprino sobre a
estrutura do estrato herbáceo, sobre o consumo da serrapilheira e caracterizar
bromatologicamente o pool da serrapilheira, da vegetação herbácea e de três espécies do
estrato arbustivo-arbóreo em uma caatinga do semiárido da Paraíba. O experimento foi
conduzido na Estação Experimental Bacia Escola/UFPB, em São João do Cariri-PB, nos
anos de 2007 e 2008. Para a análise da estrutura das espécies herbáceas analisou-se o
índice de cobertura de cada espécie em trinta unidades experimentais por tratamento.
Também foi monitorado o índice de cobertura total do solo nas mesmas unidades
amostrais. As espécies monitoradas foram Cyperus uncinulatus schander, Paspalum
scutatum, Diodia teres Walt, Aristida adscensionis L., Chamaecrista desvauxii (Collad)
Fillip e Evolvulus filipes mest. Para determinação do consumo de serrapilheira, foram
analisados quinze pontos de cobertura vegetal com leituras semanais e realizadas coletas
mensais em outros quinze pontos, cinco por tratamento, para realização de pesagens
mensais. Os tratamentos consistiram em três taxas de lotação distribuídos em três piquetes:
T1 (3,1 an/ha), T2 (1,5 an/ha) e T3 (0 an/ha). As espécies do estrato arbustivo-arbóreo
coletadas para análise bromatológica foram Croton sonderianus Mull. Arg. (marmeleiro),
Malva sp. (malva) e Aspidosperma pyrifolium Mart. (pereiro). Coletou-se amostras do pool
de espécies do estrato herbáceo e da serrapilheira. Realizou-se uma amostra composta das
espécies no período onde são consumidas pelos animais, simulando o pastejo. Diante dos
resultados, observou-se que o pastejo promoveu redução intensa na freqüência das espécies
monitoradas, sendo as mais tolerantes Aristida adscensionis L. e Evolvulus filipes mest.
Foi verificado efeito do pastejo sobre o consumo de serrapilheira, notadamente no
tratamento com maior taxa de lotação, ocasionado uma redução média da cobertura de
80% para 3%. Os teores de nutrientes na matéria seca do pool das espécies herbáceas
indicam que as ervas da caatinga apresentam qualidade alta na época chuvosa, bem como
as espécies do estrato arbustivo-arbóreo quando consumidas. Foi verificado valor médio de
7,8% de proteína bruta para o pool de estrato herbáceo, 7,3% para o marmeleiro, 6,6% para
o pereiro e 9,4% para a malva-branca. A serrapilheira apresentou redução no teor de
proteína bruta e lignina ao longo do período seco. As variáveis qualitativas da forragem
analisadas
mostraram-se heterogêneas
devido
à variabilidade encontrada neste
ecossistema.
Palavras-chave: estrato herbáceo, serrapilheira, pulso de precipitação, taxa de lotação
42
Impact of Grazing by Goats on the Vegetation of the Caatinga in the Semiarid of
Paraíba
Abstract: The purpose of this experiment was to evaluate the effect of grazing by goats on
the structure of six species the herbaceous stratum and the consumption of the litter and to
evaluate the bromatological composition of the litter pool and herbaceous vegetation, and
of three species of shrubby-arboreal stratum in one area of “caatinga” in the semiarid of
Paraiba. The experiment was lead in the Experimental Station of the UFPB, in São João do
Cariri-PB, in the years of 2007 and 2008. It was analyzed the index of covering for each
species and the index of total covering of the ground in thirty experiments united for
treatment. For the determination of the litter consumption, there had been analyzed fifteen
points of vegetal covering over the litter, with weekly readings (index of percent of
covering) and we made monthly collections in other fifteen points, five per treatment, for
accomplishment of monthly weighing. The treatments had consisted of three stocking rates
distributed in three paddocks; T1 (3,1 an/ha), T2 (1,5 an/ha) e T3 (0 an/ha). For the analysis
of the data we grouped the readings for dates in the respective weeks. The monitored
species were Cyperus uncinulatus schander, Paspalum scutatum, Diodia teres Walt,
Aristida adscensionis L., Chamaecrista desvauxii (Collad) Fillip and Evolvulus filipes
mest, presenting average frequencies in the total area of 45.6; 87.3; 88.3; 79; 49.7 and
84%, respectively. Acccording the results, it was observed that pasturing promotes intense
reduction in the frequency of the monitored species, being the most tolerant Aristida
adscensionis L. and Evolvulus filipes mest. It was verified effect of pasturing on the litter
consumption, mainly in the treatment with bigger tax of allotment, which caused an
average reduction of the covering from 80% to 3%. It was verified that the levels of
nutrients in the dry matter in the pool of herbaceous species indicate that the herbs from the
caatinga have good quality in the rainy season as the species of shrubby-arboreal stratum
when consumed. It was found value of crude protein 7,8% in the pool of herbaceous
stratum, 7,3% in marmeleiro, 6,6% in pereiro and 9,4% in malva. The litter showed a
reduction in crude protein and lignin during the dry period. The qualitative variables that
were analyzed for the forage are heterogeneous due to variability found in this ecosystem.
Keywords: herbaceous layer, litter, rainfall pulses, stocking rates
43
INTRODUÇÃO
O efeito da herbivoria promovido pelo pastejo caprino é constatado em áreas de
caatinga, seja por meio da extinção de espécies e/ou por meio de ações como o anelamento
que podem causar alterações na composição e estrutura da vegetação.
De acordo com Leal et al. (2003) os caprinos são importantes herbívoros da
caatinga, pois utilizam parte da maioria das espécies de árvores e arbustos encontrados na
região como forragem. São considerados muito generalistas, uma vez que se alimentam de
plântulas e todas as partes de plantas adultas da maioria das espécies presentes na área.
Ainda segundo os autores supracitados, alguns estudos relatam a interferência dos caprinos
na mudança da estrutura da vegetação, uma vez que podem reduzir a capacidade de
regeneração de algumas espécies arbóreas mais consumidas. Possivelmente, estes animais
alteram a fenologia de certas espécies, podendo comprometer a produção de frutos e
sementes, alterando a capacidade de regeneração da vegetação e a quantidade do banco de
sementes.
Embora a liteira seja imprescindível fonte de alimentos para os animais no
período seco, constitui-se como a principal fonte de nutrientes e proteção do solo pela
cobertura propiciada, oferecendo condições de equilíbrio ao ecossistema. Porém, o
consumo acentuado desse material pelos animais certamente irá induzir um desequilíbrio
no ecossistema, devido ao desbalanço de nutrientes promovido pelos mesmos. De acordo
com Crispim et al. (2004) as conseqüências da herbivoria aos ecossistemas dependem,
naturalmente, da abundância de herbívoros e sua movimentação. Assim, a taxa de lotação é
uma ferramenta de manejo que pode auxiliar na manutenção da vegetação.
Outro aspecto que deve ser abordado é a compreensão da dinâmica do
crescimento da vegetação local com as interações climáticas. Em função destas variações
os agroecossistemas funcionam através dos pulsos de disponibilidade de recursos,
controlados fortemente pela água (Menezes et al., 2005). Nesse sentido, a compreensão de
como estes pulsos desencadeia eventos sobre a vegetação é de extrema importância para a
estabilização de estratégias de utilização racional dos recursos locais da região, bem como
ajudam a explicar a adaptabilidade e persistência de muitas espécies neste ecossistema.
O conhecimento da produção de matéria seca total por espécie é fundamental para
se determinar a carga animal por área. Avaliações do potencial forrageiro em diferentes
áreas do semiárido mostram que existem grandes diferenças quanto ao rendimento
forrageiro e, principalmente, quanto ao valor nutritivo. O conhecimento da composição
química das diferentes opções de forragem, ressaltando a serrapilheira no período seco e o
44
estrato herbáceo no período chuvoso, é fundamental para o auxílio na formulação de
concentrados suplementares para estes períodos.
Fica claro que, o valor nutritivo das espécies nativas precisa ser constantemente
monitorado, visto que apresentam freqüentes modificações na sua fenologia em função das
condições climáticas e do pastejo em si.
Neste sentido, objetivou-se com este experimento avaliar o efeito de três taxas de
lotação contínua por caprinos sobre a estrutura de seis espécies do estrato herbáceo e sobre
o consumo da serrapilheira, além de caracterizar bromatologicamente o pool da
serrapilheira, da vegetação herbácea e de três espécies do estrato arbustivo-arbóreo em
uma caatinga no semiárido da Paraíba.
45
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na Estação Experimental Bacia Escola pertencente à
UFPB, localizado no município de São João do Cariri-PB, nas coordenadas 7o23’30”S e
36o31’59”W, numa altitude de 458 m. O município está inserido na zona fisiográfica do
Planalto da Borborema, fazendo parte da microrregião do Cariri Oriental.
Segundo a classificação de Köppen, predomina na região o clima Bsh - semiárido
quente com chuvas de verão. Apresenta temperatura média mensal máxima de 27,2 °C e
mínima de 23,1 °C, precipitação média em torno de 400 mm/ano e umidade relativa do ar
70%.
A área experimental, inserida no contexto de vegetação da caatinga, compreendeu
9,6 ha, divididos em três piquetes. Os tratamentos consistiram em três taxas de lotação,
assim distribuídos: T1 (3,1 an/ha), T2 (1,5 an/ha) e T3 (0 an/ha). Foram utilizados caprinos
machos, adultos, sem padrão de raça definido. Utilizou-se um sistema de pastejo sob
lotação contínua e fixa durante o período experimental. A entrada desses animais nos
piquetes ocorreu em agosto/2007 (semana 12) e permaneceram até outubro/2008.
Análise do estrato herbáceo
Foram selecionadas as seis espécies do estrato herbáceo com maior freqüência
encontrada na área estudada (Parente et al., 2008a). Esse monitoramento foi realizado em
30 unidades experimentais de 1,0 m2 por tratamento, totalizando noventa na área total
(Figura 1). As unidades experimentais foram definidas ao longo dos transectos localizados
em cada piquete, de modo a representar a área o máximo possível. As avaliações foram
realizadas nos anos de 2007 e 2008 durante toda a estação de crescimento das plantas.
46
Tratamento I
(3,1 an/ha)
Tratamento II
(1,5 an/ha)
Tratamento III
(0 an/ha)
Figura 1. Ilustração esquemática dos três transectos paralelos e das unidades
experimentais (1m2) para leituras da estrutura do estrato herbáceo em São João
do Cariri-PB
Foi avaliado o índice de cobertura do solo por cada espécie e o índice de cobertura
total do solo em cada parcela. As leituras foram realizadas semanalmente, totalizando 19
observações no ano de 2007 (maio/2007 a outubro/2007) e 23 leituras no ano de 2008
(março/2008 a setembro/2008).
Para análise dos dados os índices de cobertura foram agrupados por semana em
cada tratamento. Utilizou-se uma escala visual para as estimativas de cobertura do solo
variando de 0 a 100%, onde foi considerado 0% de cobertura quando o solo encontrava-se
completamente exposto e 100% quando o solo estava completamente coberto pela
vegetação.
Análise da serrapilheira
O desaparecimento da liteira foi determinado de duas formas, sendo estas; uma
leitura visual (percentual de cobertura) e uma quantificação através de pesagens. Para
determinação do percentual de cobertura da serrapilheira (%) foram realizadas leituras
visuais em um quadrante de 1,3 m2, cujo tamanho corresponde ao valor aproximando da
copa das árvores da espécie Caesalpina pyramidalis Tul. (catingueira), na área
47
experimental (Éder-Silva, dados não publicados). Utilizou-se um fio de náilon para
demarcar o quadrante visando-se evitar interferência sobre o comportamento do animal em
pastejo. O quadrante foi demarcado sob a copa das árvores de catingueira, por esta espécie
apresentar maior freqüência dentre as arbóreas na área estudada (Ver Capítulo I), (Parente
et al., 2008b).
Em cada piquete experimental foram utilizados cinco quadrantes, onde foram
realizadas leituras semanais, considerando uma escala de 0 a 100% da cobertura do solo.
As avaliações foram feitas no período de agosto/2007 a março/2008, totalizando 24 leituras
correspondentes ao período seco. Para análise dos dados os valores obtidos foram
agrupados por data em cada tratamento.
Para a avaliação pela forma da quantificação, foram previamente definidos cinco
quadrantes de 0,25 m2 cada, por piquete experimental, sendo estes demarcados sob a copa
de árvores de catingueira (Figura 2). Toda a serrapilheira em cada quadrante foi coletada
rente ao solo, levada a estufa de ventilação forçada a 65ºC até atingir peso constante. O
material foi pesado e devolvido as áreas respectivas, procurando-se distribuir na superfície
do solo de forma mais uniforme possível. Essas coletas foram realizadas mensalmente
(setembro/2007 a março/2008), totalizando sete leituras.
Figura 2. Imagens dos pontos amostrados para leituras e coleta da serrapilheira em São
João do Cariri-PB
Realizaram-se para ambas as avaliações análise descritiva em função dos dados,
permitindo-se calcular as médias e os desvios-padrão.
48
Caracterização bromatológica
Para a caracterização bromatológica foram identificadas e selecionadas três
espécies do estrato arbóreo-arbustivo, sendo estas; Croton sonderianus Mull. Arg., Malva
sp. e Aspidosperma pyrifolium Mart. Além disso, foram realizadas coletas do pool de
espécies do estrato herbáceo e do pool de serrapilheira. Todas as coletas foram realizadas
nas épocas do ano em que estas forrageiras são consumidas (observação in loco), tentandose simular o pastejo animal. O critério utilizado para a escolha das espécies do estrato
arbustivo-arbóreo foi à maior freqüência destas na área monitorada (Parente et al., 2008).
O estrato herbáceo, vegetação sub-arbustiva, foi coletado no período chuvoso (maio/2007 e
maio/2008) e a liteira no período seco (outubro/2007 a fevereiro/2008). Para todas as
espécies, foram coletadas amostras compostas em todos os piquetes da área experimental
de forma a torná-las o máximo representativo da vegetação consumida.
Para a análise da composição química, o material amostrado foi levado para o
laboratório, colocado em estufa a 65º C até atingir peso constante, preparado para
determinação da porcentagem de matéria orgânica (MO), cinzas (CZ), proteína bruta (PB),
fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), proteína insolúvel em
detergente ácido (PIDA) lignina, celulose e hemicelulose, segundo metodologia descrita
por Silva e Queiroz (2002).
Realizou-se para as avaliações análise descritiva em função dos dados,
permitindo-se calcular e interpretar as médias.
49
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Evolução da cobertura do solo pelo estrato herbáceo
Constatou-se que a espécie Cyperus uncinulatus Schrad mostrou-se bastante
sensível ao déficit hídrico, tendo desaparecido no início de junho (Figura 1), antes da
entrada dos animais nos piquetes dos tratamentos I e II. Ressalta-se que dentre as espécies
estudadas, esta foi a que completou o ciclo fenológico mais rápido, independente do ano,
ou seja, no menor intervalo de tempo esta espécie floresceu, frutificou e iniciou o processo
de senescência.
No que se refere à resposta desta espécie aos pulsos de precipitação, verificou-se
que no ano de 2007, esta respondeu positivamente, ou seja, ressurgiu em função da
precipitação pluvial registrada no local, suficiente para desencadear uma resposta
fisiológica por parte da planta. Andrade et al. (2006) mencionam que os pulsos de
precipitação são indutores das atividades fisiológicas da vegetação da caatinga, sendo
responsável por desencadear os processos de crescimento e desenvolvimento das plantas.
De modo que sua ocorrência foi de (10%) (Figura 3) possivelmente em função da menor
quantidade de precipitação pluvial e conseqüentemente menor conteúdo de água no solo,
quando comparado ao ano de 2008, cujo índice de cobertura foi de 25%.
50
360
340
320
300
280
260
240
Precipitação (mm)
0
220
0
200
50
180
5
160
100
140
10
120
150
100
15
80
200
60
20
40
250
20
Cobertura do solo (%)
A - 2007
25
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
360
340
320
300
280
260
240
Precipitação (mm)
0
220
0
200
50
180
5
160
100
140
10
120
150
100
15
80
200
60
20
40
250
20
Cobertura do solo (%)
A - 2008
25
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
Figura 3. Evolução da cobertura do solo pela espécie Cyperus uncinulatus
schrad (A), nas áreas submetidas a diferentes intensidades de pastejo
por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da
Paraíba.
51
Com relação à presença dos animais, não foi observado efeito no ano de 2007, já
que quando os mesmos entraram nos piquetes, a espécie Cyperus uncinulatus Schrad já
havia desaparecido. Já em 2008, verificou-se que os animais não interferiram na sua
estrutura em função do seu hábito de pastejo, uma vez que esta espécie apresentou-se de
forma semelhante para os três tratamentos. Observou-se uma alta variabilidade quantitativa
desta espécie nos diferentes tratamentos decorrente da variabilidade florística do estrato
herbáceo entre os piquetes.
A espécie Paspalum scutatum apresentou variação ao longo do período avaliado
em decorrência dos pulsos de precipitação que desencadeiam novo crescimento em função
de um evento ocorrido. Todavia, fica evidenciada uma diminuição acentuada até o seu
desaparecimento após a entrada dos animais nos piquetes (semana 12) no ano de 2007
(Figura 4). Posteriormente, observou-se redução nos índices de cobertura nos tratamentos I
e II em relação ao tratamento III. No início do ano de 2008, em função das precipitações
pluviais ocorridas, verificou-se grande quantidade desta espécie em todos os tratamentos,
independente da lotação.
Constatou-se ainda, que não houve redução em função do pastejo, possivelmente
pelo hábito de pastejo dos caprinos, que preferem pastejar arbustos e ramos. Outro aspecto
a ser considerado é a variabilidade existente entre os próprios piquetes, haja vista os
valores de índices de cobertura, observados no início do monitoramento das áreas
estudadas (maio/2007) para esta espécie.
52
360
340
320
300
280
260
240
Precipitação (mm)
0
220
0
200
50
180
5
160
100
140
10
120
150
100
15
80
200
60
20
40
250
20
Cobertura do solo (%)
B - 2007
25
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
Precipitação (mm)
360
340
320
300
280
260
240
0
220
0
200
50
180
5
160
100
140
10
120
150
100
15
80
200
60
20
40
250
20
Cobertura do solo (%)
B - 2008
25
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
Figura 4. Evolução da cobertura do solo pela espécie Paspalum scutatum
(B), nas áreas submetidas a diferentes intensidades de pastejo
por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri
da Paraíba.
A espécie Diodia sp. mostrou-se sensível aos pulsos de precipitação e ao pastejo
dos animais, tendo sido expressivo o efeito do consumo dos mesmos logo no início da
entrada dos animais. Foi evidenciada a redução desta espécie no ano de 2007 nos piquetes
pastejados, mostrando a sua importância como parte da dieta dos caprinos (Figura 5). No
ano de 2008 não foi verificado efeito do consumo sobre esta espécie, provavelmente em
função das chuvas ocorridas ao longo do período chuvoso, resultando em um crescimento
53
constante das plantas. Verificou-se também, que ao final do período chuvoso, os animais
passaram a consumir esta espécie, reduzindo a mesma nos piquetes pastejados (T1 e T2)
quando comparado ao piquete sem pastejo (T3). Já para o ano de 2008 a sua redução
ocorreu somente no final do período chuvoso nos piquetes pastejados, mantendo-se por um
maior período na área sem pastejo, confirmando o consumo pelos animais.
No tratamento I e II, mesmo com a presença dos animais, esta espécie manteve-se
persistente durante a época chuvosa. O consumo ocorreu mais acentuadamente no início do
período seco com redução dos brotos e ramos. No tratamento III (sem animais) esta
espécie tornou-se parcialmente predominante, uma vez que as demais espécies
desapareceram em função da intensidade do período seco, reduzindo a competição entre as
mesmas, exceto a espécie Aristida adscensionis L. que permaneceu no período seco.
54
360
340
320
300
280
260
240
Precipitação (mm)
0
220
0
200
50
180
5
160
100
140
10
120
150
100
15
80
200
60
20
40
250
20
Cobertura do solo (%)
C - 2007
25
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
360
340
320
300
280
260
240
Precipitação (mm)
0
220
0
200
50
180
5
160
100
140
10
120
150
100
15
80
200
60
20
40
250
20
Cobertura do solo (%)
C - 2008
25
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
Figura 5. Evolução da cobertura do solo pela espécie Diodia sp. (C), nas áreas
submetidas a diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1
an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba.
A espécie Aristida adscensionis L. mostra-se altamente adaptada as condições do
semiárido, persistindo no período seco. Desempenha papel fundamental sobre a
manutenção da cobertura vegetal do solo por apresentar maior índice de cobertura em toda
a área monitorada. Apresenta, ainda, um incremento constante no seu percentual de
cobertura de 35% (Figura 6). Isso, provavelmente, é decorrente da eliminação das demais
espécies mais palatáveis e do seu crescimento em condições de escassez de água. O
consumo desta espécie ocorreu somente em meados do período seco quando as demais
55
espécies foram consumidas pelos animais e a disponibilidade de liteira foi reduzida
consideravelmente.
Precipitação (mm)
360
340
320
300
280
260
240
0
220
0
200
50
180
10
160
100
140
20
120
150
100
30
80
200
60
40
40
250
20
Cobertura do solo (%)
D - 2007
50
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
Precipitação (mm)
360
340
320
300
280
260
0
240
0
220
50
200
10
180
100
160
20
140
150
120
30
100
200
80
40
60
250
40
50
20
Cobertura do solo (%)
D - 2008
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
Figura 6. Evolução da cobertura do solo pela espécie Aristida adscensionis
L. (D), nas áreas submetidas a diferentes intensidades de pastejo
por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri
da Paraíba.
A espécie Chamaecrista desvauxii (Collad) Fillip também se mostrou sensível aos
pulsos de precipitação uma vez que a mesma retomou seu crescimento em função das
chuvas ocorridas (Figura 7), bem como ao pastejo animal intensificando sua redução no
56
momento da entrada dos animais nos piquetes em 2007. No ano de 2008, não foi
observado oscilações e/ou flutuações no crescimento em função desses pulsos. Este
resultado decorre, possivelmente, da grande quantidade de precipitação pluvial que ocorreu
ao longo do ano, contribuindo para a manutenção do conteúdo de água no solo na maioria
dos meses inseridos no período chuvoso, propiciando o desenvolvimento constante de
grande parte das espécies do estrato herbáceo. De acordo com Andrade et al. (2006) os
ambientes semiáridos não são caracterizados apenas pela limitada quantidade de água, mas
também, pela variação temporal e espacial das precipitações.
Observou-se ainda redução muito rápida desta espécie em função do pastejo. Este
fato pode ser explicado, possivelmente, em função desta se tratar de uma forrageira com
alta aceitabilidade, que é rapidamente consumida pelos animais. Tendo sido constatado no
ano de 2008 um predomínio desta espécie no piquete sem pastejo (T3), confirmando o
consumo da mesma pelos animais. Nesse sentido, o pastejo deve ser monitorado a fim de
se minimizar a redução desta espécie na vegetação. Thurow e Hussen (1989) afirmam que
é necessário o conhecimento da resposta temporal da vegetação a estratégias de pastejo
seletivo, visando à sustentabilidade produtiva da pastagem.
57
360
340
320
300
280
260
240
Precipitação (mm)
0
220
0
200
50
180
5
160
100
140
10
120
150
100
15
80
200
60
20
40
250
20
Cobertura do solo (%)
E - 2007
25
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
360
340
320
300
280
260
240
Precipitação (mm)
0
220
0
200
50
180
5
160
100
140
10
120
150
100
15
80
200
60
20
40
250
20
Cobertura do solo (%)
E - 2008
25
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
Figura 7. Evolução da cobertura do solo pela espécie Chamaecrista
desvauxii (Collad) Fillip (E), nas áreas submetidas a diferentes
intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba.
Com relação a espécie Evolvulus filipes verificou-se que a mesma não sofreu
influência considerável do pastejo caprino nos anos observados, indicando que esta não é
tão consumida pelos animais no período chuvoso (Figura 8). No entanto mostrou-se
sensível aos pulsos de precipitação, com respostas quase imediatas as chuvas ocorridas.
Constatou-se ainda o seu predomínio nos anos avaliados na área com o tratamento I (3,1
an/ha), demonstrando a variabilidade entre as áreas, mesmo estas sendo contíguas. Amorim
58
et al. (2005) corroboram com esta assertiva ao afirmar que a caatinga apresenta grande
variação fisionômica, principalmente quanto à densidade e ao porte das plantas.
Precipitação (mm)
360
340
320
300
280
260
240
0
220
0
200
50
180
5
160
100
140
10
120
150
100
15
80
200
60
20
40
250
20
Cobertura do solo (%)
F - 2007
25
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
F - 2008
25
350
Cobertura do solo (%)
250
15
200
10
150
100
5
Precipitação (mm)
300
20
50
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
0
20
0
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
Figura 8. Evolução da cobertura do solo pela espécie Evolvulus filipes (F).,
nas áreas submetidas a diferentes intensidades de pastejo por
caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da
Paraíba.
Com relação ao efeito do pastejo caprino sobre a cobertura total do estrato
herbáceo verificou-se que o índice de cobertura se manteve constante nas áreas até meados
59
do período seco (Figura 9) embora tenha sido observada a morte da maioria das espécies
que compõe o estrato herbáceo. Isto decorre do capim Panasco (Aristida adscensionis L.)
persistir na área por um período de tempo maior, em decorrência da sua adaptação as
condições edafo-climáticas locais.
Em virtude da redução quase total das outras espécies, não ocorre competição
desta com as demais por nutrientes e água, acarretando predomínio da mesma em toda a
área o que garante a cobertura do solo por um intervalo de tempo maior. Todavia, em
meados do período seco, após o consumo da liteira remanescente do estrato arbóreo, os
animais passam a consumir esta espécie, promovendo uma redução drástica na cobertura
do solo (observação in loco) nas áreas pastejadas. Diferentemente ocorre no tratamento III
(sem pastejo), onde esta espécie permanece juntamente com a serrapilheira por todo o
período seco até o início do período chuvoso, garantindo assim o acúmulo de matéria
orgânica ao solo e propiciando a manutenção da cobertura vegetal, reduzindo a exposição
do solo e minimizando condições propícias a erosão.
Lima Júnior (2006) objetivando caracterizar a dieta de caprinos em trabalho
conduzido em São João do Cariri-PB verificou que o capim panasco teve a maior
participação na dieta com percentual de 38%. Araújo Filho et al. (1996) também
reportaram consumo de capim panasco na dieta de caprinos, apresentando percentual de
61,2% na dieta dos mesmos.
60
360
340
320
300
280
260
80
20
240
0
220
0
200
50
180
20
160
100
140
40
120
150
100
60
60
200
40
80
Cobertura total (%)
250
Precipitação (mm)
CT - 2007
100
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
360
340
320
300
280
260
240
Precipitação (mm)
0
220
0
200
50
180
20
160
100
140
40
120
150
100
60
80
200
60
80
40
250
20
Cobertura total (%)
CT - 2008
100
Tempo, dias
T1
T2
T3
Precipitação
Figura 9. Evolução da cobertura total do solo nas áreas submetidas a
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha;
T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba.
Evolução da serrapilheira
No que se refere à variação da cobertura vegetal pela serrapilheira ao longo do
período experimental para os três tratamentos avaliados evidenciou-se o efeito do pastejo
sobre a cobertura do solo, sugerindo o desaparecimento como conseqüência do consumo
pelos animais (Figura 10).
61
Percebe-se no decorrer das avaliações redução acentuada da cobertura vegetal nos
piquetes com os tratamentos I (3,1 an/ha) e II (1,5 an/ha). Contrariamente, não se observou
esta redução no tratamento III (controle - sem animais). Estes resultados ressaltam a
importância da mesma na alimentação desses animais.
Figura 10. Evolução do desaparecimento da serrapilheira nas áreas submetidas a
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba.
De acordo com Mesquita et al. (1989) os caprinos passam a utilizar como
alimento as folhas de espécies decíduas a medida que a estação seca avança. Assim, podese inferir que taxas de lotações adequadas precisam ser validadas nesse ecossistema para
evitar alterações bruscas, como perda de variabilidade das espécies vegetais, fertilidade de
solo e erosão, efeito estes influenciáveis pela serrapilheira e cobertura vegetal como um
todo.
Observou-se ainda variação no peso da serapilheira ao longo do período
experimental para os três tratamentos avaliados (Figura 11), confirmando-se a tendência de
desaparecimento da serrapilheira nas áreas pastejadas, sendo este fator importante na
tomada de decisão quanto ao manejo dos animais.
62
Figura 11. Evolução do desaparecimento da serrapilheira nas áreas submetidas a
diferentes pressões de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha;
T3: 0 an/ha), no Cariri da Paraíba.
O desaparecimento da serrapilheira supostamente pelo consumo dos animais
(Figura 9), redução mais acentuada no peso (gramas de MS/m2/dia) da serrapilheira nas
áreas pastejadas em relação à área não pastejada, confirma a ação do pastejo animal sobre a
quantidade de serrapilheira acumulada sobre o solo.
Lima Júnior (2006) observou predominância no consumo de serrapilheira com o
avançar do perído seco. O autor encontrou participação de 43% desse estrato na dieta dos
caprinos, ressaltando que isto ocorre em função da diminuição de ervas e arbustos na
vegetação.
Embora a caatinga seja um dos ecossistemas brasileiros mais degradados, em
torno de 60% (Castelletti et al., 2003), há poucos estudos que avaliem o efeito da
herbivoria por caprinos sobre a manutenção de populações de plantas e sobre a estrutura
dos tipos de vegetação que compõe essa vegetação, especificamente sobre efeito na
cobertura vegetal.
A composição bromatológica do pool da serrapilheira e do estrato herbáceo na
área experimental encontra-se na Tabela 1. Foi verificada redução no percentual de
proteína bruta de 6,30% para 3,65% para o pool da liteira ao longo do tempo. Logo no
início do período seco ocorre queda acentuada das folhas das espécies do estrato arbustivoarbóreo que passam a constituir parte da serrapilheira, evidenciado pelo hábito caducifólio
da grande maioria das espécies da caatinga, o que justifica os maiores valores de PB
encontrados no mês de outubro. Com o avançar do período seco rapidamente as folhas das
63
espécies arbóreas são consumidas em função da extinção do estrato herbáceo bem como
dos ramos e das espécies arbustivas.
Tabela 1. Composição bromatológica, em percentagem, do pool da serrapilheira ao longo
do período seco e do estrato herbáceo no período chuvoso em São João do
Cariri-PB
Variáveis
PB
FDN
FDA
PIDA
CEL
HEM
LG
Período de coleta
Outubro1 Novembro1 Dezembro1 Janeiro1
6,30
4,74
5,39
5,27
52,07
55,53
50,85
61,28
48,39
51,84
44,93
55,09
10,93
6,47
5,72
3,04
28,51
33,24
23,64
31,60
7,67
3,68
5,92
6,18
22,33
16,64
13,37
6,84
Fevereiro1
3,65
64,91
60,33
2,57
29,54
5,92
6,03
Maio2 Maio3
7,46
8,21
66,57 63,24
51,59 50,63
3,87
3,62
20,33 29,31
9,80 12,90
7,90 11,92
1
referentes ao pool da serrapilheira (coletas de out/2007 a fev/2008).
referentes ao pool do estrato herbáceo (2007 e 2008).
MO- matéria orgânica; CZ- cinzas; PB- proteína bruta; FDN- fibra em detergente neutro; FDA- fibra em
detergente ácido; PIDA- proteína insolúvel em detergente ácido; CEL- celulose; HEM- hemicelulose; LGlignina
2,3
Diferentemente, o pool do estrato herbáceo apresentou valores superiores de PB
com valor médio de 7,8%, sendo responsável por parte qualitativa da dieta dos rebanhos.
Andrade (2008) ressalta que dentro do ecossistema caatinga existe uma grande diversidade
de flora, onde o estrato herbáceo é consumido em grande parte pelos animais. Vale
ressaltar que os valores de PIDA encontrados para as forragens analisadas são
considerados altos, ressaltando que parte da proteína está associada a FDA, portanto
indisponível para o animal, o que justifica a redução no valor nutritivo no período seco.
Com relação à variação entre anos estes valores podem ser justificados pela
composição variável do pool das espécies herbáceas, que variam entre anos, bem como
alterações nos aspectos fenológicos entre anos para a mesma espécie que determinam seu
valor nutritivo. Andrade (2008) relatou encontrar diferenças no estádio fenológico para a
mesma espécie em áreas próximas de coletas, afirmando que as espécies herbáceas da
caatinga não apresentam uniformidade no ciclo fenológico.
Para FDN observou-se maior percentual (61,28%) no mês de fevereiro. Este valor
se justifica por neste período grande parte das folhas pertencentes às espécies do estrato
arbóreo-arbustivo, que haviam caído no início do período seco, já teriam sido consumidas,
ficando como remanescente apenas partes lenhosas das espécies arbóreas que apresentam
maiores teores de fibras. O percentual de FDA variou de 44,93 a 60,33% seguindo a
mesma tendência do percentual de FDN para o pool da serrapilheira.
64
A lignina apresentou redução no pool de serrapilheira (22,33 para 6,03%) em
função da redução do material de maior qualidade disponível e, provavelmente em função
da redução dos teores de taninos existentes nas folhas destas espécies quando ainda
“verdes” com o início do processo de senescência. O teor médio de lignina para o pool do
estrato herbáceo foi de 9,91%. Este valor está próximo aos valores médios dos teores de
lignina para as espécies tropicais, além de estas estarem se desenvolvendo em ambientes
com alta temperatura que favorece a lignificação e redução dos metabólitos solúveis.
O teor de cinzas variou de 17,77 a 34,61% para o pool de serrapilheira ao longo
do período seco. Já para o pool do estrato herbáceo esta variável apresentou valor médio de
15,56%. Pinto (2008) encontrou percentuais que variaram de 8,21% a 15,03% para o
estrato herbáceo trabalhando em área de caatinga no Ceará.
A composição bromatológica da malva, do pereiro e do marmeleiro encontra-se
na Tabela 2. A malva apresentou valor protéico de 9,40%, o marmeleiro apresentou valor
de 7,30% e o pereiro apresentou valor de 6,60%.
Tabela 2. Composição bromatológica, em percentagem, das folhas do pereiro, marmeleiro
e da malva em São João do Cariri-PB
Variáveis
MO
CZ
PB
FDN
FDA
PIDA
CEL
HEM
LG
Pereiro1
83,51
16,48
6,60
52,04
32,11
3,79
12,18
19,9
10,09
Marmeleiro2
91,49
8,05
7,30
45,73
43,57
8,51
16,68
2,15
12,84
Malva-branca2
90,79
9,20
9,40
32,90
31,87
4,65
6,63
1,02
5,46
1
coletado em 11/2007
coletado em 07/2008
MO- matéria orgânica; CZ- cinzas; PB- proteína bruta; FDN- fibra em detergente neutro; FDA- fibra em
detergente ácido; PIDA- proteína insolúvel em detergente ácido; CEL- celulose; HEM- hemicelulose; LGlignina
2
Moreira et al. (2006) relataram valores de PB de 9,21% para a malva, 13,10%
para o marmeleiro e 11,36% para o pereiro no sertão de Pernambuco, em coleta realizada
no período chuvoso.
Neste trabalho foram encontrados valores inferiores para a PB, todavia as coletas
foram realizadas tentando-se simular o pastejo, e no caso específico do pereiro o animal só
consome as folhas quando estas começam o processo de senescência e/ou quando estas
sofrem abscisão, pois nesta situação ocorre redução dos teores de taninos e substâncias
anti-nutricionais, o que favorece o consumo. Pinto (2008) ressaltou que muitas das
65
espécies constituintes da caatinga não apresentam boa aceitação pelos ruminantes, devido a
alguns fatores inibidores da ingestão, entre eles o alto teor de tanino, encontrado em muitas
espécies desse ambiente.
Neste experimento foi confirmado o consumo da malva e do pool do estrato
herbáceo, sendo estas espécies consumidas no início do período chuvoso, seleção dos
animais, o que justifica o elevado teor protéico nestas condições e confirma sua
importância como parte da dieta dos ruminantes nesta vegetação. No entanto, sabe-se que a
composição química deste material varia em função do grau de maturação e do estádio
fenológico em que se encontram.
A Malva apresentou menor teor de FDN em relação ao pereiro e ao marmeleiro. O
elevado teor de FDN encontrado para o pereiro é justificado pelo período de coleta, pois se
tentou simular o pastejo pelos animais. Neste momento, as folhas já estão no início do
processo de senescência ou sofrendo abscisão, o que promove elevação dos teores de
fibras. A malva é consumida logo após o início do período chuvoso quando esta inicia o
período vegetativo emitindo as primeiras folhas. Neste momento as folhas apresentam
baixos teores de fibras e lignina e elevado teor de PB (Tabela 2).
A grande variabilidade encontrada na composição química dos estratos
observados é importante para subsidiar informações quanto à época em que as espécies são
consumidas e quanto ao déficit de nutrientes em determinadas épocas do ano, auxiliando
tomadas de decisões no manejo nutricional.
66
CONCLUSÕES
O pastejo caprino promove redução na cobertura do solo em função do consumo
das espécies constituintes do estrato herbáceo no período chuvoso e do consumo da
serrapilheira no período seco;
O pastejo caprino promove redução na freqüência das espécies Cyperus
uncinulatus Schrad, Paspalum scutatum, Diodia sp., Chamaecrista desvauxii (Collad),
exceto as espécies Aristida adscensionis. e Evolvulus filipes que mostraram-se mais
persistentes;
As espécies Cyperus uncinulatus schrad, Paspalum scutatum, Diodia sp.,
Chamaecrista desvauxii (Collad), Aristida adscensionis e Evolvulus filipes mostraram-se
responsivas aos pulsos de precipitação, suficientes para desencadear uma resposta
fisiológica da planta em termos de crescimento e desenvolvimento;
A caracterização bromatológica do pool das espécies herbáceas e da serrapilheira
indicam qualidade alta da dieta dos animais que pastejam a caatinga na época chuvosa e na
transição chuva/seca, respectivamente.
67
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
AMORIM, I. L. de; SAMPAIO, E. V. S. B.; ARAÚJO, E. de L. Flora e estrutura da
vegetação arbustivo-arbórea de uma área de caatinga do Seridó, RN, Brasil. Acta Botânica
Brasileira, v.19, p.615-623, 2005.
ANDRADE, M. V. M. Dinâmica e Qualidade do Estrato Herbáceo e Sub-arbustivo na
Caatinga do Cariri Paraibano. (Tese de Doutorado), Universidade Federal da Paraíba,
UFPB, p.159, 2008.
ANDRADE, A.P.; SOUZA, E. S. de; SILVA, D. S. da; SILVA, I. de F. da; LIMA, J. R. S.
Produção animal no bioma caatinga: paradigmas dos pulsos - reservas. Revista Brasileira
de Zootecnia, v.35, p.138-155, 2006.
ARAÚJO FILHO, J. A.; GADELHA, J. A.; SOUSA, P. Z.; LEITE, E. R.; CRISPIM, S. M.
A.; REGO, M. C. Composição botânica e química as dieta de ovinos e caprinos em
pastoreio combinado na região do Inhamuns, Ceará. Revista Brasileira de Zootecnia,
v.25, p.383-395, 1996.
CASTELLETTI, C. H. M.; SILVA, J. M. C.; TABARELLI, M.; SANTOS, A. M. M.
Quanto ainda resta da Caatinga? Uma estimativa preliminar. Biodiversidade da Caatinga:
áreas e ações prioritárias para a conservação. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 2003.
CRISPIM, S. M. A.; SANTOS, S.A.; CARDOSO, E. L.; BRANCO, O. D. B.; SORIANO,
M. A. Efeito da queima e herbivoria em áreas de campo cerrado na Sub-região de
Poconé, MT. In: IV Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio-econômicos do Pantanal.
Corumbá, 2004.
LEAL, I. R.; VIVENTE, A.; TABARELLI, M. Herbivoria por caprinos na caatinga da
região de xingó: uma análise preliminar. In: Leal, I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M.C.
Ecologia e Conservação da Caatinga. Recife, Editora Universitária da UFRPE, 2003,
822p.
LIMA JÚNIOR, V. Caracterização da dieta e avaliação de métodos de estimativa de
consumo em caprinos suplementados na caatinga. (Dissertação de Mestrado).
Universidade Federal da Paraíba, p.85, 2006.
MARACAJÁ, P. B.; BENEVIDES, D. de, S. Estudo da Flora Herbácea da Caatinga no
Município de Caraúbas no Estado do Rio Grande do Norte. Revista de Biologia e
Ciências da Terra, v.6, p.165-175, 2006.
MENEZES, R. S. C.; GARRIDO, M. S.; MARIN, A. M. P. Fertilidade dos Solos no SemiÁrido. In: XXX Simpósio Brasileiro de Ciência do Solo, 2005, Recife. Anais... Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo, 2005. CD-ROM. v.1, p.1-30 PE. CD ROM, 2005.
MESQUITA, L. P.; LEITE, E. R.; ARAÚJO FILHO, J. A. Estacionalidade da dieta de
pequenos ruminantes na caatinga. In: Embrapa. Curso de melhoramento e manejo de
pastagem nativa no trópico semi-árido. EMBRAPA – CPAMN/SPI, Teresina, 1989.
p.59-82.
68
MOREIRA, J. N.; LIRA, M. A.; SANTOS, M. F. S.; FERREIRA, M. A.; ARAÚJO, G. G.
L.; FERREIRA, R. L. C.; SILVA, G. C. Caracterização da vegetação de Caatinga e da
dieta de novilhos no Sertão de Pernambuco. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.41,
p.1643-1651, 2006.
PARENTE, H. N.; ANDRADE, A. P.; SILVA, D. S.; MEDEIROS, A. N. M.; ARAÚJO,
K. D.; ANDRADE, M. V. M. Influência do pastejo caprino sobre o estrato herbáceo da
caatinga. In: 45° Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Lavras, Anais...
Viçosa, SBZ, 2008. CD-ROM. (a)
PARENTE, H. N.; ARAÚJO, K. D.; ÉDER-SILVA, E.; ANDRADE, A.P.; DANTAS, R.
T.; SILVA, D. S.; RAMALHO, C. I. Parâmetros fitossociológicos do estrato arbóreoarbustivo em áreas contíguas de caatinga no cariri paraibano. In: V Congresso Nordestino
de Produção Animal. Aracajú, Anais... Aracajú, SNPA, 2008. CD-ROM. (b).
PINTO, M. S. C. Levantamento florístico e composição químico-bromatológica do
estrato herbáceo em duas áreas de Quixelô e Tauá, Ceará. Tese de doutorado.
Universidade Federal do Ceará, UFC. 81f, 2008.
SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. de. Análise de alimentos: métodos químicos e
biológicos. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2002. 235p.
SIZENANDO FILHO, F. A.; MARACAJÁ, P. B.; DINIZ FILHO, E. T.; FREITAS, R. A.
C. Estudo florístico e fitossociológico da flora herbácea do município de Messias Targino,
RN/PB. Revista de Biologia e Ciências da Terra, v.7, 2007.
THUROW, T. L.; HUSSEIN, A. J. Observations on vegetation responses to improved
grazing systems in Somalia. Journal Range Management, v.42, p.16-19, 1989.
69
Capítulo IV
Influência do Pastejo Sobre a Fenologia de Quatro Espécies em uma Caatinga no
Cariri da Paraíba
70
Influência do Pastejo Sobre a Fenologia de Quatro Espécies em uma Caatinga no
Cariri da Paraíba
Resumo: A compreensão do comportamento fenológico é uma ferramenta para o
monitoramento da diversidade florística da caatinga, particularmente em estudos
envolvendo pastejo. Ajustes na taxa de lotação e no período de pastejo podem evitar
alterações nas fenofases destas espécies, não comprometendo sua persistência. Neste
contexto, objetivou-se com este experimento avaliar o efeito do ramoneio caprino sobre a
fenologia do marmeleiro (Croton sonderianus Müll. Arg.), catingueira (Caesalpinia
pyramidalis Tull.), malva (Malva sp.) e pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) em área
de caatinga no Cariri da Paraíba. O experimento foi conduzido na Estação Experimental
Bacia Escola pertencente à UFPB, localizado no município de São João do Cariri-PB, nos
anos de 2007 e 2008. Foram monitoradas cinco plantas por piquete, com leituras semanais,
observando-se as seguintes variáveis; total de folhas, folhas verdes, folhas amarelas, folhas
secas, frutos e flores, totalizando 18 leituras em 2007 e 28 em 2008. Os tratamentos
consistiram em três taxas de lotação distribuídos em três piquetes: T1 (3,1 an/ha), T2 (1,5
an/ha) e T3 (0 an/ha). Para análise dos dados agrupou-se as leituras por datas nas
respectivas semanas. Diante dos resultados, observou-se que os pulsos de precipitação
foram suficientes para desencadear os efeitos fisiológicos nas espécies determinando, em
parte, o comportamento das espécies. Houve variação entre os anos monitorados em
função do pastejo e da precipitação, determinando picos diferentes das fenofases. Foi
verificado efeito acentuado do pastejo sobre os parâmetros fenológicos observados,
notadamente no tratamento com maior taxa de lotação, para as espécies do marmeleiro e da
malva ocasionando uma redução antecipada do total de folhas, flores e frutos, promovendo
alteração no comportamento fenológico desta espécie. Observou-se menor efeito do
pastejo sobre a fenologia do pereiro e não foi verificado efeito sobre o comportamento
fenológico da catingueira. A precipitação é um fator abiótico que interfere no
comportamento fenológico das espécies, desencadeando o período de brotamento logo
após os primeiros eventos de chuvas, bem como a floração e frutificação acontecendo em
meados do período chuvoso. A queda de folhas ocorre logo após o término do período
chuvoso para a catingueira, marmeleiro e malva, sendo mais persistente para o pereiro.
Palavras-chave: caprinos, pastejo, precipitação, variabilidade
71
Influence of Grazing on the Phenology of Four Plant Species in the Caatinga Cariri of
Paraíba
Abstract: Understanding the phenological behavior is a tool for monitoring the floristic
diversity of the caatinga particularly in studies involving by grazing. Adjustments in
stocking rate and grazing period can prevent changes in phenophases of these species,
without jeopardizing their persistence. In this context, the aim of this experiment is to
evaluate the effect of grazing goat on the phenology of “marmeleiro” (Croton sonderianus
Müll. Arg.), “catingueira” (Caesalpinia pyramidalis Tull.), “malva” (Malva sp.) and
“pereiro” (Aspidosperma pyrifolium Mart.) in an area of caatinga in Cariri of Paraíba. The
experiment was conducted at the Experimental Estation belonging to “Bacia Escola UFPB”, in the municipality of São João do Cariri-PB, in the years 2007 and 2008. Five
plants were monitored by paddock, with weekly readings, observing the following
variables: all leaves, green leaves, yellow leaves, dry leaves, fruits and flowers, totaling 18
readings in 2007 and 28 in 2008. The treatments consisted of three stocking rates and three
pastures: T1 (3.1 an/ha), T2 (1.5 an/ha) and T3 (0 an/ha). For the analysis of the data there
were grouped by date according to the reading weeks. According the results, it was noted
that pulses of precipitation was sufficient to trigger the physiological effects on the species
determinating, in part, the behavior of the species. There was variation between the years
monitored according to the grazing and precipitation, determining the different peaks of
phenophases. Pronounced effect was observed of grazing on the phenological parameters,
especially in the treatment with higher stocking rate for the species of marmeleiro and
malva causing an early reduction of the total of leaves, flowers and fruits, promoting
changes in the phenological behavior of this species. There was less effect of grazing on
phenology of pereiro and there was not observed an effect on the phenological behavior of
catingueira. Precipitation is an abiotic factor that interferes in the phenological behavior of
the species, triggering the period of sprouting after the first event of rain, and the flowering
and fruiting occurring in the middle of the rainy season. The fall of leaves occurs soon
after the end of rainy season for catingueira, marmeleiro and malva, and is more persistent
for pereiro.
Keywords: goats, precipitation, variability
72
INTRODUÇÃO
A vegetação da caatinga é composta por um mosaico de espécies que estão
distribuídos nos estratos herbáceo, arbóreo e arbustivo. Grande parte das espécies
constituintes do estrato arbóreo-arbustivo são caducifólias, ou seja, perdem suas folhas no
início e ao longo do período seco. Esta variação na queda de folhas depende do grau de
seca sazonal e do seu potencial de reidratação e controle de perda de água (Reich e
Borchet, 1984).
Segundo Barbosa et al. (2003) os padrões fenológicos predominantes na caatinga
são o brotamento e a floração (período de chuvas), a senescência foliar (período da seca) e
a frutificação. No entanto, a fenologia da comunidade é organizada de forma que todas as
fenofases podem ser observadas durante todo o ano (Leal et al., 2007).
Estudos sobre fenologia das espécies arbutivas-arbóreas na caatinga são escassos
(Oliveira et al., 1998) e parece ser ainda mais escasso trabalhos que avaliam o pastejo
animal sobre os aspectos fenológicos das espécies neste bioma. Estudos em florestas secas
mostram que os eventos fenológicos, em algumas espécies, não são determinados pela
chuva, e sim pela disponibilidade hídrica para a planta, ou seja, espécies que apresentam
sistema radicular profundo, ou que armazenam água no caule ou sistema radicular podem
apresentar padrões fenológicos independentes da precipitação (Borchert e Rivera, 2001).
Portanto, em ambientes sazonalmente secos, pode-se encontrar diferentes padrões
fenológicos para as espécies, determinados primariamente pela chuva ou não, dependendo
da capacidade da planta obter ou armazenar água (Lima, 2007).
Segundo Damé et al. (1999) as pastagens naturais, geralmente, são utilizadas com
lotação fixa, o que desconsidera a sua estacionalidade produtiva. Tal manejo leva a um
super pastejo no período de baixa produtividade e a um sub pastejo no período de alta
produtividade. Essa assertiva parece ser verdadeira para a vegetação da caatinga, utilizada
como base alimentar para os rebanhos nativos.
O efeito da herbivoria promovido pelo pastejo caprino e ovino é constatado em
áreas de caatinga submetidas ao pastejo, seja por meio da extinção de espécies e/ou por
meio de ações como o anelamento que podem causar alterações na composição e estrutura
da vegetação. De acordo com Leal et al. (2003) os caprinos são importantes herbívoros da
caatinga, pois utilizam parte da maioria das espécies de árvores e arbustos encontrados na
região como forragem. São considerados muito generalistas, uma vez que se alimentam de
plântulas e todas as partes de plantas adultas da maioria das espécies da caatinga. Barbosa
73
et al. (2003) afirmam que estudos dessa natureza são muitos importantes para auxiliar na
compreensão da dinâmica das comunidades e populações do ecossistema caatinga.
Apesar dos fatores abióticos serem hierarquicamente superiores na determinação
dos padrões fenológicos das espécies estudadas, estes podem também responder a fatores
bióticos, tais como a herbivoria (Leal et al., 2007).
Neste contexto, objetivou-se com este experimento avaliar o efeito do pastejo
caprino sobre a fenologia de quatro espécies do estrato arbóreo-arbustivo em uma caatinga
no Cariri da Paraíba.
74
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na Estação Experimental Bacia Escola pertencente à
UFPB, localizado no município de São João do Cariri-PB, nas coordenadas 7o23’30”S e
36o31’59”W, numa altitude de 458 m. O município está inserido na zona fisiográfica do
Planalto da Borborema, fazendo parte da microrregião do Cariri Oriental.
Segundo a classificação de Koppen, predomina na região o clima Bsh-semiárido
quente com chuvas de verão. Apresenta temperatura média mensal máxima de 27,2 °C e
mínima de 23,1 °C, precipitação média em torno de 400 mm/ano e umidade relativa do ar
70%.
A área experimental, inserida no contexto de vegetação da caatinga, compreendeu
9,6 ha, divididos em três piquetes. Os tratamentos consistiram em três taxas de lotação,
assim distribuídos: T1 (3,1 an/ha), T2 (1,5 an/ha) e T3 (0 an/ha). Foram utilizados caprinos
machos, adultos, sem padrão de raça definido. Utilizou-se um sistema de pastejo sob
lotação contínua e fixa durante o período experimental. A entrada desses animais nos
piquetes ocorreu em agosto/2007 e permaneceram até o término do experimento.
Neste estudo foram selecionadas quatro espécies presente na área, sendo as
mesmas: Croton sonderianus Mull. Arg. (marmeleiro), Caesalpina pyramidalis Tul.
(catingueira), Malva sp. (malva), Aspidosperma pyrifolium Mart (pereiro). Nos três
piquetes demarcados foram selecionadas ao acaso cinco plantas de cada espécie para
acompanhamento das suas fenofases ao longo do período experimental (Figura 1). As
observações para coleta de dados sobre o ciclo fenológico das plantas foram feitas
semanalmente durante todo o ciclo durante o ano de 2007 e 2008. Este estudo foi realizado
de forma qualitativa e quantitativa, ou seja, foi determinada a fase de ocorrência dos
eventos e foram quantificadas as variáveis analisadas. Foi utilizada a nomenclatura de pico
de atividade referente ao período e pico de intensidade referente ao percentual, conforme
sugerido por Bencke e Morellato (2002).
75
Figura 1. Ilustração das plantas demarcadas para o monitoramento da fenologia na
área experimental em São João do Cariri-PB
Os eventos fenológicos monitorados foram brotamento, queda de folhas, floração
e frutificação. As variáveis analisadas foram; total de folhas, folhas verdes, folhas
amarelas, folhas secas, total de flores e total de frutos. A emissão de folhas foi determinada
através da presença de primórdios foliares, geralmente de coloração verde claro,
avermelhados ou violáceos e a queda de folhas foi baseada na presença de ramos nus e
folhas caídas no chão. O período de floração incluiu desde a formação de botões até o final
do período de antese das flores, e o de frutificação, desde a formação visível dos frutos até
a sua queda (Leal et al., 2007). Os percentuais para cada variável foram estimados
visualmente variando em uma escala de 0 a 100%.
As observações realizadas no ano de 2007 foram de 7/06/2007 até 20/10/2007,
totalizando dezoito semanas e no ano de 2008 compreenderam o período de 5/03/2008 até
19/10/2008, totalizando 28 semanas.
A relação das fenofases com os dados de precipitação foi analisada
estatisticamente (nível de p = 0,05) através da correlação de Spearman (Zar 1996 Apud
Lima 2007). Realizou-se para as avaliações análise descritiva em função dos dados,
permitindo-se calcular as médias e os desvios-padrão.
76
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em geral, os padrões fenológicos observados para as quatro espécies se repetiram
durante os anos 2007 e 2008, caracterizando-se por redução de folhas, flores e frutos no
período de julho a setembro, ou seja, as espécies se confirmam como caducifólias.
Quando as espécies são examinadas separadamente, ainda observa-se esse padrão,
embora menos claramente para o pereiro, que não apresentou uma produção de flores e
frutos anuais, e ainda permanece com as folhas por tempo que as demais espécies. A maior
parte dos indivíduos das espécies estudadas manteve suas folhas durante todo o período
das águas. A produção de flores e frutos sofreu redução acentuada nos meses de seca, no
entanto durante os dois anos estudados, todas as espécies floresceram e frutificaram, com
exceção de algumas plantas de pereiro.
Estes dados mostram a importância das espécies estudadas para a manutenção da
fauna de herbívoros e polinizadores na Caatinga durante a seca, pois oferecem recursos
numa época crítica (Leal et al., 2007). A fenologia das espécies estudadas foi influenciada
pela distribuição das chuvas na caatinga, conforme esperado para este ambiente (Machado
et al., 1997). Griz e Machado (2001) apontam a precipitação como o principal fator
regulador do comportamento fenológico das espécies, embora relatem que algumas brotam
e florescem na estação seca.
Em experimento realizado por Machado et al. (1997) estudando a fenologia de 19
espécies lenhosas numa área do sertão de Pernambuco, os autores encontraram que o
comportamento fenológico das espécies estudadas; queda de folhas, brotamento, floração e
frutificação ocorreram de forma quase contínua, embora com picos em períodos diferentes.
Neste experimento foram observados picos de intensidade semelhantes para a malva, o
marmeleiro e a catingueira, com diferença para a persistência das folhas nas plantas de
pereiro, quando monitoradas nos tratamentos sem pastejo. No entanto, quando comparado
com as áreas pastejadas, percebe-se uma evidência de alteração nos comportamento
fenológico provocado pelo pastejo dos caprinos, reduzindo para algumas espécies o pico
de atividade das folhas, bem como alterando o pico de intensidade e de atividade para as
flores e frutos, exceto para a catingueira.
De forma geral, o pico de atividade ocorreu logo no início da estação chuvosa,
seguido da floração e depois pelo de frutificação, ambos em meados do período chuvoso.
A abscisão foliar foi mais acentuada na transição do período chuvoso/seco, ressaltando a
persistência por mais tempo das folhas na espécie do pereiro.
77
Houve uma redução no percentual de flores e frutos no marmeleiro e na malva,
apresentando redução no pico de intensidade nestas fenofases para as áreas pastejadas em
relação às áreas não pastejadas, o que ocorreu provavelmente devido à herbivoria pelos
caprinos, já que em 2008 o pastejo perdurou por todo o ciclo fenológico. Este resultado
indica que os padrões fenológicos das espécies da Caatinga parecem ser também
influenciados por fatores bióticos como a herbívora (Leal et al., 2007).
O marmeleiro (Croton sonderianus Muell. Arg.) é o principal arbusto colonizador
das caatingas sucessionais do Nordeste do Brasil, sendo que em áreas sucessionais esta
espécie pode apresentar densidade de 10.000 a 45.000 plantas/ha (Carvalho et al., 2001). É
uma espécie bastante consumida pelos caprinos, sendo responsável por parte das dietas
destes animais, principalmente no período seco. No entanto o efeito da herbívora por
caprinos sobre o marmeleiro precisa ser avaliado, pois alterações nos padrões fenológicos
desta espécie pode comprometer sua persistência no ecossistema caatinga.
Nas Figuras 2 e 3 observa-se o comportamento fenológico do Marmeleiro em
função de diferentes intensidades de pastejo por caprinos.
78
Figura 2. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Croton sonderianus
Mull. Arg., ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2007), em função de
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha).
79
Figura 3. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Croton sonderianus
Mull.Arg., ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2008), em função de
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha).
80
Percebe-se uma forte influência da precipitação para esta espécie sobre a emissão
de folhas, floração e frutificação, mostrando o efeito do pulso de precipitação sobre os
aspectos fenológicos. Assim, ressalta-se a necessidade do conhecimento das relações entre
os eventos de pulsos e inter-pulsos de precipitação e o efeito destes eventos nos aspectos
fisiológicos determinantes no crescimento das plantas (Andrade et al., 2006).
Não obstante, verificou-se uma redução no pico de intensidade dos frutos e flores
nos tratamentos com pastejo (I e II) em relação ao tratamento III (sem pastejo), mostrando
o efeito da herbívora dos caprinos sobre esta espécie. Este Efeito foi ressaltado no ano de
2008 (Figura 3). De acordo com Leal et al. (2003) os caprinos são importante herbívoros
da caatinga, pois utilizam parte da maioria das espécies de árvores e arbustos encontrados
na região como forragem. São considerados muito generalistas, uma vez que se alimentam
de plântulas e todas as partes de plantas adultas da maioria das espécies presentes na área.
No ano de 2007 não foi verificado efeito dos tratamentos na fenologia desta,
possivelmente em função da entrada tardia dos animais nos piquetes. De um modo geral as
plantas apresentaram pico de atividade para as folhas verdes até início de setembro, onde
começou a senescência.
O percentual total de folhas também foi alterado ao longo do tempo (pico de
atividade), sendo verificada no tratamento III (sem pastejo), maior duração das folhas ao
longo do tempo. Nesse mesmo tratamento foi observado que o total de folhas decresceu
menos intensamente que no tratamento I (maior taxa de lotação). Para o total de flores,
houve redução drástica por parte dos animais nos piquetes pastejados em função do
consumo intenso dos animais, podendo ser este efeito prejudicial para a manutenção da
espécie.
No ano de 2008 o brotamento ocorreu logo após o início do período chuvoso, no
mês de março, sendo fortemente influenciada pela precipitação nos três tratamentos (rs =
0,73; 0,74; 0,74). No entanto, o percentual de folhas secas apresentou correlação negativa
com a precipitação nos três tratamentos (rs= -0,82; -0,83; -0,76). Este resultado afirma que
o aparecimento das folhas secas somente ocorre com o declínio do período chuvoso, ou
seja, com o início do período seco.
A maior produção de folhas (brotamento) ocorreu logo após o início do período
chuvoso, sendo registrado no mês de março. A duração média do período de brotamento
para esta espécie foi de março até final de setembro nos tratamentos com pastejo, e este
período prolongou-se por mais tempo para o tratamento sem pastejo, mostrando o efeito da
herbívora no pico de atividade desta espécie. Alguns estudos relatam a interferência dos
caprinos na mudança da estrutura da vegetação, pois os mesmos podem reduzir a
81
capacidade de regeneração de algumas espécies arbóreas mais consumidas. Possivelmente,
estes animais acarretam em alterações na fenologia de algumas espécies, podendo
comprometer a produção de frutos e sementes, alterando a capacidade de regeneração da
vegetação e a quantidade do banco de sementes (Leal et al., 2003).
A maior atividade de queda foliar coincidiu com o início do período seco,
confirmando o hábito caducifólio desta espécie. Os maiores picos foram registrados a
partir de agosto. A floração aconteceu em meados do período chuvoso, destacando os
meses de abril e maio, onde aconteceram os picos de intensidade. Não obstante, a floração
nos tratamentos pastejados apresentou menores picos de intensidade e de atividade.
A frutificação também ocorreu em meados do período chuvoso, logo após a
floração. O período de frutificação concentrou nos meses de maio ate agosto, apresentando
maior pico de atividade e de intensidade na área não pastejada.
Apesar dos fatores abióticos serem hierarquicamente superiores na determinação
dos padrões fenológicos das espécies estudadas, estes podem também responder a fatores
bióticos, tais como a herbivoria (Leal et al., 2007).
A catingueira é uma espécie de hábito caducifólio, com bastante importância na
alimentação de pequenos ruminantes na caatinga. Quando utilizada na forma de feno e
aliada a outros recursos forrageiros da região, apresenta-se como boa alternativa alimentar
para os rebanhos. Segundo Barros et al. (1997) é uma espécie que se adapta muito bem à
maioria dos solos e climas, além de ser bastante tolerante à seca, portanto o monitoramento
do comportamento fenológico desta espécie pode subsidiar tomadas de decisões que
priorizem sua manutenção do ecossistema.
Nas Figuras 4 e 5 observa-se o comportamento fenológico da catingueira em
função de intensidades de pastejo por caprinos.
82
Figura 4. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Caesalpina pyramidalis
Tul., ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2007), em função de
diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha;
T3: 0 an/ha).
83
Figura 5. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Caesalpina
pyramidalis Tul., ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2008), em
função de diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha;
T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha).
Observando os dados obtidos, percebe-se uma forte influência da precipitação
sobre a emissão de folhas e floração pela espécie, mostrando o efeito do pulso de
precipitação sobre os aspectos fenológicos. Nos dois anos avaliados foram verificados
84
comportamentos semelhantes para as plantas monitoradas, independente do pastejo, fato
este que pode ser justificado pelo não acesso dos animais em grande parte destas plantas
em função da altura de pastejo. Além de que, as folhas da catingueira, quando verdes,
apresentam altas concentrações de taninos e/ou sustâncias anti-nutricionais que restringem
o consumo. Este fato não é verificado quando as mesmas começam o processo de
senescência e caem ao solo, passando a serem intensamente consumidas. Lima Júnior
(2006), trabalhando em São João do Cariri-PB relatou consumo de catingueira de 12,35%
por caprinos durante a estação seca, sendo esta a mais consumida neste período.
O brotamento foi caracterizado pelo aparecimento das folhas com coloração
arroxeada e aconteceu logo após o início do período chuvoso no ano de 2008, conforme
verificado por Machado et al. (1997) em área de caatinga e por Justiniano e Fredericksen
(2000) em áreas de florestas secas. Alves et al. (2007) comentam que a catingueira é uma
das plantas sertanejas cujos gomos brotam às primeiras manifestações de umidade,
portanto é uma anunciadora do período das chuvas.
No ano de 2007, houve correlação positiva da precipitação com o percentual de
folhas verdes para os três tratamentos (rs= 0,50; 0,49; 0,52), sendo que neste ano a
manutenção das folhas verdes nas plantas ocorreu até meados de setembro. No ano de
2008 a permanência das folhas nas plantas teve duração de março até outubro, mostrando o
efeito do conteúdo de água no solo sobre o percentual total de folhas, uma vez que neste
ano houve maior quantidade de precipitação. Houve correlação positiva com a precipitação
para os três tratamentos (rs= 0,73; 0,73; 0,58).
A maior atividade de queda foliar coincidiu com o início do período seco,
confirmando o hábito caducifólio desta espécie. Os maiores picos de queda foram
registrados no início do mês de agosto em 2007, e em meados de setembro em 2008.
A floração aconteceu em meados do período chuvoso, destacando os meses de
abril e maio, onde aconteceram os picos de intensidade. Não houve efeito do pastejo sobre
as fenofases monitoradas para esta espécie.
Houve correlação negativa em 2008 entre a precipitação e o percentual de folhas
secas (rs= -0,70; -0,54; -0,81). No ano de 2008, possivelmente em função da maior e
melhor distribuição da precipitação, foi observada maior pico de intensidade na
frutificação destas espécies chegando a valores percentuais em torno de 40%. O pico de
atividade para a frutificação ocorreu logo após a floração, seguindo a mesma tendência dos
percentuais, notadamente no ano de 2008.
A malva branca é uma herbácea de grande freqüência na vegetação da caatinga,
sendo responsável por grande parte na composição das dietas dos pequenos ruminantes.
85
Para a malva foi observado que as fenofases também apresentaram correlação
positiva com a precipitação, onde a emissão de folhas pela espécie, floração e frutificação
aconteceu logo após o início do período chuvoso para o ano de 2008. No ano de 2007,
quando se iniciou as avaliações, a espécie já se apresentava em pleno estádio de
frutificação e floração. Da mesma forma quando os animais entraram nos piquetes, em
agosto de 2007. Portanto, no ano de 2007 não foi verificado efeito do pastejo sobre o
comportamento fenológico desta espécie, pois neste período já estava iniciando o período
seco e as plantas já apresentavam sinais de senescência. Neste mesmo ano o período de
permanência das folhas ocorreu até o final de agosto (semana 12), apresentando maior
duração no piquete com o tratamento dois, onde a permanência de folhas ocorreu até início
de outubro, mostrando a variabilidade que existe entre as plantas, mesmo em áreas
contíguas. Provavelmente, essa diferença pode ser explicada pela variabilidade nos tipos de
solos, acarretando em maiores quantidades de nutrientes disponíveis para algumas plantas,
ou maior conteúdo de água no solo.
No ano de 2007 houve correlação positiva entre a precipitação e o percentual de
folhas verdes para os três tratamentos (rs= 0,60; 0,54; 0,57). Diante dos resultados,
percebe-se que no tratamento sem pastejo foi verificado maior correlação entre a
precipitação e a floração, evidenciando que nas áreas pastejadas os animais interferem no
comportamento fenológico, sem este fator biótico decisivo nos picos de atividade e
intensidade de algumas fenofases. Na área não pastejada a precipitação é o fator que
determina o comportamento fenológico desta espécie.
No ano de 2008, em função da maior quantidade de precipitação ocorrida, houve
maiores picos de intensidade e atividade, principalmente para as plantas no piquete sem
pastejo. Neste ano, o monitoramente ocorreu durante todo o ciclo fenológico das espécies,
evidenciando-se efeito acentuado do pastejo sobre alguns parâmetros fenológicos,
notadamente na redução de flores e frutos. Foi verificada uma redução no total de frutos e
flores nos piquetes pastejados em relação ao piquete sem pastejo, mostrando o efeito da
herbívora dos caprinos sobre esta espécie.
Houve correlação positiva entre a precipitação e o percentual de folhas verdes
para os três tratamentos (rs= 0,57; 0,80; 0,64), bem como houve correlação negativa para
percentual de folhas secas (rs= -0,52; -0,73; -0,51). Não houve correlação para o percentual
de frutos nos tratamentos pastejados em função do consumo dos frutos pelos animais
(Figura 4), todavia houve correlação positiva para o tratamento sem pastejo (rs= 0,47),
ressaltando a interferência dos animais no comportamento fenológico desta espécie.
86
A permanência das folhas também foi alterada ao longo do tempo, sendo
verificada no tratamento sem pastejo, uma maior duração das folhas ao longo do tempo em
relação ao tratamento com maior taxa de lotação. Em todos os tratamentos, o brotamento
desencadeou no início do período chuvoso, mostrando que estes espécies respondem
fisiologicamente de imediato a ocorrência de um pulso de precipitação. O pico de atividade
para a brotação ocorreu no mês de abril para ao no de 2008. No entanto, para o tratamento
com maior taxa de lotação houve uma redução do total de folhas no final de agosto,
enquanto que no tratamento sem pastejo as folhas permanecem até meados de outubro.
Estes resultados confirmam o consumo das folhas pelos animais. Lima Júnior (2006)
relatou consumo da malva por caprinos em São João do Cariri-PB de 27%, sendo esta a
segunda espécie mais consumida por estes animais no período de transição da estação
úmida para a seca.
Nas Figuras 6 e 7 observa-se o comportamento fenológico da malva em função de
diferentes intensidades de pastejo por caprinos.
87
Figura 6. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Malva sp., ao longo do
tempo no Cariri da Paraíba (2007), em função de diferentes intensidades de
pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha).
88
Figura 7. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Malva sp., ao longo
do tempo no Cariri da Paraíba (2008), em função de diferentes
intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3: 0
an/ha).
No ano de 2008 verificou-se que o período de brotamento ocorreu de março até
outubro nos piquete com o tratamento dois e três, reduzindo de março a agosto no
tratamento um, ressaltando que a taxa de lotação é uma ferramenta considerável na
determinação de estratégias de manejo para conservação da vegetação. A maior atividade
89
de queda foliar coincidiu com o início do período seco, confirmando o hábito caducifólio
desta espécie. Os maiores picos de atividades foram registrados a partir de agosto.
Houve redução no percentual de flores nas áreas pastejadas, chegando a algumas
plantas não florescer e frutificar, devido ao pastejo intenso dos animais logo após o início
do brotamento. Este efeito é prejudicial para a manutenção da espécie. Para Morellato
(1995) os estudos da fenologia de plantas são essenciais para o entendimento da dinâmica
dos ecossistemas, uma vez que a época de disponibilidade de folhas, flores e frutos
controlam a atividade dos animais, principalmente em ambientes que apresentam
estacionalidade climática.
A floração em 2008 teve início em março, mostrando uma correlação positiva
com a precipitação na área sem pastejo, tratamento III, (rs= 0,31), destacando os meses de
abril e maio onde aconteceu os maiores picos de atividade. Não obstante, a floração nos
tratamentos pastejados ocorreu em menores intensidades ou não acontecerem para algumas
plantas.
A frutificação apresentou a mesma tendência da floração para esta espécie. O
período de frutificação perdurou de abril até agosto, apresentando pico de atividade no mês
de junho. Observa-se que a precipitação no ano de 2008 foi acima da média observada na
região, o que contribui para as maiores intensidades de respostas fenológicas de algumas
espécies em função do conteúdo de água no solo, o que certamente explica esta diferença
entre os anos observados.
O pereiro é árvore com bastante ocorrência na caatinga. É uma espécie
economicamente importante por ter multiplicidade de usos, principalmente na utilização
como madeira e forragem. O detalhamento da fenologia reprodutiva desta espécie torna-se
importante tanto do ponto de vista econômico quanto ecológico, pois é sabido da
importância de conhecimentos práticos que auxiliem no entendimento da dinâmica e
regeneração de populações naturais (Mantovani et al., 2004).
Dentre as espécies monitoradas o pereiro é a que apresenta maior persistência das
folhas, apresentando também maior persistência de frutos, sendo que estes perduram de um
ano para outro. Foi verificada uma grande variação na frutificação do pereiro nos dois anos
monitorados, independente do pastejo. A emissão de folhas por esta espécie não aconteceu
imediatamente o início do período chuvoso para o ano de 2008, tendo início a partir do
mês de abril. No ano de 2007, como as observações tiveram início em meados do período
chuvoso, não foi possível validar esta informação.
No ano de 2007, quando se iniciou as avaliações, a espécie já se apresentava em
pleno estado vegetativo. Foi observada ligeira redução no percentual das folhas nas áreas
90
pastejadas, ressaltando que o consumo se deu apenas no início do período seco, quando as
folhas apresentavam-se no início do estado senescente (observação in loco).
Percebe-se que no início do período seco há um maior percentual de folhas
amarelas nas plantas do tratamento sem pastejo. Tal fato pode confirmar o consumo destas
folhas pelos animais nas áreas pastejadas. Este efeito fica mais evidenciado no ano de 2007
para o tratamento com maior taxa de lotação, onde o percentual de folhas amarelas foi
próximo de zero, enquanto no tratamento sem pastejo este percentual foi de
aproximadamente 10%. Outro aspecto relevante a ser observado é a sincronia entre o
percentual de folhas amarelas e folhas verdes observada para esta espécie nos dois anos.
Nota-se que com o avançar do período chuvoso, parte das folhas começam a amarelecer, o
que reduz o percentual de folhas verde, caracterizando claramente o início do processo de
senescência observado nas folhas. Tal fato explica a grande importância desta espécie na
alimentação dos caprinos, sendo no final do período chuvoso e início do período seco
bastante consumido pelos animais.
O período de permanência das folhas ocorreu até meados de outubro para os dois
anos monitorados, mostrando que esta espécie é mais tolerante a menores precipitações. O
período de persistência das folhas verdes foi até o mês de outubro tanto em 2007 como em
2008, mostrando que esta espécie apresenta mecanismos que auxiliam na manutenção das
folhas por mais tempo independente da precipitação ocorrida. No ano de 2007 foi
verificado correlação positiva entre a precipitação e o percentual de folhas verdes para os
três tratamentos (rs= 0,46; 0,54; 0,50), no entanto esta correlação foi muito baixa quando
comparado as demais espécies. No ano de 2008 verificou-se correlação positiva para as
áreas pastejadas (rs= 0,09; 0,07) e correlação negativa para a área sem pastejo (rs= -0,08).
Nas Figuras 8 e 9 observa-se o comportamento fenológico do pereiro em função
de diferentes intensidades de pastejo por caprinos.
91
Figura 8. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Aspidosperma
pyrifolium Mart., ao longo do tempo no Cariri paraibano (2007), em
função de diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha;
T2: 1,5 an/ha; T3: 0 an/ha).
92
Figura 9. Percentual total de folhas, flores e frutos da espécie Aspidosperma
pyrifolium, ao longo do tempo no Cariri da Paraíba (2008), em função
de diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5
an/ha; T3: 0 an/ha).
93
Provavelmente, a profundidade do sistema radicular desta espécie auxilia na busca
de água no solo e manutenção das folhas. Para Lima (2007) plantas com raízes profundas
ou que armazenam água no caule ou nas próprias raízes podem apresentar padrões
fenológicos independentes da precipitação.
A busca de nutrientes pelo sistema radicular é fundamental para o crescimento e
acúmulo de biomassa aérea por parte das plantas. A habilidade de ocupação espacial
depende de várias características das raízes, incluindo taxa de crescimento relativo,
biomassa, densidade de pêlos radiculares e área superficial total (Casper e Jackson, 1997).
Quanto maior esta eficiência de penetração e densidade do sistema radicular, maior a
possibilidade da planta em retirar água do solo e garantir sua persistência em condições de
estresse.
Nos dois anos de monitoramento, apenas três plantas de pereiro apresentaram
frutos, caracterizando este padrão diferenciado para a espécie. Não foi verificada floração
ao longo do período experimental, fato que o diferencia das demais espécies. Bencke e
Morellato (2002) afirmam que os ciclos fenológicos das plantas tropicais são complexos e
apresentam padrões irregulares de difícil reconhecimento.
94
CONCLUSÕES
As espécies monitoradas mostram-se sensíveis aos pulsos de precipitação, sendo
estes suficientes para desencadear os eventos fisiológicos e as fenofases;
A herbivoria decorrente do pastejo caprino promove induz mudanças na fenologia
do marmeleiro e da malva em termos de sucessão natural da emissão de folhas, botões
florais, flores e frutos;
O pastejo caprino não altera o comportamento fenológico da catingueira;
A precipitação é um fator abiótico que interfere no comportamento fenológico das
espécies, tendo o período de brotamento início logo após os primeiros eventos de chuvas,
bem como a floração e frutificação acontecendo em meados do período chuvoso;
A queda de folhas ocorre logo após o término do período chuvoso para a
catingueira, marmeleiro e malva-branca, sendo mais persistente para o pereiro.
95
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
ALVES, E. U.; CARDOSO, E. de, A.; BRUNO, R. de, L. A.; ALVES, A. U.; ALVES, A.
U.; GALINDO, E. A.; BRAGA JÚNIOR, L. M. Superação da dormência em sementes de
Caesalpinia pyramidalis tul. Revista Árvore, v.31, p.405-415, 2007.
ANDRADE, A.P.; SOUZA, E. S. de; SILVA, D. S. da; SILVA, I. de F. da; LIMA, J. R. S.
Produção animal no bioma caatinga: paradigmas dos pulsos - reservas. Revista Brasileira
de Zootecnia, v. 35, p.138-155, 2006.
BARBOSA, D. C. A.; BARBOSA, M. C. A.; LIMA, L. C. M. Fenologia de espécies
lenhosas da caatinga. In: Leal, I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. Ecologia e
Conservação da Caatinga. Recife, Editora Universitária da UFRPE, 822 p, 2003.
BARROS, N. N.; SOUSA, F. B.; ARRUDA, F. A. V. Utilização de forrageiras e resíduos
agroindustriais por caprinos e ovinos. Sobral: EMBRAPA - CNPC. 28p, 1997.
BENCKE, C. S. C.; MORELLATO, L. P. C. Estudo comparativo da fenologia de nove
espécies arbóreas em três tipos de floresta atlântica no sudeste do Brasil. Revista
Brasileira de Botânica, v.25, p.237-248, 2002.
BORCHERT, R.; G. RIVERA. Photoperiodic control of seasonal development and
dormancy in tropical stem succulent trees. Tree Physiol, v.21, p.213-221, 2001.
CARVALHO, F. C.; ARAÚJO FILHO, J. A. GARCIA, R.; PEREIRA FILHO, J. M.;
ALBUQUERQUE, V. M. Efeito do corte da parte aérea na sobrevivência do Marmeleiro
(Croton Sonderianus Muell. Arg.). Revista Brasileira de Zootecnia, v.30, p.930-934,
2001.
CASPER, B. B.; JACKSON, B. R. Plant competition underground. Annual Reviews
Ecology Systemic, v.28, p.545-570, 1997.
DAMÉ, P. R. V.; ROCHA, M. G. da, QUADROS, F. L. F. de, PEREIRA, C. F. S. Estudo
florístico de pastagem natural sob pastejo. Revista Brasileira de Agrociência, v.5, p.4549, 1999.
GRIZ, L. M. S.; MACHADO, I. C. S. Fruiting phenology and seed dispersal syndromes in
caatinga, a tropical dry forest in the northeast of Brazil. Journal of Tropical Ecology,
v.17, p.303-321, 2001.
JUSTINIANO, J. M.; FREDERICKSEN, T. S. Phenology of tree species in Bolivian dry
forests. Biotropica, v.32, p.276-281, 2000.
LEAL, I. R.; VIVENTE, A.; TABARELLI, M. Herbivoria por caprinos na caatinga da
região de xingó: uma análise preliminar. In: Leal, I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M.
C. Ecologia e Conservação da Caatinga. Recife, Editora Universitária da UFRPE, 822p,
2003.
LEAL, I. R.; PERINI, M. A.; CASTRO, C. C. Estudo fenológico de espécies de
Euphorbiaceae em uma área de caatinga. Anais... VIII Congresso de Ecologia do Brasil,
Caxambu–MG, p.1-2, 2007.
96
LIMA, A. L. A. Padrões fenológicos de espécies lenhosas e cactáceas em uma área do
semi-árido do Nordeste do Brasil. (Tese de Doutorado). Universidade Federal Rural de
Pernambuco, p.71, 2007.
LIMA JÚNIOR, V. Caracterização da dieta e avaliação de métodos de estimativa de
consumo em caprinos suplementados na caatinga. (Dissertação de Mestrado).
Universidade federal da Paraíba, p.85, 2006.
MACHADO, I. C. S.; BARROS, L. M.; SAMPAIO, E. V. S. B. Phenology of
caatingaspecies at Serra Talhada, PE, Northeastem Brazil. Biotropica, v.29, p.57-68, 1997.
MANTOVANI, A.; PATRICIA, L.; MORELLATO, C.; REIS, M. S. Fenologia
reprodutiva e produção de sementes em Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze. Revista
Brasileira de Botânica, v.27, p.787-796, 2004.
MORELLATO, L. P. C. As estações do ano na floresta. In: L. P. C. MORELLATO, L. P.
C.; LEITÃO-FILHO, H. F. (orgs.). Ecologia e preservação de uma floresta tropical
urbana. Campinas, Editora da UNICAMP, p.37-41, 1995.
OLIVEIRA, J. G. B.; QUESADO, H. L. C.; NUNES, E. P.; VIANA, F. A. Observações
preliminares da fenologia de plantas na estação ecológica de Aiuba, Ceará. ESAM,
Mossoró. Coleção Morossoenses, n.538, 1998.
REICH, P. B.; BORCHERT, R. Water stress and tree phenology in a tropical dry forest in
the lowlands of Costa Rica. Journal of Ecology, v.72, p.61-74, 1984.
ZAR, J. H. Biostatistical analysis. (3r ed.). New York: Prentice-Hall, 1996.
97
Capítulo V
Impacto do Pisoteio Caprino Sobre Atributos do Solo em Área de Caatinga
98
Impacto do Pisoteio Caprino Sobre Atributos do Solo em Área de Caatinga
Resumo: O pisoteio animal pode causar alterações nas propriedades físicas e hidráulicas
do solo, quando não respeitado os limites de capacidade de suporte da vegetação e do
próprio solo. No ecossistema caatinga, base alimentar dos rebanhos regionais, poucos são
os trabalhos que procuram relacionar o efeito do pastejo sobre os atributos do solo.
Portanto, objetivou-se com este experimento avaliar o efeito do pisoteio caprino sobre a
densidade e atributos hidráulicos de um solo em área de caatinga no Cariri da Paraíba. O
experimento foi realizado na Estação Experimental Bacia Escola, em São João do CaririPB. Os tratamentos consistiram em três taxas de lotação distribuídos em três piquetes,
sendo estes: T1 (3,1 an/ha), T2 (1,5 an/ha) e T3 (0 an/ha), durante o período de setembro de
2007 a outubro de 2008. Foram realizados ensaios de infiltração e coletadas amostras de
solo no início e ao término do experimento, após aplicação dos tratamentos, para análise da
densidade do solo, umidade inicial, umidade final, sorvidade e condutividade hidráulica.
Os resultados mostraram que a densidade do solo não foi influenciada pelo pisoteio dos
caprinos, sendo encontrados valores médios de 1,45; 1,40 e 1,45 g cm-3 para os respectivos
tratamentos em 2007 e 1,53; 1,46 e 1,49 g cm-3 em 2008. A condutividade hidráulica e a
sorvidade não foi influenciada pelos tratamentos entre os anos, muito embora os valores
tenham sido superiores em 2008. Valores superiores no tratamento sem pastejo foram
encontrados para a umidade inicial, possivelmente em função da cobertura vegetal. O
tempo de infiltração reduziu no tratamento sem pastejo e aumentou nos tratamentos com
pastejo.
Palavras-chave: condutividade, densidade, sorvidade
99
Impact of Goat Trampling on Soil Attributes in an Area of Caatinga
Abstract: The goat trampling can cause changes in physical and hydraulic properties of
soil, when it is not respected the limits on the vegetation’s and soil’s ability of support. In
the Caatinga ecosystem, basic feed of regional herds, there are few studies that seek to
relate the effect of trampling on soil attributes. The objective of this experiment was to
evaluate the effect of trampling goat on the density and some soil hydraulic properties in
an area of caatinga in Cariri of Paraíba. The experiment was conducted at the “Station
Experimental Bacia Escola”, in São João do Cariri-PB. The treatments consisted of three
stocking rates and three pastures, which are: T1 (3.1 an/ha), T2 (1.5 an/ha) and T3 (0
an/ha) from September 2007 to October 2008. Infiltration tests were performed and there
were collected samples of soil at the beginning at the end of the experiment, after
application of treatments for analysis of soil density, water content, initial moisture
content, final moisture content, sorptivity and hydraulic conductivity. The results indicate
that the soil density was not influenced by the trampling of goats, with average values of
1.45, 1.40 and 1.45 g cm-3 in 2007 and 1.53, 1.46 and 1.49 g cm-3 in 2008, for the
treatments. The hydraulic conductivity and sorptivity were not influenced by treatments in
any of the years, although the values were higher in 2008. Higher values in the treatment
without grazing were found for the initial moisture, possibly depending on the vegetation
cover. The time of infiltration decreased in treatment and increased with grazing in
treatments with grazing.
Keywords: conductivity, density, sorptivity
100
INTRODUÇÃO
A compactação dos solos tropicais tem sido quantificada por vários métodos e
variáveis. Diante dos atributos físicos estudados na caracterização de um solo, talvez a
densidade seja o mais utilizado, em função da sua facilidade de interpretação.
A quantificação e o fornecimento de informações para os estudos agronômicos e
zootécnicos, pensando em produção de forragem/animal, parecem bastante consistentes,
pois existe uma grande relação entre densidade e os outros atributos como porosidade,
condutividade hidráulica, difusividade do ar, entre outros, além de ser utilizada como
indicador do estado da compactação do solo (Camargo e Alleoni, 1997). Em uma análise
dos resultados de pesquisa, percebe-se uma tendência de que com o aumento da densidade,
ocorre diminuição da porosidade total, macroporosidade e condutividade hidráulica, assim
como o conseqüente aumento da microporosidade e da resistência mecânica à penetração
do solo.
A maioria das análises necessárias para se tirar alguma conclusão sobre o valor
verdadeiro do solo no campo carece de grandes quantidades de informações,
particularmente em relação à caracterização hidrodinâmica, onerando os custos da
operação. Neste sentido, alguns pesquisadores desenvolveram testes mais rápidos e menos
dispendiosos. Estes testes indiretos são baseados em dados do solo rapidamente
disponíveis e de baixo custo, como o método “Beerkan” (Souza et al., 2007).
Na região Semiárida do Brasil, com predominância da vegetação caatinga, não
existe alternância de atividades em uma mesma área, pois se utilizam sistemas de pastejo
contínuos e extensivos, na sua grande maioria. Essa característica, quase sempre, não
permite ao solo a oportunidade de reabilitação de suas propriedades físicas, aliados as suas
próprias características intrínsecas que podem comprometer os mesmos em longo prazo.
Portanto, o monitoramento dos atributos do solo deve ser revisado com freqüência.
Outro aspecto relevante é o efeito que o pisoteio animal pode causar na
estabilidade dos agregados do solo. Alterações nesta estrutura podem acarretar em
comprometimento da aeração e transporte de nutrientes no solo, refletindo na absorção e
crescimento das plantas. Para Vogel (1997) a geometria espacial dos poros no solo é
considerada decisiva na compreensão do transporte de água, gás e soluto. Ainda segundo o
autor, a condutividade está relacionada com a característica geométrica do espaço poroso,
bem como do seu arranjo.
Dentro do contexto de infiltração de água, uma característica marcante existente
em solos tropicais e subtropicais é a presença de crostas (Valentin e Bresson, 1992), sendo
101
estas resultantes de processos complexos nos quais as partículas do solo são rearranjadas e
consolidadas em uma estrutura superficial coesa. Estas crostas são responsáveis pela
diminuição da infiltração da água no solo e pelo aumento do escoamento superficial das
águas provenientes das chuvas e irrigação, que pode potencializar os processos erosivos
(Souza et al., 2007).
Baudena et al. (2007) afirmaram que a vegetação é parte de um complexo sistema
onde a atmosfera, os organismos e o solo interagem entre si em diferentes escalas espacial
e temporal. A dinâmica da vegetação é afetada pela chuva e pelas características do solo,
que exerce importante controle no balanço de água. Desta forma, entende-se que esses
atributos respondem a alteração nas propriedades físicas do solo, que podem ser
ocasionadas pelo pisoteio animal.
Neste sentido, objetivou-se com este experimento avaliar o efeito do pisoteio
caprino em diferentes taxas de lotações sobre a densidade, condutividade hidráulica,
sorvidade, umidade inicial e final de um solo em área de caatinga no Cariri da Paraíba.
102
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na Estação Experimental Bacia Escola pertencente à
UFPB, localizado no município de São João do Cariri-PB, nas coordenadas 7o23’30”S e
36o31’59”W, numa altitude de 458 m. O município está inserido na zona fisiográfica do
Planalto da Borborema, fazendo parte da microrregião do Cariri Oriental.
Segundo a classificação de Koppen, predomina na região o clima Bsh-semiárido
quente com chuvas de verão. Apresenta temperatura média mensal máxima de 27,2°C e
mínima de 23,1°C, precipitação média em torno de 400 mm/ano e umidade relativa do ar
70%.
A área experimental, inserida no contexto de vegetação da caatinga, compreendeu
9,6 ha, divididos em três piquetes. Os tratamentos consistiram em três taxas de lotação,
assim distribuídos: T1 (3,1 an/ha), T2 (1,5 an/ha) e T3 (0 an/ha). Foram utilizados caprinos
machos, adultos, sem padrão de raça definido. Utilizou-se um sistema de pastejo sob
lotação contínua e fixa durante o período experimental. A entrada dos animais nos piquetes
ocorreu em agosto/2007 e permaneceram até o término do experimento em outubro/2008.
De acordo com os dados da Estação Meteorológica da UFCG, instalada na
Fazenda Experimental, a precipitação média e a umidade relativa do ar nos anos de 2007 e
2008 foram 362,6 e 800,1 mm e 75,5 e 75,1%, respectivamente. Segundo Chaves e Chaves
(2000) os solos predominantes na EEBE são: LUVISSOLO Crômico Vértico,
VERTISSOLO e NEOSSOLO Lítolico.
Foram determinados dois atributos hidráulicos dos solos; a condutividade
hidráulica e a sorvidade, por intermédio do regime transitório da infiltração tridimensional,
bem como foi determinada à densidade dos solos, umidade inicial (θinic) e final (θfin).
Os ensaios de infiltração foram realizados conforme descrito por Souza et al.
(2007), seguindo o método proposto por Haverkamp et al. (1994). Os ensaios consistem
em adições de volumes constantes de água ao longo do tempo, até que ocorra uma
estabilização na curva de infiltração. Neste experimento foi utilizado o volume constante
de 100 mL de água. Nos ensaios foram utilizados cilindros com 150 mm de diâmetro,
conforme ilustrado na Figura 1.
103
Figura 1. Teste de infiltração tridimensional com
infiltrômetro de anel realizado em São João do
Cariri-PB
Durante os ensaios foram coletadas amostras indeformadas dos solos para
determinação da densidade e das umidades inicial θinic e final θfin. A densidade foi
determinada por meio da diferença do peso final e inicial do solo coletado em volume
conhecido. A análise granulométrica foi realizada segundo a metodologia descrita pela
EMBRAPA (1997), onde se determinou o diâmetro das partículas de silte e argila por
sedimentação e as partículas de areia por peneiramento.
Os ensaios de infiltração foram realizados logo após a entrada dos animais nos
piquetes (setembro de 2007) e ao final do pastejo (outubro de 2008), em vinte pontos por
tratamento. Os dados referentes à análise granulométrica e a classe textural predominante
dos solos nos respectivos tratamentos encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1. Análise granulométrica dos solos nos respectivos tratamentos; T1 (3,1 an/ha), T2
(1,5 an/ha) e T3 (0 an/ha) em São João do Cariri-PB
Tratamentos
T1
T2
T3
Areia
Silte
Argila
g/kg
643,9 ± 56,2
242,6 ± 38,4 113,5 ± 59,9
586,1 ± 79,4
269,6 ± 45,3 117,3 ± 87,0
517,8 ± 94,8
274,5 ± 84,0 207,7 ± 77,1
Classe textural
Franco arenosa
Franco arenosa
Franco arenosa
Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos e
vinte repetições, com as medidas repetidas no tempo em 2007 e 2008. Para análise dos
dados procedeu à análise de variância aplicando-se o teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
104
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não foi verificado efeito do pisoteio sobre a densidade dos solos no período
experimental, mostrando que o pisoteio controlado com essas taxas de lotação não afetou a
qualidade física do solo para este atributo. Na figura 2 estão apresentados os valores
referentes à densidade dos solos nos respectivos tratamentos e anos.
Os valores médios de densidade foram 1,45; 1,40 e 1,45 g cm-3 para os respectivos
tratamentos (T1, T2 e T3) em 2007 e 1,53; 1,46 e 1,49 g cm-3 em 2008. Estes valores são
relativamente frequentes nos solos da região Semiárida. Souza et al. (2008) encontraram
valores de densidade de 1,30; 1,36 e 1,56 g cm-3 para solo do tipo NEOSSOLO Flúvico,
com classes estruturais franco arenosa, areia franca e areia, respectivamente, em São João
do Cariri-PB. Pereira Júnior (2006) encontraram valores de densidade variando entre 1,5 e
1,75 kg dm-3, trabalhando com diferentes intensidades de pastejo com ovinos em um
NEOSSOLO Flúvico, em Souza-PB.
Figura 2. Densidade aparente média dos solos nas áreas submetidas
a diferentes intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1
an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3 0 an/ha) em São João do CaririPB. As barras representam o desvio padrão da média.
Greenwood et al. (1997) verificaram compactação do solo pastejado por ovinos
somente na camada superficial (0-5 cm) do solo, no entanto, os autores verificaram
aumento da porosidade, da densidade do solo e resistência a penetração, e
consequentemente, reduções na condutividade hidráulica saturada dos solos estudados.
Com o aumento da compactação e/ou adensamento, a infiltração de água no solo sofre
105
grande redução, promovendo acentuado escoamento superficial de água e maior
possibilidade de arraste de solo e nutrientes.
Na grande maioria dos experimentos que avaliam efeito do pisoteio sobre as
propriedades físicas do solo, em pastagens cultivadas com altas taxas de lotações,
encontram-se alterações nos atributos como a densidade e porosidade, no entanto estas
alterações concentram-se quase sempre na camada superficial de 0-5 cm. Estas alterações
devem ser menos intensas nos solos sob vegetação da caatinga, em função da utilização de
menores pressões de pastejo, e possivelmente das próprias características dos solos por
estes apresentarem-se bastante rasos e pedregosos.
Os resultados encontrados neste experimento são discordantes, mostrando que no
período avaliado não houve efeito prejudicial do pisoteio na densidade do solo. Diante dos
resultados, pode-se sugerir que, no ecossistema caatinga, para que haja efeitos danosos do
pisoteio sobre as propriedades físicas do solo são necessários maiores carga animal, sendo
que a limitação de oferta forrageira, principalmente na época seca, é suficiente para limitar
a quantidade de animais. Nesta condução, não seriam causados efeitos prejudiciais às
propriedades físicas do solo.
Na Figura 3 está apresentado o gráfico com a distribuição espacial da densidade
dos solos nos respectivos anos e tratamentos. Observou-se pouca variabilidade entre os
anos, confirmando que não houve efeitos dos tratamentos no período estudado.
106
A
a
1.69
1.70
1.61
1.65
1.53
1.60
1.45
1.55
1.37
1.50
1.29
1.45
1.21
1.40
1.13
1.35
1.05
B
1.30
b
1.76
1.74
1.69
1.66
1.62
1.58
1.55
1.50
1.42
1.48
1.34
1.41
1.26
1.34
1.18
1.27
1.10
1.20
C
c
1.71
1.73
1.64
1.67
1.57
1.61
1.50
1.55
1.43
1.49
1.36
1.43
1.29
1.37
1.22
1.31
1.15
1.25
Figura 3. Distribuição espacial da densidade do solo (g/cm-3) nos tratamentos I (Aa),
II (Bb) e III (Cc) em São João do Cariri-PB. Letras maiúsculas
representam o ano de 2007 e letras minúsculas o ano de 2008.
107
Não obstante, a remoção da cobertura vegetal do mesmo, pode causar em longo
prazo, redução nos teores de matéria orgânica do solo, levando o mesmo a uma exposição
excessiva, sendo esta prejudicial às propriedades físicas. Portanto, pode-se concluir que o
pastejo pode trazer algum malefício ao solo em longo prazo.
A duração das infiltrações na superfície do solo não variou entre os tratamentos e
entre os anos (Tabela 2). Possivelmente este efeito seja explicado pela não diferença dos
teores de matéria orgânica do solo na área em estudo (Araújo, dados não publicados),
muito embora a remoção da serrapilheira por estes animais no período seco do ano
(Parente et al., 2008) possa comprometer este atributo em longo prazo.
Tabela 2. Tempo acumulado expresso em segundos para infiltração de 1,5 L de água nos
respectivos tratamentos e anos em São João do Cariri-PB
Anos
2007
2008
T1 (3,1 an/ha)
1788, 78
1983,07
T2 (1,5 an/ha)
1607,88
1668,39
T3 (0 an/ha)
1834,30
1652,01
Warren et al. (1986) Apud Pereira Júnior relataram que o pisoteio animal pela
pastagem pode melhorar a infiltração e reduzir os processos de erosão devido a quebra de
crostas superficiais pelo impacto físico dos cascos. Esta assertiva, provavelmente, deve ser
confirmada em pastagens submetidas a baixas intensidades de pastejo, onde se consegue
obter o mínimo acúmulo de serrapilheira que promoverá a proteção do solo. Neste
experimento foi verificada tendência semelhante.
Na figura 4 estão apresentados os valores referentes à condutividade hidráulica e
sorvidade dos solos nos respectivos tratamentos. Percebe-se, que numericamente os valores
de condutividade foram superiores no ano de 2008 nos três tratamentos. Para a sorvidade,
foi verificado maior valor no ano de 2008 para o tratamento três. Possivelmente a ausência
do pisoteio, promovendo uma maior cobertura vegetal do solo, e por sua vez, contribuindo
para o incremento no teor de matéria orgânica, possa beneficiar estas características do
solo. No entanto, foi verificada somente uma tendência, pois maiores períodos de avaliação
irão confirmar melhores resultados.
Os solos da área do experimento apresentaram texturas semelhantes, sendo todos
pertencentes
à
mesma
classe
(Tabela
1).
A
presença
de
cobertura vegetal,
normalmente, favorece a infiltração da água do solo, ou seja, aumenta os valores de Ks e S.
A sorvidade depende bastante da umidade inicial, quanto mais seco, maior é o seu valor.
Mas por outro lado, o efeito estrutural é preponderante no seu comportamento. Um solo
108
bem estruturado, menos compactado, pode apresentar valores de sorvidade e condutividade
maiores e devido ao conteúdo de matéria orgânica consegue reter mais água.
Souza et al. (2007) avaliando o efeito do encrostamento sobre as propriedades
hidráulicas de um solo cultivado em Areia-PB e em São João do Cariri-PB encontraram
valores de médios de sorvidade e condutividade de 0,49 (mm/cm)1/2 e 0,02 (mm/s) para
solos franco-arenosos. Esses valores estão muito próximos dos encontrados neste
experimento.
Figura 4. Condutividade hidráulica e sorvidade dos solos ao longo nas áreas
submetidas a diferentes intensidades de pastejo por caprinos do tempo para
os respectivos tratamentos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3 0 an/ha) em São
João do Cariri-PB. As barras representam o desvio padrão da média.
A condutividade hidráulica e a sorvidade são os dois parâmetros que caracterizam
o processo de infiltração, sendo o valor de sorvidade associado ao início do processo de
infiltração (Borges et al., 1999). Logo no início do evento os efeitos gravitacionais não são
fortemente responsáveis pela infiltração, sendo os valores de sorvidade e condutividade nas
camadas superficiais que irão definir a retenção, infiltração e partição do aporte de água no
solo. Portanto, a manutenção da cobertura vegetal remanescente no solo propicia maior
retenção de umidade na camada superficial do solo, podendo favorecer este parâmetro,
conforme observado no tratamento sem pastejo. Possivelmente, o resultado encontrado se
justifique pela maior cobertura vegetal presente neste tratamento (sem pastejo),
assegurando maior retenção de umidade no solo.
De acordo com Antonino et al. (2004) a condutividade hidráulica da camada
superficial do solo desempenha papel importante na partição da quantidade de água, seja
de precipitação pluviométrica ou de irrigação, que atinge o solo em infiltração e/ou
escoamento superficial. Geralmente, as crostas presentes nos solos do semiárido brasileiro
109
ocorrem nas camadas superficiais (primeiros milímetros) e são responsáveis por grande
parte do escoamento superficial.
No tratamento um, com maior taxa de lotação, ficaram evidentes os menores
valores de umidade final (Figura 4) em relação ao tratamento sem pastejo, uma vez que
neste período a cobertura vegetal do solo (serrapilheira) é consumida pelos animais,
deixando o solo exposto a maiores intensidades de radiação solar.
Pereira Júnior (2006) avaliando o efeito do pisoteio ovino em diferentes taxas de
lotações em área de coqueiral, em Sousa-PB, verificaram efeito do pisoteio sobre a
umidade do solo, onde no tratamento sem pastejo foi encontrado o maior valor médio,
sendo este de 0,32 (g. g-1), na camada de 0-5 cm. Nos tratamentos pastejados houve
redução no valor médio de umidade para 0,12 (g. g-1). Os autores justificaram que a
redução da umidade está associando ao pisoteio e a redução da massa de forragem que foi
consumida pelos animais, promovendo redução na matéria orgânica e expondo o solo a
maior atuação da luminosidade.
Na Figura 5 estão apresentados os valores de umidade inicial e umidade final dos
solos nos respectivos tratamentos.
Figura 5. Umidade inicial e umidade final dos solos nas áreas submetidas a diferentes
intensidades de pastejo por caprinos (T1: 3,1 an/ha; T2: 1,5 an/ha; T3 0 an/ha)
em São João do Cariri-PB. As barras representam o desvio padrão da média.
Um aspecto relevante na resistência à penetração do sistema radicular no solo é o
teor de umidade. Existe uma correlação inversa entre estes dois fatores, sendo que à
medida que se reduz à umidade do solo, aumenta-se a dificuldade de penetração das raízes,
ou seja, quanto mais seco o solo maior dificuldade de penetração do sistema radicular.
Portanto, em solos rasos com baixa capacidade de retenção de água, características dos
solos deste experimento, estratégias de conservação da cobertura vegetal a fim de propiciar
110
melhorias nas condições físicas e promover maior retenção de água seriam necessárias para
facilitar a penetração e estabelecimento das raízes. Desta forma, haveria maior “tempo útil”
para que a planta pudesse absorver a água disponível naquele momento.
Souza et al. (2007) avaliando o efeito do encrostamento sobre as propriedades
hidráulicas de um solo cultivado em Areia-PB e em São João do Cariri-PB encontraram
valores de médios para umidade inicial e final de 0,05 e 0,47 (cm3/cm3), respectivamente
para solos franco-arenosos. Esses valores estão muito próximos dos encontrados neste
experimento.
111
CONCLUSÕES
O pastejo caprino nas áreas de caatinga, no tempo decorrente da entrada dos
animais até o final das avaliações, não provocou alterações significativas sobre a
densidade, condutividade hidráulica, sorvidade e umidade final do solo em comparação
com a área sem pastejo;
A umidade inicial do solo foi superior no tratamento sem pastejo, bem como
houve redução no tempo de infiltração;
A variação dos atributos físicos do solo é decorrente mais das características
físicas próprio do solo que da ação do pastejo caprino, independente da taxa de lotação
usada e da estação do ano.
112
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
ANTONINO, A. C. D.; RUIZ, C. F.; SOUZA, E. S.; NETTO, A. M.; ANGULOJARAMILLO, R. Distribuição probabilística do fator de escala de dois solos do Estado da
Paraíba. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.8, p.220-224, 2004.
BAUDENA, M.; BONI, G.; FERRARIS, L.; VON HARDENBERG, J.; PROVENZALE,
A. Vegetation response to rainfall intermittency in drylands: results from a simple
ecohydrological box model. Advances in Water Resources, v.30, p.1320-1328, 2007.
BORGES, E.; ANTONINO, A. C. D.; DALLOLIO, A.; AUDRY, P.; CARNEIRO, C. J. G.
Determinação da condutividade hidráulica e da sorvidade de um solo não-saturado
utilizando-se permeâmetro a disco. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.34, p.20832089, 1999.
CAMARGO, O. A.; ALLEONI, L. R. F. Compactação do solo e o desenvolvimento das
plantas. Piracicaba, 1997. 132p.
CHAVES, L. H. G.; CHAVES, I. B.; VASCONCELOS, A. C. F. Salinidade das águas
superficiais e suas relações com a natureza dos solos na Bacia Escola do açude
Namorados. Campina Grande: BNB/UFPB, 54p, 2000. (Boletim Técnico).
GREENWOOD, K. L.; MACLEOD, D. A.; HUTCHINSON, K. J. Long-term stocking rate
effects on soil physical properties. Australian Journal of Experimental Agriculture,
v.37, p.413-419, 1997.
HAVERKAMP, R.; ROSS, P. J.; SMETTEM, K. R. J.; PARLANGE, J. Y. Three
dimensional analysis of infiltration from the disc infiltrometer. 2. Physically based
infiltration equation. Water Resources Research, v.30, p.2931-2935, 1994.
PARENTE, H. N.; SILVA, D. S.; ANDRADE, A. P.; MEDEIROS, A. N.; ARAÚJO, K.
D.; SANTOS, E. M.; ÉDER-SILVA, E. Impacto decorrente do pastejo por caprinos sobre a
liteira da caatinga. In: V Congresso Nordestino de Produção Animal. Aracajú, Anais...
Aracajú, SNPA, 2008. CD-ROM.
PERIRA JÚNIOR, E. B. Efeito do pisoteio ovino sobre atributos do solo, em área de
coqueiral. Patos: UFCG, 2006. 35p. (Dissertação - Pós graduação em Zootecnia).
SOUZA, E. S.; ANTONINO, A. C. D.; LIMA, J. R. S.; GOUVEIA NETO, C. G.; SILVA,
J. M.; SILVA, I. F. Efeito do encrostamento superficial nas propriedades hidráulicas de um
solo cultivado. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.2, p.69-74, 2007.
SOUZA, E. S.; ANTONINO, A. C. D.; ANGULO-JARAMILLO, R.; MACIEL NETO, A.
Revista Brasileira de engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, p.128-135, 2008.
VALENTIN, C.; BRESSON, L. M. Morphology, genesis and classification of surface
crusts in loamy and sandy soils. Geoderma, v.55, p.225-245, 1992.
VOGEL, H. J. Morphological determination of pore connectivity as a function of pore size
using serial sections. European Journal of Soil Science, v.48, p.365–377, 1997.
113
WARREN, S. D; NEVILL, M. B.; GARZA, N. E. Soil response to trampling under
intensive relation grazing. Soil Science Society, v.50, p.1336-1341, 1986.
114
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos realizados envolvendo a relação solo-planta-animal vêm ajudando os
pesquisadores a melhor compreender o ecossistema caatinga, particularmente no tocante ao
compartimento animal. A caatinga, vegetação nativa da região Semiárida, é a fonte básica
de alimentação dos rebanhos nativos, que por sua vez são explorados de forma empírica
promovendo, quase sempre, alterações neste ecossistema.
Este estudo foi realizado com o intuito de melhor compreender este
funcionamento, ressaltando o impacto do pastejo caprino sobre a vegetação. Para isto
utilizou-se diferentes lotações de pastejo em uma área representativa deste ecossistema,
onde procurou-se avaliar o impacto do pastejo sobre a estrutura do estrato herbáceo, a
fenologia sobre espécies arbustivo-arbóreas e sobre o solo, bem como caracterizar
bromatologicamente a vegetação.
O estrato herbáceo da caatinga representa um grande percentual da alimentação
dos animais que ali pastejam, principalmente no período chuvoso, porém a manutenção
desta diversidade depende do manejo que é dado aos animais (manejo do pastoreio),
ressaltando neste momento hábito de pastejo e lotação animal. Por apresentar um ciclo
fenológico rápido, grande parte destas espécies garante sua sobrevivência com o
incremento do banco de sementes. A serrapilheira, composta por grande parte das folhas
das espécies arbustivas e arbóreas, é responsável pela alimentação no período seco, no
entanto exerce função importante na manutenção da cobertura do solo e no incremento do
teor de matéria orgânica que mantém as condições químicas, físicas e biológicas do
mesmo, devendo, portanto, fazer parte das premissas do manejo a ser adotado.
Os resultados obtidos neste trabalho permitem afirmar que o pastejo caprino
interfere na vegetação da caatinga de forma acentuada, sendo necessário ser monitorado
constantemente a área pastejada. O estudo também mostrou que a vegetação da caatinga
apresenta potencial para a produção animal, no entanto necessita de ajustes na lotação
animal e na oferta de alimentos ao longo do ano, que deve ser complementada através da
suplementação no período seco. No período chuvoso deve ser respeitada uma lotação
animal que permita as plantas, pelo menos parte delas, completarem seu ciclo fenológico
garantindo o banco de sementes e sua manutenção no ecossistema. O solo e a vegetação da
caatinga apresentam alta resiliência ao pastejo, quando oferecido uma mínima cobertura
vegetal e oportunidade de rebrota, respectivamente.
Neste contexto, pode-se afirmar que a importância deste estudo em longo prazo é
viável para elucidar o conhecimento do pastejo na caatinga, podendo de alguma forma
115
contribuir para a manutenção sustentável deste ecossistema, bem como sugerir linhas de
pesquisas que permitam auxílio aos pecuaristas regionais.
116