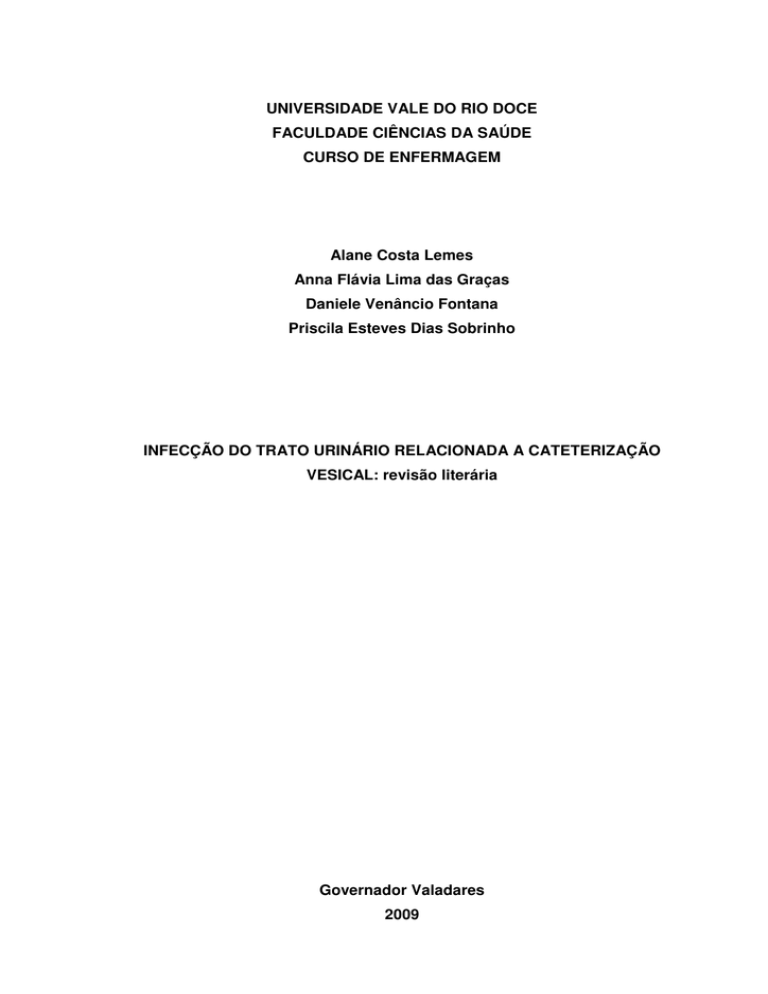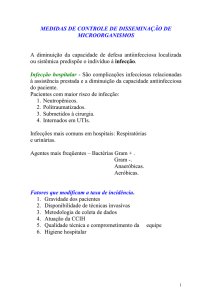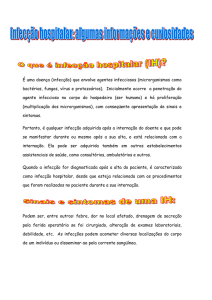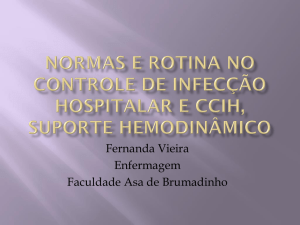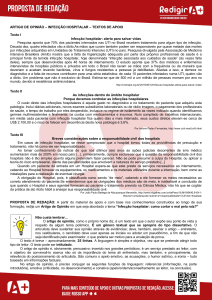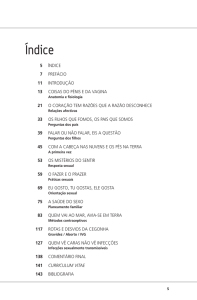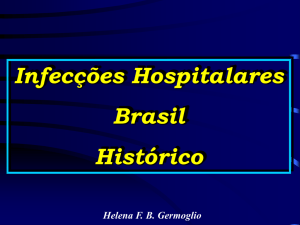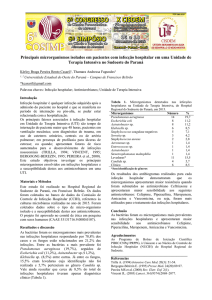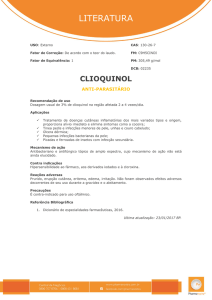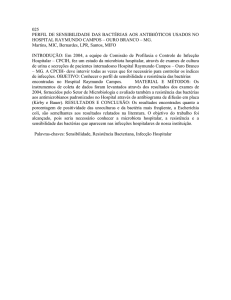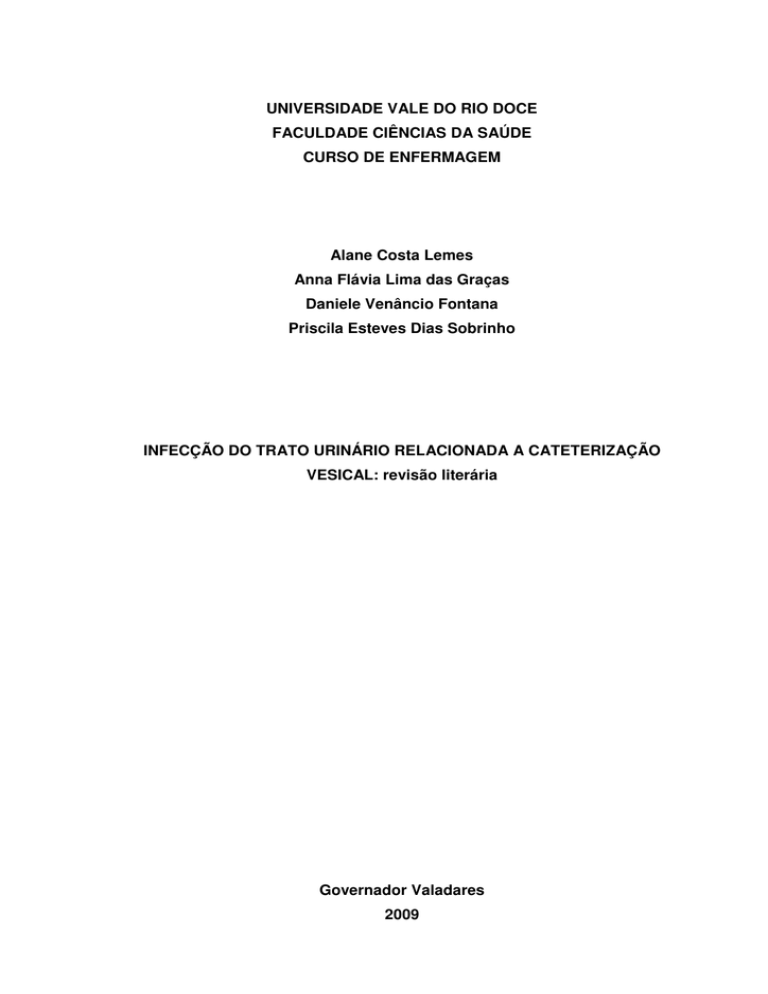
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE
FACULDADE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE ENFERMAGEM
Alane Costa Lemes
Anna Flávia Lima das Graças
Daniele Venâncio Fontana
Priscila Esteves Dias Sobrinho
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO RELACIONADA A CATETERIZAÇÃO
VESICAL: revisão literária
Governador Valadares
2009
ALANE COSTA LEMES
ANNA FLÁVIA LIMA DAS GRAÇAS
DANIELE VENÂNCIO FONTANA
PRISCILA ESTEVES DIAS SOBRINHO
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO RELACIONADA A CATETERIZAÇÃO
VESICAL: revisão literária
Monografia para a obtenção do grau de
bacharel em Enfermagem, apresentada a
Faculdade de Ciências da Saúde da
Universidade do Vale do Rio Doce.
Orientadora: Mônica Valadares Martins
Governador Valadares
2009
ALANE COSTA LEMES
ANNA FLÁVIA LIMA DAS GRAÇAS
DANIELE VENÂNCIO FONTANA
PRISCILA ESTEVES DIAS SOBRINHO
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO RELACIONADA A CATETERIZAÇÃO VESICAL:
revisão literária
Monografia para a obtenção do grau de
bacharel em Enfermagem, apresentada a
Faculdade de Ciências da Saúde da
Universidade do Vale do Rio Doce.
Governador Valadares, 23 de junho de 2009.
Banca Examinadora:
_________________________________________________
Enfª. Mônica Valadares Martins - Orientadora
Universidade Vale do Rio Doce
_________________________________________________
Enfª. Elizabete Maria de Assis Godinho
Universidade Vale do Rio Doce
_________________________________________________
Enfª. Débora Moraes Coelho
Universidade Vale do Rio Doce
_________________________________________________
Profª. Enfª. Késia Salvador Pereira
Universidade Vale do Rio Doce
Dedicamos aos nossos familiares,
esposos e namorados pelo incentivo,
apoio e força nos momentos difíceis e de
superação. Amigos e colegas que
compreenderam nossa ausência e
silêncio. Aos mestres pelo conhecimento
e experiências compartilhados.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos...
A Deus, que nos proporcionou força, coragem, persistência e nos ter mostrado o
caminho a percorrer.
Aos nossos familiares, esposos, namorados e amigos pelo amor, paciência,
incentivo, apoio e por acreditar nos nossos objetivos e capacidade.
Aos colegas de faculdade que estiveram presentes nesses anos.
Aos professores que fizeram parte importante para nosso crescimento científico e
prático da profissão que escolhemos.
A nossa orientadora, Mônica Valadares Martins, por ter nos conduzido e
compartilhado o seu conhecimento, com competência e dedicação.
A todos que, direta ou indiretamente, deixaram sua parcela de contribuição e se
mostraram presentes nesse trabalho.
“A vida não dá nem empresta; não se comove
nem se apieda...
Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir...
Tudo aquilo que nós lhe oferecemos.”
Albert Einstein
RESUMO
Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica com objetivo de revelar as
descrições encontradas na literatura acerca das complicações infecciosas
relacionadas ao uso de cateter urinário, bem como a atuação da equipe de
enfermagem na sua prevenção e controle. Para a realização do estudo utilizou a
revisão bibliográfica referente ao período compreendido entre 1997 a 2008 optando
trabalhar com o banco de dados da biblioteca virtual Bireme, base de dados Lilacs e
Scielo, sites do Ministério da Saúde, livros, revistas e artigos com abordagem em
infecção do trato urinário relacionada a cateterização vesical. A infecção hospitalar é
toda a complicação infecciosa relacionada a assistência realizada no ambiente
hospitalar, onde a de maior freqüência é a infecção do trato urinário, que
compreende processos infecciosos que podem acometer desde a uretra até o tecido
renal, sua maior incidência esta relacionada ao cateterismo vesical. Sendo o
enfermeiro o profissional mais relevante e sua atuação voltada para a prevenção e
controle das infecções hospitalares, cabe a esse adotar e implantar medidas
profiláticas em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A
pesquisa tornou-se ainda mais relevante pela alta ocorrência de complicações
infecciosas associadas a manipulação do trato urinário através da cateterização
vesical, tanto pela freqüência, quanto por serem as infecções nosocomiais com
maior probabilidade de prevenção.
Palavras-chaves: Infecção hospitalar. Infecção do trato urinário. Sondagem vesical.
Assistência de enfermagem.
ABSTRACT
This study is a bibliography review with the objective of reveal the descriptions found
in the literature about the infectious complications related to the use of the urinary
catheter, as well as the action of the team of nursing in its prevention and control. For
the achievement of the study was utilized the bibliography review regarding the
period understood between 1997 to 2008 by using the database from the virtual
library like Bireme, Lilacs and Scielo, the Department of the Health website, books,
magazines and articles with approach in infection of the urinary tract related to the
use of vesical catheterization. The hospital infection is all the infectious complication
related with the aid carried out in the hospital environment, where the major
frequency is the urinary tract infection. This infectious process can occur since the
urethra until the renal tissue, and the major incidence is related to the use of vesical
catheterization. Being the nurse the most promitent professional acting to prevent
and control the hospital infections, is her/his responsibility adopts and implants the
prophilacts procedures in partnership with the Hospital Infection Control Commission.
The research became more relevant by the high occurrence of infectious
complications associated with the manipulation of the urinary tract through the use of
vesical catheterization, as much by the frequency, as by be the nosocomial infections
with major prevention probability.
Keywords: hospital infection, urinary tract infection, sonda vesical, nursing
assistency.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .........................................................................................................9
2 DESENVOLVIMENTO ...........................................................................................13
2.1 REVISÃO DA LITERATURA ...............................................................................13
2.1.1 Infecção hospitalar.........................................................................................13
2.1.2 História das infecções hospitalares .............................................................15
2.1.2.1 Evolução e o controle das infecções hospitalares no Brasil ..........................19
2.1.3 Critérios para diagnóstico de infecção hospitalar ......................................21
2.1.4 Medidas gerais de prevenção das infecções hospitalares.........................22
2.1.4.1 Higiene das mãos..........................................................................................24
2.1.5 Principais sítios de infecção hospitalar .......................................................25
2.1.5.1 Infecção no sítio cirúrgico..............................................................................25
2.1.5.2 Infecção no trato respiratório.........................................................................27
2.1.5.3 Infecções relacionadas ao acesso vascular ..................................................28
2.1.5.4 Infecções relacionadas a dispositivos implantáveis ......................................30
2.1.5.5 Infecções do trato urinário ...........................................................................300
2.2 SISTEMA URINÁRIO ........................................................................................311
2.2.1 Anatomia e fisiologia ...................................................................................311
2.2.2 Epidemiologia das infecções do trato urinário............................................34
2.2.3 Patogênese ...................................................................................................355
2.2.4 Manifestações clínicas.................................................................................366
2.2.5 Fatores de risco............................................................................................377
2.2.6 Tipos de cateterismo vesical.........................................................................38
2.2.7 Sistema de drenagem urinária ....................................................................388
2.2.7.1 Sistema de drenagem de urina fechado........................................................39
2.2.8 Tratamento..................................................................................................3939
2.2.9 Prevenção e controle das infecções do trato urinário ..............................400
2.2.10 A atuação do enfermeiro no controle de infecções hospitalares e na
prevenção das infecções do trato urinário .........................................................411
2.2.10.1 Cuidados de enfermagem ao portador de cateterismo vesical....................43
2.3 METODOLOGIA..................................................................................................44
3 CONCLUSÃO ........................................................................................................47
REFERÊNCIAS.........................................................................................................48
9
1 INTRODUÇÃO
Segundo Veiga e Padoveze (2003), infecção é uma doença que envolve
microorganismos como fungos, bactérias, vírus e protozoários e que se inicia com a
penetração do agente infeccioso no corpo do hospedeiro ocorrendo assim uma
proliferação com conseqüente apresentação de sinais e sintomas que podem ser
febre, dor local, alteração dos exames laboratoriais, debilidade entre outros. Podem
acontecer em diversas localizações topográficas do indivíduo ou disseminar pela
corrente sanguínea, porém, alguns patógenos têm preferência por determinadas
regiões. “Infecção é a resposta inflamatória provocada pela invasão ou presença de
microorganismos em tecidos orgânicos” (SEEGMÜLLER et al. apud SOUZA;
MOZACHI, 2005, p.153).
Geralmente, as infecções são provocadas pela própria microbiota bacteriana
humana que se desequilibra com os mecanismos de defesa antiinfecciosa em
decorrência da doença, dos procedimentos invasivos e do contato com os
microorganismos hospitalares (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005).
Para que a infecção aconteça é necessária uma cadeia de eventos como
organismo etiológico, reservatório, porta de saída do reservatório, modalidade de
transmissão para o hospedeiro, hospedeiro suscetível e porta de entrada para o
microorganismo. Os organismos etiológicos que provocam infecções são as
bactérias, Rickettsiae, fungos, vírus, protozoários e helmintos (SMELTZER; BARE,
2005).
Conforme cita Smeltzer e Bare (2005) a infecção pode ser transmitida de
qualquer pessoa através do Trato Respiratório, Trato Gastrintestinal, Trato
Geniturinário e pelo sangue. Para a infecção acontecer o hospedeiro deve ser
suscetível, ou seja, não possuir imunidade para o patógeno, pois uma pessoa
imunossuprimida apresenta suscetibilidade muito maior que o hospedeiro saudável.
Segundo a Portaria 2.616, de 12 de maio de 1998, as infecções podem ser
classificadas em comunitárias e hospitalares (BRASIL, 2005).
Fernandes (2000) explica que infecção comunitária é aquela constatada ou
em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com
internação anterior no mesmo hospital. São também comunitárias: a infecção que
está associada com complicação ou extensão da infecção já presente na admissão,
10
a menos que haja troca de microorganismos com sinais ou sintomas fortemente
sugestivos da aquisição de nova infecção, a infecções em recém-nascido com bolsa
rota superior a 24 horas, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi
comprovada e se tornou evidente logo após o nascimento como herpes simples,
toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, sífilis e Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS).
A Infecção Hospitalar é um processo infeccioso que o indivíduo adquire após
a sua hospitalização ou realização de procedimentos ambulatoriais como
cateterismo cardíaco e a sua manifestação pode ocorrer após sua alta, conforme
Veiga e Padoveze (2003). Outras infecções hospitalares poderão emergir em
decorrência de procedimentos realizados durante a internação, podendo acometer
distintos sítios vinculados a esta manipulação.
Cosendey (2000) relata que a infecção hospitalar é um processo infeccioso
que não estava presente ou evidente quando o paciente foi internado no hospital.
Pode ser causada pela microbiota do próprio corpo do paciente ou por
microorganismos encontrados no ambiente e instrumental do hospital. SILVA et al.
(2007) relatam que atualmente no Brasil, 15% dos pacientes internados contraem
algum tipo deste agravo infeccioso, existindo casos que podem ser evitados.
A infecção hospitalar representa um dos principais problemas de qualidade da
assistência a saúde, um problema econômico devido à importante incidência e
letalidade significativa. A sua ocorrência amplia o prejuízo da instituição, do paciente
e da sociedade como um todo (SILVA, R., 2003).
O risco de adquirir infecção em um hospital é diretamente proporcional à
gravidade da doença, às condições nutricionais do paciente, aos procedimentos
necessários em seu tratamento, bem como ao tempo de internação (MOURA &
SILVA, 2001). Sua incidência é maior em hospitais universitários do que em
hospitais da comunidade devido a maior gravidade das doenças ou procedimentos
mais complicados que são ali realizados. As internações mais longas e a interação
mais efetiva dos pacientes com vários profissionais de saúde, além de estudantes e
membros da equipe, contribuem para esse aumento (COSENDEY, 2000).
Em revisão literária BRAGA et al. (2004) observaram que pacientes graves
que requerem cuidados intensivos e prolongados estão mais expostos a riscos de
adquirirem infecções nosocomiais. Nas Unidades de Terapia Intensiva esta
ocorrência infecciosa é motivo de preocupação em virtude de maior exposição aos
11
procedimentos de risco, necessários aos pacientes gravemente acometidos para
elucidação terapêutica e preservação dos parâmetros vitais.
A infecção hospitalar irá prolongar o tempo de internação, gerando um
aumento do consumo de medicamentos e elevação dos custos adicionais para a
instituição, pacientes e famílias. O processo infeccioso irá retardar o retorno do
indivíduo às suas atividades normais, muitas vezes, retorno com graves seqüelas.
Representam grandes transtornos para a instituição e pacientes nela internados
devido à letalidade significativa. É responsável, direta ou indiretamente, por elevação
das taxas de morbidade e mortalidade (BRAGA et al., 2004).
De acordo com Couto, Pedrosa e Nogueira (2003) e Oliveira (2005) a
infecção do trato urinário, dentre todas as topografias, representa o principal sítio e
corresponde a 35-45% do total. SILVA et al. (2007) e Oliveira (2005) relatam que as
infecções do trato respiratório ocupam o 2º lugar e estimam que ocorram de 5-10
casos por 1000 admissões. A infecção do sítio cirúrgico, conforme cita Oliveira
(2005), tem sido apontada como uma das mais temidas complicações do ato
cirúrgico. Couto, Pedrosa e Nogueira (2003) afirmam que a infecção adquirida nesta
topografia representa cerca de 20% das infecções nosocomiais. Cerca de 250.000
de 2 milhões de infecções hospitalares anuais estão vinculadas a corrente
sanguínea, em decorrência do uso de algum dispositivo vascular, ressalta Oliveira
(2005).
Dentre as infecções hospitalares que acometem o trato urinário, cerca de 70 a
88% delas têm relação com a cateterização vesical. Nos grandes centros de terapia
intensiva em clínicas médico-cirúrgicas dos Estados Unidos, a ocorrência de
infecção do trato urinário é de cerca de 10 episódios/1.000 pacientes-dia, reduzindo
em nosso meio para 7,8 episódios/1.000 pacientes-dia de acordo com Couto,
Pedrosa e Nogueira (2003)
Os fatores de risco para essa síndrome estão relacionados ao sexo feminino,
alterações anatômicas e uso de cateterismo vesical (OLIVEIRA, 2005). Couto,
Pedrosa e Nogueira (2003) consideram como principais fatores de risco para a
infecção do trato urinário: o tipo de cuidado com o sistema de drenagem urinária,
uso de sonda vesical de demora, tipo e qualidade do sistema de coleta de urina
utilizado, sexo feminino, idade avançada, doença de base grave, insuficiência renal,
diabetes melito e colonização meatal.
12
A prevenção e o controle das infecções do trato urinário no ambiente
hospitalar baseiam-se em utilização de técnicas assépticas na inserção e
manipulação do cateter vesical, lavagem adequada das mãos, eliminação do
cateterismo desnecessário e manutenção da higiene perineal, asseveram COUTO et
al. (2003), Couto, Pedrosa e Nogueira (2003) e Oliveira, (2005).
Considerando a descrição de SILVA et al. (2007) de que a infecção do trato
urinário pode disseminar-se para outros sítios, mais freqüentemente para o sitio
cirúrgico e que, 50% dos casos são causados pela Escherichia coli, associado ao
fato de ser a cateterização procedimento comum em todas as unidades de
tratamento, notadamente mais expressivo nas unidades de tratamento intensivo e a
vivência dos pesquisadores durante os estágios obrigatórios quanto ao tema, além
da necessidade de intensificar a capacitação e treinamento para o cuidado com
cateter vesical de demora, tanto para os profissionais quanto para os pacientes que
os utilizam, foi realizada pesquisa de revisão literária para melhor compreensão
desse agravo. Este estudo torna-se ainda mais relevante pela alta ocorrência de
complicações infecciosas associadas à manipulação do trato urinário através da
cateterização vesical, tanto pela frequência, quanto por serem as infecções
nosocomiais com maior probabilidade de prevenção.
Portanto, sendo o controle de infecção hospitalar um tema de extrema
importância científica, social, cultural e econômica, além de ser esta ocorrência um
grave problema de saúde pública e, considerando o relato de que a infecção do trato
urinário atinge patamares de destaque no ranking das infecções nosocomiais
brasileiras, este estudo visou revelar as descrições encontradas na literatura acerca
das complicações infecciosas relacionadas ao uso de cateter urinário, bem como a
atuação da equipe de enfermagem na sua prevenção e controle. Para a condução
desse estudo de revisão bibliográfica utilizou-se o banco de dados do acervo da
biblioteca da Universidade do Vale do Rio Doce, como artigos científicos da BIREME
e revistas de enfermagem que retratam esse tema.
13
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 REVISÃO DA LITERATURA
2.1.1 Infecção hospitalar
Infecção hospitalar é toda complicação infecciosa decorrente da assistência
prestada em serviços de saúde e, quanto maior a complexidade dessa assistência,
maior o risco para a sua aquisição (BRASIL, 2005).
Conforme descreve Cosendey (2000) as pessoas que circulam pela
instituição de serviço de saúde e em torno dos pacientes podem representar um
fator de risco para a ocorrência de infecções hospitalares. Essas podem ser evitadas
através de medidas educativas rigorosas quanto à imunização e comportamentos
que minimizam a disseminação de doenças. O risco varia de acordo com o
mecanismo de transmissão dos agentes.
Segundo
Turrini
(2002)
os
avanços
tecnológicos
relacionados
aos
procedimentos invasivos, diagnósticos e terapêuticos e o aparecimento de
microrganismos multirresistentes aos antimicrobianos usados rotineiramente na
prática hospitalar tornaram a Infecção hospitalar um problema de saúde pública. As
maiores taxas desses processos infecciosos são observadas em pacientes nos
extremos da idade e nos serviços de oncologia, cirurgia e terapia intensiva.
Um estudo retrospectivo de registro de óbitos em um hospital de São Paulo
realizado por Turrini (2002) retratou que as Infecções hospitalares têm contribuído
para o aumento do risco de morte entre os pacientes mais graves e
imunocomprometidos. Pacientes nos extremos de idade são considerados como
mais suscetíveis a esse agravo, sendo essa a causa principal de morbidade e
mortalidade em recém nascido. Ainda nesse estudo, constatou-se que apesar de
pessoas acometidas pela Infecção hospitalar terem maior probabilidade de morrer,
as infecções tendem a ocorrer em indivíduos que já possuem um risco potencial de
morte pela doença base e que o grau de morbidade relaciona-se à gravidade da
doença base, bem como a qualidade de assistência prestada ao cliente.
14
O diagnóstico da presença e localização da Infecção hospitalar é confirmado
pelo conjunto de dados clínicos e laboratoriais. O tempo de acompanhamento do
paciente para que se defina a instalação de processo infeccioso de origem
nosocomial será de 48 horas após a alta do Centro de Terapia Intensiva; 30 dias
após cirurgia sem prótese; ou 01 ano após cirurgia com prótese. Qualquer infecção
do neonato até 28º de vida é classificada como hospitalar, desde que a via de
aquisição não seja transplacentária (SILVA et al., 2007).
[...] Quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção
comunitária, for isolado um germe diferente, seguido do agravamento das
condições clínicas do paciente, o caso deverá ser considerado IH. [...]
Quando se desconhecer o período de incubação do microorganismo e não
houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da
internação, convenciona-se como IH toda manifestação clínica de infecção
que se apresentar a partir de 72horas após a admissão. (SEEGMÜLLER et
al. apud SOUZA; MOZACHI, 2005, p.153).
As Infecções hospitalares são perigosas para o cliente e profissionais de
saúde, levam a sofrimentos e gastos excessivos e podem levar a processos judiciais
quando há negligência comprovada. Prolongam as internações hospitalares e
aumentam o risco de morrer, o diagnóstico e o tratamento custam bilhões de dólares
anualmente e quanto mais tempo o cliente permanecer no hospital mais chance terá
de desenvolver essa ocorrência (COSENDEY, 2000).
É sabido que o índice de agravos infecciosos adquiridos nos serviços de
saúde em decorrência de procedimentos é variável e tem relação direta com o tipo
de atendimento prestado e complexidade de cada instituição hospitalar. É importante
ressaltar que não existe uma taxa de Infecção hospitalar ideal, pois cada serviço tem
a sua particularidade e todos devem almejar sua redução progressiva através da
adoção das medidas de controle de infecção hospitalar preconizadas (WEY;
DARRIGO apud VERONESI, 2002).
A Infecção hospitalar tem-se tornado uma das principais preocupações na
área da saúde e sua redução ainda é um desafio aos serviços, profissionais e
gestores das instituições prestadoras de serviços. Coutinho (2006), baseado nos
dados do Ministério da Saúde, refere que o Brasil apresenta um percentual de
infecção nosocomial em torno dos 15% entre os pacientes internados. Brasil (2004)
conta 5% na média mundial e 9% a 20% aceitos pela Organização Mundial de saúde
(OMS).
15
No entanto, desde a promulgação da Lei Federal 6.431 de 1998, todos os
hospitais brasileiros foram obrigados a constituir uma Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar, que deve elaborar o Programa de Controle de Infecções
Hospitalares, definido como um conjunto mínimo de ações para reduzir ao máximo
possível a incidência e gravidade das infecções adquiridas em instituições e serviços
de saúde. Assim, quem não tiver constituído sua comissão ou se ela não for atuante,
elaborando um programa de controle eficaz, já incorre em um delito e pode sofrer as
conseqüências legais decorrentes desse erro. O Estado já começa a se
instrumentalizar para exercer seu papel de zelar pela saúde coletiva, elaborando um
roteiro de vigilância para se avaliar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar
(FERNANDES, 2005).
2.1.2 História das infecções hospitalares
Cavalcanti (2002) descreve que os microrganismos causadores das
infecções, existem e convivem no meio ambiente muito antes do surgimento do ser
humano. Couto, Pedrosa e Nogueira (2003) afirmam que a infecção hospitalar é tão
antiga quanto a origem dos hospitais. Os doentes eram internados sem separação
quanto à patologia que apresentavam. As doenças infecciosas se espalhavam
rapidamente entre os hospitalizados. Não havia saneamento adequado, a origem da
água não era conhecida, as camas eram partilhadas por mais de um paciente.
O concílio de Nicéia há 325 anos d.C. (depois de Cristo) determinou que os
hospitais fossem construídos ao lado das catedrais. Os pacientes em recuperação
ou infectados conviviam em um mesmo ambiente. As doenças infecciosas se
disseminavam com grande rapidez entre os internados e, não raro, o paciente era
admitido no hospital com determinada doença e falecia de outra, especialmente de
cólera ou febre tifóide (COUTO, PEDROSA e NOGUEIRA, 2003).
Em 460 d.C. na Grécia, Hipócrates com suas observações e registros dos
fenômenos biológicos, relatou a importância da lavação das mãos antes da cirurgia,
o uso da água fervida e vinho na limpeza dos ferimentos contribuíam para cura das
feridas (OLIVEIRA, 2005).
16
Ainda no século XVII, na Europa, época em que a famosa Peste Negra
dizimou milhares de pessoas, mesmo sem os conhecer o modo de transmissão das
doenças infecciosas, empiricamente era recomendado o uso de vestimentas
protetoras. O médico particular do rei Luiz XIV, Charles Delorme, idealizou uma
vestimenta de couro, completada por luvas e uma longa haste de madeira para
evitar contato próximo e/ou direto com os enfermos (SCHREIBER, 1987).
Em 15 de maio de 1847, Ignaz Philip Semmelweis, em Viena, introduziu a
lavagem das mãos com água clorada antes de procedimentos cirúrgicos. Uma
medida simples e eficiente que conseguiu reduzir a taxa de mortalidade materna
puerperal (OLIVEIRA, 2005; SILVA et al., 2007).
Figura 1 - Semmelweis e a lavagem das mãos, 1847.
Fonte: Rodrigues et al., 1997.
Semmelweis em 1847 determinou que a partir de hoje, 15 de maio de 1847,
todo estudante ou médico, é obrigado, antes de entrar nas salas da clínica
obstétrica, a lavar as mãos, com uma solução de ácido clórico, na bacia colocada na
entrada. Esta disposição vigorará para todos, sem exceção (RODRIGUES et al.,
1997).
Mais tarde, Florence Nightingale (1863) descreveu uma série de cuidados de
enfermagem com o objetivo de diminuir o risco de infecção hospitalar, dando ênfase
às questões de higiene e limpeza nos hospitais (OLIVEIRA, 2005; SILVA et al.,
2007). A base do conhecimento para a criação dos seus inúmeros princípios foi
17
construída em hospitais militares a partir de suas experiências na Guerra da Criméia.
Propôs que as enfermeiras mantivessem um relato de óbitos hospitalares como
forma de avaliação do próprio serviço. Essa é certamente a primeira referência a
alguma forma de vigilância epidemiológica e retorno de informações aos executores
das atividades hospitalares como critério de melhoria da qualidade da assistência
(WENZEL apud COUTO, PEDROSA e NOGUEIRA, 2003).
Figura 2 - Florence Nightingale e os feridos na guerra da Criméia
Fonte: www.medicinaintensiva.com.br
Entre 1940-1960 o Staphylococcus aureus, era o principal agente etiológico,
mas o tratamento com antibióticos e os programas educativos diminuíram a infecção
por esse microrganismo. Hoje se observa a incidência aumentada de Pseudomonas
e outras bactérias gram negativas como Escherichia coli. O Staphylococcus aureus
e Staphylococcus coagulase negativa têm adquirido resistência ao antibiótico e
ressurgiram na década de 90 patógenos de perigosas cruzadas (COSENDEY,
2000).
Na década de 50, de acordo com SILVA et al. (2007), surgiram as primeiras
cepas de Staphylococcus resistentes à penicilina e na década de 60 o uso
indiscriminado de antibiótico favoreceu a instalação de cepas resistentes de
Pseudomonas e Enterobactérias.
Em meados de 1950, os Estados Unidos eram assolados por uma pandemia
de Staphylococcus cada vez mais resistentes aos antimicrobianos disponíveis.
18
Nessa época, o Centro de Doenças Comunicáveis dos Estados Unidos, mais tarde,
Centro de Controle de Doenças (CDC- Center for Dease and Prevention Control),
criou uma divisão para assessorar os hospitais americanos na investigação das
epidemias. Em 1958, foram realizadas duas conferencias para a discussão de
questões relacionadas a infecção hospitalar. Foram discutidas as bases de
transmissão de doença infecciosas e definidas estratégias de sua prevenção
centradas na lavagem das mãos (HALLEY et al., 1980 apud COUTO, PEDROSA e
NOGUEIRA, 2003).
Os primeiros relatos de processos infecciosos relacionados a procedimentos
realizados durante a assistência a saúde parecem surgir quando Cristóvão em 1956
questionou sobre esterilização do material hospitalar e Francisconi no ano 1959
levantou dúvidas sobre o uso indiscriminado/inadequado de antibióticos (SILVA et
al., 2007).
Em 1867 Joseph Listes contribuiu para as práticas assépticas. Os bons
resultados do tratamento com ácido carbólico de feridas infectadas incitaram o uso
desse ácido como anti-séptico de pele. Levando em consideração o ar como veículo
de disseminação de doenças, preconizou o uso desse ácido aspergido no ambiente
para diminuir essa forma de contágio (COUTO; PEDROSA e NOGUEIRA, 2003).
No início do século XIX, na Inglaterra, foi estabelecido formalmente o
isolamento de pacientes com algumas doenças, como a varicela. A eficácia desse
procedimento passou a ser frequentemente descrita (FINLAND et al., 1986 apud
COUTO; PEDROSA e NOGUEIRA, 2003).
O estudo da infecção hospitalar no Brasil surgiu no início da década de 70,
partindo da iniciativa de algumas instituições e de pesquisadores que manifestaram
suas preocupações com advento do problema. A infecção cruzada está inserida na
historia da medicina que se inicia com a luta, tanto pela sobrevivência quanto pelo
intento de conhecer o mundo por forças poderosas e ocultas, assim descreve
Oliveira (2005).
A década de 1970 foi aberta com a primeira conferência internacional sobre
infecções hospitalares que discutiu a validade das diversas formas de vigilância
epidemiológica. Nessa ocasião, menos de 10% dos hospitais tinham enfermeiras
nesse controle, adotavam o sistema de drenagem fechada de urina ou faziam troca
regular de cânula venosa periférica a cada 72 horas. Em 1972 foi criada a
Association for Practitioners in Infection Control (APIC) (HALEY et al., 1980 apud
19
COUTO; PEDROSA e NOGUEIRA, 2003). Nessa visão, ressaltam que, ainda na
década de 1970, teve Início o National Nosocomial Infection Surveillance System
(NNISS), que traduzido para o português significa sistema de vigilância nacional de
infecções hospitalares, congregava 70 hospitais americanos com objetivo inicial de
estabelecer uma visão panorâmica desse agravo infeccioso nos Estados Unidos.
De acordo com Oliveira (2005), em 1860 James Young Simpson introduziu o
termo Hospitalismo, referindo-se os riscos inerentes à assistência hospitalar; 1881
Robert Koch descreveu a esterilização a vapor; 1876 a 1882 Joseph Lister publicou
trabalho sobre assepsia e anti-sepsia, introduziu conceito de cirurgia asséptica e
1928 a 1942 Fleming descobre a penicilina que reduz as infecções estreptocócicas
nos pacientes hospitalizados.
Segundo Gross (1991) apud Couto, Pedrosa e Nogueira (2003) a década de
1990 se caracterizou pela expansão cada vez maior do campo da epidemiologia
hospitalar. O sistema de saúde norte-americano vem tendo sua relação custo
benefício duramente questionada. Os epidemiologistas passam a ser considerados
motores desse movimento para melhoria de qualidade que se espera repercutir em
melhores serviços com menor custo. As ferramentas da epidemiologia e da
estatística, já usadas a muito em amplas áreas da ciência, passam a ser de
fundamental importância no entendimento dos vários problemas hospitalares.
2.1.2.1 Evolução e o controle das infecções hospitalares no Brasil
No Brasil, o problema da infecção hospitalar só foi assumido pelo estado em
1983, com a Portaria nº196, de 24 de junho de 1983, quando tornou obrigatória a
implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar em todos os hospitais.
Foram
também
criadas
atribuições
dessas
comissões
como:
vigilância
epidemiológica com coleta passiva de dados, notificação feita pelo médico ou
enfermeira, treinamento em serviço, elaboração de normas técnicas, precauções
para pacientes com alguma infecção, controle do uso de antimicrobianos, normas de
seleção de germicidas e preenchimento de relatórios (BRASIL, 1983).
A primeira Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relatada no Brasil foi
na década de 60 no Hospital Ernesto Dornelles, em 1963, no Rio Grande do Sul. As
20
primeiras comissões multidisciplinares foram criadas nos anos 70 em hospitais
públicos e privados, principalmente aqueles ligados a escolas médicas (MARTINS,
2005 apud OLIVEIRA, 2005). No estado de Minas Gerais foi criada a Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar no Hospital das Clínicas em 1° de agosto de 1978
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1993 houve a publicação da Lei n°
11.053 em 30 de março de 1993, em que os hospitais públicos e privados ficariam
submetidos à condição de envio de relatórios anuais de situação da infecção
hospitalar na instituição, prática indispensável para liberação de alvará de
funcionamento (BRAGA et al., 2006).
Lacerda (2002) em estudo de produção científica observou que na década de
60 os enfermeiros quase não discutem sobre as infecções cruzadas, mas
contribuem referindo-se a higiene, anti-sepsia, desinfecção e esterilização. Já na
década de 70 o país entra na era das infecções nosocomiais modernas endógenas e
multirresistentes. A assistência médica e a tecnologia são introduzidas, o termo
infecção hospitalar e as publicações sobre sua problemática geral intensificam-se,
escreve-se sobre a necessidade desse controle em todos os hospitais. Ainda nessa
década surge a principal alternativa para administrar o problema de forma
sistematizada e, através das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar foi
publicada pela primeira vez, a necessidade de uma enfermeira na comissão,
reconhecendo-a como um dos agentes principais.
Na década de 80 o Centro de Controle de Doenças recomendava um
enfermeiro em tempo integral para 250 leitos no hospital a fim de alterar o controle
de infecção. Nos anos 90 houve a implantação das precauções universais, hoje
precauções padrão, que implicam o uso de Equipamento de Proteção Individual na
assistência a todo e qualquer paciente, independente do seu estado infeccioso.
Em 27 de Agosto de 1992, o Ministério da Saúde expediu na forma de anexos
as normas para o controle das infecções hospitalares, revogando a Portaria 196, de
24 de Junho de 1983, editando a atual e vigente de nº. 930 onde todos os hospitais
do país deverão manter Programas de Controle de Infecção Hospitalar,
independentemente da entidade mantenedora e constituiu a comissão responsável
pela normatização e pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, encarregado
do exercício das ações programadas pela comissão, estabelecendo um médico e
uma enfermeira para cada 200 leitos. A implantação e a fiscalização dessas
comissões são de competência das Secretarias de Saúde dos Estados sendo
21
amparadas pela Lei Federal 9.431/97 que dispõe sobre a obrigatoriedade da
manutenção de programas de controle destes agravos pelos hospitais do país
(NOGUEIRA, 2003 apud COUTO; PEDROSA e NOGUEIRA, 2003).
Em 2002, de acordo com Oliveira (2005) a Unidade de Controle de Infecção
Hospitalar é denominada Gerência de Investigação e Prevenção das Infecções e
Efeitos Adversos. Em 2003 a resolução RDC nº. 33 da ANVISA, de 5 de março de
2003 revogada por RDC nº. 306, de 07 dezembro de 2004 modifica alguns conceitos
da regulamentação anterior, estabelece Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde. Os resíduos de serviços de saúde foram reclassificados e
divididos nos seguintes em grupos: A (resíduos potencialmente infectados), B
(Químicos), C (Radioativos), D (Comuns) e E (Pérfuro-cortantes).
Em 2004 foi desenvolvido um software Sistema Nacional de Informação para
Controle de Infecção em Serviço de Saúde, de domínio público (SINAIS) que é uma
ferramenta para o aprimoramento das ações de prevenção e controle das infecções
relacionadas à assistência de saúde, possibilitando a consolidação do sistema de
monitoramento da qualidade da assistência dos serviços de saúde no Brasil. O
sistema permite a entrada de dados e emissão de relatórios em uma rotina de
trabalho que acompanha as atividades já desenvolvidas pelas comissões de controle
de infecção (OLIVEIRA, 2005).
2.1.3 Critérios para diagnóstico de infecção hospitalar
A Portaria nº. 2.616, de 12 de Maio de 1.998 dispõe sobre os princípios para
os critérios de diagnóstico de infecção hospitalar:
a) o diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar informações
colhidas através de evidência clínica derivada da observação direta do
paciente ou da análise de seu prontuário, resultados de exames de
laboratório,
ressaltando-se
os
exames
microbiológicos,
pesquisa
de
antígenos, anticorpos e métodos de visualização realizados, evidências de
estudos com métodos de imagem, endoscopia, biópsia e outros;
b) quando na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção
comunitária, foi isolado um germe diferente, seguido do agravamento das
22
condições clínicas do paciente, o caso deverá ser considerado como infecção
hospitalar;
c) quando se desconhecer o período de incubação do patógeno e não houver
evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da
internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de
infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a
admissão;
d) são também convencionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas
antes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas a
procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados durante esse
período;
e) as infecções de recém-nascidos são hospitalares, com exceção das
transmitidas de forma transplacentária e aquelas associadas a bolsa rota
superior a 24 (vinte e quatro) horas;
f) pacientes provenientes de outro hospital que se internam com infecção são
considerados portadores de infecção hospitalar da instituição de origem.
Nesses casos, a Coordenação Estadual, Distrital, Municipal e/ou o hospital de
origem deverão ser informados para computar o episódio como infecção
naquele serviço de saúde (BRASIL, 2005).
2.1.4 Medidas gerais de prevenção das infecções hospitalares
Smeltzer e Bare (2005) estimam que aproximadamente um terço de todas as
infecções nosocomiais poderia ser evitado através do Programa de Controle de
Infecção Hospitalar efetivo que inclui:
a) programa de vigilância para infecção hospitalar e esforços de controle
vigorosos;
b) pelo menos um profissional de controle de infecção para cada 250 leitos
hospitalares;
c) um epidemiologista treinado;
d) retroalimentação para cirurgia em risco de infecção de sítio cirúrgico.
23
Muitos hospitais não constituíram todos os quatro aspectos exigidos para
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e estima-se que apenas 9% das
infecções esperadas sejam evitas (SMELTZER; BARE, 2005).
O Programa de Controle de Infecção Hospitalar é responsável pela coleta de
dados e identificação dos pacientes com infecção cruzada, determinando e
notificando a incidência mensal à CCIH da instituição com o objetivo principal de
reduzir o risco de infecções hospitalares dos pacientes, funcionários e visitantes, por
isso, deve-se realizar vigilância metódica desses agravos infecciosos, estabelecer
normas e recomendações processuais por escrito para evitar e controlar essas
infecções, orientar os membros da equipe quanto aos métodos usados para evitá-las
e controlá-las e avaliar periodicamente o programa para verificar sua eficiência.
Também deve refletir as práticas de assistência aos pacientes e as recomendações
processuais, baseados na epidemiologia e para ter eficácia na assistência ao cliente,
este programa deve ser ajustado à população de pacientes com vários tipos de
necessidade de atendimento, às práticas e aos recursos específicos de cada
instituição (COSENDEY, 2000).
Cosendey (2000) também afirma que algumas infecções hospitalares são
inevitáveis, mas, alguns estudos calcularam que 30% delas poderiam ser evitadas
se os profissionais de saúde lavassem as mãos cuidadosamente antes e depois de
entrarem em contato com líquidos corporais, utilizando as técnicas assépticas
rigorosas durante a introdução de cateter e durante a cirurgia, além de tomar
precauções especiais quando manusear dispositivos respiratórios.
O controle de infecção hospitalar, além de atender às exigências legais e
éticas, tornou-se, também, uma necessidade econômica. A infecção adquirida
dentro dos serviços de saúde passou a ser vista como um epifenômeno que serve
como importante índice da qualidade de assistência a saúde, assim como o serviço
de prevenção passou a ser considerado programa prioritário de garantia de
qualidade na assistência (SILVA, R., 2003).
Segundo Veiga e Padoveze (2003) a Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar tem a função de:
a) detectar casos de infecção hospitalar seguindo critérios de diagnósticos;
b) conhecer as principais infecções hospitalares detectadas e definir sua
ocorrência;
24
c) elaborar normas de padronização para que os procedimentos sigam
técnica asséptica, diminuindo o risco do paciente adquirir infecções;
d) colaborar no treinamento de todos profissionais de saúde no que se refere
a prevenção e controle das infecções hospitalares;
e) realizar controle da prescrição de antibióticos, evitando que sejam
utilizados de maneira descontrolada;
f) recomendar medidas de isolamento e precauções em casos de doenças
transmissíveis quando se trata de pacientes internados;
g) oferecer apoio técnico a administração hospitalar para aquisição correta de
materiais e equipamentos para o planejamento adequado da área física das
unidades de saúde.
Para Cosendey (2000), hoje, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
tem suas próprias organizações e as instituições que prestam serviços de saúde
investem em recursos significativos nas atividades de controle. Podendo assim,
afirmar que os hospitais que implantam e mantém programa para controle destes
agravos são capazes de reduzir em quase um terço os seus índices de infecções
cruzadas.
O profissional especializado em controle de infecção, geralmente tem
formação em enfermagem, tecnologia médica ou microbiológica e recebeu
treinamento em cursos aplicados pelas organizações regionais e/ou nacionais e
instituições acadêmicas e deve participar do desenvolvimento das políticas e
procedimentos de educação, do controle de qualidade, aperfeiçoamento, da
consultoria e investigações sobre possíveis surtos de infecção, além de poder
colher, organizar e analisar dados (COSENDEY, 2000).
2.1.4.1 Higiene das mãos
Oliveira e Armond apud Oliveira (2005, p.289) relatam que as mãos são a
principal via de transmissão de microrganismos no ambiente hospitalar, portanto,
higienizar as mãos é um dos principais procedimentos na rotina dos profissionais de
saúde e uma maior adesão a essa prática é um desafio para as equipes de
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Além de proteger o paciente, a
25
lavagem das mãos representa uma importante barreira de biossegurança contra a
disseminação de microrganismos entre pacientes, artigos e superfícies hospitalares.
As mãos são os condutores para praticamente toda transferência de
patógenos potenciais de um cliente para outro, de um objeto contaminado
para o cliente, ou de um membro da equipe de saúde para o cliente. Assim,
a lavagem das mãos é, isoladamente, o processo mais importante para a
prevenção da infecção. Para proteger clientes de Infecções Hospitalares, a
lavagem das mãos deve ser realizada rotineiramente e de modo completo.
Com efeito, com as mãos limpas e saudáveis, pele intacta, unhas aparadas
e sem anéis reduz-se ao mínimo o risco de contaminação. Unhas artificiais
podem funcionar como reservatórios de microrganismos, e é mais difícil a
remoção de microrganismos de mãos ásperas ou rachadas (ARCHER et al.,
2005, p.77).
A higienização das mãos irá depender do processo escolhido, podendo variar
desde uma lavagem simples das mãos com água e sabão até a degermação ou antisepsia pré-operatória dos profissionais da equipe cirúrgica. Há mais de um século e
meio que Semmelweis descobriu a importância da lavagem das mãos e ainda existe
uma grande dificuldade desse procedimento ser implementado entre as equipes
(OLIVEIRA; ARMOND apud OLIVEIRA, 2005, p.293).
Cabe lembrar que as mãos dos profissionais da saúde são consideradas
fatores de riscos em potencial na transmissão de patógenos, sendo a manobra mais
fácil, barata e de melhor rendimento para a prevenção de qualquer infecção
hospitalar (AMARANTE apud RODRIGUES et al., 1997).
2.1.5 Principais sítios de infecção hospitalar
2.1.5.1 Infecção no sítio cirúrgico
De acordo com Smeltzer e Bare (2005) a pele é composta por três camadas:
epiderme, derme e tecido subcutâneo que forma uma barreira entre os órgãos
internos e o ambiente externo além de participar de várias funções vitais. Uma das
funções é a proteção, apesar de não possuir mais de 1mm de espessura,
proporciona proteção efetiva quanto a invasão por bactérias e outros materiais não
próprios do corpo humano.
26
Seegmüller (2005) afirma que quando se realiza um procedimento cirúrgico
haverá um rompimento da pele e que as infecções pós-cirúrgicas devem ser
analisadas de acordo com o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, este
potencial se define com o número de microrganismos presentes no tecido a ser
operado. O cirurgião deve classificar a cirurgia no final de seu ato seguindo a
indicação de cirurgia limpa, potencialmente contaminada ou infectada.
Apesar de grandes avanços na medicina em campo cirúrgico, a Infecção de
Sítio Cirúrgico ainda é um grande desafio e continua a ser uma das mais temidas
complicações decorrentes do ato cirúrgico, ressalta Fernandes; Filho; Oliveira apud
Oliveira (2005, p.93). Oliviera, A.; Ciosak (2007) relatou que dentre as infecções
hospitalares, essas têm sido apontadas como um dos mais importantes sítios de
infecção, sendo a causa mais comum de complicações pós-operatórias. De acordo
com Couto, Pedrosa e Nogueira (2003) a infecção pós cirurgia representa cerca de
24% de todas aquelas que se instalam no pós-operatório e Cosendey (2000) registra
que ela prolonga as internações do paciente cerca de 6 dias.
De acordo com Fernandes, Filho e Oliveira apud Oliveira (2005, p.93), o
Centro de Controle de Doenças nos EUA, calcula um risco de infecção de 2,7% por
procedimento, ocorrendo assim, aproximadamente 486.000 episódios anuais de
ISC, onde se realiza mais de 2 milhões de cirurgias todos os meses e a média de
internação é de 1-3 dias. A infecção de sítio cirúrgico apresenta uma mortalidade de
4,3% e representa 14% de todos os efeitos adversos da hospitalização. Pode ser
diagnosticada em 4 ou 5 dias após a realização da cirurgia, em casos de implante de
prótese em até um ano após (COSENDEY, 2000).
Fernandes, Filho e Oliveira apud Oliveira (2005, p.94) acreditam que a
microbiota do paciente seja a principal origem da infecção de sítio cirúrgico e que
microrganismos originados dos membros da equipe e um instrumental podem
veicular indiretamente um agente infeccioso e que aproximadamente 40% dos
profissionais que participam do procedimento cirúrgico são portadores do
Staphylococcus aureus, assim quanto mais pessoas estiverem envolvidas na
cirurgia, maior será o número de agentes patológicos no ar e quanto maior a
movimentação da equipe, maior será a contagem bacteriana.
SILVA et al. (2007) relatam que os agentes mais frequentes em infecções de
sítio cirúrgico são aqueles comumente encontrados na pele do indivíduo sadio:
Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativo. Este agravo poderá
27
ser causado por patógenos que atingem a incisão durante o ato cirúrgico na
exposição de tecido interno ao meio ambiente. Quando não há o fechamento
primário da ferida cirúrgica, na deiscência, dreno ou manipulação excessiva, poderá
ocorrer a contaminação no período pós-operatório, o que permite, ocasionalmente, o
implante secundário de patógenos por via hematogênica. Em estudo, o
levantamento do banco de dados de uma instituição de saúde evidenciou a
probabilidade de que infecções em ferida operatória são diretamente afetadas pelo
potencial de classificação da cirurgia e que fatores como o tempo de duração do
procedimento e classificação do índice podem estar relacionados ao risco do
processo infeccioso. Observou-se ainda que essa instituição possui um elevado
percentual de procedimentos cirúrgicos eletivos e demonstrou que 54% dos agravos
infecciosos em pós operados ocorreram em cirurgias limpas, seguidas das
potencialmente contaminadas (SILVA et al., 2007).
2.1.5.2 Infecção no trato respiratório
Como citado por Smeltzer e Bare (2005) o sistema respiratório é composto
pelos tratos respiratórios superior e inferior que, em conjunto, são responsáveis pela
ventilação. O superior é constituído pelo nariz, seios paranasais, passagens nasais,
faringe, tonsilas, adenóides, laringe e traquéia e tem função de aquecer e filtrar o ar
respirado. O inferior consiste nos pulmões que contêm as estruturas brônquicas e
alveolares e sua função é realizar as trocas gasosas.
Conforme SILVA et al. (2007) as infecções nesta topografia ocupam o 2º lugar
nas doenças infecciosas em ambiente hospitalar, perdendo somente para as
infecções do trato urinário. Essa incidência é causada pelos avanços tecnológicos
na medicina, que utiliza cada vez mais os instrumentos invasivos de suporte de vida
na assistência a pacientes críticos. Estes pacientes vulneráveis diferem e
desestruturam os mecanismos naturais de defesa do organismo, favorecendo a
ocorrência de infecções hospitalares e prolongando a internação dos pacientes em
4-9 dias (COSENDEY, 2000).
Corrêa apud Oliveira (2005, p.133) diz que a pneumonia hospitalar é aquela
adquirida no ambiente hospitalar, após 48 horas ou mais de internação. Estima-se
28
que ocorram de 5-10 casos para cada 1.000 admissões, cujo risco aumenta de 1-3%
por dia de pacientes intubados na Unidade de Terapia Intensiva. A incidência varia
de 8-28% de acordo com o tipo e complexidade do tratamento intensivo, tempo de
permanência, duração da ventilação mecânica e com a metodologia empregada.
Carrilho (1999) em estudo realizado em um hospital no norte do Paraná
identificou os seguintes fatores de risco para pneumonia hospitalar: rebaixamento do
nível de consciência, craniotomia, uso prévio de antibióticos, ventilação mecânica,
uso de sonda gástrica, dieta enteral, aspiração de conteúdo gástrico, presença de
cateter venoso central e tempo de internação.
As taxas de morbidade e letalidade são elevadas, especialmente quando os
agentes etiológicos apresentam grande potencial de resistência antimicrobiana. A
pneumonia associada à ventilação mecânica aumenta o tempo de permanência na
Unidade de Terapia Intensiva, elevando os custos hospitalares (CORRÊA apud
OLIVEIRA, 2005, p.133).
Os bastonetes gram negativos são os precursores da pneumonia em
pacientes gravemente enfermos, relata Couto et al. (2003). A pneumonia é a
infecção do trato respiratório em ambiente hospitalar mais estudada devido a sua
importância na epidemiologia das infecções nosocomiais e por representar o agravo
infeccioso relacionado a procedimentos realizados durante a assistência a saúde
com maior dificuldade de controle por suas características fisiopatogênicas e pela
maior morbimortalidade (VERONESI, 2002).
As pneumonias hospitalares ocorrem com maior freqüência em pacientes
submetidos a tratamento intensivo, sujeitos a assistência respiratória com ventilação
mecânica e ao uso de cânulas traqueais (CORRÊA apud OLIVEIRA, 2005, p.133).
2.1.5.3 Infecções relacionadas ao acesso vascular
De acordo com Fernandes, Fernandes M. e Filho apud Oliveira (2005, p.189)
mais da metade dos pacientes internados na Europa e nos Estados Unidos fazem
uso de algum tipo de dispositivo vascular. Cerca de 250.000 de 2 milhões de
episódios anuais de complicações infecciosas adquiridas durante a hospitalização
29
têm como topografia a corrente sanguínea, causando 370.500 óbitos anuais e, 87%
dos casos de Infecção na Corrente Sanguínea relacionam-se ao acesso vascular.
Segundo SILVA et al. (2007) cerca de 60% dos pacientes utilizam cateter
endovenoso, contudo, desde o seu surgimento, em 1945, tornam-se consideráveis
os riscos de infecção associada ao seu uso.
Geralmente os cateteres vasculares tornam-se colonizados no decorrer de
tempo após sua instalação, ocorrendo crescimento de colônias de microrganismos
na sua superfície endoluminal ou externa, na interface com a pele e no tecido
subcutâneo. A colonização do cateter é, em sua maioria, assintomática, sendo a
infecção local manifestada pela presença de sinais flogísticos como rubor, calor, dor,
edema e secreção purulenta no trajeto do dispositivo (FERNANDES; FERNANDES
M.; FILHO apud OLIVEIRA, 2005, p.192).
Consideram-se infecções nosocomiais primárias da corrente sanguínea, toda
infecção em parte que tenha hemocultura positiva para bactéria ou fungo, colhida 48
horas após a hospitalização e que caracterize importância clínica (SILVA et al.,
2007).
As Infecções primárias da corrente sanguínea têm grande importância no
contexto das infecções hospitalares pelo seu alto custo e, principalmente, pela alta
taxa de mortalidade a ela atribuída, cerca de 14-38%. O risco global de adquirir
infecções primárias da corrente sangüínea relacionadas ao cateter intravascular
corresponde a 1%, sendo maior nos pacientes internados em unidades de terapia
intensiva, onde são submetidos a intensa manipulação vascular e a vários
procedimentos invasivos imprescindíveis ao tratamento (SILVA et al., 2007).
Os fatores de risco relacionados à infecção do acesso vascular, de acordo
com Franck (2005) são a colonização cutânea, colonização da conexão do cateter,
infusão contaminada, cateterização prolongada, manipulação frequente do sistema,
tipo de material do cateter, gravidade da doença de base e local de inserção do
cateter. A mais grave complicação associada à inserção e manutenção de cateter
vascular central é a sepse apresentando como patógeno principal o Staphylococcus
coagulase negativo (SILVA et al., 2007).
30
2.1.5.4 Infecções relacionadas a dispositivos implantáveis
As infecções relacionadas a dispositivos implantáveis são classificadas de
acordo com o intervalo de tempo decorrido da implantação à exteriorização do
processo infeccioso em: precoces quando a complicação ocorre entre dois e três
meses do implante e tardias, após esse período. Essas infecções ainda subdividem
em superficiais e profundas. O diagnóstico para infecção nesse caso deve ser
estendido em até um ano da data do implante (RODRIGUES et al., 1997).
Uma grande variedade de dispositivos artificiais é usada na medicina para
auxiliar ou exercer funções fisiológicas importantes. Dentre eles estão as próteses e
dispositivos artificiais usados para substituir parcial ou totalmente estruturas
biológicas defeituosas (COUTO et al., 2003).
Ainda COUTO et al. (2003), explicam que toda infecção em prótese que
ocorre nos primeiros doze meses após o implante é considerada nosocomial, a
menos que haja evidências epidemiológicas de aquisição comunitária. A
contaminação pode ocorrer no contato entre o microrganismo e o biomaterial antes
ou após o implante. As infecções associadas a implantes são causadas comumente
por Staphylococcus sp. A infecção inicia quando a bactéria adere diretamente no
dispositivo a ser implantado antes da inserção, ou após, quando a bactéria adere às
proteínas do hospedeiro.
2.1.5.5 Infecções do trato urinário
As infecções do trato urinário são as infecções nosocomiais mais freqüentes
em hospitais gerais, correspondendo de 35 a 45% do total de infecções, sendo 70 a
88% delas relacionadas à sondagem vesical (PEDROSA; COUTO apud COUTO et
al., 2003). Essas infecções compreendem processos infecciosos da uretra,
glândulas periuretrais, próstata, bexiga, ureter, pelve e parênquima renal (AZEVEDO
apud MARTINS, 2001).
Atualmente, Escherichia. coli é responsável por menos de 50% dos casos de
infecções nosocomiais do trato urinário relacionada à sondagem vesical e patógenos
31
resistentes como Klebsiela sp., Pseudomonas sp. e Enterobacter sp. vêm se
tornando cada vez mais freqüentes. Candida sp, Enterococcus e Staphylococcus
coagulase negativa são outros agentes infectantes em potencial (PEDROSA;
COUTO apud COUTO et al., 2003).
Para que a infecção aconteça, o patógeno deve ter acesso à bexiga, fixar-se
e colonizar o epitélio do trato urinário evitando ser depurado com a micção, fugindo
dos mecanismos de defesa e, somente após, iniciar a inflamação. Muitos casos
resultam de organismos presentes em resíduos fecais que ascendem do períneo até
a uretra e bexiga, aderindo depois à superfície da mucosa (SMELTZER; BARE,
2005).
Associadas a alta ocorrência de infecções, além dos custos com o aumento
do tempo de hospitalização e propedêutica, estão a morbidade e a mortalidade
relevantes. Cerca de 35.000 casos de bacteremia secundária às infecções do trato
urinário relacionadas à sondagem vesical ocorrem anualmente nos Estados Unidos,
com mortalidade associada de 13%. Além da bacteremia, os pacientes com
sondagem vesical estão sujeitos a outras complicações infecciosas e nãoinfecciosas. A infecção pode se disseminar para outros sítios do trato urinário e
cursar com formação de abscessos perinefrético, vesical ou uretral, assim como
epididimite, orquite e refluxo vesicouretral. Esta infecção poderá ocasionar outras a
distância sendo aquela de sítio cirúrgico secundário, a complicação infecciosa mais
freqüente (PEDROSA; COUTO apud COUTO et al., 2003).
Os custos adicionais em decorrência destes agravos são de difícil abordagem
pela dependência da gravidade da infecção, presença de doenças de base e
característica da instituição hospitalar, afirma Rodrigues et al. (1997).
2.2 SISTEMA URINÁRIO
2.2.1 Anatomia e fisiologia
O sistema urinário é composto por um par de rins que filtra o sangue e forma
a urina, dois ureteres que transportam a urina até a bexiga, a bexiga urinária que
32
armazena a urina e a uretra que transporta a urina para o meio externo (SLEUTJES,
2004; SPENCE, 1991).
Segundo Sleutjes (2004) e Spence (1991) os rins são dois órgãos de cor
marron-avermelhada localizados na parede posterior da cavidade abdominal,
posteriormente ao peritônio parietal. Eles estão situados à direita e à esquerda da
coluna vertebral, sendo o da direita localizado inferior em relação ao da esquerda
devido o posicionamento do fígado. Esse órgão tem formato de um grão de feijão, e
apresenta duas faces, anterior e posterior, e duas bordas, medial e lateral. Suas
extremidades, superior e inferior, são chamadas pólos, e sobre esses estão a
glândula supra-renal, que pertence ao sistema endócrino. Na borda medial encontrase a região do hilo, por onde passam o ureter, a artéria e veias renais, vasos
linfáticos e nervos. Os rins também possuem unidades funcionais denominadas
túbulos renais que são constituídos de néfrons e túbulos coletores.
De acordo com Smeltzer e Bare (2005) a urina é formada nos néfrons através
de um complexo processo de três etapas: filtração glomerular, reabsorção tubular e
secreção tubular. As substâncias normalmente filtradas pelo glomérulo, reabsorvidas
pelos túbulos e excretadas na urina incluem sódio, cloreto, bicarbonato, potássio,
glicose, uréia, creatinina e ácido úrico. Dentro do túbulo, algumas dessas
substâncias são seletivamente reabsorvidas para dentro do sangue. Outras são
secretadas a partir do sangue para dentro do filtrado, quando esse faz trajeto para
baixo no túbulo.
A urina é composta por água e substâncias que foram filtradas e não
reabsorvidas, de acordo com Spence (1991). O ureter é definido como um túbulo
muscular que une o rim a bexiga. A urina goteja dos túbulos coletores no ápice das
papilas e penetra nos cálices menores, destes para os cálices maiores e depois para
a pelve renal. Da pelve renal a urina é transportada para a bexiga urinária através
dos ureteres. Os ureteres penetram nas faces póstero-laterais da bexiga urinária.
Durante o enchimento da bexiga há contração de sua musculatura para o ureter.
Como resultado, os músculos das paredes da bexiga atuam como esfíncteres sobre
os ureteres. Formam-se, ao redor dos óstios dos ureteres, pregas da mucosa da
bexiga semelhantes a válvulas que auxiliam na prevenção do refluxo de urina
durante a micção (SLEUTJES, 2004).
A bexiga urinária é uma bolsa situada posteriormente à sínfise púbica, um
órgão muscular utilizado no armazenamento de urina. A face anterior da bexiga está
33
situada atrás da sínfise púbica, nos homens está localizada anteriormente ao reto, e
nas mulheres anteriormente ao útero e a porção superior da vagina. Quando cheia,
a bexiga adquire forma esférica e, quando vazia, seu formato se assemelha a uma
pirâmide invertida. Ela pode conter 600 a 800ml de urina, mas normalmente se
esvazia antes que atinja a plenitude de sua capacidade. De acordo com Sleutjes
(2004) à medida que a bexiga se enche de urina, suas paredes são distendidas,
estimulando receptores no interior dessas paredes a transmitir números crescentes
de impulsos sensitivos para a região sacral da medula espinal. Esses impulsos
estimulam neurônios parassimpáticos que inervam a musculatura lisa das paredes
de bexiga e inibem neurônios motores somáticos que se dirigem para o músculo e o
esfíncter externos da uretra. Consequentemente, quando aproximadamente 300ml
de urina é acumulada na bexiga, os músculos de sua parede se contraem, o
esfíncter externo da uretra se relaxa e a bexiga se esvazia (micção).
A uretra é um tubo muscular, forrado por uma membrana mucosa, que sai da
face inferior da bexiga urinária e transporta a urina dela para o meio externo. Como
descrito por Sleutjes (2004), na junção da uretra com a bexiga, a musculatura lisa da
bexiga que circunda a uretra atua como um esfíncter (esfíncter interno da uretra) que
tende a manter a uretra fechada. Durante o esvaziamento da bexiga as mudanças
de sua forma, resultantes da contração, abrem o esfíncter. Logo, nenhum
mecanismo especial é necessário para que o esfíncter se relaxe. Como a uretra
atravessa o assoalho da pelve (diafragma urogenital), ela é circundada por
musculatura estriada esquelética que forma seu esfíncter externo. Quando
contraído, o esfíncter se encontra sob controle voluntário, sendo capaz de manter a
uretra fechada em oposição a fortes contrações na bexiga.
Ainda de acordo com Sleutjes (2004) e Spence (1991), no sexo feminino a
uretra é curta, medindo aproximadamente 4 cm, e se localiza anteriormente a
vagina, abrindo-se no exterior pelo óstio externo da uretra, situado entre o clitóris e o
óstio da vagina. A uretra masculina possui cerca de 20 cm e se dirige ao óstio
externo da uretra, localizado no ápice da glande do pênis.
34
2.2.2 Epidemiologia das infecções do trato urinário
Azevedo e Armond apud Oliveira (2005, p.124) afirma que as infecções do
trato urinário representam um dos principais sítios de infecção hospitalar devido a
sua
alta
freqüência,
possíveis
complicações
e
repercussões
econômicas.
Compreende processos infecciosos que acometem desde a uretra até o tecido renal.
Acontece em homens e mulheres de qualquer faixa etária, sendo o sexo feminino o
mais susceptível, pela condição anatômica de uretra mais curta. Cosendey (2000)
relata que as infecções do trato urinário podem prolongar a internação hospitalar do
paciente em 3,8 dias e acarretar um custo anual de 2 bilhões de dólares com o
tratamento ao sistema americano.
Segundo Couto e Pedrosa (2004) estas ocorrências constituem as infecções
mais freqüentes em hospitais gerais, correspondendo a 35-45% do total de infecção,
sendo 70-88% delas relacionadas à sonda vesical. Mais de 10% dos pacientes são
cateterizados durante a internação, cerca de um terço fica com a sonda menos de
um dia, sendo em média dois dias. Daqueles que ficam um dia, 10-15% terão
bacteriúria. Já Azevedo e Armond apud Oliveira (2005, p.124) afirmam que 80% dos
casos
das
infecções
do
trato
urinário
hospitalares
estão
relacionados,
principalmente, ao cateterismo vesical e 20% estão associados a outros
procedimentos urológicos.
Esses agravos infecciosos são classificados como infecção do trato urinário
superior na pelve renal e rins como pielonefrite aguda ou crônica, abscesso renal ou
perirrenal e nefrite intersticial, menos comuns, ou inferiores na bexiga, próstata e
uretra. Podem ser complicadas ou não complicadas dependendo de outras
condições ligadas ao paciente. Várias infecções do trato urinário não complicadas
são comuns na comunidade em geral e, as complicadas ocorrem em indivíduos com
anormalidades urológicas ou cateterismo recente e são freqüentes em hospitais. A
bacteriúria e as infecções do trato urinário são comumente detectadas em pessoas
com idade igual ou superior a 65 anos (SMELTZER; BARE, 2005).
O cateterismo vesical de demora é de uso comum em praticamente todas as
unidades hospitalares, especialmente nas unidades críticas como aquelas de terapia
intensiva. As infecções associadas a sonda vesical são importantes, tanto pela sua
35
freqüência, quanto por ser uma das infecções nosocomiais com maior probabilidade
de prevenção (COUTO; PEDROSA, 2004).
Os pacientes em alto risco de infecção do trato urinário em razão do
cateterismo precisam ser identificados e monitorados com rigor. [...] Eles
são observados quanto aos sinais e sintomas de infecção do trato urinário:
urina turva e com odor fétido, hematúria, febre, calafrios, anorexia e
indisposição. A área ao redor do orifício uretral é observada quanto a
drenagem e escoriação. As culturas de urina proporcionam o meio mais
exato de avaliar um paciente quanto a infecção (SMELTZER; BARE, 2005,
p.1356).
Além da bacteremia, os pacientes estão sujeitos a outras complicações
infecciosas. A infecção pode se disseminar para outros sítios do trato urinário e
cursar com formação de abscesso perinefrético, vesical ou uretral, assim como
epididimite, orquite e refluxo vesicouretral. A infecção do trato urinário pode
ocasionar infecções à distância, sendo a infecção de sítio cirúrgico a mais freqüente
(SILVA et al., 2007).
A Escherichia. coli é responsável por menos de 50% de casos de infecções
do trato urinário nosocomial relacionada a sonda vesical e patógenos resistentes
como Klebsiela sp, Pseudomonas sp e Enterobacter sp vem se tornando cada vez
mais freqüentes. A Candida sp, Enterococcus e Staphylococcus coagulase negativo,
são outros agentes infectantes em potencial (SILVA et al., 2007).
Azevedo e Armond apud Oliveira (2005, p.124) afirmam que os principais
patógenos responsáveis pela infecção do trato urinário são a Escherichia coli,
Klebsiella sp, Enterobacter sp, Proteus sp, Enterecoccus sp, Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter sp, Serratia, Staphylococcus sp (coagulase negativo),
Candida sp e outros.
2.2.3 Patogênese
Segundo Azevedo e Armond apud Oliveira ( 2005, p.125), patógenos urinários
que habitualmente colonizam a região perineal irão colonizar a região periuretral e
as vias hematogênica e linfática. O cateter vesical é o principal fator predisponente
na patogênese das infecções do trato urinário hospitalar, podendo o microorganismo
alcançar o trato unário através do lúmen do cateter a partir da bolsa coletora ou da
desconexão da junção cateter/tubo coletor (via intraluminal) ou do espaço entre a
36
mucosa uretral e superfície externa do cateter (via extraluminal), essa, é responsável
por mais de 70% dos casos. Alguns estudos nos últimos anos têm mostrado o papel
importante da capacidade de aderência e crescimento das bactérias na superfície
interna do cateter, que contribui para melhor compreensão da patogênese da
infecção do trato urinário relacionada ao cateter de demora. Duas populações de
bactérias foram isoladas no trato urinário de pacientes cateterizados: o grupo de
crescimento na urina e outro de desenvolvimento na superfície do cateter, no
biofilme, afirma Rodrigues et al. (1997). “Muitas infecções do trato urinário resultam
de organismos fecais que ascendem a partir do períneo até a uretra e bexiga,
aderindo, depois, às superfícies da mucosa” descrevem Smeltzer e Bare (2005).
As infecções do trato urinário superiores estão associadas ao revestimento de
anticorpo das bactérias na urina. As bactérias alcançam a bexiga por meio da uretra
e ascendem ao rim (SMELTZER; BARE, 2005).
2.2.4 Manifestações clínicas
Os sinais e sintomas da infecção do trato urinário superior compreendem
febre, calafrios, dor no flanco ou lombar, náuseas e vômitos, cefaléia, indisposição e
micção dolorosa. Já as manifestações da infecção do trato urinário inferior
correspondem à queimação na hora da micção, incontinência e dor supra púbica ou
pélvica. Quanto aos casos relacionados à cateterização vesical por sondas de
demora, as manifestações podem variar desde bacteriúria até sepse por patógenos
gram negativo culminando em choque. Em casos mais graves de infecção do trato
urinário ocorre um maior espectro de agentes etiológicos que apresentam uma
menor taxa de resposta ao tratamento tendendo a reincindivas (SMELTZER; BARE,
2005).
A queda da ocorrência da bacteriúria relacionada ao cateter vesical deve-se a
alguns fatores, conforme descrevem Rodrigues et al, (1997):
a) maior juízo crítico para se indicar o cateterismo vesical;
b) remoção do cateter vesical o mais precocemente possível;
c) aumento
da
antimicrobianos;
população
cateterizada
utilizando
concomitantemente
37
d) maior efetividade do controle de infecções hospitalares devido a novos
conhecimentos da problemática;
e) melhor qualidade do cateter;
f) utilização de sistemas fechados de drenagem, fator essencial na redução
de da infecção do trato urinário relacionada ao cateterismo vesical.
Segundo Azevedo e Armond apud Oliveira (2005, p.125), o paciente
apresenta febre maior ou igual a 38ºC, urgência miccional, aumento da freqüência,
disúria, desconforto suprapúbico, piúria, bradicardia, apnéia, letargia, vômitos. Pode
ocorrer também, a infecção urinária assintomática, quando em uso de cateter vesical
de demora como principal causa.
2.2.5 Fatores de risco
Os fatores de risco podem estar associados aos pacientes de sexo feminino,
alterações anatômicas do trato urinário, gravidez, homens maiores de 50 anos com
disfunções
prostáticas,
idade
avançada,
doenças
de
base
associadas,
especialmente a diabetes, déficit neurológico e imunológico e/ou aos procedimentos
diagnósticos, insuficiência renal ou terapêutica como duração da cateterização, tipo
de material do cateter, técnicas de inserção e manipulação inadequadas,
colonização meatal utilização de antimicrobianos, indicação inadequada de
procedimento diagnóstico (AZEVEDO e ARMOND apud OLIVEIRA, 2005, p.125 e
Couto et al., 2003).
SILVA et al. (2007) reforça a descrição de que esses fatores de risco
dependerão do tipo de cuidado com o sistema de drenagem urinária, uso de sonda
vesical de demora, tipo de sistema usado, sexo feminino, idade avançada, doença
de base grave, insuficiência renal, diabetes e colonização meatal.
38
2.2.6 Tipos de cateterismo vesical
Azevedo e Armond apud Oliveira (2005, p.129) relatam que os tipos de
cateterismo vesical são:
a) cateterismo de alívio: inserção de cateter estéril pelo canal uretral até a
bexiga para drenagem imediata da urina e logo após é retirado;
b) cateterismo de demora: cateter estéril inserido no canal uretral até a
bexiga para drenagem contínua da urina por um determinado período, é um
sistema fechado com válvula anti-refluxo que impossibilita o retorno urinário
da bolsa coletora para o tubo de drenagem e conseqüentemente para a
bexiga;
c) cateterismo intermitente: realização de sondagens de alívio a intervalos de
tempo predefinido, essa, visa evitar o cateterismo de demora, a família e o
paciente devem ser treinados e orientados para o procedimento;
d) cateterismo supra púbico: consiste na introdução de uma agulha fina e
estéril na pele da região suprapúbica ao nível da bexiga para drenagem da
urina. A sonda é inserida dentro da bexiga e fixado com sutura ou
esparadrapo, e depois conectado a um sistema de drenagem fechado e
estéril, o equipo é fixado para evitar a tensão sobre o cateter (SMELTZER e
BARE, 2005).
2.2.7 Sistema de drenagem urinária
O sistema de drenagem urinária pode ser aberto ou fechado. A incidência de
bacteriúria em pacientes submetidos a cateterismo vesical sistema aberto é de
100% após o 4º dia, quando utilizado o sistema fechado, o risco é de
aproximadamente 5-10% por dia de cateterização e por esse motivo o sistema
aberto não é recomendado (AZEVEDO e ARMOND apud OLIVEIRA, 2005, p.125).
39
2.2.7.1 Sistema de drenagem de urina fechado
Conforme Smeltzer e Bare (2005) o sistema fechado é constituído por uma
sonda de demora, um equipo de conexão e uma bolsa coletora com um
compartimento anti-refluxo esvaziado por uma torneira de drenagem. Esse sistema é
destinado a evitar desconexão, reduzindo o risco de contaminação. Outro sistema
comum é composto por um cateter de demora com luz tríplice preso a um sistema
de drenagem estéril fechado, onde a drenagem ocorre através de um canal. O balão
de retenção é insuflado com água ou ar pelo segundo canal e no terceiro canal uma
solução estéril irriga continuamente a bexiga.
Durante o cateterismo microrganismos podem ser inseridos através da uretra
até a bexiga, ou podem migrar ao longo da superfície epitelial da uretra ou da
superfície da própria sonda. Quando o dreno da bolsa de drenagem urinaria é aberto
para esvaziar a bolsa pode ser contaminado, as bactérias entram se multiplicam
com rapidez e migram para o equipo de drenagem sonda e bexiga (SMELTZER;
BARE, 2005).
2.2.8 Tratamento
De acordo com Azevedo e Armond apud Oliveira (2005, p.126) os
antimicrobianos indicados para o tratamento as infecções do trato urinário devem ser
orientados pelas características epidemiológicas da instituição, pelo perfil de
sensibilidade dos microorganismos isolados e pela gravidade do quadro clínico.
RAMOS et al. (2008) citam que em infecções com repercussões sistêmicas, inicia-se
o tratamento por via parenteral e substitui pela oral 48 horas após a estabilização
das condições clínicas e no caso de sonda vesical, a sua retirada é suficiente para a
cura.
Smeltzer e Bare (2005) relatam que o tratamento das infecções do trato
urinário envolve a terapia farmacológica e a educação do paciente. Para o
tratamento ideal recomenda-se um agente antimicrobiano que erradica a bactéria do
40
trato urinário com efeitos mínimos sobre as floras fecal e vaginal, deve ser adequado
e que produza poucos efeitos adversos e baixa resistência.
Em infecção do trato urinário complicada quase sempre, com o controle
microbiológico através de cultura, se escolhe uma cefalosporina ou uma combinação
de ampicilina/aminoglicosídeo. Ocasionalmente, medicamentos como a ampicilina
ou amoxicilina são utilizados, mas a Escherichia coli desenvolveu resistência a
esses agentes. Estudos mostram que as ciprofloxacina são mais efetivas em
pacientes da comunidade e residentes em asilos (GOMOLIN & MCCUE, 2000;
TALAN et al., 2000 apud SMELTZER; BARE, 2005, p.1399).
A levofloxacina é uma boa escolha para a terapia de curto prazo de infecção
do trato urinário branda a moderada não complicada, mas, antes o patógeno deve
ser identificado e a fenazoperidiva é um analgésico urinário que pode ser prescrito
para aliviar o desconforto associado à infecção (BONAPACE et al., 2000 apud
SMELTZER; BARE, 2005, p. 1390).
2.2.9 Prevenção e controle das infecções do trato urinário
Segundo SILVA et al. (2007) os cuidados preventivos de infecções na
topografia de trato urinário baseiam-se na assepsia do sistema de drenagem. As
medidas são dirigidas para a prevenção do acesso das bactérias ao sistema de
drenagem fechado e são mais efetivas em cateter com menos de sete dias, sendo
que a medida de prevenção mais eficaz é a abolição do uso desnecessário do
cateterismo vesical (COUTO et al., 2003).
Azevedo e Armond apud Oliveira (2005, p.129) recomendam evitar o máximo
a cateterização vesical, principalmente a de demora e seguir rigorosamente:
a) a técnica de inserção do cateterismo;
b) lavar rigorosamente as mãos antes e depois de manusear o sistema de
drenagem vesical;
c) usar luvas ao manipular o sistema urinário e evitar dobras no tubo de
drenagem;
41
d) evitar o uso de balonete com capacidade superior a 15ml, quanto maior o
balonete, maior a quantidade de urina residual, aumentando a possibilidade
de ocorrência de infecção urinária;
e) o sistema de drenagem fechado deve ser indicado de preferência, o que
permite a amostra de urina sem violação do sistema, usar cateter uretral de 3
vias em caso de irrigação vesical;
f) esvaziar a bolsa coletora de urina a cada 8 horas ou quando o volume
urinário alcançar dois terços da bolsa e não deixá-la tocar no chão e mantê-la
abaixo do nível da bexiga;
g) remover secreções ressecadas, ao nível da junção entre o cateter e o
meato uretral;
h) lavar com água e sabão, uma a duas vezes por dia a região perianal de
pacientes que utilizam o sistema vesical de demora;
i) evitar trocas rotineiras do cateter, que deverá ser trocado para corrigir
problemas como extravasamento, bloqueio ou incrustações;
j) evitar manuseio desnecessário do cateter pelo paciente ou pela equipe.;
k) monitorizar a micção do paciente quando o cateter é removido;
l) obter amostra de urina para cultura ao primeiro sinal de infecção.
2.2.10 A atuação do enfermeiro no controle de infecções hospitalares e na
prevenção das infecções do trato urinário
Enfermeiros que se especializam no controle das infecções hospitalares são
responsáveis pelo desenvolvimento de políticas gerais da instituição e pela direção
do programa. Enfermeiros das equipes de assistência desempenham um papel
importante na redução de risco desse agravo ao darem atenção à higiene das mãos,
garantindo a administração cuidadosa de antibióticos e seguindo os procedimentos
que reduzem os riscos associados a aparelhos de cuidados do paciente
(SMELTZER; BARE, 2005).
RAMOS et al. (2008) relatam que um dos pilares do controle das infecções
hospitalares é o aprimoramento contínuo de todos os profissionais da instituição.
Além de coletar os dados e tabulá-los, o enfermeiro deve dedicar o seu tempo na
42
implantação de medidas de controle e treinamento de pessoas em vários níveis de
saúde. A busca ativa é realizada pelo enfermeiro e em poucas instituições, auxiliado
pelo médico. A implementação do Processo de Enfermagem pode tornar-se útil se
os enfermeiros da assistência forem treinados para incluir em sua prática o controle
de infecção. A atenção do profissional enfermeiro deve direcionar-se as medidas
profiláticas e de controle das infecções hospitalares, tendo como meta garantir a
qualidade da assistência oferecida aos pacientes.
Fontana e Lautert (2006) em estudo de caso descritivo realizado nos hospitais
da região 12ª Coordenadora Regional de Saúde no ano de 2000, destacaram que a
enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relatou sentir falta de
informações e atualização básica sobre o método e técnica de prevenção de
infecção cruzada, vigilância epidemiológica, sistema de notificação, falta de apoio
administrativo ou falta de treinamento específico. Sendo a enfermeira a profissional
que supervisiona a equipe de enfermagem e seus procedimentos invasivos ou não,
é de grande importância identificação e notificação dos casos de infecções
relacionadas a hospitalização ou a procedimentos terapêuticos realizados durante a
assistência em serviços de saúde.
O controle de infecção hospitalar exige conhecimento e atuação de todos os
enfermeiros de qualquer setor e não somente do Enfermeiro da equipe de Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar. É imprescindível que todo profissional
enfermeiro tenha capacidade de saber agir frente a uma doença de alta
transmissibilidade e situações de risco para adquirir uma infecção cruzada (RAMOS
et al., 2008). Enfermeiros devem desempenhar ações de prevenção e controle de
infecções hospitalares, pois constituem elo principal entre a equipe de saúde e o
paciente submetido a procedimentos de enfermagem, por serem responsáveis pela
gerência do cuidado.
A atenção dos profissionais deve direcionar-se as medidas profiláticas e de
controle desses agravos infecciosos para garantir a qualidade da assistência
oferecida à comunidade, para despertar a equipe, quanto ao envolvimento individual
e coletivo nesse programa (PEREIRA; MORYTA; GIR, 1996).
Fontana e Lautert (2006) afirmam que a enfermagem sabe da importância
que uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar adquire em uma instituição
hospitalar, já que é uma comissão que atua diretamente com o paciente, na
43
normalização de procedimentos e condutas e com a vigilância epidemiológica
continua.
Ainda descrevem Smeltzer e Bare (2005) que o profissional enfermeiro é uma
figura primordial no ensino do paciente sobre os regimes medicamentosos e
medidas de prevenção da infecção. Deve ficar atento aos sinais e sintomas ligados a
infecção do trato urinário e avaliar o padrão usual de micção do paciente,
esvaziamento infreqüente da bexiga, associar os sintomas com a relação sexual,
práticas contraceptivas e higiene pessoal.
O profissional enfermeiro também deve orientar o cliente quanto ao consumo
de líquidos adequados, esvaziamento regularmente da bexiga e realização da
higiene perineal para a prevenção do processo infeccioso no trato urinário. Não se
pode esquecer-se de ressaltar a importância de se tomar os medicamentos
antimicrobianos exatamente da maneira prescrita (SMELTZER; BARE, 2005).
Portanto, a higienização das mãos é a mais simples e mais importante
medida na prevenção da infecção nosocomial. Se feita corretamente, remove os
microrganismos transitórios adquiridos no contato com os pacientes. É uma conduta
de baixo custo e de grande valor para a realidade dos hospitais brasileiros. Deve ser
um hábito para os profissionais de saúde, e mesmo assim ainda existem
profissionais de saúde que continuam ignorando o valor de um gesto tão simples e
não compreendendo os mecanismos básicos da dinâmica de transmissão das
doenças infecciosas, esquecendo-se que esse procedimento pode em muitos casos
fazer a diferença entre a vida ou a morte do cliente (SOUZA et al., 2003).
2.2.10.1 Cuidados de enfermagem ao portador de cateterismo vesical
Como citado por Smeltzer e Bare (2005) a enfermeira deve avaliar no
paciente com sondas de demora o sistema de drenagem, observando se esse último
tem proporcionado uma drenagem urinária adequada, monitorar a coloração, odor e
volume da urina. A ingestão de líquidos e débito urinário deve ser registrada, pois
são informações essenciais sobre a adequação da função renal e drenagem
urinária.
44
[...] O cateter é um corpo estranho na uretra e produz uma reação na
mucosa uretral com alguma secreção uretral. No entanto, é desencorajada
a limpeza vigorosa do meato, enquanto a sonda está em posição, porque a
ação de limpar pode mover a sonda para frente e para trás, aumentando o
risco de infecção. Para remover as incrustações óbvias da superfície
externa da sonda, a área pode ser delicadamente lavada com água e sabão
durante o banho diário. O cateter é fixado da maneira mais firme possível
para evitar que ele se movimente na uretra. As incrustações originárias de
sais urinários podem servir como um núcleo para formação de cálculo; no
entanto, o uso de sondas de silicone resulta em formação muito menor de
crostas. [...] Um volume liberal de líquidos, dentro dos limites das reservas
cardíaca e renal do paciente, e um débito urinário aumentado devem ser
assegurados para lavar a sonda e diluir as substâncias urinárias que
poderiam formar as incrustações (SMELTZER; BARE, 2005, p. 1356).
2.3 METODOLOGIA
Para a realização do estudo de revisão bibliográfica referente ao período
compreendido entre 1997 a 2008, optou-se em trabalhar com o banco de dados da
biblioteca virtual Bireme, base de dados Lilacs e Scielo, sites do Ministério da
Saúde, livros, revistas e artigos com abordagem em infecção do trato urinário
relacionada à cateterização vesical. A biblioteca virtual em saúde Bireme é um
Centro Especializado da Organização Pan-Americana da Saúde, estabelecido no
Brasil desde 1967, em colaboração com Ministério de Saúde, Ministério da
Educação, Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e Universidade Federal de
São Paulo, que oferece artigos científicos da base de dados do Medline, LILACS,
Wholis, BBO, AdoLec, BDENF, dentre outras. Utilizamos, para pesquisa, as palavras
Infecção Hospitalar, Infecção do Trato Urinário, Cateterismo Vesical e Atuação do
Enfermeiro no controle e prevenção das Infecções Hospitalares e Infecção do Trato
Urinário como descritores.
Bastos (1998) e Rocha (1998) define revisão bibliográfica como o exame ou
consulta de livros ou documentação escrita que se faz sobre determinado assunto e
sua realização requer muita leitura por parte do pesquisador.
Cervo (1996) descreve pesquisa bibliográfica como um meio de formação por
excelência que busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou cientificas do
passado existente sobre um assunto, tema ou problema. A revisão bibliográfica
permite uma íntima relação com o tema de interesse, indagando, buscando
45
informações através de um levantamento de informações em base de dados,
objetivando detectar toda a descrição existente, seja consensual ou polêmica na
literatura (CAMPOS et al., 2007).
Almeida apud Martins (2008, p.62) define revisão bibliográfica como
levantamento, seleção e fichamento de documentos, tendo por objetivos o
acompanhamento e a evolução de um assunto, a atualização e conhecimento das
contribuições teóricas, culturais e científicas publicadas sobre um tema específico.
Santos (2006) afirma que através da revisão literária é possível reportar e avaliar o
conhecimento
produzido
em
pesquisa
prévia,
destacando
os
conceitos,
procedimentos, resultados, discussões e conclusões relevantes para o trabalho.
Ressalta ainda, que a revisão bibliográfica exerce papel fundamental no trabalho
acadêmico, pois possibilita situar o trabalho científico na área de pesquisa da qual
faz parte, contextualizando-a.
O desenvolvimento da pesquisa teve exeqüibilidade após acesso aos artigos
científicos da biblioteca virtual em saúde Bireme e obras literárias relacionadas ao
tema. Utilizou-se no campo de pesquisa os termos infecção hospitalar, infecção do
trato urinário, sondagem vesical, assistência de enfermagem e papel do enfermeiro,
sendo utilizados 09 artigos referentes ao tema. Foram levantadas informações sobre
conceitos, histórico, evolução e o controle das infecções hospitalares, critérios para
diagnóstico, principais sítios e medidas gerais de prevenção das infecções
hospitalares, enfocando as infecções do trato urinário relacionadas a cateterização
vesical, sua epidemiologia, patogênese, manifestações clínicas, fatores de risco,
tratamento, prevenção e controle, bem como a atuação do enfermeiro na prevenção
desse agravo.
O levantamento do referencial teórico foi realizado no período de outubro de
2008 a abril de 2009 e, durante este trajeto foi possível identificar que, mesmo com
toda evidência científica acerca dos fatores que interferem nos índices de infecções
hospitalares decorrentes de procedimentos realizados durante a assistência a saúde
e dos prejuízos advindos desta ocorrência, ainda mais do que se faz hoje, poderá o
profissional, especialmente da equipe de enfermagem, atuar no controle das
infecções nosocomiais.
O resultado apontou para a necessidade de o enfermeiro desenvolver
atividades educativas e educação permanente em saúde direcionadas aos
profissionais que, direta ou indiretamente, atuam na assistência ao portador de
46
cateter vesical, visando o fortalecimento do vínculo profissional/usuário/serviço de
saúde, a prática de procedimentos dentro dos parâmetros da biossegurança e a
redução das infecções do trato urinário relacionadas a utilização de cateter vesical.
47
3 CONCLUSÃO
No decorrer desta pesquisa observou-se que a Infecção Hospitalar é um
processo infeccioso decorrente da assistência realizada em um serviço hospitalar, e
o seu risco é diretamente proporcional a complexidade e qualidade dessa
assistência, e para que ela ocorra é preciso um conjunto de eventos, tais como
organismo etiológico, reservatório, modalidade de transmissão para o hospedeiro
suscetível e porta de entrada para o microorganismo.
As Infecções no Trato Urinário representam um dos principais sítios de
Infecção Hospitalar, prolongando o tempo de permanência do paciente na instituição
hospitalar e aumentando seu custo. Relacionam-se a este tipo de infecção o uso do
cateterismo vesical, as técnicas utilizadas na inserção e manipulação do cateter, os
cuidados com o sistema de drenagem e suscetibilidade do hospedeiro.
Os pacientes com risco de Infecções no Trato Urinário devem ser observados
quanto aos sinais e sintomas desse tipo de infecção. Destaca-se entre as medidas
profiláticas o uso desnecessário de cateterismo vesical e as técnicas assépticas do
sistema de drenagem fechado.
O profissional enfermeiro é de grande relevância por interagir entre a equipe
de saúde e os pacientes, promover ações de prevenção e controle das infecções
hospitalares, juntamente com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, com o
objetivo de diminuir o índice desse agravo.
Conclui-se que a profilaxia da Infecção Hospitalar, principalmente das
Infecções no Trato Urinário, em grande parte depende da atuação do profissional
enfermeiro na sensibilização do paciente e da equipe de saúde, fazendo-se cumprir
medidas preventivas para os procedimentos realizados, como lavagem das mãos,
uso de técnicas assépticas e outros.
48
REFERÊNCIAS
ANVISA. Legislação e Criação de um Programa de Prevenção e Controle de
Infecção Hospitalar. Infecção Relacionada à Assistência à Saúde – IRAS. São
Paulo. 2004.
AZEVEDO, Fabiano Maia de; ARMOND, Guilherme Augusto. Infecções do Trato
Urinário. In: OLIVEIRA, Adriana Cristina. Infecção Hospitalar: Epidemiologia,
Prevenção e Controle. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. cap.2.
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a Aprender: Introdução
à Metodologia Científica. 10.ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
BONAPACE et al. Tratamento de Pacientes com Distúrbios Urinários. In:
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Brunner & Suddarth: Tratado de
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
cap.45.
BRAGA, A. P. M. et al. A etiologia das pneumonias associadas à ventilação
mecânica na UTI do Hospital São Lucas - TCC. Governador Valadares:
UNIVALE/FACS, 2006. 64 f.
BRAGA, Kelly A.M. et al. Microorganismos mais freqüentes em Unidades de Terapia
Intensiva. Revista Médica Ana Costa, Paraíba, out/dez. 2004. Disponível em:
<http://www.revistamedicaanacosta.com.br/9(4)/artigo_2.htm >. Acesso em 10 fev.
2009.
BRAGA, A.P.M. et al. A Etiologia das Pneumonias Associadas à Ventilação
Mecânica na UTI do HSL. 2006. p.64. Monografia (Graduação) - Faculdade de
Ciências da Saúde, Universidade Vale do rio Doce, Governador Valadares, 2006.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de Microbiologia
Clínica para Controle de Infecção em Serviços de Saúde / Ministério da Saúde.
Brasília: 2004-A. 9p.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pediatria: prevenção e controle
de infecção hospitalar / Ministério da Saúde. ANVISA. Brasília: 2005. 116p.
49
CARRILHO, Cláudia Maria Dantas de Maio. Fatores associados ao risco de
desenvolvimento de pneumonia hospitalar na Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, Londrina, PR. Revista da
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Uberaba, v.32, n.4, jul./ago. 1999.
Disponível em: << http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003786821999000400021&lng=pt&nrm=iso >> Acesso dia: 27 maio 2009.
CERVO, Amado Luiz. Metodologia Científica. São Paulo: Makrom Books, 1996.
CORRÊA, Ricardo de Amorim. Infecções Respiratórias – Pneumonias Hospitalares.
In: OLIVEIRA, Adriana Cristina. Infecção Hospitalar: Epidemiologia, Prevenção e
Controle. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. cap.3.
COSENDEY, Carlos Herique. Segurança e Controle de Infecção. Rio de Janeiro:
Reichmann & Affonso Editores, 2000.
COUTINHO, P. Infecção Hospitalar. Dispinível em:
<http://www.genexis.com/detalheM16.asp?comunidade=hospitais > Acesso em: 30
dez. 2006.
COUTO, Renato Camagos; PEDROSA, Tânia Maria Grillo; NOGUEIRA, José Mauro.
Infecção Hospitalar e outras complicações não infecciosas da doença:
Epidemiologia, controle e doença. 3.ed. Rio de Janeiro: MDSI, 2003.
COUTO, Renato Camagos; PEDROSA, Tânia M. Grillo. Guia Prático de Infecção
Hospitalar: Epidemiologia, Controle e Terapêutica. 2.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004.
FERNANDES, Antonio Tadeu; FILHO, Nelson Ribeiro; OLIVEIRA, Adriana Cristina.
Infecções do Sítio Cirúrgico. In: OLIVEIRA, Adriana Cristina. Infecção Hospitalar:
Epidemiologia, Prevenção e Controle. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
cap.1.
FERNANDES, Antonio Tadeu; FERNANDES, Maria Olívia Vaz; FILHO, Nelson
Ribeiro. Infecções Relacionadas ao Acesso Vascular. In: OLIVEIRA, Adriana
Cristina. Infecção Hospitalar: Epidemiologia, Prevenção e Controle. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005. cap.7.
FONTANA, Rosane Teresinha; LAUTERT, Liana. A prevenção e o controle das
infecções: um estudo do caso com enfermeiras. Revista Brasileira de
Enfermagem, Rio de Janeiro, v.59, nº.3, p.257-261, maio/junho, 2006.
50
FRANCK, Cláudio Luciano et al. Punções e Acessos. In: SOUZA, Virginia Helena
Soares; MOZACHI, Nelson. O HOSPITAL: Manual do Ambiente Hospitalar. 2 ed.
Curitiba: Manual Real, 2005. cap. 19.
GOMOLIN & MCCUE; TALAN et al. Tratamento de Pacientes com Distúrbios
Urinários. In: SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Brunner & Suddarth:
Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005. cap.45.
LACERDA, Rúbia Aparecida. Produção Científica Nacional sobre infecção hospitalar
e a contribuição da enfermagem: ontem, hoje e perspectivas. Revista LatinoAmericana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v.10, n.1. jan. 2002. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010411692002000100009&script=sci_arttext&tlng=pt >. Acesso em: 23 fev. 2009.
LOPES, H V; HALLAGE, N M. Pneumonias Bacterianas de Origem Hospitalar. In:
VERONESI R; FOCACCIA, R. Tratado de Infectologia. 2 ed. São Paulo, Rio de
Janeiro, Ribeirão Preto, Belo Horizonte: Atheneu, 2002. Vol 1. Cap 146. P. 1745 –
1750.
OLIVEIRA, Adriana Cristina. Infecção Hospitalar: Epidemiologia, Prevenção e
Controle. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
OLIVEIRA, Adriana Cristina; ARMOND, Guilherme Augusto. Higienização das Mãos.
In: OLIVEIRA, Adriana Cristina. Infecção Hospitalar: Epidemiologia, Prevenção e
Controle. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. cap.1.
OLIVEIRA, Adriana Cristina de; CIOSAK, Sueli Itusuko. Infecção no Sítio Cirúrgico
em Hospital Universitário: vigilância pós-alta e fatores de risco. Revista da Escola
de Enfermagem da USP, São Paulo, p.258-263, jun. 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-62342007000200012&script=sci_arttext
>. Acesso em: 10 fev. 2009.
PEREIRA, Milca Severino; MORIYA, Tokico Murakawa; GIR, Elucir. Infecção
hospitalar nos hospitais escola: uma análise sobre seu controle. Revista LatinoAmericana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v.4, n.1. jan.1996. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411691996000100013&lng=pt&nrm=iso >. Acesso em 25 maio.2009.
RAMOS, Bettania Ribeiro et al. Controle de Infecção Hospitalar: Revisão da
Literatura. 2008. p.80. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências da Saúde,
Universidade Vale do rio Doce, Governador Valadares, 2008.
51
ROCHA, Marilene Coura Nascimento. Instrumento para Elaboração de Trabalhos
Técnicos. Governador Valadares: Centro de Ciências Humanas, 1998.
RODRIGUES, E. A. C. et al. Infecção Hospitalar: Prevenção e Controle. São
Paulo: SARVIER, 1997. p. 3 – 14; 25 – 27; 135 -141.
SEEGMÜLLER, Edimara Fait et al. A infecção, o isolamento e o coorte. In: SOUZA,
Virginia Helena Soares; MOZACHI, Nelson. O HOSPITAL: Manual do Ambiente
Hospitalar. 2 ed. Curitiba: Manual Real, 2005. cap. 12.
SILVA, Andréa Aparecida Miranda e, et al. A Epidemiologia das Infecções
Nosocomiais em Pós-Operados no Hospital São Lucas. 2007. p.86. Monografia
(Graduação) - Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Vale do rio Doce,
Governador Valadares, 2007.
SILVA, Ruvani Fernandes da. A Infecção Hospitalar no Contexto das Políticas
Relativas à Saúde em Santa Catarina. Revista Latino-Americana de Enfermagem,
Ribeirão Preto, v.11. n.1. jan/fev. 2003. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692003000100016
>. Acesso em: 23 fev. 2009.
SLEUTJES, Lúcio. Sistema Urinário. In: _____ . ANATOMIA HUMANA: Podemos
ser práticos e ir direto ao assunto?. São Paulo: Difusão, 2004. cap. 11.
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Tratamento de Pacientes com Doenças
Infecciosas. In: _____ . Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. cap.41.
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Histórico da Função Respiratória. In:
_____ . Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. cap.21.
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Histórico das Funções Renal e Urinária.
In: _____ . Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10.ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. cap. 43.
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Tratamento de Pacientes com
Disfunção do Trato Urinário Superior ou Inferior. In: _____ . Brunner & Suddarth:
Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005. cap.44.
52
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Histórico da Função Tegumentar. In:
_____ . Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. cap.55.
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Tratamento de Pacientes com Doenças
Infecciosas. In: _____ . Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. cap.70.
SOUZA, Adenícia Custódia Silva e et al. Cateterismo urinário: conhecimento e
adesão ao controle de infecção pelos profissionais de enfermagem. Revista
Eletrônica de Enfermagem, Goiânia, 2003. Disponível em:
<http://www.fen.ufg.br/revista/v9/n3/pdf/v9n3a12.pdf >. Acesso em: 18 abril 2009.
SPENCE, Alexander P. Sistema Urinário. In: _____ . Anatomia Humana Básica.
2.ed. São Paulo: Manole Ltda, 1991. cap.21.
TURRINI, Ruth Natalia Teresa. Infecção Hospitalar e Mortalidade. Revista da
Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v.36, n.2, jun. 2002. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-62342002000200011&script=sci_arttext
>. Acesso em 10 fev. 2009.
VALÉRIA, I. Hospitais: 60% não controlam a infecção. Disponível em:
<http://www.jornaldacidade.net/noticia.php?id=41492&PHPSESSID=ee41f0eebaec1
9a51eb2c4452e2480 > Acesso em: 29 nov. 2006.
VEIGA, Janice; PADOVEZE, Maria Clara. Infecção Hospitalar: Informações para o
Público em Geral. Centro de Vigilância Epidemiológica Professor Alexandre
Vranjac. São Paulo, 2003. Disponível em: <http://www.cve.saúde.sp.gov.br>.
Acesso em: 28 ago. 2008.
VERONESI R; FOCACCIA, R. Pneumonias bacterianas de origem hospitalar. In:
_____ . Tratado de Infectologia. 2.ed. São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto,
Belo Horizonte: Atheneu, 2002. cap.146.