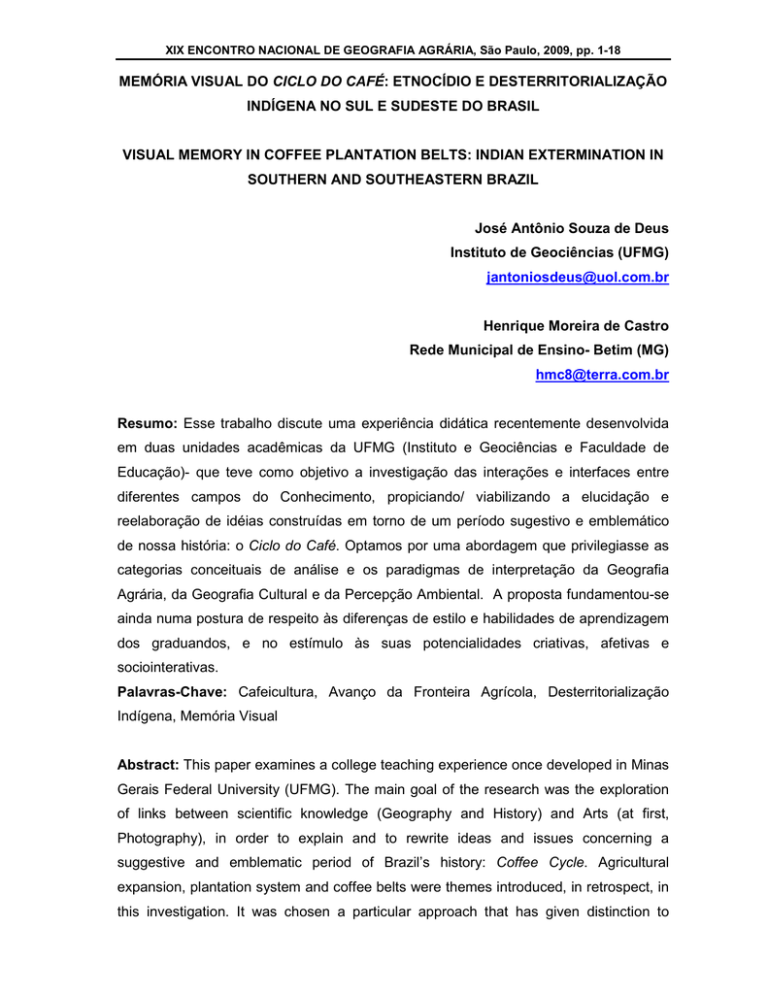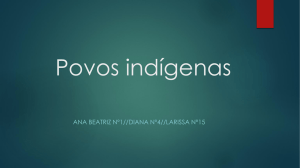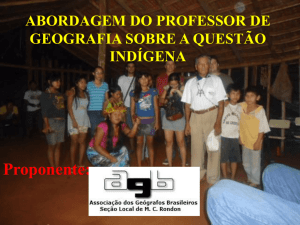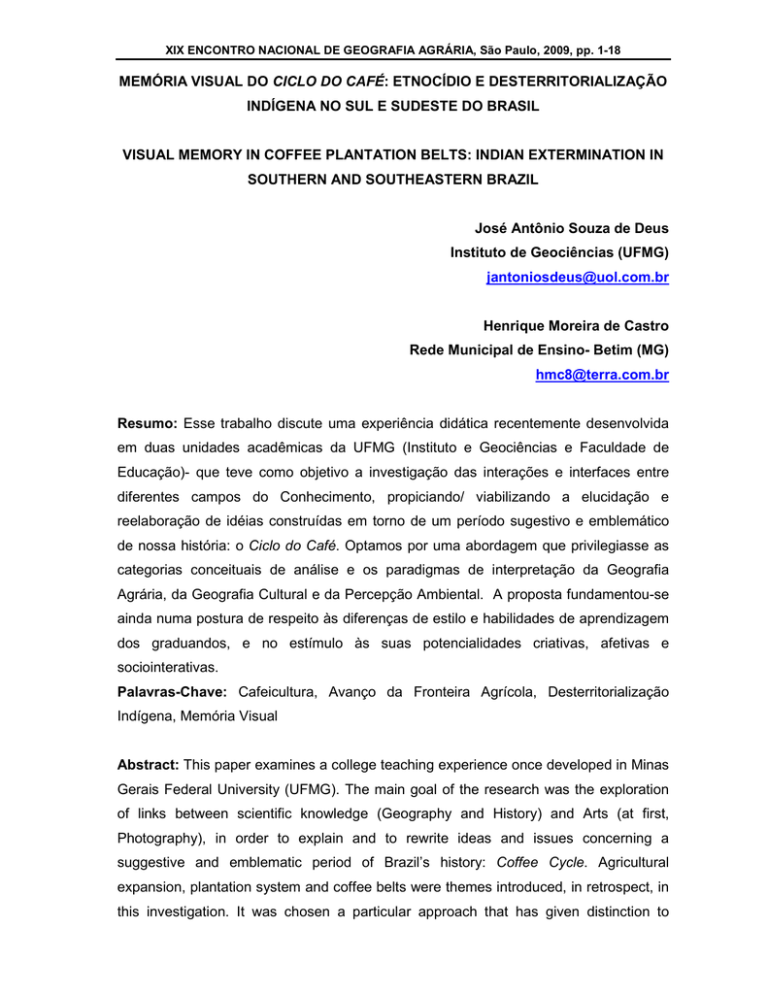
XIX ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, São Paulo, 2009, pp. 1-18
MEMÓRIA VISUAL DO CICLO DO CAFÉ: ETNOCÍDIO E DESTERRITORIALIZAÇÃO
INDÍGENA NO SUL E SUDESTE DO BRASIL
VISUAL MEMORY IN COFFEE PLANTATION BELTS: INDIAN EXTERMINATION IN
SOUTHERN AND SOUTHEASTERN BRAZIL
José Antônio Souza de Deus
Instituto de Geociências (UFMG)
[email protected]
Henrique Moreira de Castro
Rede Municipal de Ensino- Betim (MG)
[email protected]
Resumo: Esse trabalho discute uma experiência didática recentemente desenvolvida
em duas unidades acadêmicas da UFMG (Instituto e Geociências e Faculdade de
Educação)- que teve como objetivo a investigação das interações e interfaces entre
diferentes campos do Conhecimento, propiciando/ viabilizando a elucidação e
reelaboração de idéias construídas em torno de um período sugestivo e emblemático
de nossa história: o Ciclo do Café. Optamos por uma abordagem que privilegiasse as
categorias conceituais de análise e os paradigmas de interpretação da Geografia
Agrária, da Geografia Cultural e da Percepção Ambiental. A proposta fundamentou-se
ainda numa postura de respeito às diferenças de estilo e habilidades de aprendizagem
dos graduandos, e no estímulo às suas potencialidades criativas, afetivas e
sociointerativas.
Palavras-Chave: Cafeicultura, Avanço da Fronteira Agrícola, Desterritorialização
Indígena, Memória Visual
Abstract: This paper examines a college teaching experience once developed in Minas
Gerais Federal University (UFMG). The main goal of the research was the exploration
of links between scientific knowledge (Geography and History) and Arts (at first,
Photography), in order to explain and to rewrite ideas and issues concerning a
suggestive and emblematic period of Brazil’s history: Coffee Cycle. Agricultural
expansion, plantation system and coffee belts were themes introduced, in retrospect, in
this investigation. It was chosen a particular approach that has given distinction to
2
XIX ENGA, São Paulo, 2009
DEUS, J. A. S. e CASTRO, H. M.
agrarian geography, ethnogeography and environmental perception concepts and
paradigms. The proposal has tried to respect students’ different learning styles and
skills and has been able to stimulate their affective, creative and interactive sociability
potentialities.
Key-words: Coffee Plantation, Agricultural Expansion, Brazilian Indians’ History; Visual
Memory.
Introdução
Esse trabalho propõe uma abordagem conceitual e metodológica centrada no
cotidiano escolar e materializada numa proposta de ensino transdisciplinar direcionada
para a investigação das conexões entre a Geografia, a História e a Arte (no caso, a
Fotografia). O postulado básico dessa intervenção em sala de aula consistiu em que os
estudantes pudessem adquirir a capacidade de utilizar diferentes linguagens (incluindose aí, a cultura e a memória visuais). Os alunos que participaram dessa experiência
foram graduandos de cursos de duas unidades acadêmicas da Universidade Federal
de Minas Gerais- em Belo Horizonte: Instituto de Geociências (cursos de Geografia1Licenciatura e Bacharelado e Turismo2- ambos vinculados ao Departamento de
Geografia- IGC/ UFMG) e Faculdade de Educação (Formação Intercultural de
Educadores Indígenas3), matriculados nos últimos semestres letivos em disciplinas
optativas, na área de Geografia Cultural/ Etnogeografia - cujas linhas interpretativas
mais recentes têm sido discutidas/ explicitadas por diferentes autores- a exemplo de
Deus (2005) e Amorim Filho (2006).
Metodologia
Os passos metodológicos utilizados para a operacionalização da prática
educativa foram: pesquisa bibliográfica, cartográfica e documental; problematização
sobre as categorias teórico-conceituais envolvidas; formação de grupos orientados
1
Tópicos em Geografia Humana e Tópicos Especiais em Geografia I: Geografia Cultural do Brasil/ Etnogeografia
Tópicos em Planejamento do Turismo: Geografia Cultural, Indigenismo e Etno-Sustentabolodade.
3
O curso FIEI/ FaE é direcionado aos professores indígenas mineiros das etnias Maxakalí, Krenak, Xakriabá,
Pataxó, Caxixó, Xukuru-Kariri e Pankararu, propondo-se à construção de um diálogo intercultural e desdobrando-se
em três eixos de atuação intitulados: “A Escola e Seus Sujeitos”, “Múltiplas Linguagens” e “Conhecimento da
Realidade Socioambiental”.
2
Memória visual do ciclo do café: etnocídio e desterritorialização indígena no sul e sudeste
do BRASIL, pp. 1-18
3
para a investigação dos conceitos e temas em pauta; e sistematização das
informações. Os estudos se processaram através da visualização pelos alunos, de
fotografias que retratam o período da expansão da Cafeicultura no Brasil.
A idéia fundamental dessa intervenção não foi a de ensinar uma técnica aos
estudantes, mas sim a de desenvolver neles a capacidade criativa no exercício da
pesquisa, pois cada pessoa se apropria das imagens de uma maneira peculiar, as
absorvendo e reinterpretando. Tivemos também como meta que os alunos
conhecessem e se apropriassem da linguagem fotográfica de forma crítica e
contextualizada, na perspectiva da construção de uma abordagem multidimensional da
realidade.
Referencial Teórico
O Café, produto nobre do agribusiness e da pauta de exportações do Brasil,
ocupa um lugar de destaque na história do desenvolvimento do país (ENCARNAÇÃO,
LIMA, 2003), pois, como se sabe, constituiu a grande riqueza do Brasil no início do
período republicano (LORENZETTI, 2000; MIRANDA, EZAJKOWSKI, 2004; PRADO
Jr., 1997, WAIBEL, 1979). A “Primeira República” (1889/ 1930) de fato correspondeu a
um período da nossa história em que vários políticos paulistas (fazendeiros de café) e
mineiros (produtores de leite) ocuparam consecutivamente a presidência do Brasil. Por
isso mesmo essa época ficou conhecida como a República do Café com Leite4.
Principal produto de exportação do país5, o café já era cultivado no período imperial em
fazendas na região do Vale do Paraíba, na província do Rio de Janeiro. Paulatinamente
o cultivo do grão se expandiria para São Paulo no final do século XIX, envolvendo o
influxo de considerável contingente de migrantes nas regiões onde a cultura se
implantava (ARGOLLO FERRÃO, 2004; FURTADO, 2004; SODRÉ, 2004). Nesses
novos domínios “o sistema de plantation foi adaptado ao emprego de mão de obra livre
e desenvolveram-se inovações tecnológicas na secagem e no descascamento do café”
(ECCARDI, SANDALI, 2003, p. 7). “A partir de 1870 a produção paulista de café
4
Talvez impropriamente porque a política na “República Velha” era, na verdade, muito mais rica e complexa, não
podendo ser reduzida/ simplificada a uma “aliança” entre São Paulo e Minas Gerais, como sinaliza Viscardi (2005).
5
“Os elementos que influenciam a qualidade do café são: altitude, tipo de solo, condições climáticas, genética do
grão, cultivo das plantas e manutenção dos cafezais. Mas para a obtenção de uma boa bebida ainda se faz necessário
um processamento primoroso que vai da colheita à secagem, terminando na armazenagem, torrefação e moagem”
(PASCOAL, 2006, p. 33).
4
XIX ENGA, São Paulo, 2009
DEUS, J. A. S. e CASTRO, H. M.
ultrapassaria a do Rio de Janeiro” (CATELLI Jr., 2004, p. 41), e no início do século XX,
o oeste de São Paulo se transformaria na principal área produtora.
Durante a Primeira República, os fazendeiros de café constituíam o segmento
que mais obteve lucros com ações do governo. Nesse período eram constantes as
variações de preço do produto no mercado externo, o que afetava a produtividade
nacional. Toda a estrutura gerada pelo cultivo do café criou, como se sabe, condições
para o surto industrial do país, sobretudo no estado de São Paulo6 (ANDRADE, 1986;
SANTOS, SILVEIRA, 2005).
O
Avanço
da
“Fronteira”
Agrícola,
a
Degradação
Ambiental
e
a
Desterritorialização Indígena no Ciclo do Café
Funcionando à base da derrubada de matas virgens (COSTA, 2007), a marcha
do café se tornou uma fronteira em contínua expansão que depois de desalojar os
últimos grupos de índios Puri-Coroado7, no vale do Paraíba (RIBEIRO, Darcy, 1996),
alcançou as florestas situadas entre o vale do Tietê e o Paranapanema e depois, o
Paraná. No oeste de São Paulo essa “frente pioneira” entraria em conflito com os
“bugres”- como eram denominados os índios Kaingáng8-, primitivos habitantes desses
6
A partir do final do século XX- vale ressaltar- o café altera suas rotas de expansão geográfica, redirecionando-se
para o sul de Minas Gerais (hoje, um pólo cafeeiro tradicional- TUBALDINI, 1999), para o Espírito Santo, para as
áreas de Cerrado da Bahia e Goiás; e para a “última fronteira” na Amazônia (em Rondônia), enfrentando aí
expressivas alterações nas relações de trabalho (BROGGIO, DROULERS, GRANDJEAN, 1999; ROSS, 1999), e
desencadeando significativos impactos para as sociedades autóctones e comunidades tradicionais historicamente
domiciliadas nessa região (DEUS, 2006, 2007). Vale ressaltar que o café produzido no sul de Minas foi “destaque
no ranking da Coffee Review, depois de ter seu aroma, acidez, corpo, sabor e aftertaste avaliados”... (MORT, 2002,
p. 99). Já no Vale do Jequitinhonha como acentuam Horta e Dias (2002), a implantação e desenvolvimento da
cafeicultura moderna produziram a partir dos anos 70 (século XX), modificações significativas na estrutura
produtiva e relevantes alterações nos espaços rural e urbano regionais. E em Rondônia, “a produção de café já nasce
altamente mecanizada, associando-se ao sul do Pará que produz o café do tipo conillon, próprio para a fabricação do
café solúvel” (FREDERICO, CASTILLO, 2004, p.237).
7
O tronco Macro-Jê corresponde a um dos dois grandes troncos em que se classificam os povos indígenas
brasileiros. Além de sua principal família (jê) e outras (bororo, karajá) concentradas no Brasil central e meridional,
esse tronco inclui várias famílias etnolinguísticas sediadas no nordeste e leste do país como os Kariri, Kamakã,
Baenã, Maxakalí, Pataxó, Botocudo ou “Borun” (dos quais os atuais Krenak e Aranã são remanescentes) e PuriCoroado. Estes últimos encontram–se hoje totalmente extintos. Estiveram outrora domiciliados na Zona da Mata
mineira e regiões adjacentes. Em 1813, Eschwege (2002, p. 98), contabilizou a existência de “150 aldeias dos
Coroados, cada uma com uma ou duas famílias, formando uma população de 1900 pessoas ou mais”, disseminada
pela região dos tributários do Rio Pomba (MG). São povos macro-jê também os Rikbátsa (“Canoeiros”) do oeste de
Mato Grosso, os Guató do Pantanal, os Ofayé do Mato Grosso do Sul e os Fulni-Ô do sertão de Pernambuco.
8
A família jê (“tapuias”) compreende principalmente povos do Brasil Central como os aguerridos Xavante de Mato
Grosso- e seus parentes Xerente do Tocantins-; os Timbira dos cerrados do Maranhão e Tocantins (subdivididos em
vários grupos como os Apinayé, Krahô, Krikati e Gavião do Pará); os Suyá e Tapayúna do Alto Xingu; os Panará
(ou Krenakarôre) e Kayapó (também subdivididos em vários segmentos como os Gorotire, Mekragnotire,
Mentuktire ou Txukahamãe, Xikrin...), e concentrados sobretudo no sudeste do Pará e norte de Mato Grosso. Os
povos dessa família são caracterizados na literatura etnológica e etnográfica como “sociedades dialéticas” que
constituiriam notáveis exemplos de resistência sociocultural (GONÇALVES, 1982). Os Kaingáng correspondam ao
segmento mais meridional dos jês, sendo presumivelmente descendentes dos antigos Guayaná do planalto de São
Memória visual do ciclo do café: etnocídio e desterritorialização indígena no sul e sudeste
do BRASIL, pp. 1-18
5
sertões longínquos até então indevassados (CARDOSO, 2007; GAGLIARDI, 1989).
Darcy Ribeiro inclusive assinala que para os colonizadores, o índio constituía “o grande
obstáculo ao prosseguimento da construção e à abertura das fazendas” (RIBEIRO,
Darcy, 1996, p. 123), pois os Kaingáng “sentiam fechar-se o cerco em torno deles”... e
resistiam de forma aguerrida à progressiva violação de seus territórios (RIBEIRO,
Darcy, 1996, p. 124). Pois como destaca Pinheiro (2004, p. 358):
“ao longo desse período a expansão do sistema da plantation do café e
da pecuária sobre essas áreas enfraqueceu as formas tradicionais
indígenas de relacionamento com a terra e com o trabalho. Cercados
pelos brasileiros, os grupos indígenas foram dizimados e os seus
remanescentes alojados em aldeias, Postos Indígenas (PI) controlados
pelo governo”.
Berta Ribeiro resgata os tristes episódios que caracterizaram esse período ao registrar
que:
“com o avanço das culturas de café do Vale do Paraíba para São Paulo
e a abertura da estrada de ferro Noroeste do Brasil, que ligava Santos a
Corumbá, as aldeias dos Kaingáng foram alcançadas. Os índios
atacavam as turmas de trabalhadores da estrada, sendo revidados por
chacinas que provocavam novos ataques. A empresa armou o seu
pessoal que ficava de sentinela noite e dia, criando um ambiente de
terror de ambos os lados. Disso se aproveitaram os grileiros para
adquirir terras fertilíssimas a baixo preço. Na verdade os trabalhadores
morriam mais de epidemias de malária, febre silvestre e úlcera de Bauru
que grassavam na região. Mas as mortes eram atribuídas aos índios,
dando motivo a novas represálias. Batidas eram financiadas pela
administração da estrada. Surgem assim especialistas em massacres
de índios, os tristemente célebres ‘bugreiros’, que queimavam as
aldeias, devastavam as roças e matavam indiscriminadamente homens,
mulheres e crianças. Os maiores morticínios ocorreram de 1908 a 1910”
(RIBEIRO, Berta, 1987, p. 76).
Paulo. Foram também designados como “coroados” ou “botocudos”. “Eram senhores das terras interiores do
planalto” na região sul do país (SANTOS, 1997, p. 15). Incluem os Xocleng, de Santa Catarina, caçados como feras
pelos imigrantes (contingentes populacionais constituídos por indivíduos de origem germânica, italiana ou eslava e
que ingressaram no país para trabalhar como parceiros e colonos, num Brasil então fortemente alicerçado no
latifúndio- MORISAWA, 2001). Os Kaingang constituem uma das sociedades jês remanescentes de população
mais numerosa.
6
XIX ENGA, São Paulo, 2009
DEUS, J. A. S. e CASTRO, H. M.
Possas (2001) também demarca que foi a presença das ferrovias que alicerçou a
expansão cafeeira. E Pierre Monbeig (1998), numa clássica análise sobre os pioneiros
e fazendeiros em São Paulo se reporta aos “precursores da marcha pioneira” nos
planaltos ocidentais do estado (no final do século XIX e início do século XX) - ou seja,
os índios Kaiwá (Caiuá), Tupinikín9 (Tupiniquim), Kaingáng (Caingangue), Cayapó do
Sul10 e Oti-Xavante11.
“Na marcha para o oeste, desbravando terras virgens, a cultura do café entrou
no Paraná no início do século XX a partir da divisa com São Paulo” (POZZOBÓN,
2006, p. 160). “Em um quarto de século surgiram na região 110 núcleos urbanos”
(STECA, FLORES, 2002, p. 141). E com a movimentação desta “frente pioneira”
plantadora de café para o noroeste do Paraná a partir dos anos 30 (século XX), o
território indígena de um pacífico grupo guarani12 então autônomo (SILVA, 2000),
denominado Xetá, foi “alcançado e pulverizado” (SANTOS, 1978, p. 64). Os Xetá
passaram a sofrer “campanha violenta e rápida de extermínio” (SANTOS, 1978, p. 63).
“A aproximação submissa dos sobreviventes indígenas não evitou o seu aniquilamento
físico. O contágio de doenças próprias da civilização, aliado a mudanças drásticas na
dieta alimentar aniquilou os selvagens” (SANTOS, 1978, p. 33).
Postulamos que são pertinentes e relevantes a análise e investigação dos
registros iconográficos desse turbulento período, com ênfase na interpretação dos
processos e etnocídio e desterritorialização indígena - tal como são hoje definidos nas
abordagens da Geografia Política e da Etnogeografia (HAESBAERT, 2002, 2004 a/ b).
Vale ressaltar que tais processos ocorreram simultânea e paralelamente à
destruição de um importante bioma (configurando um verdadeiro topocídio13): a
9
Uma das subdivisões dos Tupinambá.
Povo jê que resistiu tenazmente às investidas dos bandeirantes e faiscadores no período colonial, nas regiões de
antiga mineração como Minas Gerais e Goiás. Presumivelmente antepassados dos atuais Panará da Amazônia
meridional.
11
Povo indígena de língua isolada dos Campos Novos do Paranapanema, hoje extinto.
12
O trono Tupi (ou Macro-Tupi), de distribuição subcontinental é o mais importante tronco dos índios brasileiros.
Sua principal família é a tupi-guarani que congregava originalmente sociedades indígenas demograficamente muito
vigorosas, com organização social sofisticada e complexa, como os antigos Tupi da costa (Tupinambá) e os Omágua
do Amazonas (Alto Solimões). Também integram a família tupi-guarani vários grupos indígenas contemporâneos
distribuídos principalmente pelas bacias do Tapajós/ Madeira (Parintintin ou Tupi-Kawaíb, Uru-Eu-Wau-Wau,
Apiaká...), Tocantins/ Xingu (Parakanã, Asurini, Araweté, Suruí Aikewar, Tapirapé...), Alto Xingu (Kamayurá,
Kayabi) e Maranhão (Guajajara Tenetehara, Guajá, Urubu-Kaapor) e até na área norte-amazônica (Oyampí ou
Waiãpi do Amapá, Zo’é ou Tupi do Cuminapanema do norte do Pará), etc. Os Guarani correspondem ao ramo
meridional da família, antigamente distribuído por toda a bacia do Prata, no Brasil e países limítrofes (Argentina,
Paraguai, Bolívia). São remanescentes dos guarani atualmente, os Kaiwá (Kayová) do Mato Grosso do Sul, os
Mbyá e Nhandeva (Avá-Guarani) do sul e sudeste do Brasil. Além dos tupi-guarani há ainda outras famílias
integrantes do tronco tupi: juruna, tupimondé (que inclui os Cinta Larga, Suruí Paiter, Zoró e Gavião de Rondônia),
tupari, arikém, ramarama (e outros povos como os mawé, awetí e puruborá).
13
O fenômeno do topocídio tal como é concebido na percepção ambiental corresponderia à aniquilação deliberada
de lugares (AMORIM FILHO, 1999).
10
Memória visual do ciclo do café: etnocídio e desterritorialização indígena no sul e sudeste
do BRASIL, pp. 1-18
7
exuberante Mata Atlântica, e terminaram concentrando as populações indígenas
remanescentes em territórios de confinamento exíguos, ambientalmente degradados,
como destacaram historiadores e antropólogos.
Pinheiro (2004, p. 381/ 382), por exemplo, em sua abordagem sobre a ocupação
do oeste paulista e o processo de extermínio a que foram submetidas as comunidades
kaingáng da região), registra que:
“no processo de colonização, enquanto houve terra fértil, propícia para o
plantio do café, a colonização caracterizou-se por um tipo de
‘exploração nômade’ da natureza, provocando a devastação das
florestas e o abandono da terra exaurida,. As terras conquistadas aos
índios, no ocidente paulista, não foram objeto de preservação”.
Borelli (1984, p. 51) complementa que “a trajetória Kaingang está marcada por um
percurso permanente de violências que se expressa pela perda dos territórios
tradicionais de caça e coleta, pela constante depopulação e pelo posterior
confinamento em espaços restritos das reservas onde a ação do Estado se expressa
de modo deficiente”. E Dean (1996, p. 206) por sua vez, numa abordagem sobre a
história ambiental do sudeste brasileiro demarca:
“a queimada da floresta para plantar cafezais foi a principal causa, mas,
não a única, de desflorestamento no século XIX. O comércio do café
induziu o crescimento demográfico, a urbanização, a industrialização e
a implantação de ferrovias. Conseqüências indiretas da prosperidade
febril baseada numa única mercadoria de exportação, exerceram
pressões sobre uma área mais ampla da Mata Atlântica, dando início ao
que agora pode ser considerado como danos irreversíveis a paisagens
antropormofizadas”.
O Uso da Fotografia Como Registro Iconográfico e Como Instrumental de Trabalho
Para as Abordagens Científicas
Sob a forma de desenhos, esculturas, pinturas ou fotografias- ou seja, através
de imagens, pode se representar com precisão vários acontecimentos e idéias.
Custódio (1999, p. 130) inclusive postula que: “não há conhecimento, reconhecimento
8
XIX ENGA, São Paulo, 2009
DEUS, J. A. S. e CASTRO, H. M.
ou memória sem imagem”. Os registros iconográficos têm a potencialidade de criar o
retrato de uma época, documentando as formas pelas quais as pessoas se
relacionavam umas com as outras (AZEVEDO, 2004; CASTRO, DEUS, 2007;
PINAKOTHEKE CULTURAL, 2002).
Num primeiro momento, a pintura e o desenho se colocaram como meios
tradicionais de comunicação e propaganda das artes visuais, e até meados do século
XIX, era somente através da pintura ou do desenho que as pessoas imortalizavam
imagens. Mas com o desenvolvimento da fotografia14, especialmente a partir de 186015,
a produção de retratos deixou de ser uma função exclusiva dos pintores e a fotografia
entrou definitivamente em cena. Percebeu-se nesse momento, que este dispositivo
podia realizar o trabalho de forma primorosa e a baixo custo.
De acordo com Chiavari (2005, p. 34), no momento de sua descoberta, a
fotografia
foi
apresentada
como
importante
invenção
capaz
de
reproduzir
mecanicamente a realidade. E a valorização de sua suposta objetividade em relação às
outras artes inclusive levou ao seu uso freqüente como documentação de fatos e
pessoas. Frehse (2005, p. 185) destaca que “a fotografia constitui, além de relevante
instrumento de pesquisa, documento e veículo de representações privilegiado para a
compreensão da vida social. Como imagem que é, vale para a fotografia o que vale
para a imagem de maneira geral: ela fornece indicações sobre a realidade que retrata e
sobre o olhar daquele que a produziu”.
Alimonda e Ferguson (1990, p. 170), destacam por sua vez que “o interesse pelo
emprego de fontes iconográficas (além do mero uso ilustrativo) é relativamente
recente”, A fotografia é, aliás, entendida por esses pesquisadores como fonte
historiográfica, portadora de informações multidisciplinares. Já o pesquisador Paulo
Miguel (1999, p. 228) enfatiza que “ao analisarmos fotografias antigas devemos ter a
consciência de estarmos analisando documentos históricos que nos revelam o próprio
passado da comunidade”...
E a originalidade da fotografia redescoberta na atualidade em diferentes
abordagens que a discutem da escala local à escala global- a exemplo de ensaios/
estudos como os de Dubois (2007), Kossoy (2006), Michaud (2008), Susan Sontag
14
“Todas as linguagens da imagem produzidas através de máquinas (fotografia, cinema, televisão...), são signos
híbridos: trata-se de hipoícones (imagens) e de índices. Não é necessário explicar porque são imagens porque isso é
evidente. São, contudo, também índices porque essas máquinas são capazes de registrar o objeto do signo por
conexão física“ (SANTAELLA, 2003, p. 69-70).
15
“A vista da Cachoeira de Paulo Afonso realizada por Augusta Stahl em 1850- cuja única tiragem original
conhecida pertence à Biblioteca Nacional-, é considerada hoje a principal imagem dos primórdios da fotografia
sobre papel no Brasil” (LAGO, 2004, p. 22).
Memória visual do ciclo do café: etnocídio e desterritorialização indígena no sul e sudeste
do BRASIL, pp. 1-18
9
(2004), Teixeira (2005), entre outros. Chiavari (2005) destaca que todas as imagens
acionam na mente do observador a capacidade de ver além do que está registrado.
Segundo a autora, a fotografia possibilita duas vertentes de análise: a primeira dizendo
respeito ao que se vê, isto é, ao registro visual de uma cena congelada; e a segunda se
referindo ao que já se tornou documento e, como tal, permite novas interpretações ou
significados não explícitos nas imagens.
Podemos afirmar que tanto as imagens produzidas por dispositivos técnicos
quanto as pictóricas, definiram novas possibilidades de se visualizar o passado. Dessa
maneira podemos dizer que os circuitos sociais das imagens foram integrados à
análise histórica ampliando suas possibilidades de pesquisa (MAUAD, 2008, p. 98).
Para essa autora, hoje é possível inclusive se propor uma história visual, sem que isso
soe como heresia- embora não possamos perder de vista a conexão entre a História e
os movimentos sociais, reconhecendo que essa história é reelaborada pela experiência
social de homens e mulheres ao longo do tempo (Mauad, 2008). Segundo Paiva (2006,
p. 18), a iconografia é entendida atualmente como: “um registro histórico realizado por
meio de ícones, de imagens pintadas, desenhadas impressas ou imaginadas e, ainda
esculpidas, modeladas, gravadas em material fotográfico e cinematográfico”. Para o
autor, a iconografia é, certamente, uma fonte histórica das mais ricas, que traz
embutidas em si as escolhas do produtor e todo o contexto no qual ela foi concebida,
idealizada, forjada ou inventada.
Muaze (2008, p. 81) destaca que desde que foi inventada, a fotografia passou a
construir uma nova história, em que imagens e aparências passaram a informar mais
que as palavras. Surge a partir daí, na verdade, uma cultura da imagem, criando uma
relação entre o real e o imaginário. A autora assinala que entre os costumes adquiridos
pela elite imperial na segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro, se destacava o
hábito de tirar fotografias (MUAZE, 2008, p. 82). Nesse período, dois tipos de fotografia
se difundiriam: as imagens de paisagens, e os retratos. As primeiras eram muitas
vezes enviadas para exposições no velho continente (FERREZ, 2000, TURAZZI, 2003),
como uma forma de documentação e representação do ambiente físico e social do
Brasil, enquanto os retratos circulavam num ambiente mais intimista, intercambiados
entre parentes e amigos próximos (MUAZE, 2008, p. 82).
A imprensa foi inventada no século XV, porém só foi oficializada no Brasil em
1808, Já a fotografia não precisou nem de uma década após a sua invenção para
registrar as primeiras imagens do país. O próprio imperador foi o precursor da
10
XIX ENGA, São Paulo, 2009
DEUS, J. A. S. e CASTRO, H. M.
fotografia no país. A partir da segunda metade do século XIX, diversos fotógrafos
estrangeiros, muitos deles patrocinados por D. Pedro II, instalaram-se no Brasil. Negros
livres e alforriados por sua vez buscavam à época, os estúdios fotográficos, “para
compor sua nova imagem social” de acordo com Koutsoukos (2008, p. 85).
Geografia Agrária e Memória Visual: A Iconografia do Ciclo do Café
Povos indígenas do Vale do Paraíba como os Puri-Coroado (MG), foram
extensamente documentados pelos cronistas que percorreram nossos sertões,
sobretudo ao longo do século XIX– a exemplo do barão Von Eschwege (1996, 2002),
Debret (1993), D’Orbigny (1976), Rugendas (1998, 2000), Saint Hilaire (2000), Spix e
Martius (1981) e outros. Nessas missões científicas, a credibilidade do relato era
“reforçada pelo trabalho do desenhista, que tudo registra pormenorizadamente”
(ALEGRE, 1998, p. 65). Em seus relatos e pinturas, esses antigos viajantes refletiram o
contexto sociocultural, histórico, ideológico e o imaginário da sua época (BELLUZZO,
1998), se colocando quase que invariavelmente “como seres civilizados frente a uma
cultura exótica” (MENEZES, 2004, p. 98).
Já outros povos indígenas do Brasil Meridional como os Xetá (contactados
durante o Ciclo do Café, no norte do Paraná, e aos quais já nos reportamos) e os
Xocleng (SC), seriam representados através do novo instrumental “emergente” da
fotografia. Santos (1997, p. 9) assinala em relação aos Xocleng, habitantes das
florestas entre o litoral e o planalto da região sul que: relatórios oficiais,
correspondências, notícias de jornais, debates acadêmicos e fotografias “registraram
as práticas genocidas contra esse povo indígena. Um caso raro, pois os indígenas do
país foram, em maioria, dizimados sem deixar informações sobre sua existência”.
Em uma abordagem sobre o multiculturalismo e os direitos coletivos, Souza
Filho (2003, p. 80)16 por sua vez descreve a experiência histórica do contato dos índios
Xetá como a “cronologia de um genocídio”, enfatizando que:
“o povo xetá não sobreviveu. Hoje são cerca de dez indivíduos, vivendo separados, alguns de
empréstimo em aldeias de kaingangues, outros em cidades da região. Mas antes de serem
exterminados pelo avanço impiedoso da fronteira agrícola, os Xetá dominavam a selva da Serra
de Dourados, onde a chegada da Companhia de Colonização Suemitsu Miyamura & Cia. Ltda.,
16
Investigação integrante de um projeto de pesquisa intitulado “Reinventar a Emancipação Social: Para Novos
Manifestos” e dirigido por Boaventura de Souza Santos, que envolveu 69 pesquisadores de seis países.
Memória visual do ciclo do café: etnocídio e desterritorialização indígena no sul e sudeste
do BRASIL, pp. 1-18
11
se deu com a queimada das matas, porque não havia interesse na madeira, mas tão somente na
abertura de lotes para serem vendidos aos novos ocupantes”.
Na região de Londrina por outro lado, outra empresa, a Companhia de Terras Norte do
Paraná (subsidiária da corporação britânica Paraná Plantation Ltd.), criou “um corpo
policial que se encarregou de expulsar os índios e os posseiros que se recusassem a
negociar suas terras” (STECA, FLORES, 2002, p. 140)17.
Em relação aos Xetá18,
Souza Filho (2004, p. 81) complementa que:
“em 1955, a Universidade Federal do Paraná e o órgão nacional
indigenista organizaram uma expedição que localizou aldeias e objetos
que hoje se encontram no Museu Paranaense, mas nenhum índio... No
ano seguinte a expedição foi mais longe e localizou dois grupos
pacíficos que se deixaram fotografar e filmar, brincaram, riram, mas não
acompanharam a expedição que queria arranchá-los em uma fazenda
próxima. Ficaram no mato. Poucos meses depois, um dos grupos foi
massacrado, em um crime nunca perfeitamente explicado e jamais
diretamente julgado”.
Nesse caso, a fotografia documental assumiu uma nova função de instrumento de
sensibilização pública e denúncia, inaugurando um novo singular capitulo na história do
indigenísmo brasileiro, e similar ao trabalho fotográfico executado hoje por Sebastião
Salgado (1997, 2000).
Discussão dos Resultados
Obtivemos como resultados, o aprimoramento da capacidade cognitiva dos
estudantes, a socialização das informações, a vivência coletiva de experiências e a
construção de uma visão transdisciplinar do Conhecimento, tendo como meta a
conexão entre Ciência e Arte (ou a possibilidade de desenvolvimento de uma leitura
científica da realidade, focada na Arte da Fotografia). Obtivemos também como
resultado do processo, uma sensibilização dos estudantes quanto aos temas em foco
abrindo trincheiras de discussão sobre um período histórico (o Ciclo do Café), um
processo socioeconômico e geopolítico (a expansão da fronteira) e um fenômeno
17
18
Tratar-se-ia, nessa região, de agrupamentos de índios “coroados” (Kaingáng)
Ao etnocídio xetá, somar-se-ia, décadas depois, na mesma região, um topocídio: o das Sete Quedas.
12
XIX ENGA, São Paulo, 2009
etnohistórico
(a
desterritorialização
DEUS, J. A. S. e CASTRO, H. M.
indígena).
Foi
viabilizada
também
a
operacionalização de ferramentas de trabalho conceituais do planejamento territorial
(topofilia, topofobia, topocódio, topo-reabilitação), através da participação ativa em
práticas de leitura e interpretação de textos, palestras temáticas e participação em
espaços de diálogo intra e extraclasse. Ocorreu elevado grau de aproximação/
integração pessoal e intelectual entre educadores e educandos ao longo do processo.
A avaliação da prática teve um caráter processual e contínuo, respeitando a
diversidade sociocultural dos universitários. A culminância do trabalho se deu com a
realização de um seminário onde os discentes apresentaram trabalhos vinculados
aos recortes temáticos selecionados.
Referências Bibliográficas
ALEGRE, Maria Sylvia Porto - Imagem e Representação do Índio no Século XIX. In:
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Índios no Brasil. São Paulo: Global Editora,
1998, p, 59-72.
ALIMONDA,
Héctor,
FERGUSON, Juan – Travessia de Imagem (Um Projeto de
Documentação Sobre o Mundo Rural). In: COSTA, Luiz Flávio de Carvalho,
MOREIRA, Roberto José; BRUNO, Regina. Mundo Rural e Tempo Presente.
Rio de Janeiro: Mauad,1999, p. 99-114.
AMORIM FILHO, Oswaldo Bueno - A Pluralidade da Geografia e a Necessidade das
Abordagens Culturais. Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 16, n. 26, p.
35-58, 1º. sem. 2006.
____________________________ - Topofilia, Topofobia e Topocídio em Minas Gerais.
In: DEL RIO, Vicente, OLIVEIRA, Lívia de. Percepção Ambiental: A
Experiência Brasileira. 2 Ed. São Carlos (SP): Editora UFScar/ Studio Nobel,
1999, p. 139-152
ANDRADE, Manuel Corrêa – Geografia Econômica. 8 Ed. São Paulo: Editora Atlas,
1986, 288 p.
ARGOLLO FERRÃO, André Munhoz - Arquitetura do Café. Campinas (SP): Editora
UNICAMP/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004, 296 p.
AZEVEDO,
Heloiza de Aquino – Candido Portinari- Filho do Brasil, Orgulho de
Brodowski! Campinas (SP): Educação & Cia., 2004, 60 p
BELLUZZO,
Ana Maria M.– A Lógica das Imagens e os Habitantes do Novo Mundo.
Memória visual do ciclo do café: etnocídio e desterritorialização indígena no sul e sudeste
do BRASIL, pp. 1-18
13
In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Índios no Brasil. São Paulo: Global
Editora, 1998, p. 47-58.
BORELLI,
Sílvia Helena Simões- Os Kaingang no Estado de São Paulo: Constantes
Históricas e Violência Deliberada. In: COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO/ SP, Índios no
Estado de São Paulo: Resistência e Transfiguração. São Paulo: Yankatu
Editora, 1984, p. 45-82.
BROGGIO, Celine, DROULERS, Martine, GRANDJEAN, Pernette – A
Dinâmica
Territorial da Cafeicultura Brasileira: Dois Sistemas de Produção em Minas
Gerais. Território, Rio de Janeiro, v. 4, n. 6, p. 73-92, jan./ jun. 1999.
CARDOSO, D. – A Expansão da Cafeicultura no Brasil. In: FERNANDEZ, Alexandre
Agabiti. Temas Brasileiros: Café. História Viva, Edição Especial, São Paulo, n 1,
p. 18 – 21, 2007.
CASTRO, Henrique Moreira, DEUS, José Antônio Souza – O Mundo Agrário Sob a
Ótica da Cultura Visual: Uma Abordagem Teórico-Conceitual e Metodológica
Aplicada ao Ensino das Geociências. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
GEOGRAFIA AGRÁRIA, 3, 2007, Londrina/ PR, Anais... Londrina: UEL/ USP/
UNESP/ UFMS/ UNIOESTE-PR/ AGB, 2007, p. 1-15.
CATELLI Jr., Roberto – Brasil: do Café à Indústria- Transição Para o Trabalho
Livre. São Paulo Editora Brasiliense, 2004, 66 p.
CHIAVARI,
Maria Pace - Uma Viagem por Trás das Lentes. Nossa História. Rio de
Janeiro, v. 2, n. 24, p. 34-38, out. 2005.
COSTA,
M. B. B.
– Rastro de Destruição. In: FERNANDEZ, Alexandre Agabiti.
Temas Brasileiros: Café. História Viva, Edição Especial, São Paulo, n. 1, p. 44
- 49, 2007.
CUSTÓDIO,
José de
Arimathéia Cordeiro- E Narciso e Mnemósine Geraram a
Fotografia... In: MAGAHÃES, Fernanda; SOUZA, Maria Irene Pellegrino de
Oliveira. O Discurso Fotográfico, Londrina (PR): EdUEL, p.141-160, 1999.
DEAN, Warren–
A Ferro e Fogo- A História e a Devastação da Mata Atlântica
Brasileira. Tradução de Cid K. Moreira, São Paulo: Companhia das Letras, 2007,
484 p. Original Inglês.
DEBRET, Jean Baptiste – O Brasil de Debret. Tradução de Sérgio Milliet. Belo
Horizonte: Villa Rica Editoras Reunidas Ltda., 1993, 29 p.
DEUS, José Antônio Souza - Linhas Interpretativas e Debates Atuais no Âmbito da
14
XIX ENGA, São Paulo, 2009
DEUS, J. A. S. e CASTRO, H. M.
Geografia Cultural, Universal e Brasileira. Caderno de Geografia, Belo
Horizonte, v. 15, n. 25, p. 45-59, 2º. sem. 2005.
________________________
-
Sustentabilidade
na
Agricultura,
Experiências
Agroflorestais na Amazônia Brasileira e o Exercício de Novas Territorialidades
Indígenas na Fronteira. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA
AGRÁRIA, 3, 2007, Londrina/ PR, Anais... Londrina: UEL/ USP/ UNESP/
UFMS/ UNIOESTE-PR/ AGB, 2007, p. 1-25.
__________________________ - Territórios e Identidades Indígenas da Área Cultural
Norte-Amazônica
no
Atual
Cenário
Mundial
Globalizado.
Caderno
de
Geografia, Belo Horizonte, v. 16, n. 26, p. 1-4, 1º. sem. 2006.
D’ORBIGNY,
Alcide - Viagem Pitoresca Através do Brasil. Belo Horizonte: Editora
Itatiaia, 1976, 190 p.
DUBOIS, Philippe - O Ato Fotográfico. 10 Ed. Tradução de Marina Appenzeiler. São
Paulo: Papirus Editora, 2007, 362 p. Original Francês.
ECCARDI, Fulvio; SANDALI, Vincenzo – O Café: Ambientes e Diversidade. Tradução
de Raffaella F. Quental. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003, 256 p. Original
Italiano.
ENCARNAÇÃO, Ronaldo de Oliveira; LIMA, Darcy Roberto– Café & Saúde Humana.
Brasília, Embrapa Café Documentos, 2003, 64 p.
ESCHWEGE, Wilhelm Ludwig- Brasil, Novo Mundo. Tradução de Domício F. Murta.
Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996, 276 p. Original Alemão.
________________________ - Jornal do Brasil: 1811/ 1817- Relatos Diversos do
Brasil Coletados Durante Expedições Científicas. Tradução de Friedrich E.
Renger, Tarcísia L. Ribeiro e Günter Augustín. Belo Horizonte: Fundação João
Pinheiro, 2002, 408 p. Original Alemão.
FERREZ, Marc – Fotografias de Um “Artista Ilustrado”. São Paulo: Cosac & Naif
Edições, 2000, 126 p.
FREDERICO, Samuel; CASTILLO, Ricardo – Circuito Espacial Produtivo do Café e
Competitividade Territorial no Brasil. Ciência Geográfica, Bauru (SP), v. 10, n.
3, p. 236-251, set./ dez. 2004.
FREHSE, Fraya– Antropologia do Encontro e Desencontro: Fotógrafos e Fotografados
nas Ruas de São Paulo 1880/ 1910. In: MARTINS, José de Souza, ECKERT,
Cornélia, NOVAES, Sylvia Caiuby. O Imaginário e o Poético nas Ciências
Sociais. Bauru: EdUSC, p. 185–224, 2005.
FURTADO, Celso– Formação Econômica do Brasil. 33 Ed. São Paulo: Companhia
Memória visual do ciclo do café: etnocídio e desterritorialização indígena no sul e sudeste
do BRASIL, pp. 1-18
15
Editora Nacional, 2004, 256 p.
GAGLIARDI,
José Mauro – O Indígena e a República. São Paulo Editora Hucitec/
EdUSP/ Secretaria de Estado da Cultura, 1989, 309 p.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos– A Resistência Cultural dos Apinayé. Ciência
Hoje, Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p. 70-75, fev.1983.
HAESBAERT, Rogério– Concepções de Território Para Entender a Desterritorialização.
In:
PROGRAMA
DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM
GEOGRAFIA-
UFF/
ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS. Território. Territórios.
Niterói (RJ): PPGEO-UFF/ AGB, 2002, p. 17-38.
__________________ - Desterritorialização, Multiterritorialidade e Regionalização. In:
LIMONAD, Ester, HAESBAERT, Rogério, MOREIRA, Ruy. Brasil, Século XXIPor Uma Nova Regionalização: Agentes, Processos, Escalas. São Paulo:
Editora Max Limonad, 2004a, p. 173-193.
_____________________ - O Mito da Desterritorialização: Do “Fim dos Territorios”
à Multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 2004 b, 400 p.
HORTA, Célio Augusto da Cunha; DIAS, Márcia Soares – Trabalhadores do Café no
Vale do Jequitinhonha: Uma Análise Geográfica. Cadernos do Leste, Belo
Horizonte, v. 1, n. 4, p. 1-55, out. 2002.
KOSSOY, Boris – Hercule Florence- A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil. 3
Ed. São Paulo: EdUSP, 2006, 407 p.
KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado– Liberdade Encenada. Revista de História
da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, v. 3, n.30, p. 84-85, mar. 2008.
LAGO, Bia Fonseca Corrêa – A Cachoeira de Paulo Afonso, de Auguste Stahl. Nossa
História, São Paulo, v. 2, n. 14, dez. 2004.
LORENZETTI, Linda Rice - The Birth of Coffee. Nova York: Clarkson Publishers,
2000, 192 p.
MAUAD, Ana Maria – Entre Imagens e História. Revista de História da Biblioteca
Nacional. Rio de Janeiro, vol. 3, n. 29. p. 98, fev. 2008.
MENESES,
José Newton Coelho – História e Turismo Cultural. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2004, 128 p.
MICHAUD, Yves – Visualizações- O Corpo e as Artes Visuais. Tradução de Ephraim
F. Alves. In: COURTINE, Jean Jacques. História do Corpo- As Mutações do
Olhar: O Século XX. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 2008, p. 541-565. Original
Francês.
16
XIX ENGA, São Paulo, 2009
DEUS, J. A. S. e CASTRO, H. M.
MIGUEL, Paulo – Projeto Caixa de Memória. In: MAGALHÃES, Fernanda, SOUZA,
Maria Irene Pellegrino de Oliveira O Discurso Fotográfico, Londrina:
EdUEL,1999, p. 227-248.
MIRANDA, Alcides da Rocha, EZAJKOWSKI, Jorge- Fazendas Solares das Regiões
Cafeeiras do Brasil Imperial. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2004,
195 p.
MONBEIG,
Pierre -
Pioneiros e Fazendeiros em São Paulo. Tradução de Ary
França e Raul A. Silva. São Paulo: 1998, Ed. Hucitec/ Poli. 1998, 392 p. Original
Francês.
MORISAWA, Mitsue – A História da Luta Pela Terra e o MST. São Paulo: Expressão
Popular, 2001, 256 p.
MORT, Emília Emico Miya – Qualidade dos Cafés do Brasil. In: SIMPÒSIO DE
PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 1, 2000, Poços de Caldas (MG), Anais...
Brasília, Embrapa, 2002, p. 99-107.
MUAZE, Mariana -. Álbum de Família. Revista de História da Biblioteca Nacional.
Rio de Janeiro, v. 3, n.30, p. 82-83, mar. 2008.
PAIVA, Eduardo França - História & Imagens.
2 Ed. Belo Horizonte, Autêntica
Editora, 2006, 120 p.
PASCOAL,
Luís Norberto – Aroma de Café: Guia Prático Para Apreciadores de
Café. 2 Ed. Campinas (SP): Fundação Educar DPaschoal, 2006, 160 p.
PINAKOTHEKE CULTURAL – Candido Portinari (1903/1962): Pinturas e Desenhos.
Rio de Janeiro: Pinakotheke Cultural, 2002, 104 p.
PINHEIRO, Niminon Suzel - Terra Não é Troféu de Guerra. In: Tommasino, Kimye
MOTA, Lúcio Tadeu, NOELLI, Francisco Silva. Novas Contribuições aos
Estudos Interdisciplinares dos Kaingang, Londrina (PR): EdUEL, 2004, p.
353-413.
POSSA, Lidia Maria Vianna – Mulheres, Trens e Trilhos: Modernidade no Sertão
Paulista. Bauru (SP): EdUSC, 2001, 462 p. ,
POZZOBÓN, Irineu – A Epopéia do Café no Paraná. Londrina (PR): Grafmarke,
2006, 224 p.
PRADO JÚNIOR, Caio – História Econômica do Brasil. 42 Ed. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1997, 364 p.
RIBEIRO, Berta– O Índio na História do Brasil. 5 Ed. São Paulo: Global Editora,1987,
125 p.
RIBEIRO, Darcy - Os Índios e a Civilização- A Integração das Populações Indígenas
Memória visual do ciclo do café: etnocídio e desterritorialização indígena no sul e sudeste
do BRASIL, pp. 1-18
17
no Brasil Moderno. 7 Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, 559 p.
ROSS, Jurandyr L. Sanches – Geografia do Brasil. São Paulo: EdUSP, 1995, 546 p.
RUGENDAS, Johann Moritz– O Brasil de Rugendas. Belo Horizonte: Editora Itatiaia,
1998, 23 p.
________________________ - Viagem Pitoresca Através do Brasil. Tradução de
Sérgio Milliet. Belo Horizonte: Editora Itatiaia,1998, 166 p.
SAINT HILAIRE, Auguste - Viagem Pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Tradução de Vivaldi Moreira. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 2000, 378 p.
SALGADO, Sebastião – Trabalhadores: Uma Arqueologia da Era Industrial. São
Paulo: Companhia das Letras, 1997, 399 p.
__________________ – Êxodos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, 429p.
SANTAELLLA, Lúcia - O Que é Semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003, 84 p.
SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura – O Brasil: Território e Sociedade no Início
do Século XXI. 7 Ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, 473 p.
SANTOS, Sílvio Coelho – Os Índios Xokleng Memória Visual. Florianópolis: Editora
UFSC/ Ed. UNIVALI; 1997, 152 p.
_____________________ - The Surviving Indian Man of the South. Florianópolis:
Editora Garatuja, 1978, 115 p.
SILVA, Carmen Lúcia – Xetá: Sobreviventes do Extermínio. In: RICARDO, Carlos
Alberto. Povos Indígenas no Brasil: 1996/ 2000. São Paulo: ISA, 2000, p. 813.
SODRÉ, Nelson Werneck - Panorama do Segundo Império. 2 Ed. Rio de Janeiro,
Graphia Editorial, 2004, 350 p.
SONTAG, Susan – Sobre Fotografia. Tradução de Rubens Figueiredo. São Paulo
Companhia das Letras, 2004, 223 p.
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés – Multiculturalismo e Direitos Coletivos. In:
SANTOS, Boaventura de Souza. Reconhecer Para Libertar: Os Caminhos do
Cosmopolitismo Multicultural. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2003, p.
71-110.
SPIX, Johann Baptist; MARTIUS, Carl Friedrich Philipp - Viagem Pelo Brasil 1817/
1820. Volume I. Tradução de Lúcia F. Lahmeyer. São Paulo: EdUSP/ Ed. Itatiaia,
1981, 262 p. Original Alemão.
STECA, Lucinéia Cunha; FLORES, Mariléia Dias – História do Paraná- Do Século
XVI
à
Década
de
1950.
Londrina
(PR):
EdUEL,
1992,
205
p.
TEIXEIRA, Gabriel de Souza – Janela no Tibagi. Londrina (PR): Editora do Autor,
18
XIX ENGA, São Paulo, 2009
DEUS, J. A. S. e CASTRO, H. M.
2005, 78 p.
TUBALDINI, Maria Aparecida dos Santos– Gestão do Território e Alternativas Para a
Produção Agrícola Familiar. In: CASTRO, Iná Elias, MIRANDA, Mariana,
EGLER, Cláudio A. G. Redescobrindo o Brasil: 500 Anos Depois. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1999, p.263-274.
TURAZZI, Maria Inez – Visão Sedutora. Nossa História, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 5660, dez. 2003.
VISCARDI, Cláudia M. R. – “Café Com Leite?”, Nossa História, São Paulo, v. 2, n.
19, p. 44- 47, maio 2005.
WAIBEL, Leo – Capítulo de Geografia Tropical e do Brasil. 2 Ed. Rio de Janeiro:
IBGE, 1979, 336 p