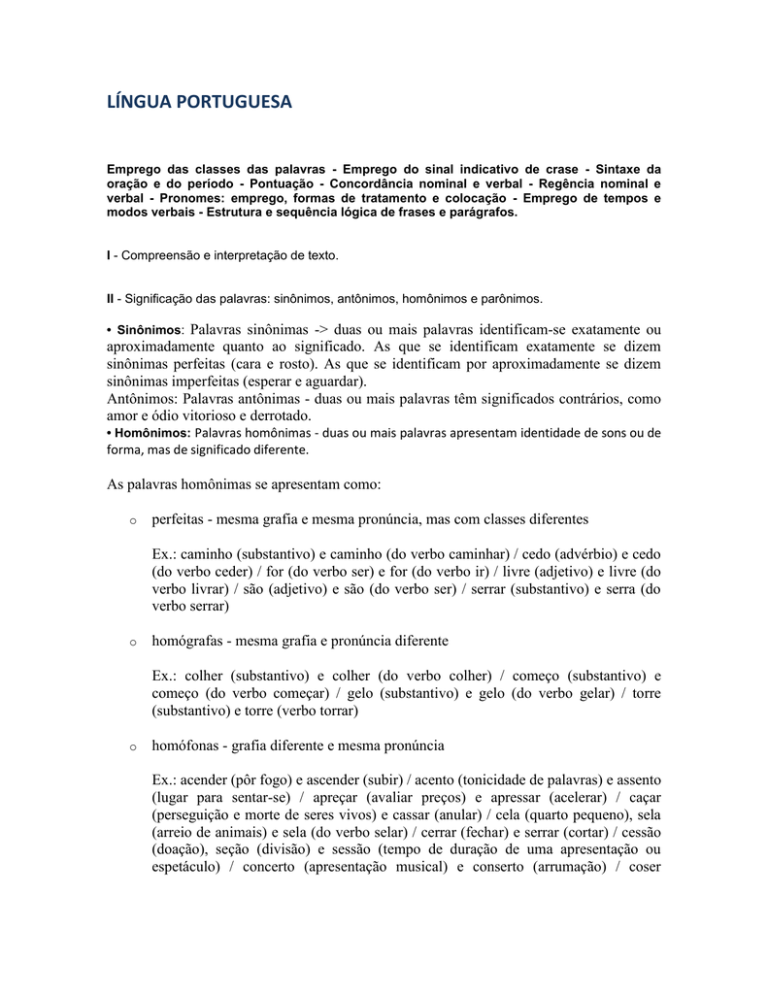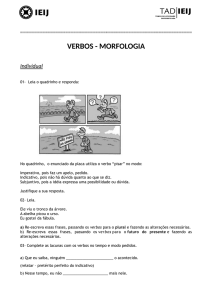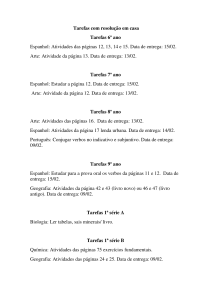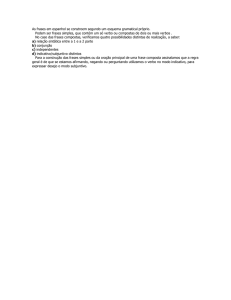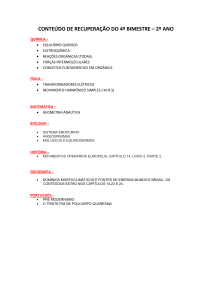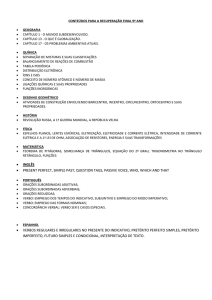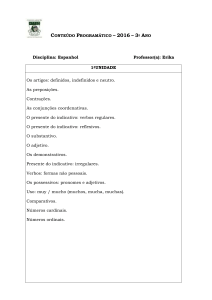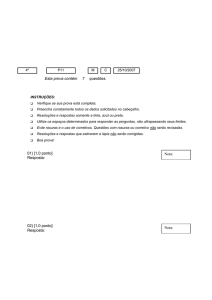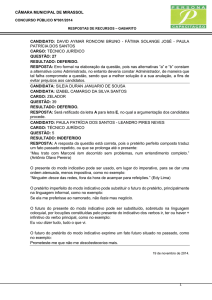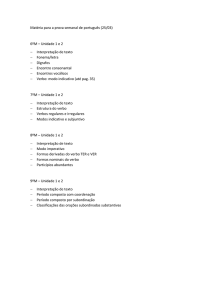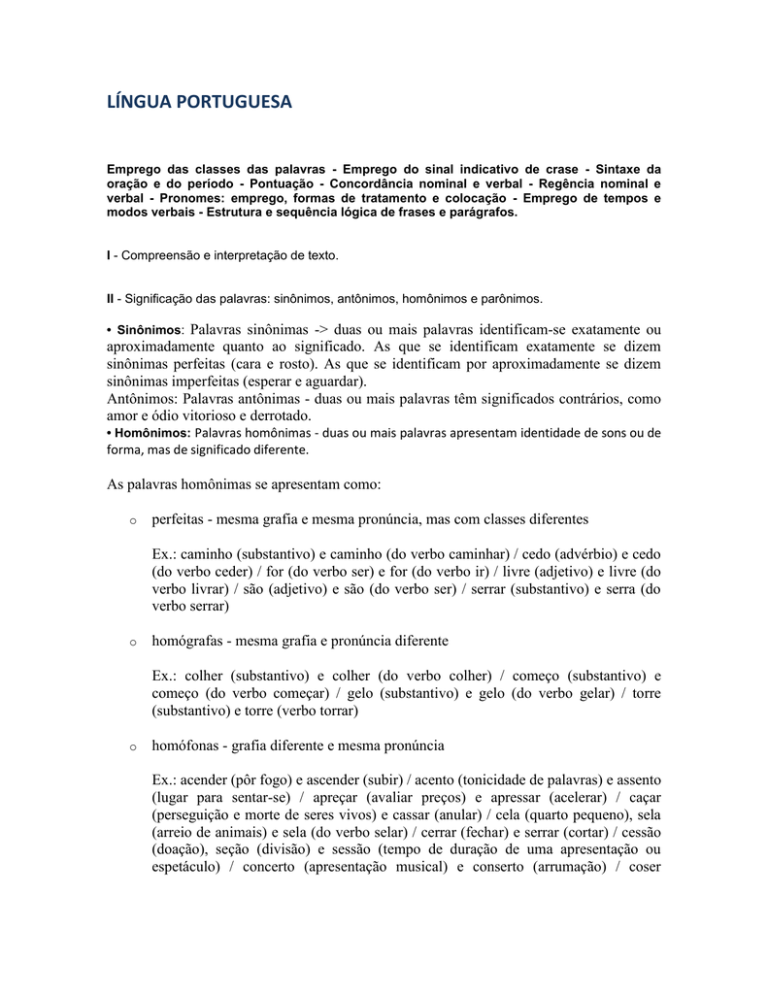
LÍNGUA PORTUGUESA
Emprego das classes das palavras - Emprego do sinal indicativo de crase - Sintaxe da
oração e do período - Pontuação - Concordância nominal e verbal - Regência nominal e
verbal - Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação - Emprego de tempos e
modos verbais - Estrutura e sequência lógica de frases e parágrafos.
I - Compreensão e interpretação de texto.
II - Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos.
• Sinônimos:
Palavras sinônimas -> duas ou mais palavras identificam-se exatamente ou
aproximadamente quanto ao significado. As que se identificam exatamente se dizem
sinônimas perfeitas (cara e rosto). As que se identificam por aproximadamente se dizem
sinônimas imperfeitas (esperar e aguardar).
Antônimos: Palavras antônimas - duas ou mais palavras têm significados contrários, como
amor e ódio vitorioso e derrotado.
• Homônimos: Palavras homônimas - duas ou mais palavras apresentam identidade de sons ou de
forma, mas de significado diferente.
As palavras homônimas se apresentam como:
o
perfeitas - mesma grafia e mesma pronúncia, mas com classes diferentes
Ex.: caminho (substantivo) e caminho (do verbo caminhar) / cedo (advérbio) e cedo
(do verbo ceder) / for (do verbo ser) e for (do verbo ir) / livre (adjetivo) e livre (do
verbo livrar) / são (adjetivo) e são (do verbo ser) / serrar (substantivo) e serra (do
verbo serrar)
o
homógrafas - mesma grafia e pronúncia diferente
Ex.: colher (substantivo) e colher (do verbo colher) / começo (substantivo) e
começo (do verbo começar) / gelo (substantivo) e gelo (do verbo gelar) / torre
(substantivo) e torre (verbo torrar)
o
homófonas - grafia diferente e mesma pronúncia
Ex.: acender (pôr fogo) e ascender (subir) / acento (tonicidade de palavras) e assento
(lugar para sentar-se) / apreçar (avaliar preços) e apressar (acelerar) / caçar
(perseguição e morte de seres vivos) e cassar (anular) / cela (quarto pequeno), sela
(arreio de animais) e sela (do verbo selar) / cerrar (fechar) e serrar (cortar) / cessão
(doação), seção (divisão) e sessão (tempo de duração de uma apresentação ou
espetáculo) / concerto (apresentação musical) e conserto (arrumação) / coser
(costurar) e cozer (cozinhar) / sinto (do verbo sentir) e cinto (objeto de vestuário) /
taxa (imposto) e tacha (prego pequeno)
Observação
Não se deve confundir os homônimos perfeitos com o conceito de polissemia
em que as palavras têm mesma grafia, som e classe (ponto de ônibus, ponto
final, ponto de vista, ponto de encontro etc.)
• Parônimos: Palavras parônimas - duas ou mais palavras quando apresentam grafia e pronúncia
parecidas, mas significado diferente.
Ex.: área (superfície) e ária (melodia) / comprimento (extensão) e cumprimento (saudação) /
deferir (conceder) e diferir (adiar) / descrição (ato de descrever) e discrição (reserva em atos e
atitudes) / despercebido (desatento) e desapercebido (despreparado) / emergir (vir a tona,
despontar) e imergir (mergulhar) / emigrante (quem sai voluntariamente de seu próprio país para
se estabelecer em outro) e imigrante (quem entra em outro país a fim de se estabelecer) /
eminente (destacado, elevado) e iminente (prestes a acontecer) / fla grante (evidente) e fragrante
(perfumado, aromático) / fluir (correr em estado fluido ou com abundância) e fruir (desfrutar,
aproveitar) / inflação (desvalorização da moeda) e infração (violação da lei) / infringir (transgredir)
e infligir (aplicar) / ratificar (confirmar) e retificar (corrigir) / tráfego (trânsito de veículos em vias
públicas) e tráfico (comércio desonesto ou ilícito) / vultoso (que faz vulto, volumoso ou de grande
importância) e vultuoso (acometido de congestão da face).
III - Pontuação. Estrutura e seqüência lógica de frases e parágrafos.
Há certos recursos da linguagem - pausa, melodia, entonação e até mesmo, silêncio - que
só estão presentes na oralidade. Na linguagem escrita, para substituir tais recursos, usamos
os sinais de pontuação. Estes são também usados para destacar palavras, expressões ou
orações e esclarecer o sentido de frases, a fim de dissipar qualquer tipo de ambigüidade.
1. Vírgula
Emprega-se a vírgula (uma breve pausa):
a) para separar os elementos mencionados numa relação:
A nossa empresa está contratando engenheiros, economistas, analistas de sistemas e
secretárias.
O apartamento tem três quartos, sala de visitas, sala de jantar, área de serviço e dois
banheiros.
NOTA
Mesmo que o e venha repetido antes de cada um dos elementos da enumeração, a vírgula deve
ser empregada:
Rodrigo estava nervoso. Andava pelos cantos, e gesticulava, e falava em voz alta, e ria, e
roía as unhas.
b) para isolar o vocativo:
Cristina, desligue já esse telefone!
Por favor, Ricardo, venha até o meu gabinete.
c) para isolar o aposto:
Dona Sílvia, aquela mexeriqueira do quarto andar, ficou presa no elevador.
Rafael, o gênio da pintura italiana, nasceu em Urbino.
d) para isolar palavras e expressões explicativas (a saber, por exemplo, isto é, ou melhor,
aliás, além disso etc.):
Gastamos R$ 5.000,00 na reforma do apartamento, isto é, tudo o que tínhamos
economizado durante anos.
Eles viajaram para a América do Norte, aliás, para o Canadá.
e) para isolar o adjunto adverbial antecipado:
Lá no sertão, as noites são escuras e perigosas.
Ontem à noite, fomos todos jantar fora.
f) para isolar elementos repetidos:
O palácio, o palácio está destruído.
Estão todos cansados, cansados de dar dó!
g) para isolar, nas datas, o nome do lugar:
São Paulo, 22 de maio de 1995.
Roma, 13 de dezembro de 1995.
h) para isolar os adjuntos adverbiais:
A multidão foi, aos poucos, avançando para o palácio.
Os candidatos serão atendidos, das sete às onze, pelo próprio gerente.
i) para isolar as orações coordenadas, exceto as introduzidas pela conjunção e:
Ele já enganou várias pessoas, logo não é digno de confiança.
Você pode usar o meu carro, mas tome muito cuidado ao dirigir.
Não compareci ao trabalho ontem, pois estava doente.
j) para indicar a elipse de um elemento da oração:
Foi um grande escândalo. Às vezes gritava; outras, estrebuchava como um animal.
Não se sabe ao certo. Paulo diz que ela se suicidou, a irmã, que foi um acidente.
k) para separar o paralelismo de provérbios:
Ladrão de tostão, ladrão de milhão.
Ouvir cantar o galo, sem saber onde.
l) após a saudação em correspondência (social e comercial):
Com muito amor,
Respeitosamente,
m) para isolar as orações adjetivas explicativas:
Marina, que é uma criatura maldosa, "puxou o tapete" de Juliana lá no trabalho.
Vidas Secas, que é um romance contemporâneo, foi escrito por Graciliano Ramos.
n) para isolar orações intercaladas:
Não lhe posso garantir nada, respondi secamente.
O filme, disse ele, é fantástico.
2. Ponto
Emprega-se o ponto, basicamente, para indicar o término de uma frase declarativa de um
período simples ou composto.
Desejo-lhe uma feliz viagem.
A casa, quase sempre fechada, parecia abandonada, no entanto tudo no seu interior era
conservado com primor.
O ponto é também usado em quase todas as abreviaturas, por exemplo: fev. = fevereiro,
hab. = habitante, rod. = rodovia.
O ponto que é empregado para encerrar um texto escrito recebe o nome de ponto final.
3. Ponto-e-vírgula
Utiliza-se o ponto-e-vírgula para assinalar uma pausa maior do que a da vírgula,
praticamente uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula.
Geralmente, emprega-se o ponto-e-vírgula para:
a) separar orações coordenadas que tenham um certo sentido ou aquelas que já
apresentam separação por vírgula:
Criança, foi uma garota sapeca; moça, era inteligente e alegre; agora, mulher madura,
tornou-se uma doidivanas.
b) separar vários itens de uma enumeração:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais;
........
(Constituição da República Federativa do Brasil)
4. Dois-pontos
Os dois-pontos são empregados para:
a) uma enumeração:
... Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo porque falou: e daí
tornou atrás, ao próprio ato.
Estirado no gabinete, evocou a cena: o menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu,
levado de um ímpeto irresistível...
(Machado de Assis)
b) uma citação:
Visto que ela nada declarasse, o marido indagou:
- Afinal, o que houve?
c) um esclarecimento:
Joana conseguira enfim realizar seu desejo maior: seduzir Pedro. Não porque o amasse,
mas para magoar Lucila.
Observe que os dois-pontos são também usados na introdução de exemplos, notas ou
observações.
Parônimos são vocábulos diferentes na significação e parecidos na forma. Exemplos:
ratificar/retificar, censo/senso, descriminar/discriminar etc.
Nota: A preposição per, considerada arcaica, somente é usada na frase de per si (= cada
um por sua vez, isoladamente).
Observação: Na linguagem coloquial pode-se aplicar o grau diminutivo a alguns
advérbios: cedinho, longinho, melhorzinho, pouquinho etc.
NOTA
A invocação em correspondência (social ou comercial) pode ser seguida de dois-pontos ou de
vírgula:
Querida amiga:
Prezados senhores,
5. Ponto de interrogação
O ponto de interrogação é empregado para indicar uma pergunta direta, ainda que esta
não exija resposta:
O criado pediu licença para entrar:
- O senhor não precisa de mim?
- Não obrigado. A que horas janta-se?
- Às cinco, se o senhor não der outra ordem.
- Bem.
- O senhor sai a passeio depois do jantar? de carro ou a cavalo?
- Não.
(José de Alencar)
6. Ponto de exclamação
O ponto de exclamação é empregado para marcar o fim de qualquer enunciado com
entonação exclamativa, que normalmente exprime admiração, surpresa, assombro,
indignação etc.
- Viva o meu príncipe! Sim, senhor... Eis aqui um comedouro muito compreensível e
muito repousante, Jacinto!
- Então janta, homem!
(Eça de Queiroz)
NOTA
O ponto de exclamação é também usado com interjeições e locuções interjetivas:
Oh!
Valha-me Deus!
7. Reticências
As reticências são empregadas para:
a) assinalar interrupção do pensamento:
- Bem; eu retiro-me, que sou prudente. Levo a consciência de que fiz o meu dever. Mas o
mundo saberá...
(Júlio Dinis)
b) indicar passos que são suprimidos de um texto:
O primeiro e crucial problema de lingüística geral que Saussure focalizou dizia respeito à
natureza da linguagem. Encarava-a como um sistema de signos... Considerava a lingüística,
portanto, com um aspecto de uma ciência mais geral, a ciência dos signos...
(Mattoso Camara Jr.)
c) marcar aumento de emoção:
As palavras únicas de Teresa, em resposta àquela carta, significativa da turvação do
infeliz, foram estas: "Morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino... Perdi-te... Bem
sabes que sorte eu queria dar-te... e morro, porque não posso, nem poderei jamais resgatarte.
(Camilo Castelo Branco)
8. Aspas
As aspas são empregadas:
a) antes e depois de citações textuais:
Roulet afirma que "o gramático deveria descrever a língua em uso em nossa época, pois é
dela que os alunos necessitam para a comunicação quotidiana".
b) para assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias e expressões populares ou vulgares:
O "lobby" para que se mantenha a autorização de importação de pneus usados no Brasil
está cada vez mais descarado.
(Veja)
Na semana passada, o senador republicano Charles Grassley apresentou um projeto de lei
que pretende "deletar" para sempre dos monitores de crianças e adolescentes as cenas
consideradas obscenas.
(Veja)
Popularidade no "xilindró"
Preso há dois anos, o prefeito de Rio Claro tem apoio da população e quer uma delegada
para primeira-dama.
(Veja)
Com a chegada da polícia, os três suspeitos "puxaram o carro" rapidamente.
c) para realçar uma palavra ou expressão:
Ele reagiu impulsivamente e lhe deu um "não" sonoro.
Aquela "vertigem súbita" na vida financeira de Ricardo afastou-lhe os amigos
dissimulados.
9. Travessão
Emprega-se o travessão para:
a) indicar a mudança de interlocutor no diálogo:
- Que gente é aquela, seu Alberto?
- São japoneses.
- Japoneses? E... é gente como nós?
- É. O Japão é um grande país. A única diferença é que eles são amarelos.
- Mas, então não são índios?
(Ferreira de Castro)
b) colocar em relevo certas palavras ou expressões:
Maria José sempre muito generosa - sem ser artificial ou piegas - a perdoou sem
restrições.
Um grupo de turistas estrangeiros - todos muito ruidosos - invadiu o saguão do hotel no
qual estávamos hospedados.
c) substituir a vírgula ou os dois pontos:
Cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, eternamente selvagem, a arte é a superioridade
humana - acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da
ciência que se corrige; embriaga como a orgia e como o êxtase.
(Raul Pompéia)
d) ligar palavras ou grupos de palavras que formam um "conjunto" no enunciado:
A ponte Rio-Niterói está sendo reformada.
O triângulo Paris-Milão-Nova York está sendo ameaçado, no mundo da moda, pela
ascensão dos estilistas do Japão.
10. Parênteses
Os parênteses são empregados para:
a) destacar num texto qualquer explicação ou comentário:
Todo signo linguístico é formado de duas partes associadas e inseparáveis, isto é, o
significante (unidade formada pela sucessão de fonemas) e o significado (conceito ou
idéia).
b) incluir dados informativos sobre bibliografia (autor, ano de publicação, página etc.):
Mattoso Camara (1977:91) afirma que, às vezes, os preceitos da gramática e os registros
dos dicionários são discutíveis: consideram erro o que já poderia ser admitido e aceitam o
que poderia, de preferência, ser posto de lado.
c) indicar marcações cênicas numa peça de teatro:
Abelardo I - Que fim levou o americano?
João - Decerto caiu no copo de uísque!
Abelardo I - Vou salvá-lo. Até já!
(sai pela direita)
(Oswald de Andrade)
d) isolar orações intercaladas com verbos declarativos, em substituição à vírgula e aos
travessões:
Afirma-se (não se prova) que é muito comum o recebimento de propina para que os
carros apreendidos sejam liberados sem o recolhimento das multas.
11. Asterisco
O asterisco, sinal gráfico em forma de estrela, é um recurso empregado para:
a) remissão a uma nota no pé da página ou no fim de um capítulo de um livro:
Ao analisarmos as palavras sorveteria, sapataria, confeitaria, leiteria e muitas outras que
contêm o morfema preso* -aria e seu alomorfe -eria, chegamos à conclusão de que este
afixo está ligado a estabelecimento comercial. Em alguns contextos pode indicar atividades,
como em: bruxaria, gritaria, patifaria etc.
* É o morfema que não possui significação autônoma e sempre aparece ligado a outras
palavras.
b) substituição de um nome próprio que não se deseja mencionar:
O Dr.* afirmou que a causa da infecção hospitalar na Casa de Saúde Municipal está
ligada à falta de produtos adequados para assepsia.
O PARÁGRAFO
O parágrafo é organizado em torno de uma ideia-núcleo, que é desenvolvida por ideias
secundárias. O parágrafo pode ser formado por uma ou mais frases, sendo seu tamanho
variável. No texto dissertativo-argumentativo, os parágrafos devem estar todos relacionados
com a tese ou ideia principal do texto, geralmente apresentada na introdução.
Embora existam diferentes formas de organização de parágrafos, os textos dissertativoargumentativos e alguns gêneros jornalísticos apresentam uma estrutura-padrão. Essa
estrutura consiste em três partes: a ideia-núcleo, as ideias secundárias (que desenvolvem a
ideia-núcleo) e a conclusão (que reafirma a ideia-básica). Em parágrafos curtos, é raro
haver conclusão.
Conheça a estrutura-padrão a seguir, observando sua organização interna.
(ideia-núcleo) A poluição que se verifica principalmente nas capitais do país é um
problema relevante, para cuja solução é necessária uma ação conjunta de toda a sociedade.
(ideia secundária) O governo, por exemplo, deve rever sua legislação de proteção ao meio
ambiente, ou fazer valer as leis em vigor; o empresário pode dar sua contribuição,
instalando filtro de controle dos gases e líquidos expelidos, e a população, utilizando menos
o transporte individual e aderindo aos programas de rodízio de automóveis e caminhões,
como já ocorre em São Paulo.
(conclusão) Medidas que venham a excluir qualquer um desses três setores da sociedade
tendem a ser inócuas no combate à poluição e apenas onerar as contas públicas.
Observe que a ideia-núcleo apresentou palavras-chave (poluição / solução / ação conjunta /
sociedade) que vão nortear o restante do parágrafo. O período subsequente – ideia
secundária – vai desenvolver o que foi citado anteriormente: ação conjunta – do governo,
do empresário e da população. O último período retoma as ideias anteriores, posicionandose frente ao tema.
Em suma, note que todo o parágrafo se organiza em torno do primeiro período, que
expõe o ponto de vista do autor sobre como combater a poluição. O segundo
período desenvolve e fundamenta a ideia-núcleo, apontando como cada um dos
setores envolvidos pode contribuir. O último período conclui o parágrafo,
reforçando a ideia-núcleo.
Outro aspecto que merece especial atenção são os elementos relacionadores, isto é, os
conectores ou conetivos. Eles são responsáveis pela coesão do texto e tornam a leitura mais
fluente; visam a estabelecer um encadeamento lógico entre as idéias e servem de “elo”
entre o parágrafo, ou no interior do período, e o tópico que o antecede. Saber usá-los com
precisão, tanto no interior da frase, quanto ao passar de um enunciado para outro, é uma
exigência também para a clareza do texto. Sem esses conectores – pronomes relativos,
conjunções, advérbios, preposições, palavras denotativas – as idéias não fluem, muitas
vezes o pensamento não se completa, e o texto torna-se obscuro, sem coerência.
Os elementos relacionadores não são, todavia, obrigatórios; geralmente estão presentes a
partir do segundo parágrafo. No exemplo a seguir, o parágrafo demonstrativo certamente
não constitui o 1º parágrafo de uma redação.
Exemplo de um parágrafo e suas divisões
“Nesse contexto, é um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediato violenta
elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as
drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura
suficiente para atender à demanda. Enfim, viveremos o caos.”
(Alberto Corazza, Isto É, com adaptações)
Elemento relacionador : Nesse contexto.
Tópico frasal: é um grave erro a liberação da maconha.
Desenvolvimento: Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá
o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de
recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender à demanda.
Conclusão: Enfim, viveremos o caos.
IV - Ortografia oficial. Acentuação gráfica.
Ver no blog.
V - Classes das palavras.
As palavras são classificadas de acordo com as funções exercidas nas orações.
Na língua portuguesa podemos classificar as palavras em:
Substantivo
É a palavra variável que denomina qualidades, sentimentos, sensações, ações, estados e
seres em geral.
Quanto a sua formação, o substantivo pode ser primitivo (jornal) ou derivado (jornalista),
simples (alface) ou composto (guarda-chuva).
Já quanto a sua classificação, ele pode ser comum (cidade) ou próprio (Curitiba), concreto
(mesa) ou abstrato (felicidade).
Os substantivos concretos designam seres de existência real ou que a imaginação apresenta
como tal: alma, fada, santo. Já os substantivos abstratos designam qualidade, sentimento,
ação e estado dos seres: beleza, cegueira, dor, fuga.
Os substantivos próprios são sempre concretos e devem ser grafados com iniciais
maiúsculas.
Certos substantivos próprios podem tornar-se comuns, pelo processo de derivação
imprópria (um judas = traidor / um panamá = chapéu).
Os substantivos abstratos têm existência independente e podem ser reais ou não, materiais
ou não. Quando esses substantivos abstratos são de qualidade tornam-se concretos no plural
(riqueza X riquezas).
Muitos substantivos podem ser variavelmente abstratos ou concretos, conforme o sentido
em que se empregam (a redação das leis requer clareza / na redação do aluno, assinalei
vários erros).
Já no tocante ao gênero (masculino X feminino) os substantivos podem ser:
biformes: quando apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino.
(rato, rata ou conde X condessa).
uniformes: quando apresentam uma única forma para ambos os gêneros. Nesse
caso, eles estão divididos em:
epicenos: usados para animais de ambos os sexos (macho e fêmea) - albatroz,
badejo, besouro, codorniz;
comum de dois gêneros: aqueles que designam pessoas, fazendo a distinção dos
sexos por palavras determinantes - aborígine, camarada, herege, manequim, mártir,
médium, silvícola;
sobrecomuns - apresentam um só gênero gramatical para designar pessoas de
ambos os sexos - algoz, apóstolo, cônjuge, guia, testemunha, verdugo;
Alguns substantivos, quando mudam de gênero, mudam de sentido. (o cisma X a cisma / o
corneta X a corneta / o crisma X a crisma / o cura X a cura / o guia X a guia / o lente X a
lente / o língua X a língua / o moral X a moral / o maria-fumaça X a maria-fumaça / o voga
X a voga).
Os nomes terminados em -ão fazem feminino em -ã, -oa ou -ona (alemã, leoa, valentona).
Os nomes terminados em -e mudam-no para -a, entretanto a maioria é invariável (monge X
monja, infante X infanta, mas o/a dirigente, o/a estudante).
Quanto ao número (singular X plural), os substantivos simples formam o plural em função
do final da palavra.
vogal ou ditongo (exceto -ÃO): acréscimo de -S (porta X portas, troféu X troféus);
ditongo -ÃO: -ÕES / -ÃES / -ÃOS, variando em cada palavra (pagãos, cidadãos,
cortesãos, escrivães, sacristães, capitães, capelães, tabeliães, deães, faisães,
guardiães).
Os substantivos paroxítonos terminados em -ão fazem plural em -ãos (bênçãos, órfãos,
gólfãos). Alguns gramáticos registram artesão (artífice) - artesãos e artesão (adorno
arquitetônico) - artesões.
-EM, -IM, -OM, -UM: acréscimo de -NS (jardim X jardins);
-R ou -Z: -ES (mar X mares, raiz X raízes);
-S: substantivos oxítonos acréscimo de -ES (país X países). Os não-oxítonos
terminados em -S são invariáveis, marcando o número pelo artigo (os atlas, os lápis,
os ônibus), cais, cós e xis são invariáveis;
-N: -S ou -ES, sendo a última menos comum (hífen X hifens ou hífenes), cânon >
cânones;
-X: invariável, usando o artigo para o plural (tórax X os tórax);
-AL, EL, OL, UL: troca-se -L por -IS (animal X animais, barril X barris). Exceto
mal por males, cônsul por cônsules, real (moeda) por réis, mel por méis ou meles;
IL: se oxítono, trocar -L por -S. Se não oxítonos, trocar -IL por -EIS. (til X tis,
míssil X mísseis). Observação: réptil / reptil por répteis / reptis, projétil / projetil
por projéteis / projetis;
sufixo diminutivo -ZINHO(A) / -ZITO(A): colocar a palavra primitiva no plural,
retirar o -S e acrescentar o sufixo diminutivo (caezitos, coroneizinhos,
mulherezinhas). Observação: palavras com esses sufixos não recebem acento
gráfico.
metafonia: -o tônico fechado no singular muda para o timbre aberto no plural,
também variando em função da palavra. (ovo X ovos, mas bolo X bolos).
Observação: avôs (avô paterno + avô materno), avós (avó + avó ou avô + avó).
Os substantivos podem apresentar diferentes graus, porém grau não é uma flexão nominal.
São três graus: normal, aumentativo e diminutivo e podem ser formados através de dois
processos:
analítico: associando os adjetivos (grande ou pequeno, ou similar) ao substantivo;
sintético: anexando-se ao substantivo sufixos indicadores de grau (meninão X
menininho).
Certos substantivos, apesar da forma, não expressam a noção aumentativa ou diminutiva.
(cartão, cartilha).
alguns sufixos aumentativo: -ázio, -orra, -ola, -az, -ão, -eirão, -alhão, -arão, -arrão, zarrão;
alguns sufixos diminutivo: -ito, -ulo-, -culo, -ote, -ola, -im, -elho, -inho, -zinho (o
sufixo -zinho é obrigatório quando o substantivo terminar em vogal tônica ou
ditongo: cafezinho, paizinho);
O aumentativo pode exprimir desprezo (sabichão, ministraço, poetastro) ou intimidade
(amigão); enquanto o diminutivo pode indicar carinho (filhinho) ou ter valor pejorativo
(livreco, casebre).
Algumas curiosidades sobre os substantivos:
Palavras masculinas:
ágape (refeição dos primitivos cristãos);
anátema (excomungação);
axioma (premissa verdadeira);
caudal (cachoeira);
carcinoma (tumor maligno);
champanha, clã, clarinete, contralto, coma, diabete/diabetes (FeM classificam como
gênero vacilante);
diadema, estratagema, fibroma (tumor benigno);
herpes, hosana (hino);
jângal (floresta da Índia);
lhama, praça (soldado raso);
praça (soldado raso);
proclama, sabiá, soprano (FeM classificam como gênero vacilante);
suéter, tapa (FeM classificam como gênero vacilante);
teiró (parte de arma de fogo ou arado);
telefonema, trema, vau (trecho raso do rio).
Palavras femininas:
abusão (engano);
alcíone (ave doa antigos);
aluvião, araquã (ave);
áspide (reptil peçonhento);
baitaca (ave);
cataplasma, cal, clâmide (manto grego);
cólera (doença);
derme, dinamite, entorce, fácies (aspecto);
filoxera (inseto e doença);
gênese, guriatã (ave);
hélice (FeM classificam como gênero vacilante);
jaçanã (ave);
juriti (tipo de aves);
libido, mascote, omoplata, rês, suçuarana (felino);
sucuri, tíbia, trama, ubá (canoa);
usucapião (FeM classificam como gênero vacilante);
xerox (cópia).
Gênero vacilante:
acauã (falcão);
inambu (ave);
laringe, personagem (Ceg. fala que é usada indistintamente nos dois gêneros, mas
que há preferência de autores pelo masculino);
víspora.
Alguns femininos:
abade - abadessa;
abegão (feitor) - abegoa;
alcaide (antigo governador) - alcaidessa, alcaidina;
aldeão - aldeã;
anfitrião - anfitrioa, anfitriã;
beirão (natural da Beira) - beiroa;
besuntão (porcalhão) - besuntona;
bonachão - bonachona;
bretão - bretoa, bretã;
cantador - cantadeira;
cantor - cantora, cantadora, cantarina, cantatriz;
castelão (dono do castelo) - castelã;
catalão - catalã;
cavaleiro - cavaleira, amazona;
charlatão - charlatã;
coimbrão - coimbrã;
cônsul - consulesa;
comarcão - comarcã;
cônego - canonisa;
czar - czarina;
deus - deusa, déia;
diácono (clérigo) - diaconisa;
doge (antigo magistrado) - dogesa;
druida - druidesa;
elefante - elefanta e aliá (Ceilão);
embaixador - embaixadora e embaixatriz;
ermitão - ermitoa, ermitã;
faisão - faisoa (Cegalla), faisã;
hortelão (trata da horta) - horteloa;
javali - javalina;
ladrão - ladra, ladroa, ladrona;
felá (camponês) - felaína;
flâmine (antigo sacerdote) - flamínica;
frade - freira;
frei - sóror;
gigante - giganta;
grou - grua;
lebrão - lebre;
maestro - maestrina;
maganão (malicioso) - magana;
melro - mélroa;
mocetão - mocetona;
oficial - oficiala;
padre - madre;
papa - papisa;
pardal - pardoca, pardaloca, pardaleja;
parvo - párvoa;
peão - peã, peona;
perdigão - perdiz;
prior - prioresa, priora;
mu ou mulo - mula;
rajá - rani;
rapaz - rapariga;
rascão (desleixado) - rascoa;
sandeu - sandia;
sintrão - sintrã;
sultão - sultana;
tabaréu - tabaroa;
varão - matrona, mulher;
veado - veada;
vilão - viloa, vilã.
Substantivos em -ÃO e seus plurais:
alão - alões, alãos, alães;
aldeão - aldeãos, aldeões;
capelão - capelães;
castelão - castelãos, castelões;
cidadão - cidadãos;
cortesão - cortesãos;
ermitão - ermitões, ermitãos, ermitães;
escrivão - escrivães;
folião - foliões;
hortelão - hortelões, hortelãos;
pagão - pagãos;
sacristão - sacristães;
tabelião - tabeliães;
tecelão - tecelões;
verão - verãos, verões;
vilão - vilões, vilãos;
vulcão - vulcões, vulcãos.
Alguns substantivos que sofrem metafonia no plural:
abrolho, caroço, corcovo, corvo, coro, despojo, destroço, escolho, esforço, estorvo, forno,
forro, fosso, imposto, jogo, miolo, poço, porto, posto, reforço, rogo, socorro, tijolo, toco,
torno, torto, troco.
Substantivos só usados no plural:
anais, antolhos, arredores, arras (bens, penhor), calendas (1º dia do mês romano), cãs
(cabelos brancos), cócegas, condolências, damas (jogo), endoenças (solenidades religiosas),
esponsais (contrato de casamento ou noivado), esposórios (presente de núpcias), exéquias
(cerimônias fúnebres), fastos (anais), férias, fezes, manes (almas), matinas (breviário de
orações matutinas), núpcias, óculos, olheiras, primícias (começos, prelúdios), pêsames,
vísceras, víveres etc., além dos nomes de naipes.
Coletivos:
alavão - ovelhas leiteiras;
armento - gado grande (búfalos, elefantes);
assembleia (parlamentares, membros de associações);
atilho - espigas;
baixela - utensílios de mesa;
banca - de examinadores, advogados;
bandeira - garimpeiros, exploradores de minérios;
bando - aves, ciganos, crianças, salteadores;
boana - peixes miúdos;
cabido - cônegos (conselheiros de bispo);
cáfila - camelos;
cainçalha - cães;
cambada - caranguejos, malvados, chaves;
cancioneiro - poesias, canções;
caterva - desordeiros, vadios;
choldra, joldra - assassinos, malfeitores;
chusma - populares, criados;
conselho - vereadores, diretores, juízes militares;
conciliábulo - feiticeiros, conspiradores;
concílio - bispos;
canzoada - cães;
conclave - cardeais;
congregação - professores, religiosos;
consistório - cardeais;
fato - cabras;
feixe - capim, lenha;
junta - bois, médicos, credores, examinadores;
girândola - foguetes, fogos de artifício;
grei - gado miúdo, políticos;
hemeroteca - jornais, revistas;
legião - anjos, soldados, demônios;
malta - desordeiros;
matula - desordeiros, vagabundos;
miríade - estrelas, insetos;
nuvem - gafanhotos, pó;
panapaná - borboletas migratórias;
penca - bananas, chaves;
récua - cavalgaduras (bestas de carga);
renque - árvores, pessoas ou coisas enfileiradas;
réstia - alho, cebola;
ror - grande quantidade de coisas;
súcia - pessoas desonestas, patifes;
talha -lenha;
tertúlia - amigos, intelectuais;
tropilha - cavalos;
vara - porcos.
Substantivos compostos:
Os substantivos compostos formam o plural da seguinte maneira:
sem hífen formam o plural como os simples (pontapé/pontapés);
caso não haja caso específico, verifica-se a variabilidade das palavras que compõem
o substantivo para pluralizá-los. São palavras variáveis: substantivo, adjetivo,
numeral, pronomes, particípio. São palavras invariáveis: verbo, preposição,
advérbio, prefixo;
em elementos repetidos, muito parecidos ou onomatopaicos, só o segundo vai para
o plural (tico-ticos, tique-taques, corre-corres, pingue-pongues);
com elementos ligados por preposição, apenas o primeiro se flexiona (pés-demoleque);
são invariáveis os elementos grão, grã e bel (grão-duques, grã-cruzes, bel-prazeres);
só variará o primeiro elemento nos compostos formados por dois substantivos, onde
o segundo limita o primeiro elemento, indicando tipo, semelhança ou finalidade
deste (sambas-enredo, bananas-maçã)
nenhum dos elementos vai para o plural se formado por verbos de sentidos opostos
e frases substantivas (os leva-e-traz, os bota-fora, os pisa-mansinho, os bota-abaixo,
os louva-a-Deus, os ganha-pouco, os diz-que-me-diz);
compostos cujo segundo elemento já está no plural não variam (os troca-tintas, os
salta-pocinhas, os espirra-canivetes);
palavra guarda, se fizer referência a pessoa varia por ser substantivo. Caso
represente o verbo guardar, não pode variar (guardas-noturnos, guarda-chuvas).
Adjetivo
É a palavra variável que restringe a significação do substantivo, indicando qualidades e
características deste. Mantém com o substantivo que determina relação de concordância de
gênero e número.
adjetivos pátrios: indicam a nacionalidade ou a origem geográfica, normalmente são
formados pelo acréscimo de um sufixo ao substantivo de que se originam (Alagoas
por alagoano). Podem ser simples ou compostos, referindo-se a duas ou mais
nacionalidades ou regiões; nestes últimos casos assumem sua forma reduzida e
erudita, com exceção do último elemento (franco-ítalo-brasileiro).
locuções adjetivas: expressões formadas por preposição e substantivo e com
significado equivalente a adjetivos (anel de prata = anel argênteo / andar de cima =
andar superior / estar com fome = estar faminto).
São adjetivos eruditos:
açúcar - sacarino;
águia - aquilino;
anel - anular;
astro - sideral;
bexiga - vesical;
bispo - episcopal;
cabeça - cefálico;
chumbo - plúmbeo;
chuva - pluvial;
cinza - cinéreo;
cobra - colubrino, ofídico;
dinheiro - pecuniário;
estômago - gástrico;
fábrica - fabril;
fígado - hepático;
fogo - ígneo;
guerra - bélico;
homem - viril;
inverno - hibernal;
lago - lacustre;
lebre - leporino;
lobo - lupino;
marfim - ebúrneo, ebóreo;
memória - mnemônico;
moeda - monetário, numismático;
neve - níveo;
pedra - pétreo;
prata - argênteo, argentino, argírico;
raposa - vulpino;
rio - fluvial, potâmico;
rocha - rupestre;
sonho - onírico;
sul - meridional, austral;
tarde - vespertino;
velho, velhice - senil;
vidro - vítreo, hialino.
Quanto à variação dos adjetivos, eles apresentam as seguintes características:
O gênero é uniforme ou biforme (inteligente X honesto[a]). Quanto ao gênero, não se diz
que um adjetivo é masculino ou feminino, e sim que tem terminação masculina ou
feminina.
No tocante a número, os adjetivos simples formam o plural segundo os mesmos princípios
dos substantivos simples, em função de sua terminação (agradável X agradáveis). Já os
substantivos utilizados como adjetivos ficam invariáveis (blusas cinza).
Os adjetivos terminados em -OSO, além do acréscimo do -S de plural, mudam o timbre do
primeiro -o, num processo de metafonia.
Quanto ao grau, os adjetivos apresentam duas formas: comparativo e superlativo.
O grau comparativo refere-se a uma mesma qualidade entre dois ou mais seres, duas ou
mais qualidades de um mesmo ser. Pode ser de igualdade: tão alto quanto (como / quão); de
superioridade: mais alto (do) que (analítico) / maior (do) que (sintético) e de inferioridade:
menos alto (do) que.
O grau superlativo exprime qualidade em grau muito elevado ou intenso.
O superlativo pode ser classificado como absoluto, quando a qualidade não se refere à de
outros elementos. Pode ser analítico (acréscimo de advérbio de intensidade) ou sintético (íssimo, -érrimo, -ílimo). (muito alto X altíssimo)
O superlativo pode ser também relativo, qualidade relacionada, favorável ou
desfavoravelmente, à de outros elementos. Pode ser de superioridade analítico (o mais alto
de/dentre), de superioridade sintético (o maior de/dentre) ou de inferioridade (o menos alto
de/dentre).
São superlativos absolutos sintéticos eruditos da língua portuguesa:
acre - acérrimo;
alto - supremo, sumo;
amável - amabilíssimo;
amigo - amicíssimo;
baixo - ínfimo;
cruel - crudelíssimo;
doce - dulcíssimo;
dócil - docílimo;
fiel - fidelíssimo;
frio - frigidíssimo;
humilde - humílimo;
livre - libérrimo;
magro - macérrimo;
mísero - misérrimo;
negro - nigérrimo;
pobre - paupérrimo;
sábio - sapientíssimo;
sagrado - sacratíssimo;
são - saníssimo;
veloz - velocíssimo.
Os adjetivos compostos formam o plural da seguinte forma:
têm como regra geral, flexionar o último elemento em gênero e número (lentes
côncavo-convexas, problemas sócio-econômicos);
são invariáveis cores em que o segundo elemento é um substantivo (blusas azulturquesa, bolsas branco-gelo);
não variam as locuções adjetivas formadas pela expressão cor-de-... (vestidos corde-rosa);
as cores: azul-celeste e azul-marinho são invariáveis;
em surdo-mudo flexionam-se os dois elementos.
Pronome
É palavra variável em gênero, número e pessoa que substitui ou acompanha um substantivo,
indicando-o como pessoa do discurso.
A diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo pode ser atribuída a qualquer tipo de
pronome, podendo variar em função do contexto frasal. Assim, o pronome substantivo é aquele
que substitui um substantivo, representando-o. (Ele prestou socorro). Já o pronome adjetivo é
aquele que acompanha um substantivo, determinando-o. (Aquele rapaz é belo). Os pronomes
pessoais são sempre substantivos.
Quanto às pessoas do discurso, a língua portuguesa apresenta três pessoas:
1ª pessoa - aquele que fala, emissor;
2ª pessoa - aquele com quem se fala, receptor;
3ª pessoa - aquele de que ou de quem se fala, referente.
Pronome pessoal
Indicam uma das três pessoas do discurso, substituindo um substantivo. Podem também
representar, quando na 3ª pessoa, uma forma nominal anteriormente expressa (A moça era a
melhor secretária, ela mesma agendava os compromissos do chefe).
Os pronomes pessoais apresentam variações de forma dependendo da função sintática que
exercem na frase. Os pronomes pessoais retos desempenham, normalmente, função de
sujeito; enquanto os oblíquos, geralmente, de complemento.
Os pronomes oblíquos tônicos devem vir regidos de preposição. Em comigo, contigo,
conosco e convosco, a preposição com já é parte integrante do pronome.
Os pronomes de tratamento estão enquadrados nos pronomes pessoais. São empregados
como referência à pessoa com quem se fala (2ª pessoa), entretanto, a concordância é feita
com a 3ª pessoa. Também são considerados pronomes de tratamento as formas você, vocês
(provenientes da redução de Vossa Mercê), Senhor, Senhora e Senhorita.
Quanto ao emprego, as formas oblíquas o, a, os, as completam verbos que não vêm regidos
de preposição; enquanto lhe e lhes para verbos regidos das preposições a ou para (não
expressas).
Apesar de serem usadas pouco, as formas mo, to, no-lo, vo-lo, lho e flexões resultam da
fusão de dois objetos, representados por pronomes oblíquos (Ninguém mo disse = ninguém
o disse a mim).
Os pronomes átonos o, a, os e as viram lo(a/s), quando associados a verbos terminados em
r, s ou z e viram no(a/s), se a terminação verbal for em ditongo nasal.
Os pronomes o/a (s), me, te, se, nos, vos desempenham função se sujeitos de infinitivo ou
verbo no gerúndio, junto ao verbo fazer, deixar, mandar, ouvir e ver (Mandei-o entrar / Eu
o vi sair / Deixei-as chorando).
A forma você, atualmente, é usada no lugar da 2ª pessoa (tu/vós), tanto no singular quanto
no plural, levando o verbo para a 3ª pessoa.
Já as formas de tratamento serão precedidas de Vossa, quando nos dirigirmos diretamente à
pessoa e de Sua, quando fizermos referência a ela. Troca-se na abreviatura o V. pelo S.
Quando precedidos de preposição, os pronomes retos (exceto eu e tu) passam a funcionar
como oblíquos. Eu e tu não podem vir precedidos de preposição, exceto se funcionarem
como sujeito de um verbo no infinitivo (Isto é para eu fazer ≠ para mim fazer).
Os pronomes acompanhados de só ou todos, ou seguido de numeral, assumem forma reta e
podem funcionar como objeto direto (Estava só ele no banco / Encontramos todos eles).
Os pronomes me, te, se, nos, vos podem ter valor reflexivo, enquanto se, nos, vos - podem
ter valor reflexivo e recíproco.
As formas si e consigo têm valor exclusivamente reflexivo e usados para a 3ª pessoa. Já
conosco e convosco devem aparecer na sua forma analítica (com nós e com vós) quando
vierem com modificadores (todos, outros, mesmos, próprios, numeral ou oração adjetiva).
Os pronomes pessoais retos podem desempenhar função de sujeito, predicativo do sujeito
ou vocativo, este último com tu e vós (Nós temos uma proposta / Eu sou eu e pronto / Ó, tu,
Senhor Jesus).
Quanto ao uso das preposições junto aos pronomes, deve-se saber que não se pode contrair
as preposições de e em com pronomes que sejam sujeitos (Em vez de ele continuar, desistiu
≠ Vi as bolsas dele bem aqui).
Os pronomes átonos podem assumir valor possessivo (Levaram-me o dinheiro / Pesavamlhe os olhos), enquanto alguns átonos são partes integrantes de verbos como suicidar-se,
apiedar-se, condoer-se, ufanar-se, queixar-se, vangloriar-se.
Já os pronomes oblíquos podem ser usados como expressão expletiva (Não me venha com
essa).
Pronome possessivo
Fazem referência às pessoas do discurso, apresentando-as como possuidoras de algo. Concordam
em gênero e número com a coisa possuída.
São pronomes possessivos da língua portuguesa as formas:
1ª pessoa: meu(s), minha(s) nosso(a/s);
2ª pessoa: teu(s), tua(s) vosso(a/s);
3ª pessoa: seu(s), sua(s) seu(s), sua(s).
Quanto ao emprego, normalmente, vem antes do nome a que se refere; podendo, também, vir
depois do substantivo que determina. Neste último caso, pode até alterar o sentido da frase.
O uso do possessivo seu (a/s) pode causar ambigüidade, para desfazê-la, deve-se preferir o uso do
dele (a/s) (Ele disse que Maria estava trancada em sua casa - casa de quem?); pode também
indicar aproximação numérica (ele tem lá seus 40 anos).
Já nas expressões do tipo "Seu João", seu não tem valor de posse por ser uma alteração fonética
de Senhor.
Pronome demonstrativo
Indicam posição de algo em relação às pessoas do discurso, situando-o no tempo e/ou no
espaço. São: este (a/s), isto, esse (a/s), isso, aquele (a/s), aquilo. Isto, isso e aquilo são
invariáveis e se empregam exclusivamente como substitutos de substantivos.
As formas mesmo, próprio, semelhante, tal (s) e o (a/s) podem desempenhar papel de
pronome demonstrativo.
Quanto ao emprego, os pronomes demonstrativos apresentam-se da seguinte maneira:
uso dêitico, indicando localização no espaço - este (aqui), esse (aí) e aquele (lá);
uso dêitico, indicando localização temporal - este (presente), esse (passado
próximo) e aquele (passado remoto ou bastante vago);
uso anafórico, em referência ao que já foi ou será dito - este (novo enunciado) e esse
(retoma informação);
o, a, os, as são demonstrativos quando equivalem a aquele (a/s), isto (Leve o que lhe
pertence);
tal é demonstrativo se puder ser substituído por esse (a), este (a) ou aquele (a) e
semelhante, quando anteposto ao substantivo a que se refere e equivalente a
"aquele", "idêntico" (O problema ainda não foi resolvido, tal demora atrapalhou as
negociações / Não brigue por semelhante causa);
mesmo e próprio são demonstrativos, se precedidos de artigo, quando significarem
"idêntico", "igual" ou "exato". Concordam com o nome a que se referem
(Separaram crianças de mesmas séries);
como referência a termos já citados, os pronomes aquele (a/s) e este (a/s) são usados
para primeira e segunda ocorrências, respectivamente, em apostos distributivos (O
médico e a enfermeira estavam calados: aquele amedrontado e esta calma / ou: esta
calma e aquele amedrontado);
pode ocorrer a contração das preposições a, de, em com os pronomes
demonstrativos (Não acreditei no que estava vendo / Fui àquela região de
montanhas / Fez alusão à pessoa de azul e à de branco);
podem apresentar valor intensificador ou depreciativo, dependendo do contexto
frasal (Ele estava com aquela paciência / Aquilo é um marido de enfeite);
nisso e nisto (em + pronome) podem ser usados com valor de "então" ou "nesse
momento" (Nisso, ela entrou triunfante - nisso = advérbio).
Pronome relativo
Retoma um termo expresso anteriormente (antecedente) e introduz uma oração dependente,
adjetiva.
Os pronome nomes demonstrativos apresentam-se da seguinte maneira: mento,
armamentomes relativos são: que, quem e onde - invariáveis; além de o qual (a/s), cujo
(a/s) e quanto (a/s).
Os relativos são chamados relativos indefinidos quando são empregados sem antecedente
expresso (Quem espera sempre alcança / Fez quanto pôde).
Quanto ao emprego, observa-se que os relativos são usados quando:
o antecedente do relativo pode ser demonstrativo o (a/s) (O Brasil divide-se entre os
que lêem ou não);
como relativo, quanto refere-se ao antecedente tudo ou todo (Ouvia tudo quanto me
interessava)
quem será precedido de preposição se estiver relacionado a pessoas ou seres
personificados expressos;
quem = relativo indefinido quando é empregado sem antecedente claro, não vindo
precedido de preposição;
cujo (a/s) é empregado para dar a idéia de posse e não concorda com o antecedente
e sim com seu conseqüente. Ele tem sempre valor adjetivo e não pode ser
acompanhado de artigo.
Pronome indefinido
Referem-se à 3ª pessoa do discurso quando considerada de modo vago, impreciso ou
genérico, representando pessoas, coisas e lugares. Alguns também podem dar idéia de
conjunto ou quantidade indeterminada. Em função da quantidade de pronomes indefinidos,
merece atenção sua identificação.
São pronomes indefinidos de:
pessoas: quem, alguém, ninguém, outrem;
lugares: onde, algures, alhures, nenhures;
pessoas, lugares, coisas: que, qual, quais, algo, tudo, nada, todo (a/s), algum (a/s),
vários (a), nenhum (a/s), certo (a/s), outro (a/s), muito (a/s), pouco (a/s), quanto
(a/s), um (a/s), qualquer (s), cada.
Sobre o emprego dos indefinidos devemos atentar para:
algum, após o substantivo a que se refere, assume valor negativo (= nenhum)
(Computador algum resolverá o problema);
cada deve ser sempre seguido de um substantivo ou numeral (Elas receberam 3
balas cada uma);
alguns pronomes indefinidos, se vierem depois do nome a que estiverem se
referindo, passam a ser adjetivos. (Certas pessoas deveriam ter seus lugares certos /
Comprei várias balas de sabores vários)
bastante pode vir como adjetivo também, se estiver determinando algum
substantivo, unindo-se a ele por verbo de ligação (Isso é bastante para mim);
o pronome outrem equivale a "qualquer pessoa";
o pronome nada, colocado junto a verbos ou adjetivos, pode equivaler a advérbio
(Ele não está nada contente hoje);
o pronome nada, colocado junto a verbos ou adjetivos, pode equivaler a advérbio
(Ele não está nada contente hoje);
existem algumas locuções pronominais indefinidas - quem quer que, o que quer,
seja quem for, cada um etc.
todo com valor indefinido antecede o substantivo, sem artigo (Toda cidade parou
para ver a banda ≠ Toda a cidade parou para ver a banda).
Pronome interrogativo
São os pronomes indefinidos que, quem, qual, quanto usados na formulação de uma pergunta
direta ou indireta. Referem-se à 3ª pessoa do discurso. (Quantos livros você tem? / Não sei quem
lhe contou).
Alguns interrogativos podem ser adverbiais (Quando voltarão? / Onde encontrá-los? / Como foi
tudo?)
Verbo
É a palavra variável que exprime um acontecimento representado no tempo, seja ação,
estado ou fenômeno da natureza.
Os verbos apresentam três conjugações. Em função da vogal temática, podem-se criar três
paradigmas verbais. De acordo com a relação dos verbos com esses paradigmas, obtém-se a
seguinte classificação:
regulares: seguem o paradigma verbal de sua conjugação;
irregulares: não seguem o paradigma verbal da conjugação a que pertencem. As
irregularidades podem aparecer no radical ou nas desinências (ouvir - ouço/ouve,
estar - estou/estão);
Entre os verbos irregulares, destacam-se os anômalos que apresentam profundas
irregularidades. São classificados como anômalos em todas as gramáticas os verbos ser e ir.
defectivos: não são conjugados em determinadas pessoas, tempo ou modo (falir no presente do indicativo só apresenta a 1ª e a 2ª pessoa do plural). Os defectivos
distribuem-se em três grupos: impessoais, unipessoais (vozes ou ruídos de animais,
só conjugados nas 3ª pessoas) por eufonia ou possibilidade de confusão com outros
verbos;
abundantes - apresentam mais de uma forma para uma mesma flexão. Mais
freqüente no particípio, devendo-se usar o particípio regular com ter e haver; já o
irregular com ser e estar (aceito/aceitado, acendido/aceso - tenho/hei aceitado ≠
é/está aceito);
auxiliares: juntam-se ao verbo principal ampliando sua significação. Presentes nos
tempos compostos e locuções verbais;
certos verbos possuem pronomes pessoais átonos que se tornam partes integrantes
deles. Nesses casos, o pronome não tem função sintática (suicidar-se, apiedar-se,
queixar-se etc.);
formas rizotônicas (tonicidade no radical - eu canto) e formas arrizotônicas
(tonicidade fora do radical - nós cantaríamos).
Quanto à flexão verbal, temos:
número: singular ou plural;
pessoa gramatical: 1ª, 2ª ou 3ª;
tempo: referência ao momento em que se fala (pretérito, presente ou futuro). O
modo imperativo só tem um tempo, o presente;
voz: ativa, passiva e reflexiva;
modo: indicativo (certeza de um fato ou estado), subjuntivo (possibilidade ou
desejo de realização de um fato ou incerteza do estado) e imperativo (expressa
ordem, advertência ou pedido).
As três formas nominais do verbo (infinitivo, gerúndio e particípio) não possuem função
exclusivamente verbal. Infinitivo é antes substantivo, o particípio tem valor e forma de
adjetivo, enquanto o gerúndio equipara-se ao adjetivo ou advérbio pelas circunstâncias que
exprime.
Quanto ao tempo verbal, eles apresentam os seguintes valores:
presente do indicativo: indica um fato real situado no momento ou época em que
se fala;
presente do subjuntivo: indica um fato provável, duvidoso ou hipotético situado
no momento ou época em que se fala;
pretérito perfeito do indicativo: indica um fato real cuja ação foi iniciada e
concluída no passado;
pretérito imperfeito do indicativo: indica um fato real cuja ação foi iniciada no
passado, mas não foi concluída ou era uma ação costumeira no passado;
pretérito imperfeito do subjuntivo: indica um fato provável, duvidoso ou
hipotético cuja ação foi iniciada mas não concluída no passado;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: indica um fato real cuja ação é anterior
a outra ação já passada;
futuro do presente do indicativo: indica um fato real situado em momento ou
época vindoura;
futuro do pretérito do indicativo: indica um fato possível, hipotético, situado num
momento futuro, mas ligado a um momento passado;
futuro do subjuntivo: indica um fato provável, duvidoso, hipotético, situado num
momento ou época futura;
Quanto à formação dos tempos, os chamados tempos simples podem ser primitivos
(presente e pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal) e derivados:
São derivados do presente do indicativo:
pretérito imperfeito do indicativo: TEMA do presente + VA (1ª conj.) ou IA (2ª e
3ª conj.) + Desinência número pessoal (DNP);
presente do subjuntivo: RAD da 1ª pessoa singular do presente + E (1ª conj.) ou A
(2ª e 3ª conj.) + DNP;
Os verbos em -ear têm duplo "e" em vez de "ei" na 1ª pessoa do plural (passeio, mas
passeemos).
imperativo negativo (todo derivado do presente do subjuntivo) e imperativo
afirmativo (as 2ª pessoas vêm do presente do indicativo sem S, as demais também
vêm do presente do subjuntivo).
São derivados do pretérito perfeito do indicativo:
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: TEMA do perfeito + RA + DNP;
pretérito imperfeito do subjuntivo: TEMA do perfeito + SSE + DNP;
futuro do subjuntivo: TEMA do perfeito + R + DNP.
São derivados do infinitivo impessoal:
futuro do presente do indicativo: TEMA do infinitivo + RA + DNP;
futuro do pretérito: TEMA do infinitivo + RIA + DNP;
infinitivo pessoal: infinitivo impessoal + DNP (-ES - 2ª pessoa, -MOS, -DES, -EM)
gerúndio: TEMA do infinitivo + -NDO;
particípio regular: infinitivo impessoal sem vogal temática (VT) e R + ADO (1ª
conjugação) ou IDO (2ª e 3ª conjugação).
Quanto à formação, os tempos compostos da voz ativa constituem-se dos verbos auxiliares
TER ou HAVER + particípio do verbo que se quer conjugar, dito principal.
No modo Indicativo, os tempos compostos são formados da seguinte maneira:
pretérito perfeito: presente do indicativo do auxiliar + particípio do verbo principal
(VP) [Tenho falado];
pretérito mais-que-perfeito: pretérito imperfeito do indicativo do auxiliar +
particípio do VP (Tinha falado);
futuro do presente: futuro do presente do indicativo do auxiliar + particípio do VP
(Terei falado);
futuro do pretérito: futuro do pretérito indicativo do auxiliar + particípio do VP
(Teria falado).
No modo Subjuntivo a formação se dá da seguinte maneira:
pretérito perfeito: presente do subjuntivo do auxiliar + particípio do VP (Tenha
falado);
pretérito mais-que-perfeito: imperfeito do subjuntivo do auxiliar + particípio do
VP (Tivesse falado);
futuro composto: futuro do subjuntivo do auxiliar + particípio do VP (Tiver
falado).
Quanto às formas nominais, elas são formadas da seguinte maneira:
infinitivo composto: infinitivo pessoal ou impessoal do auxiliar + particípio do VP
(Ter falado / Teres falado);
gerúndio composto: gerúndio do auxiliar + particípio do VP (Tendo falado).
O modo subjuntivo apresenta três pretéritos, sendo o imperfeito na forma simples e o
perfeito e o mais-que-perfeito nas formas compostas. Não há presente composto nem
pretérito imperfeito composto
Quanto às vozes, os verbos apresentam a voz:
ativa: sujeito é agente da ação verbal;
passiva: sujeito é paciente da ação verbal;
A voz passiva pode ser analítica ou sintética:
analítica: - verbo auxiliar + particípio do verbo principal;
sintética: na 3ª pessoa do singular ou plural + SE (partícula apassivadora);
reflexiva: sujeito é agente e paciente da ação verbal. Também pode ser recíproca ao
mesmo tempo (acréscimo de SE = pronome reflexivo, variável em função da pessoa
do verbo);
Na transformação da voz ativa na passiva, a variação temporal é indicada pelo auxiliar (ser
na maioria das vezes), como notamos nos exemplos a seguir: Ele fez o trabalho - O trabalho
foi feito por ele (mantido o pretérito perfeito do indicativo) / O vento ia levando as folhas As folhas iam sendo levadas pelas folhas (mantido o gerúndio do verbo principal).
Alguns verbos da língua portuguesa apresentam problemas de conjugação. A seguir temos
uma lista, seguida de comentários sobre essas dificuldades de conjugação.
Abolir (defectivo) - não possui a 1ª pessoa do singular do presente do indicativo,
por isso não possui presente do subjuntivo e o imperativo negativo. (= banir, carpir,
colorir, delinqüir, demolir, descomedir-se, emergir, exaurir, fremir, fulgir, haurir,
retorquir, urgir)
Acudir (alternância vocálica o/u) - presente do indicativo - acudo, acodes... e
pretérito perfeito do indicativo - com u (= bulir, consumir, cuspir, engolir, fugir) /
Adequar (defectivo) - só possui a 1ª e a 2ª pessoa do plural no presente do indicativo
Aderir (alternância vocálica e/i) - presente do indicativo - adiro, adere... (= advertir,
cerzir, despir, diferir, digerir, divergir, ferir, sugerir)
Agir (acomodação gráfica g/j) - presente do indicativo - ajo, ages... (= afligir,
coagir, erigir, espargir, refulgir, restringir, transigir, urgir)
Agredir (alternância vocálica e/i) - presente do indicativo - agrido, agrides, agride,
agredimos, agredis, agridem (= prevenir, progredir, regredir, transgredir) / Aguar
(regular) - presente do indicativo - águo, águas..., - pretérito perfeito do indicativo agüei, aguaste, aguou, aguamos, aguastes, aguaram (= desaguar, enxaguar, minguar)
Aprazer (irregular) - presente do indicativo - aprazo, aprazes, apraz... / pretérito
perfeito do indicativo - aprouve, aprouveste, aprouve, aprouvemos, aprouvestes,
aprouveram
Argüir (irregular com alternância vocálica o/u) - presente do indicativo - arguo (ú),
argúis, argúi, argüimos, argüis, argúem - pretérito perfeito - argüi, argüiste... (com
trema)
Atrair (irregular) - presente do indicativo - atraio, atrais... / pretérito perfeito - atraí,
atraíste... (= abstrair, cair, distrair, sair, subtrair)
Atribuir (irregular) - presente do indicativo - atribuo, atribuis, atribui, atribuímos,
atribuís, atribuem - pretérito perfeito - atribuí, atribuíste, atribuiu... (= afluir,
concluir, destituir, excluir, instruir, possuir, usufruir)
Averiguar (alternância vocálica o/u) - presente do indicativo - averiguo (ú),
averiguas (ú), averigua (ú), averiguamos, averiguais, averiguam (ú) - pretérito
perfeito - averigüei, averiguaste... - presente do subjuntivo - averigúe, averigúes,
averigúe... (= apaziguar)
Cear (irregular) - presente do indicativo - ceio, ceias, ceia, ceamos, ceais, ceiam pretérito perfeito indicativo - ceei, ceaste, ceou, ceamos, ceastes, cearam (= verbos
terminados em -ear: falsear, passear... - alguns apresentam pronúncia aberta: estréio,
estréia...)
Coar (irregular) - presente do indicativo - côo, côas, côa, coamos, coais, coam pretérito perfeito - coei, coaste, coou... (= abençoar, magoar, perdoar) / Comerciar
(regular) - presente do indicativo - comercio, comercias... - pretérito perfeito comerciei... (= verbos em -iar , exceto os seguintes verbos: mediar, ansiar, remediar,
incendiar, odiar)
Compelir (alternância vocálica e/i) - presente do indicativo - compilo, compeles... pretérito perfeito indicativo - compeli, compeliste...
Compilar (regular) - presente do indicativo - compilo, compilas, compila... pretérito perfeito indicativo - compilei, compilaste...
Construir (irregular e abundante) - presente do indicativo - construo, constróis (ou
construis), constrói (ou construi), construímos, construís, constroem (ou construem)
- pretérito perfeito indicativo - construí, construíste...
Crer (irregular) - presente do indicativo - creio, crês, crê, cremos, credes, crêem pretérito perfeito indicativo - cri, creste, creu, cremos, crestes, creram - imperfeito
indicativo - cria, crias, cria, críamos, críeis, criam
Falir (defectivo) - presente do indicativo - falimos, falis - pretérito perfeito
indicativo - fali, faliste... (= aguerrir, combalir, foragir-se, remir, renhir)
Frigir (acomodação gráfica g/j e alternância vocálica e/i) - presente do indicativo frijo, freges, frege, frigimos, frigis, fregem - pretérito perfeito indicativo - frigi,
frigiste...
Ir (irregular) - presente do indicativo - vou, vais, vai, vamos, ides, vão - pretérito
perfeito indicativo - fui, foste... - presente subjuntivo - vá, vás, vá, vamos, vades,
vão
Jazer (irregular) - presente do indicativo - jazo, jazes... - pretérito perfeito
indicativo - jazi, jazeste, jazeu...
Mobiliar (irregular) - presente do indicativo - mobílio, mobílias, mobília,
mobiliamos, mobiliais, mobíliam - pretérito perfeito indicativo - mobiliei,
mobiliaste... / Obstar (regular) - presente do indicativo - obsto, obstas... - pretérito
perfeito indicativo - obstei, obstaste...
Pedir (irregular) - presente do indicativo - peço, pedes, pede, pedimos, pedis,
pedem - pretérito perfeito indicativo - pedi, pediste... (= despedir, expedir, medir) /
Polir (alternância vocálica e/i) - presente do indicativo - pulo, pules, pule, polimos,
polis, pulem - pretérito perfeito indicativo - poli, poliste...
Precaver-se (defectivo e pronominal) - presente do indicativo - precavemo-nos,
precaveis-vos - pretérito perfeito indicativo - precavi-me, precaveste-te... / Prover
(irregular) - presente do indicativo - provejo, provês, provê, provemos, provedes,
provêem - pretérito perfeito indicativo - provi, proveste, proveu... / Reaver
(defectivo) - presente do indicativo - reavemos, reaveis - pretérito perfeito
indicativo - reouve, reouveste, reouve... (verbo derivado do haver, mas só é
conjugado nas formas verbais com a letra v)
Remir (defectivo) - presente do indicativo - remimos, remis - pretérito perfeito
indicativo - remi, remiste...
Requerer (irregular) - presente do indicativo - requeiro, requeres... - pretérito
perfeito indicativo - requeri, requereste, requereu... (derivado do querer, diferindo
dele na 1ª pessoa do singular do presente do indicativo e no pretérito perfeito do
indicativo e derivados, sendo regular)
Rir (irregular) - presente do indicativo - rio, rir, ri, rimos, rides, riem - pretérito
perfeito indicativo - ri, riste... (= sorrir)
Saudar (alternância vocálica) - presente do indicativo - saúdo, saúdas... - pretérito
perfeito indicativo - saudei, saudaste...
Suar (regular) - presente do indicativo - suo, suas, sua... - pretérito perfeito
indicativo - suei, suaste, sou... (= atuar, continuar, habituar, individuar, recuar,
situar)
Valer (irregular) - presente do indicativo - valho, vales, vale... - pretérito perfeito
indicativo - vali, valeste, valeu...
Também merecem atenção os seguintes verbos irregulares:
Pronominais: Apiedar-se, dignar-se, persignar-se, precaver-se
Caber
presente do indicativo: caibo, cabes, cabe, cabemos, cabeis, cabem;
presente do subjuntivo: caiba, caibas, caiba, caibamos, caibais, caibam;
pretérito perfeito do indicativo: coube, coubeste, coube, coubemos, coubestes,
couberam;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: coubera, couberas, coubera,
coubéramos, coubéreis, couberam;
pretérito imperfeito do subjuntivo: coubesse, coubesses, coubesse, coubéssemos,
coubésseis, coubessem;
futuro do subjuntivo: couber, couberes, couber, coubermos, couberdes, couberem.
Dar
presente do indicativo: dou, dás, dá, damos, dais, dão;
presente do subjuntivo: dê, dês, dê, demos, deis, dêem;
pretérito perfeito do indicativo: dei, deste, deu, demos, destes, deram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: dera, deras, dera, déramos, déreis,
deram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: desse, desses, desse, déssemos, désseis,
dessem;
futuro do subjuntivo: der, deres, der, dermos, derdes, derem.
Dizer
presente do indicativo: digo, dizes, diz, dizemos, dizeis, dizem;
presente do subjuntivo: diga, digas, diga, digamos, digais, digam;
pretérito perfeito do indicativo: disse, disseste, disse, dissemos, dissestes,
disseram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: dissera, disseras, dissera, disséramos,
disséreis, disseram;
futuro do presente: direi, dirás, dirá, etc.;
futuro do pretérito: diria, dirias, diria, etc.;
pretérito imperfeito do subjuntivo: dissesse, dissesses, dissesse, disséssemos,
dissésseis, dissessem;
futuro do subjuntivo: disser, disseres, disser, dissermos, disserdes, disserem;
Seguem esse modelo os derivados bendizer, condizer, contradizer, desdizer, maldizer,
predizer.
Os particípios desse verbo e seus derivados são irregulares: dito, bendito, contradito, etc.
Estar
presente do indicativo: estou, estás, está, estamos, estais, estão;
presente do subjuntivo: esteja, estejas, esteja, estejamos, estejais, estejam;
pretérito perfeito do indicativo: estive, estiveste, esteve, estivemos, estivestes,
estiveram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: estivera, estiveras, estivera,
estivéramos, estivéreis, estiveram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: estivesse, estivesses, estivesse, estivéssemos,
estivésseis, estivessem;
futuro do subjuntivo: estiver, estiveres, estiver, estivermos, estiverdes, estiverem;
Fazer
presente do indicativo: faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazem;
presente do subjuntivo: faça, faças, faça, façamos, façais, façam;
pretérito perfeito do indicativo: fiz, fizeste, fez, fizemos, fizestes, fizeram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: fizera, fizeras, fizera, fizéramos,
fizéreis, fizeram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: fizesse, fizesses, fizesse, fizéssemos, fizésseis,
fizessem;
futuro do subjuntivo: fizer, fizeres, fizer, fizermos, fizerdes, fizerem.
Seguem esse modelo desfazer, liquefazer e satisfazer.
Os particípios desse verbo e seus derivados são irregulares: feito, desfeito, liquefeito,
satisfeito, etc.
Haver
presente do indicativo: hei, hás, há, havemos, haveis, hão;
presente do subjuntivo: haja, hajas, haja, hajamos, hajais, hajam;
pretérito perfeito do indicativo: houve, houveste, houve, houvemos, houvestes,
houveram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: houvera, houveras, houvera,
houvéramos, houvéreis, houveram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: houvesse, houvesses, houvesse, houvéssemos,
houvésseis, houvessem;
futuro do subjuntivo: houver, houveres, houver, houvermos, houverdes,
houverem.
Ir
presente do indicativo: vou, vais, vai, vamos, ides, vão;
presente do subjuntivo: vá, vás, vá, vamos, vades, vão;
pretérito imperfeito do indicativo: ia, ias, ia, íamos, íeis, iam;
pretérito perfeito do indicativo: fui, foste, foi, fomos, fostes, foram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: fora, foras, fora, fôramos, fôreis,
foram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: fosse, fosses, fosse, fôssemos, fôsseis, fossem;
futuro do subjuntivo: for, fores, for, formos, fordes, forem.
Poder
presente do indicativo: posso, podes, pode, podemos, podeis, podem;
presente do subjuntivo: possa, possas, possa, possamos, possais, possam;
pretérito perfeito do indicativo: pude, pudeste, pôde, pudemos, pudestes,
puderam;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: pudera, puderas, pudera, pudéramos,
pudéreis, puderam;
pretérito imperfeito do subjuntivo: pudesse, pudesses, pudesse, pudéssemos,
pudésseis, pudessem;
futuro do subjuntivo: puder, puderes, puder, pudermos, puderdes, puderem.
Pôr
presente do indicativo: ponho, pões, põe, pomos, pondes, põem;
presente do subjuntivo: ponha, ponhas, ponha, ponhamos, ponhais, ponham;
pretérito imperfeito do indicativo: punha, punhas, punha, púnhamos, púnheis,
punham;
pretérito perfeito do indicativo: pus, puseste, pôs, pusemos, pusestes, puseram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: pusera, puseras, pusera, puséramos,
puséreis, puseram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: pusesse, pusesses, pusesse, puséssemos,
pusésseis, pusessem;
futuro do subjuntivo: puser, puseres, puser, pusermos, puserdes, puserem.
Todos os derivados do verbo pôr seguem exatamente esse modelo: antepor, compor,
contrapor, decompor, depor, descompor, dispor, expor, impor, indispor, interpor, opor,
pospor, predispor, pressupor, propor, recompor, repor, sobrepor, supor, transpor são alguns
deles.
Querer
presente do indicativo: quero, queres, quer, queremos, quereis, querem;
presente do subjuntivo: queira, queiras, queira, queiramos, queirais, queiram;
pretérito perfeito do indicativo: quis, quiseste, quis, quisemos, quisestes,
quiseram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: quisera, quiseras, quisera, quiséramos,
quiséreis, quiseram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: quisesse, quisesses, quisesse, quiséssemos,
quisésseis, quisessem;
futuro do subjuntivo: quiser, quiseres, quiser, quisermos, quiserdes, quiserem;
Saber
presente do indicativo: sei, sabes, sabe, sabemos, sabeis, sabem;
presente do subjuntivo: saiba, saibas, saiba, saibamos, saibais, saibam;
pretérito perfeito do indicativo: soube, soubeste, soube, soubemos, soubestes,
souberam;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: soubera, souberas, soubera,
soubéramos, soubéreis, souberam;
pretérito imperfeito do subjuntivo: soubesse, soubesses, soubesse, soubéssemos,
soubésseis, soubessem;
futuro do subjuntivo: souber, souberes, souber, soubermos, souberdes, souberem.
Ser
presente do indicativo: sou, és, é, somos, sois, são;
presente do subjuntivo: seja, sejas, seja, sejamos, sejais, sejam;
pretérito imperfeito do indicativo: era, eras, era, éramos, éreis, eram;
pretérito perfeito do indicativo: fui, foste, foi, fomos, fostes, foram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: fora, foras, fora, fôramos, fôreis,
foram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: fosse, fosses, fosse, fôssemos, fôsseis, fossem;
futuro do subjuntivo: for, fores, for, formos, fordes, forem.
As segundas pessoas do imperativo afirmativo são: sê (tu) e sede (vós).
Ter
presente do indicativo: tenho, tens, tem, temos, tendes, têm;
presente do subjuntivo: tenha, tenhas, tenha, tenhamos, tenhais, tenham;
pretérito imperfeito do indicativo: tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tínheis, tinham;
pretérito perfeito do indicativo: tive, tiveste, teve, tivemos, tivestes, tiveram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: tivera, tiveras, tivera, tivéramos,
tivéreis, tiveram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivésseis,
tivessem;
futuro do subjuntivo: tiver, tiveres, tiver, tivermos, tiverdes, tiverem.
Seguem esse modelo os verbos ater, conter, deter, entreter, manter, reter.
Trazer
presente do indicativo: trago, trazes, traz, trazemos, trazeis, trazem;
presente do subjuntivo: traga, tragas, traga, tragamos, tragais, tragam;
pretérito perfeito do indicativo: trouxe, trouxeste, trouxe, trouxemos, trouxestes,
trouxeram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: trouxera, trouxeras, trouxera,
trouxéramos, trouxéreis, trouxeram;
futuro do presente: trarei, trarás, trará, etc.;
futuro do pretérito: traria, trarias, traria, etc.;
pretérito imperfeito do subjuntivo: trouxesse, trouxesses, trouxesse,
trouxéssemos, trouxésseis, trouxessem;
futuro do subjuntivo: trouxer, trouxeres, trouxer, trouxermos, trouxerdes,
trouxerem.
Ver
presente do indicativo: vejo, vês, vê, vemos, vedes, vêem;
presente do subjuntivo: veja, vejas, veja, vejamos, vejais, vejam;
pretérito perfeito do indicativo: vi, viste, viu, vimos, vistes, viram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: vira, viras, vira, víramos, víreis, viram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: visse, visses, visse, víssemos, vísseis, vissem;
futuro do subjuntivo: vir, vires, vir, virmos, virdes, virem.
Seguem esse modelo os derivados antever, entrever, prever, rever. Prover segue o modelo
acima apenas no presente do indicativo e seus tempos derivados; nos demais tempos,
comporta-se como um verbo regular da segunda conjugação.
Vir
presente do indicativo: venho, vens, vem, vimos, vindes, vêm;
presente do subjuntivo: venha, venhas, venha, venhamos, venhais, venham;
pretérito imperfeito do indicativo: vinha, vinhas, vinha, vínhamos, vínheis,
vinham;
pretérito perfeito do indicativo: vim, vieste, veio, viemos, viestes, vieram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: viera, vieras, viera, viéramos, viéreis,
vieram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: viesse, viesses, viesse, viéssemos, viésseis,
viessem;
futuro do subjuntivo: vier, vieres, vier, viermos, vierdes, vierem;
particípio e gerúndio: vindo.
Seguem esse modelo os verbos advir, convir, desavir-se, intervir, provir, sobrevir.
O emprego do infinitivo não obedece a regras bem definidas.
O impessoal é usado em sentido genérico ou indefinido, não relacionado a nenhuma pessoa,
o pessoal refere-se às pessoas do discurso, dependendo do contexto. Recomenda-se sempre
o uso da forma pessoal se for necessário dar à frase maior clareza e ênfase.
Usa-se o impessoal:
sem referência a nenhum sujeito: É proibido fumar na sala;
nas locuções verbais: Devemos avaliar a sua situação;
quando o infinitivo exerce função de complemento de adjetivos: É um problema
fácil de solucionar;
quando o infinitivo possui valor de imperativo - Ele respondeu: "Marchar!"
Usa-se o pessoal:
quando o sujeito do infinitivo é diferente do sujeito da oração principal: Eu não te
culpo por saíres daqui;
quando, por meio de flexão, se quer realçar ou identificar a pessoa do sujeito: Foi
um erro responderes dessa maneira;
quando queremos determinar o sujeito (usa-se a 3ª pessoa do plural): - Escutei
baterem à porta.
Artigo
Precede o substantivo para determiná-lo, mantendo com ele relação de concordância.
Assim, qualquer expressão ou frase fica substantivada se for determinada por artigo (O
'conhece-te a ti mesmo' é conselho sábio). Em certos casos, serve para assinalar gênero e
número (o/a colega, o/os ônibus).
Os artigos podem ser classificado em:
definido - o, a, os, as - um ser claramente determinado entre outros da mesma
espécie;
indefinido - um, uma, uns, umas - um ser qualquer entre outros de mesma espécie;
Podem aparecer combinados com preposições (numa, do, à, entre outros).
Quanto ao emprego do artigo:
não é obrigatório seu uso diante da maioria dos substantivos, podendo ser
substituído por outra palavra determinante ou nem usado (o rapaz ≠ este rapaz /
Lera numa revista que mulher fica mais gripada que homem). Nesse sentido,
convém omitir o uso do artigo em provérbios e máximas para manter o sentido
generalizante (Tempo é dinheiro / Dedico esse poema a homem ou a mulher?);
não se deve usar artigo depois de cujo e suas flexões;
outro, em sentido determinado, é precedido de artigo; caso contrário, dispensa-o
(Fiquem dois aqui; os outros podem ir ≠ Uns estavam atentos; outros conversavam);
não se usa artigo diante de expressões de tratamento iniciadas por possessivos, além
das formas abreviadas frei, dom, são, expressões de origem estrangeira (Lord, Sir,
Madame) e sóror ou sóror;
é obrigatório o uso do artigo definido entre o numeral ambos (ambos os dois) e o
substantivo a que se refere (ambos os cônjuges);
diante do possessivo (função de adjetivo) o uso é facultativo; mas se o pronome for
substantivo, torna-se obrigatório (os [seus] planos foram descobertos, mas os meus
ainda estão em segredo);
omite-se o artigo definido antes de nomes de parentesco precedidos de possessivo
(A moça deixou a casa a sua tia);
antes de nomes próprios personativos, não se deve utilizar artigo. O seu uso denota
familiaridade, por isso é geralmente usado antes de apelidos. Os antropônimos são
determinados pelo artigo se usados no plural (os Maias, Os Homeros);
geralmente dispensado depois de cheirar a, saber a (= ter gosto a) e similares
(cheirar a jasmim / isto sabe a vinho);
não se usa artigo diante das palavras casa (= lar, moradia), terra (= chão firme) e
palácio a menos que essas palavras sejam especificadas (venho de casa / venho da
casa paterna);
na expressão uma hora, significando a primeira hora, o emprego é facultativo (era
perto de / da uma hora). Se for indicar hora exata, à uma hora (como qualquer
expressão adverbial feminina);
diante de alguns nomes de cidade não se usa artigo, a não ser que venham
modificados por adjetivo, locução adjetiva ou oração adjetiva (Aracaju, Sergipe,
Curitiba, Roma, Atenas);
usa-se artigo definido antes dos nomes de estados brasileiros. Como não se usa
artigo nas denominações geográficas formadas por nomes ou adjetivos, excetuam-se
AL, GO, MT, MG, PE, SC, SP e SE;
expressões com palavras repetidas repelem artigo (gota a gota / face a face);
não se combina com preposição o artigo que faz parte de nomes de jornais, revistas
e obras literárias, bem como se o artigo introduzir sujeito (li em Os Lusíadas / Está
na hora de a onça beber água);
depois de todo, emprega-se o artigo para conferir idéia de totalidade (Toda a
sociedade poderá participar / toda a cidade ≠ toda cidade). "Todos" exige artigo a
não ser que seja substituído por outro determinante (todos os familiares / todos estes
familiares);
repete-se artigo: a) nas oposições entre pessoas e coisas (o rico e o pobre) / b) na
qualificação antonímica do mesmo substantivo (o bom e o mau ladrão) / c) na
distinção de gênero e número (o patrão e os operários / o genro e a nora);
não se repete artigo: a) quando há sinonímia indicada pela explicativa ou (a botânica
ou fitologia) / b) quando adjetivos qualificam o mesmo substantivo (a clara,
persuasiva e discreta exposição dos fatos nos abalou).
Numeral
Numeral é a palavra que indica quantidade, número de ordem, múltiplo ou fração.
Classifica-se como cardinal (1, 2, 3), ordinal (primeiro, segundo, terceiro), multiplicativo
(dobro, duplo, triplo), fracionário (meio, metade, terço). Além desses, ainda há os numerais
coletivos (dúzia, par).
Quanto ao valor, os numerais podem apresentar valor adjetivo ou substantivo. Se estiverem
acompanhando e modificando um substantivo, terão valor adjetivo. Já se estiverem
substituindo um substantivo e designando seres, terão valor substantivo. [Ele foi o primeiro
jogador a chegar. (valor adjetivo) / Ele será o primeiro desta vez. (valor substantivo)].
Quanto ao emprego:
os ordinais como último, penúltimo, antepenúltimo, respectivos... não possuem
cardinais correspondentes.
os fracionários têm como forma própria meio, metade e terço, todas as outras
representações de divisão correspondem aos ordinais ou aos cardinais seguidos da
palavra avos (quarto, décimo, milésimo, quinze avos);
designando séculos, reis, papas e capítulos, utiliza-se na leitura ordinal até décimo;
a partir daí usam-se os cardinais. (Luís XIV - quatorze, Papa Paulo II - segundo);
Se o numeral vier antes do substantivo, será obrigatório o ordinal (XX Bienal - vigésima,
IV Semana de Cultura - quarta);
zero e ambos(as) também são numerais cardinais. 14 apresenta duas formas por
extenso catorze e quatorze;
a forma milhar é masculina, portanto não existe "algumas milhares de pessoas" e
sim alguns milhares de pessoas;
alguns numerais coletivos: grosa (doze dúzias), lustro (período de cinco anos),
sesquicentenário (150 anos);
um: numeral ou artigo? Nestes casos, a distinção é feita pelo contexto.
Numeral indicando quantidade e artigo quando se opõe ao substantivo indicando-o de
forma indefinida.
Quanto à flexão, varia em gênero e número:
variam em gênero:
Cardinais: um, dois e os duzentos a novecentos; todos os ordinais; os multiplicativos e
fracionários, quando expressam uma idéia adjetiva em relação ao substantivo.
variam em número:
Cardinais terminados em -ão; todos os ordinais; os multiplicativos, quando têm função
adjetiva; os fracionários, dependendo do cardinal que os antecede.
Os cardinais, quando substantivos, vão para o plural se terminarem por som vocálico (Tirei
dois dez e três quatros).
Advérbio
É a palavra que modifica o sentido do verbo (maioria), do adjetivo e do próprio advérbio
(intensidade para essas duas classes). Denota em si mesma uma circunstância que determina sua
classificação:
lugar: longe, junto, acima, ali, lá, atrás, alhures;
tempo: breve, cedo, já, agora, outrora, imediatamente, ainda;
modo: bem, mal, melhor, pior, devagar, a maioria dos adv. com sufixo -mente;
negação: não, qual nada, tampouco, absolutamente;
dúvida: quiçá, talvez, provavelmente, porventura, possivelmente;
intensidade: muito, pouco, bastante, mais, meio, quão, demais, tão;
afirmação: sim, certamente, deveras, com efeito, realmente, efetivamente.
As palavras onde (de lugar), como (de modo), porque (de causa), quanto (classificação variável) e
quando (de tempo), usadas em frases interrogativas diretas ou indiretas, são classificadas como
advérbios interrogativos (queria saber onde todos dormirão / quando se realizou o concurso).
Onde, quando, como, se empregados com antecedente em orações adjetivas são advérbios
relativos (estava naquela rua onde passavam os ônibus / ele chegou na hora quando ela ia falar /
não sei o modo como ele foi tratado aqui).
As locuções adverbiais são geralmente constituídas de preposição + substantivo - à direita, à
frente, à vontade, de cor, em vão, por acaso, frente a frente, de maneira alguma, de manhã, de
repente, de vez em quando, em breve, em mão (em vez de "em mãos") etc. São classificadas,
também, em função da circunstância que expressam.
Quanto ao grau, apesar de pertencer à categoria das palavras invariáveis, o advérbio pode
apresentar variações de grau comparativo ou superlativo.
Comparativo:
igualdade - tão + advérbio + quanto
superioridade - mais + advérbio + (do) que
inferioridade - menos + advérbio + (do) que
Superlativo:
sintético - advérbio + sufixo (-íssimo)
analítico - muito + advérbio.
Bem e mal admitem grau comparativo de superioridade sintético: melhor e pior. As formas mais
bem e mais mal são usadas diante de particípios adjetivados. (Ele está mais bem informado do que
eu). Melhor e pior podem corresponder a mais bem / mal (adv.) ou a mais bom / mau (adjetivo).
Quanto ao emprego:
três advérbios pronominais indefinidos de lugar vão caindo em desuso: algures, alhures e
nenhures, substituídos por em algum, em outro e em nenhum lugar;
na linguagem coloquial, o advérbio recebe sufixo diminutivo. Nesses casos, o advérbio
assume valor superlativo absoluto sintético (cedinho / pertinho). A repetição de um
mesmo advérbio também assume valor superlativo (saiu cedo, cedo);
quando os advérbios terminados em -mente estiverem coordenados, é comum o uso do
sufixo só no último (Falou rápida e pausadamente);
muito e bastante podem aparecer como advérbio (invariável) ou pronome indefinido
(variável - determina substantivo);
otimamente e pessimamente são superlativos absolutos sintéticos de bem e mal,
respectivamente;
adjetivos adverbializados mantêm-se invariáveis (terminaram rápido o trabalho / ele falou
claro).
As palavras denotativas são séries de palavras que se assemelham ao advérbio. A Norma
Gramatical Brasileira considera-as apenas como palavras denotativas, não pertencendo a
nenhuma das 10 classes gramaticais. Classificam-se em função da idéia que expressam:
adição: ainda, além disso etc. (Comeu tudo e ainda queria mais);
afastamento: embora (Foi embora daqui);
afetividade: ainda bem, felizmente, infelizmente (Ainda bem que passei de ano);
aproximação: quase, lá por, bem, uns, cerca de, por volta de etc. (É quase 1h a pé);
designação: eis (Eis nosso carro novo);
exclusão: apesar, somente, só, salvo, unicamente, exclusive, exceto, senão, sequer,
apenas etc. (Todos saíram, menos ela / Não me descontou sequer um real);
explicação: isto é, por exemplo, a saber etc. (Li vários livros, a saber, os clássicos);
inclusão: até, ainda, além disso, também, inclusive etc. (Eu também vou / Falta tudo, até
água);
limitação: só, somente, unicamente, apenas etc. (Apenas um me respondeu / Só ele veio à
festa);
realce: é que, cá, lá, não, mas, é porque etc. (E você lá sabe essa questão?);
retificação: aliás, isto é, ou melhor, ou antes etc. (Somos três, ou melhor, quatro);
situação: então, mas, se, agora, afinal etc. (Afinal, quem perguntaria a ele?).
Preposição
É a palavra invariável que liga dois termos entre si, estabelecendo relação de subordinação
entre o termo regente e o regido. São antepostos aos dependentes (objeto indireto,
complemento nominal, adjuntos e orações subordinadas). Divide-se em:
essenciais (maioria das vezes são preposições): a, ante, após, até, com, contra, de,
desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás;
acidentais (palavras de outras classes que podem exercer função de preposição):
afora, conforme (= de acordo com), consoante, durante, exceto, salvo, segundo,
senão, mediante, visto (= devido a, por causa de) etc. (Vestimo-nos conforme a
moda e o tempo / Os heróis tiveram como prêmio aquela taça / Mediante meios
escusos, ele conseguiu a vaga / Vovó dormiu durante a viagem).
As preposições essenciais regem pronomes oblíquos tônicos; enquanto preposições
acidentais regem as formas retas dos pronomes pessoais. (Falei sobre ti/Todos, exceto eu,
vieram).
As locuções prepositivas, em geral, são formadas de advérbio (ou locução adverbial) +
preposição - abaixo de, acerca de, a fim de, além de, defronte a, ao lado de, apesar de,
através de, de acordo com, em vez de, junto de, perto de, até a, a par de, devido a.
Observa-se que a última palavra da locução prepositiva é sempre uma preposição, enquanto
a última palavra de uma locução adverbial nunca é preposição.
Quanto ao emprego, as preposições podem ser usadas em:
combinação: preposição + outra palavra sem perda fonética (ao/aos);
contração: preposição + outra palavra com perda fonética (na/àquela);
não se deve contrair de se o termo seguinte for sujeito (Está na hora de ele falar);
a preposição após, pode funcionar como advérbio (= atrás) (Terminada a festa,
saíram logo após.);
trás, atualmente, só se usa em locuções adverbiais e prepositivas (por trás, para trás
por trás de).
Quanto à diferença entre pronome pessoal oblíquo, preposição e artigo, deve-se observar
que a preposição liga dois termos, sendo invariável, enquanto o pronome oblíquo substitui
um substantivo. Já o artigo antecede o substantivo, determinando-o.
As preposições podem estabelecer as seguintes relações: isoladamente, as preposições são
palavras vazias de sentido, se bem que algumas contenham uma vaga noção de tempo e
lugar. Nas frases, exprimem diversas relações:
autoria - música de Caetano
lugar - cair sobre o telhado, estar sob a mesa
tempo - nascer a 15 de outubro, viajar em uma hora, viajei durante as férias
modo ou conformidade - chegar aos gritos, votar em branco
causa - tremer de frio, preso por vadiagem
assunto - falar sobre política
fim ou finalidade - vir em socorro, vir para ficar
instrumento - escrever a lápis, ferir-se com a faca
companhia - sair com amigos / meio - voltar a cavalo, viajar de ônibus
matéria - anel de prata, pão com farinha
posse - carro de João
oposição - Flamengo contra Fluminense
conteúdo - copo de (com) vinho
preço - vender a (por) R$ 300, 00
origem - descender de família humilde
especialidade - formou-se em Medicina
destino ou direção - ir a Roma, olhe para frente.
Interjeição
São palavras que expressam estados emocionais do falante, variando de acordo com o contexto
emocional. Podem expressar:
alegria - ah!, oh!, oba!
advertência - cuidado!, atenção
afugentamento - fora!, rua!, passa!, xô!
alívio - ufa!, arre!
animação - coragem!, avante!, eia!
aplauso - bravo!, bis!, mais um!
chamamento - alô!, olá!, psit!
desejo - oxalá!, tomara! / dor - ai!, ui!
espanto - puxa!, oh!, chi!, ué!
impaciência - hum!, hem!
silêncio - silêncio!, psiu!, quieto!
São locuções interjetivas: puxa vida!, não diga!, que horror!, graças a Deus!, ora bolas!, cruz credo!
Conjunção
É a palavra que liga orações basicamente, estabelecendo entre elas alguma relação
(subordinação ou coordenação). As conjunções classificam-se em:
Coordenativas, aquelas que ligam duas orações independentes (coordenadas), ou dois
termos que exercem a mesma função sintática dentro da oração. Apresentam cinco tipos:
aditivas (adição): e, nem, mas também, como também, bem como, mas ainda;
adversativas (adversidade, oposição): mas, porém, todavia, contudo, antes (= pelo
contrário), não obstante, apesar disso;
alternativas (alternância, exclusão, escolha): ou, ou ... ou, ora ... ora, quer ... quer;
conclusivas (conclusão): logo, portanto, pois (depois do verbo), por conseguinte,
por isso;
explicativas (justificação): - pois (antes do verbo), porque, que, porquanto.
Subordinativas - ligam duas orações dependentes, subordinando uma à outra. Apresentam
dez tipos:
causais: porque, visto que, já que, uma vez que, como, desde que;
Palavra que liga orações basicamente, estabelecendo entre elas alguma relação
(subordinação ou coordenação). As conjunções classificam-se em:
comparativas: como, (tal) qual, assim como, (tanto) quanto, (mais ou menos +)
que;
condicionais: se, caso, contanto que, desde que, salvo se, sem que (= se não), a
menos que;
consecutivas (conseqüência, resultado, efeito): que (precedido de tal, tanto, tão etc.
- indicadores de intensidade), de modo que, de maneira que, de sorte que, de
maneira que, sem que;
conformativas (conformidade, adequação): conforme, segundo, consoante, como;
concessiva: embora, conquanto, posto que, por muito que, se bem que, ainda que,
mesmo que;
temporais: quando, enquanto, logo que, desde que, assim que, mal (= logo que), até
que;
finais - a fim de que, para que, que;
proporcionais: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais (+ tanto
menos);
integrantes - que, se.
As conjunções integrantes introduzem as orações subordinadas substantivas, enquanto as
demais iniciam orações subordinadas adverbiais. Muitas vezes a função de interligar
orações é desempenhada por locuções conjuntivas, advérbios ou pronomes.
VI – Concordância nominal e verbal.
De acordo com Mattoso Câmara “dá-se em gramática o nome de concordância à circunstância de
um adjetivo variar em gênero e número de acordo com o substantivo a que se refere
(concordância nominal) e à de um verbo variar em número e pessoa de acordo com o seu sujeito
(concordância verbal). Há, não obstante, casos especiais que se prestam a dúvidas”.
Então, observamos e podemos definir da seguinte forma: concordância vem do verbo concordar,
ou seja, é um acordo estabelecido entre termos.
O caso da concordância verbal diz respeito ao verbo em relação ao sujeito, o primeiro deve
concordar em número (singular ou plural) e pessoa (1ª, 2ª, 3ª) com o segundo.
Já a concordância nominal diz respeito ao substantivo e seus termos referentes: adjetivo,
numeral, pronome, artigo. Essa concordância é feita em gênero (masculino ou feminino) e pessoa.
Como vimos acima, na definição de Mattoso Câmara, existem regras gerais e alguns casos
especiais que devem ser estudados particularmente, pois geram dúvidas quanto ao uso. Há muitos
casos que a norma não é definida e há resoluções diferentes por parte dos autores, escritores ou
estudantes da concordância.
Veja com mais detalhes esse assunto nos links a seguir: Concordância Verbal – Regra geral e
Concordância Verbal - Os casos especiais.
Concordância Nominal
A Concordância Nominal é o acordo entre o nome (substantivo) e seus modificadores (artigo,
pronome, numeral, adjetivo) quanto ao gênero (masculino ou feminino) e o número (plural ou
singular).
Exemplo: Eu não sou mais um na multidão capitalista.
Observe que, de acordo com a análise da oração, o termo “na” é a junção da preposição “em” com
o artigo “a” e, portanto, concorda com o substantivo feminino multidão, ao mesmo tempo em que
o adjetivo “capitalista” também faz referência ao substantivo e concorda em gênero (feminino) e
número (singular).
Vejamos mais exemplos:
Minha casa é extraordinária.
Temos o substantivo “casa”, o qual é núcleo do sujeito “Minha casa”. O pronome possessivo
“minha” está no gênero feminino e concorda com o substantivo. O adjetivo “extraordinária”, o
qual é predicativo do sujeito (trata-se de uma oração com complemento conectado ao sujeito por
um verbo de ligação), também concorda com o substantivo “casa” em gênero (feminino) e
número (singular).
Para finalizar, veremos mais um exemplo, com análise bem detalhada:
Dois cavalos fortes venceram a competição.
Primeiro, verificamos qual é o substantivo da oração acima: cavalos. Os termos modificadores do
substantivo “cavalos” são: o numeral “Dois” e o adjetivo “fortes”. Esses termos que fazem relação
com o substantivo na concordância nominal devem, de acordo com a norma culta, concordar em
gênero e número com o mesmo.
Nesse caso, o substantivo “cavalos” está no masculino e no plural e a concordância dos
modificadores está correta, já que “dois” e “fortes” estão no gênero masculino e no plural.
Observe que o numeral “dois” está no plural porque indica uma quantidade maior do que “um”.
Então temos por regra geral da concordância nominal que os termos referentes ao substantivo
são seus modificadores e devem concordar com o mesmo em gênero e número.
Importante: Localize na oração o substantivo primeiramente, como foi feito no último exemplo.
Após a constatação do substantivo, observe o seu gênero e o número. Os termos referentes ao
substantivo são seus modificadores e devem estar em concordância de gênero e número com o
nome (substantivo).
Concordância Verbal
Estudar a concordância verbal é, basicamente, estudar o sujeito, pois é com este que o verbo
concorda. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também o estará; se o sujeito estiver no plural,
o mesmo acontece com o verbo. Então, para saber se o verbo deve ficar no singular ou no plural,
deve-se procurar o sujeito, perguntando ao verbo Que(m) é que pratica ou sofre a ação? ou
Que(m) é que possui a qualidade? A resposta indicará como o verbo deverá ficar.
Por exemplo, a frase As instalações da empresa são precárias tem como sujeito “as instalações da
empresa”, cujo núcleo é a palavra instalações, pois elas é que são precárias, e não a empresa; por
isso o verbo fica no plural.
Até aí tudo bem. O problema surge, quando o sujeito é uma expressão complexa, ou uma palavra
que suscite dúvidas. São os casos especiais, que estudaremos agora:
01) Coletivo: Quando o sujeito for um substantivo coletivo, como, por exemplo, bando, multidão,
matilha, arquipélago, trança, cacho, etc., ou uma palavra no singular que indique diversos
elementos, como, por exemplo, maioria, minoria, pequena parte, grande parte, metade, porção,
etc., poderão ocorrer três circunstâncias:
A) O coletivo funciona como sujeito, sem acompanhamento de qualquer restritivo: Nesse caso, o
verbo ficará no singular, concordando com o coletivo, que é singular.
Ex. A multidão invadiu o campo após o jogo.
O bando sobrevoou a cidade.
A maioria está contra as medidas do governo.
B) O coletivo funciona como sujeito, acompanhado de restritivo no plural: Nesse caso, o verbo
tanto poderá ficar no singular, quanto no plural.
Ex. A multidão de torcedores invadiu / invadiram o campo após o jogo.
O bando de pássaros sobrevoou / sobrevoaram a cidade.
A maioria dos cidadãos está / estão contra as medidas do governo.
C) O coletivo funciona como sujeito, sem acompanhamento de restritivo, e se encontra distante
do verbo: Nesse caso, o verbo tanto poderá ficar no singular, quanto no plural.
Ex. A multidão, após o jogo, invadiu / invadiram o campo.
O bando, ontem à noite, sobrevoou / sobrevoaram a cidade.
A maioria, hoje em dia, está / estão contra as medidas do governo.
Um milhão, um bilhão, um trilhão:
Com um milhão, um bilhão, um trilhão, o verbo deverá ficar no singular. Caso surja a conjunção e,
o verbo ficará no plural.
Ex. Um milhão de pessoas assistiu ao comício
Um milhão e cem mil pessoas assistiram ao comício.
02) Mais de, menos de, cerca de, perto de: quando o sujeito for iniciado por uma dessas
expressões, o verbo concordará com o numeral que vier imediatamente à frente.
Ex. Mais de uma criança se machucou no brinquedo.
Menos de dez pessoas chegaram na hora marcada.
Cerca de duzentos mil reais foram surripiados.
Quando Mais de um estiver indicando reciprocidade ou com a expressão repetida, o verbo ficará
no plural.
Ex. Mais de uma pessoa agrediram-se.
Mais de um carro se entrechocaram.
Mais de um deputado se xingaram durante a sessão.
03) Nome próprio no plural: quando houver um nome próprio usado apenas no plural, deve-se
analisar o elemento a que ele se refere:
A) Se for nome de obra, o verbo tanto poderá ficar no singular, quanto no plural.
Ex. Os Lusíadas imortalizou / imortalizaram Camões.
Os Sertões marca / marcam uma época da Literatura Brasileira.
B) Se for nome de lugar - cidade, estado, país... - o verbo concordará com o artigo; caso não haja
artigo, o verbo ficará no singular.
Ex. Os Estados Unidos comandam o mundo.
Campinas fica em São Paulo.
Os Andes cortam a América do Sul.
04) Qual de nós / Quais de nós: quando o sujeito contiver as expressões ...de nós, ...de vós ou ...de
vocês, deve-se analisar o elemento que surgir antes dessas expressões:
A) Se o elemento que surgir antes das expressões estiver no singular (qual, quem, cada um,
alguém, algum...), o verbo deverá ficar no singular.
Ex. Quem de nós irá conseguir o intento?
Quem de vós trará o que pedi?
Cada um de vocês deve ser responsável por seu material.
B) Se o elemento que surgir antes das expressões estiver no plural (quais, alguns, muitos...), o
verbo tanto poderá ficar na terceira pessoa do plural, quanto concordar com o pronome nós ou
vós.
Ex. Quantos de nós irão / iremos conseguir o intento?
Quais de vós trarão / trareis o que pedi?
Muitos de vocês não se responsabilizam por seu material.
Pronomes Relativos:
Quando o pronome relativo exercer a função de sujeito deveremos analisar o seguinte:
A) Pronome Relativo que: o verbo concordará com o elemento antecedente.
Ex. Fui eu que quebrei a vidraça. (Eu quebrei a vidraça)
Fomos nós que telefonamos a você. (Nós telefonamos a você)
Estes são os garotos que foram expulsos da escola. (Os garotos foram expulsos)
Concordância Verbal – Regra geral
O verbo de uma oração deve concordar em número e pessoa com o sujeito, para que a
linguagem seja clara e a escrita esteja de acordo com as normas vigentes da gramática.
Observe:
1. Eles está muito bem. (incorreta)
2. Eles estão muito bem. (correta)
O sujeito “eles” está na 3ª pessoa do plural e exige um verbo no plural. Essa constatação
deixa a primeira oração incorreta e a segunda correta.
Primeiramente, devemos observar quem é o sujeito da frase, bem como analisar se ele é
simples ou se é composto.
Sujeito simples é aquele que possui um só núcleo e, portanto, a concordância será mais
direta. Vejamos:
1. Ela é minha melhor amiga.
2. Eu disse que eles foram à minha casa ontem.
Temos na primeira oração um sujeito simples “Ela”, o qual concorda em pessoa (3ª pessoa)
e número (singular) com o verbo “é”.
Já na segunda temos um período formado por duas orações: “Eu disse” que “eles foram à
minha casa ontem”. “Eu” está em concordância em pessoa e número com o verbo “disse”
(1ª pessoa do singular), bem como “eles” e o verbo “foram” (3ª pessoa do plural).
Lembre-se que período é a frase que possui uma ou mais orações, podendo ser simples,
quando possui um verbo, ou então composto quando possuir mais de um verbo.
Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo e, portanto, o verbo estará no
plural. Vejamos:
1. Joana e Mariana saíram logo pela manhã.
2. Cachorros e gatos são animais muito obedientes.
Na primeira oração o sujeito é composto de dois núcleos (Joana e Mariana), que substituído
por um pronome ficará no plural: Joana e Mariana = Elas. O pronome “elas” pertence à
terceira pessoa do plural, logo, exige um verbo que concorde em número e pessoa, como na
oração em análise: saíram.
O mesmo acontece na segunda oração: o sujeito composto “cachorros e gatos” é substituído
pelo pronome “eles”, o qual concorda com o verbo são em pessoa (3ª) e número (plural).
Concordância Verbal – Casos especiais de alguns verbos
Há alguns casos de verbos em que a concordância causa dúvidas. Vejamos aqui os casos
especiais, separadamente:
O verbo ser
a) Quando o sujeito é um dos pronomes: o, isto, isso, aquilo, tudo, o verbo ser concorda
com o predicativo:
Exemplo: Tudo era felicidade quando morava na casa do vovô.
b) Quando o predicativo for um pronome pessoal.
Exemplo: O presente que comprei hoje é para você.
c) Quando o sujeito for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo ser concordará com o
sujeito.
Exemplo: Paola é a aluna mais aplicada da sala.
d) Quando o sujeito for uma expressão numérica que dá idéia de conjunto, o verbo ficará
no singular.
Exemplo: Quatro horas é pouco tempo para fazer as provas de vestibular.
e) Quando a oração se iniciar com os pronomes interrogativos (Que, Quem), o verbo
concorda com o sujeito.
Exemplos: Quem é a pessoa que consegue fazer justiça com as próprias mãos?
f) Quando a oração indicar o dia do mês, o verbo concorda no singular ou no plural,
dependerá da intenção.
Exemplos: Hoje é (dia) 11 de setembro. (dia específico)
Hoje são 11 de setembro. (dias decorridos até a data)
Os verbos bater, soar e dar
Quando fazem referência às horas do dia, os verbos acima concordam com o número de
horas.
Exemplo: O relógio soou há muito tempo.
Acabou de dar uma hora, está na hora de irmos.
Os verbos impessoais haver e fazer
Os verbos impessoais são aqueles que não admitem sujeito e, portanto, são flexionados na
3ª pessoa do singular.
No sentido de existir ou na ideia de tempo decorrido, o verbo haver é impessoal. Logo, o
verbo ficará no singular.
Haviam ou havia?
O verbo haver é impessoal quando está no sentido de “existir”, ou seja, não admite sujeito.
Neste caso, é invariável (não flexionado) e conjugado na terceira pessoa do singular.
Vejamos:
a) Não houve candidatos suficientes para este concurso.
b) Havia muitas pessoas para fazer a prova do concurso.
c) Há dez dias não como carne vermelha.
d) Haverá alguém que possa ajudar-me!
O verbo “haver” como impessoal pode surgir ainda na locução verbal. Seu auxiliar irá
acompanhá-lo e será conjugado também na terceira pessoa do singular:
a) Deve haver uma forma de resolver esse processo.
b) Deve haver formas de resolver esse processo.
c) Os desentendimentos que possa ter havido entre os dois, cabe a eles resolver.
Contudo, quando o verbo “haver” é que faz o papel de auxiliar e tem valor equivalente a
“ter”, será conjugado de acordo com o sujeito:
a) Nas minhas férias, hei de ir para a praia.
b) Quando fui à casa de meus avós, eles haviam sido visitados por todos da família.
c) Eles haviam encorajado minha irmã a ir para o exterior.
Importante: o verbo “existir” faz concordância verbal normal, ou seja, com o sujeito.
Exemplo: Não existiram candidatos suficientes para este concurso.
Exemplo: Há uma cadeira vaga no refeitório. (sentido de existir)
Há dez dias não faço exercícios físicos. (tempo decorrido)
Da mesma forma, o verbo fazer no sentido temporal, de tempo decorrido ou de fenômenos
atmosféricos é impessoal.
Exemplo: Faz dez dias que não faço exercícios físicos. (tempo decorrido)
Nesta época do ano, faz muito frio.
Quando da locução verbal, tanto o verbo haver quanto o verbo fazer exigem que o auxiliar
fique na terceira pessoa do singular.
Exemplos: Deve haver uma forma de amenizarmos esse problema.
Vai fazer dez dias que não faço exercícios físicos.
O verbo existir
Geralmente, o verbo existir concorda com seu sujeito.
Exemplo: Existem muitas pessoas que não gostam de frutos do mar.
Quando o verbo existir fizer parte de uma locução verbal, o auxiliar concordará com o
sujeito e não com o verbo principal.
Exemplo: Devem existir muitas pessoas que não gostam de frutos do mar.
O verbo parecer
Quando o verbo parecer vier seguido de infinitivo, poderá ser flexionado ou no singular ou
no plural:
Exemplos: As pesquisas parecem traduzir o que a empresa necessita.
As pesquisas parece traduzirem o que a empresa necessita.
A expressão “haja vista”
O verbo haver na expressão “haja vista” pode ser empregado ou no singular ou no plural
(desde que não seja precedido por preposição), contudo, a palavra “vista” permanece
invariável.
Exemplos: Haja vista os dados das pesquisas
Haja vista aos avanços observados pelos pesquisadores.
Hajam vista os dados que observamos.
Concordância Verbal – Os casos especiais do sujeito composto
Na concordância verbal temos alguns casos que podem geram dúvidas quanto ao sujeito
composto e a correta conjugação do verbo.
Os casos especiais do sujeito composto:
a) Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, esse último ficará no plural.
Exemplo: Paola e Pedro gostaram do seu interesse em vender a casa.
b) Quando o sujeito vier depois do verbo, esse último ficará no plural ou com o núcleo do
sujeito que estiver mais próximo ao verbo.
Exemplo: Dividiram a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos.
Dividiu a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos.
c) Quando os núcleos do sujeito constituir uma gradação, o verbo fica no singular.
Exemplo: O sorriso, a paz, a felicidade fez com que me sentisse muito bem hoje.
d) Quando um pronome indefinido (tudo, nada, ninguém, alguém) resumir os núcleos do
sujeito, o verbo fica no singular.
Exemplo: As tribulações, o sofrimento, as tristezas, nada nos separa de quem nos ama e
amamos de verdade.
e) Quando o sujeito composto vier ligado por ou:
• Ou com sentido de exclusão, o verbo fica no singular.
Exemplo: Paola ou Pedro virá aqui em casa hoje.
• Ou com sentido de adição, o verbo fica no plural.
Exemplo: O ingresso ou o ticket são aceitos aqui.
• Ou com sentido de retificação, o verbo concorda com o núcleo mais próximo.
Exemplo: O professor titular ou os professores concordaram com essa decisão.
f) Quando o sujeito for representado pela expressão “um e outro”, o verbo concorda ou no
singular, ou no plural.
Exemplo: Um e outro aluno fez (fizeram) o trabalho manuscrito.
g) Quando o sujeito for representado por uma das expressões “um ou outro”; “nem um nem
outro”, o verbo fica no singular.
Exemplo: Nem um nem outro fez o trabalho manuscrito.
h) Quando o sujeito for formado por infinitivos, o verbo fica no singular. Caso os
infinitivos sejam antônimos, o verbo concorda no plural.
Exemplos: Fumar e beber não traz benefícios ao organismo.
Subir e descer escadas são ações que todos deveríamos praticar mais.
i) Quando o sujeito composto for ligado por com, o verbo fica ou no singular ou no plural,
dependerá da ênfase que se quer dar: ou a algum dos núcleos do sujeito ou aos dois.
Exemplo: O prefeito com seus assessores fizeram uma boa campanha.
O prefeito, com seus assessores, fez uma boa campanha.
j) Quando o sujeito apresentar as expressões “nem...nem”, “tanto...como”, “assim...como”,
“não só...mas também”, o verbo geralmente vai para o plural.
Exemplo: Não só o uso de drogas, mas também a companhia errada trazem prejuízos
irreversíveis ao indivíduo.
k) Quando os núcleos do sujeito são representados por pronomes pessoais do caso reto, o
verbo fica no plural.
1. Eu, tu e ele vamos hoje ao dentista. (nós – plural)
2. Tu e ela ireis ficar bem até o final da manhã. (vós – plural)
3. Ela e ele estudam mais do que o necessário por dia. (eles – plural)
Silepse – A figura de linguagem que causa dúvidas na concordância
nominal
A silepse é uma figura de sintaxe que faz concordância não através de regras gramaticais,
mas sim pela ideia, daí dizer que é a concordância ideológica ou concordância figurada.
A silepse pode ser de número, de gênero e de pessoa.
1. A silepse de número ocorre quando o sujeito é coletivo ou indica coletividade (mais de
um):
Exemplo: A turma veio aqui em casa e deixaram a maior bagunça.
O casal resolveram não pagar a conta, pois questionaram o valor.
2. A silepse de gênero ocorre quando a concordância vem através da idéia que está
implícita.
Exemplo: Patos de Minas é muito calorosa. (calorosa diz respeito às pessoas da cidade, que
são receptivas).
Vossa Excelência está equivocado. (a referência aqui se faz ao sexo da pessoa e não ao
pronome de tratamento).
3. A silepse de pessoa geralmente acontece quando o verbo está na primeira pessoa do
plural e o sujeito na terceira pessoa do plural:
Exemplo: Os mineiros temos a fama de que não falamos muito sobre o que vamos fazer,
preferimos ser notados pelas ações.
VII - Regência nominal e verbal. Emprego da crase.
Regência Nominal
Regência Nominal é o nome da relação entre um substantivo, adjetivo ou advérbio
transitivo e seu respectivo complemento nominal. Essa relação é intermediada por uma
preposição.
No estudo da regência nominal, deve-se levar em conta que muitos nomes seguem
exatamente o mesmo regime dos verbos correspondentes.
Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes
cognatos.
- alheio a, de
- ambicioso de
- análogo a
- bacharel em
- capacidade de, para
- contemporâneo a, de
- contíguo a
- curioso a, de
- falto de
- incompatível com
- inepto para
- misericordioso com, para com
- preferível a
- propenso a, para
- hábil em
Exemplos:
Está alheio a tudo.
Está apto ao trabalho.
Gente ávida por dominar.
Contemporâneo da Revolução Francesa.
É coisa curiosa de ver.
Homem inepto para a matemática.
Era propenso ao magistério.
Regência Verbal
- liberal com
- apto a, para
- grato a
- indeciso em
- natural de
- nocivo a
- paralelo a
- propício a
- sensível a
- próximo a, de
- satisfeito com, de, em, por
- suspeito de
- longe de
- perto de
- perto de
A regência estuda a relação existente entre os termos de uma oração ou entre as orações de
um período.
A regência verbal estuda a relação de dependência que se estabelece entre os verbos e seus
complementos. Na realidade o que estudamos na regência verbal é se o verbo é transitivo
direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou intransitivo e qual a preposição
relacionada com ele.
Verbos Transitivos Diretos
Verbos Transitivos Indiretos
Verbos Transitivos Diretos e Indiretos
Verbos Intransitivos
VERBOS TRANSITIVOS DIRETOS
São verbos que indicam que o sujeito pratica a ação, sofrida por outro elemento,
denominado objeto direto.
Por essa razão, uma das maneiras mais fáceis de analisar se um verbo é transitivo direto é
passar a oração para a voz passiva, pois somente verbo transitivo direto admite tal
transformação, além de obedecer, pagar e perdoar, que, mesmo não sendo VTD, admitem a
passiva.
O objeto direto pode ser representado por um substantivo ou palavra substantivada, uma
oração (oração subordinada substantiva objetiva direta) ou por um pronome oblíquo.
Os pronomes oblíquos átonos que funcionam como objeto direto são os seguintes: me, te,
se, o, a, nos, vos, os, as.
Os pronomes oblíquos tônicos que funcionam como objeto direto são os seguintes: mim, ti,
si, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Como são pronomes oblíquos tônicos, só são usados com
preposição, por isso se classificam como objeto direto preposicionado.
EU PROCURO UM GRANDE AMOR
(VTD) (OD)
Vamos à lista, então, dos mais importantes verbos transitivos diretos: Há verbos que
surgirão em mais de uma lista, pois têm mais de um significado e mais de uma regência.
Aspirar será VTD, quando significar sorver, absorver.
Como é bom aspirar a brisa da tarde.
Visar será VTD, quando significar mirar ou dar visto.
O atirador visou o alvo, mas errou o tiro.
Agradar será VTD, quando significar acariciar ou contentar.
A garotinha ficou agradando o cachorrinho por horas.
Querer será VTD, quando significar desejar, ter a intenção ou vontade de, tencionar..
Sempre quis seu bem.
Quero que me digam quem é o culpado.
Chamar será VTD, quando significar convocar.
Chamei todos os sócios, para participarem da reunião.
Implicar será VTD, quando significar fazer supor, dar a entender; produzir como
conseqüência, acarretar.
Os precedentes daquele juiz implicam grande honestidade.
Suas palavras implicam denúncia contra o deputado.
Desfrutar e Usufruir são VTD sempre.
Desfrutei os bens deixados por meu pai.
Pagam o preço do progresso aqueles que menos o desfrutam.
Namorar é sempre VTD. Só se usa a preposição com, para iniciar Adjunto Adverbial de
Companhia. Esse verbo possui os significados de inspirar amor a, galantear, cortejar,
apaixonar, seduzir, atrair, olhar com insistência e cobiça, cobiçar.
Joanilda namorava o filho do delegado.
O mendigo namorava a torta que estava sobre a mesa.
Eu estava namorando este cargo há anos.
Compartilhar é sempre VTD.
Berenice compartilhou o meu sofrimento.
Esquecer e Lembrar serão VTD, quando não forem pronominais, ou seja, caso não sejam
usados com pronome, não serão usados também com preposição.
Esqueci que havíamos combinado sair.
Ela não lembrou o meu nome.
VERBOS TRANSITIVOS INDIRETOS
São verbos que se ligam ao complemento por meio de uma preposição. O complemento é
denominado OBJETO INDIRETO.
O objeto indireto pode ser representado por um substantivo, ou palavra substantivada, uma
oração (oração subordinada substantiva objetiva indireta) ou por um pronome oblíquo.
Os pronomes oblíquos átonos que funcionam como objeto indireto são os seguintes: me, te,
se, lhe, nos, vos, lhes.
Os pronomes oblíquos tônicos que funcionam como objeto indireto são os seguintes: mim,
ti, si, ele, ela, nós, vós, eles, elas.
EU GOSTO DE BEIJAR
(VTI) (OI)
Vamos à lista, então, dos mais importantes verbos transitivos indiretos: Há verbos que
surgirão em mais de uma lista, pois têm mais de um significado e mais de uma regência.
VERBOS TRANSITIVOS INDIRETOS, COM A PREPOSIÇÃO. A:
Aspirar será VTI, com a prep. a, quando significar almejar, objetivar..
Aspiramos a uma vaga naquela universidade.
Visar será VTI, com a prep. a, quando significar almejar, objetivar.
Sempre visei a uma vida melhor.
Agradar será VTI, com a prep. a, quando significar ser agradável; satisfazer
. Para agradar ao pai, estudou com afinco o ano todo.
Querer será VTI, com a prep. a, quando significar estimar.
Quero aos meus amigos, como aos meus irmãos.
Assistir será VTI, com a prep. a, quando significar ver ou ter direito.
Gosto de assistir aos jogos do Santos.
Assiste ao trabalhador o descanso semanal remunerado.
Custar será VTI, com a prep. a, quando significar ser difícil. Nesse caso o verbo custar terá
como sujeito aquilo que é difícil, nunca a pessoa, que será objeto indireto.
VERBOS TRANSITIVOS DIRETOS E INDIRETOS
São os verbos que possuem os dois complementos - OBJETO DIRETO E OBJETO
INDIRETO.
CHAMEI A ATENÇÃO DO MENINO, POIS ESTAVA CONVERSANDO DURANTE A
AULA.
VTDI Objeto Direto Objeto indireto
Obs.: A expressão Chamar a atenção de alguém não significa repreender, e sim fazer se
notado. Por exemplo: O cartaz chamava a atenção de todos que por ali passavam.
VERBOS INTRANSITIVOS
São os verbos que não necessitam de complementação. Sozinhos, indicam a ação ou o fato.
AS MARGARIDAS MORRERAM.
(VI)
Crase
É a junção da preposição “a” com o artigo definido “a(s)”, ou ainda da preposição “a” com as
iniciais dos pronomes demonstrativos aquela(s), aquele(s), aquilo ou com o pronome relativo a
qual (as quais). Graficamente, a fusão das vogais “a” é representada por um acento grave,
assinalado no sentido contrário ao acento agudo: à.
Como saber se devo empregar a crase? Uma dica é substituir a crase por “ao”, caso essa
preposição seja aceita sem prejuízo de sentido, então com certeza há crase.
Veja alguns exemplos: Fui à farmácia, substituindo o “à” por “ao” ficaria Fui ao supermercado.
Logo, o uso da crase está correto.
Outro exemplo: Assisti à peça que está em cartaz, substituindo o “à” por “ao” ficaria Assisti ao
jogo de vôlei da seleção brasileira.
É importante lembrar os casos em que a crase é empregada, obrigatoriamente: nas expressões
que indicam horas ou nas locuções à medida que, às vezes, à noite, dentre outras, e ainda na
expressão “à moda”. Exemplos:
Sairei às duas horas da tarde.
À medida que o tempo passa, fico mais feliz por você estar no Brasil.
Quero uma pizza à moda italiana.
Importante: A crase não ocorre: antes de palavras masculinas; antes de verbos, de pronomes
pessoais, de nomes de cidade que não utilizam o artigo feminino, da palavra casa quando tem
significado do próprio lar, da palavra terra quando tem sentido de solo e de expressões com
palavras repetidas (dia a dia).
Crase – Preposição “a” + artigo feminino “a”
• O artigo antecede somente substantivos ou palavras com valor de substantivo. Por esta razão, a
crase não virá diante de verbos, nem tão pouco de pronomes pessoais (sujeito).
Contudo, tanto a preposição “a” quanto o artigo feminino “a” virão diante de substantivos
femininos, já que os substantivos masculinos não admitem artigo feminino.
Observe:
Não irei à farmácia. Irei ao supermercado.
O verbo “ir” exige preposição, veja: Não irei. Onde? A algum lugar. Qual? A farmácia. Quem vai,
vai a algum lugar. Na resposta “a qual lugar?” temos o artigo “a”. Logo, a preposição “a” mais o
artigo feminino “a”, que acompanha o substantivo na resposta (a farmácia), formam a crase.
Agora, observe:
Não quero ler a capa deste livro.
O verbo “ler” ou a locução verbal “quero ler” não exigem preposição, portanto, o termo “a” que
está na oração acima é um artigo feminino.
Declarei a ele que sou inocente.
Na oração acima, o pronome pessoal “ele” não admite artigo e, por isso, o termo “a” é uma
preposição. Declarei algo a alguém. Quem? Ele (e não “a ele”).
• Preposição “a” e os pronomes demonstrativos
Os pronomes demonstrativos em que a crase pode ocorrer são: aquele, aquela, aqueles, aquelas,
aquilo, a(s). Para isso, o termo regente deve exigir preposição. Por exemplo:
Assisti àquele programa horrível de TV.
Àquilo chamam de programa educativo?
Quero que as alunas desta sala se levantem, menos à do canto direito.
VIII - Emprego dos verbos regulares, irregulares e anômalos. Vozes dos verbos.
Verbo
É a palavra variável que exprime um acontecimento representado no tempo, seja ação,
estado ou fenômeno da natureza.
Os verbos apresentam três conjugações. Em função da vogal temática, podem-se criar três
paradigmas verbais. De acordo com a relação dos verbos com esses paradigmas, obtém-se a
seguinte classificação:
regulares: seguem o paradigma verbal de sua conjugação;
irregulares: não seguem o paradigma verbal da conjugação a que pertencem. As
irregularidades podem aparecer no radical ou nas desinências (ouvir - ouço/ouve,
estar - estou/estão);
Entre os verbos irregulares, destacam-se os anômalos que apresentam profundas
irregularidades. São classificados como anômalos em todas as gramáticas os verbos ser e ir.
São aqueles que sofrem grandes alterações no radical. Ex. ser = sou, é, fui, era, serei.
defectivos: não são conjugados em determinadas pessoas, tempo ou modo (falir no presente do indicativo só apresenta a 1ª e a 2ª pessoa do plural). Os defectivos
distribuem-se em três grupos: impessoais, unipessoais (vozes ou ruídos de animais,
só conjugados nas 3ª pessoas) por eufonia ou possibilidade de confusão com outros
verbos;
abundantes: apresentam mais de uma forma para uma mesma flexão. Mais frequente
no particípio, devendo-se usar o particípio regular com ter e haver; já o irregular
com ser e estar (aceito/aceitado, acendido/aceso - tenho/hei aceitado ≠ é/está
aceito);
auxiliares: juntam-se ao verbo principal ampliando sua significação. Presentes nos
tempos compostos e locuções verbais;
certos verbos possuem pronomes pessoais átonos que se tornam partes integrantes
deles. Nesses casos, o pronome não tem função sintática (suicidar-se, apiedar-se,
queixar-se etc.);
formas rizotônicas (tonicidade no radical - eu canto) e formas arrizotônicas
(tonicidade fora do radical - nós cantaríamos).
Quanto à flexão verbal, temos:
número: singular ou plural;
pessoa gramatical: 1ª, 2ª ou 3ª;
tempo: referência ao momento em que se fala (pretérito, presente ou futuro). O
modo imperativo só tem um tempo, o presente;
voz: ativa, passiva e reflexiva;
modo: indicativo (certeza de um fato ou estado), subjuntivo (possibilidade ou
desejo de realização de um fato ou incerteza do estado) e imperativo (expressa
ordem, advertência ou pedido).
As três formas nominais do verbo (infinitivo, gerúndio e particípio) não possuem função
exclusivamente verbal. Infinitivo é antes substantivo, o particípio tem valor e forma de
adjetivo, enquanto o gerúndio equipara-se ao adjetivo ou advérbio pelas circunstâncias que
exprime.
Quanto ao tempo verbal, eles apresentam os seguintes valores:
presente do indicativo: indica um fato real situado no momento ou época em que
se fala;
presente do subjuntivo: indica um fato provável, duvidoso ou hipotético situado
no momento ou época em que se fala;
pretérito perfeito do indicativo: indica um fato real cuja ação foi iniciada e
concluída no passado;
pretérito imperfeito do indicativo: indica um fato real cuja ação foi iniciada no
passado, mas não foi concluída ou era uma ação costumeira no passado;
pretérito imperfeito do subjuntivo: indica um fato provável, duvidoso ou
hipotético cuja ação foi iniciada mas não concluída no passado;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: indica um fato real cuja ação é anterior
a outra ação já passada;
futuro do presente do indicativo: indica um fato real situado em momento ou
época vindoura;
futuro do pretérito do indicativo: indica um fato possível, hipotético, situado num
momento futuro, mas ligado a um momento passado;
futuro do subjuntivo: indica um fato provável, duvidoso, hipotético, situado num
momento ou época futura;
Quanto à formação dos tempos, os chamados tempos simples podem ser primitivos
(presente e pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal) e derivados:
São derivados do presente do indicativo:
pretérito imperfeito do indicativo: TEMA do presente + VA (1ª conj.) ou IA (2ª e
3ª conj.) + Desinência número pessoal (DNP);
presente do subjuntivo: RAD da 1ª pessoa singular do presente + E (1ª conj.) ou A
(2ª e 3ª conj.) + DNP;
Os verbos em -ear têm duplo "e" em vez de "ei" na 1ª pessoa do plural (passeio, mas
passeemos).
imperativo negativo (todo derivado do presente do subjuntivo) e imperativo
afirmativo (as 2ª pessoas vêm do presente do indicativo sem S, as demais também
vêm do presente do subjuntivo).
São derivados do pretérito perfeito do indicativo:
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: TEMA do perfeito + RA + DNP;
pretérito imperfeito do subjuntivo: TEMA do perfeito + SSE + DNP;
futuro do subjuntivo: TEMA do perfeito + R + DNP.
São derivados do infinitivo impessoal:
futuro do presente do indicativo: TEMA do infinitivo + RA + DNP;
futuro do pretérito: TEMA do infinitivo + RIA + DNP;
infinitivo pessoal: infinitivo impessoal + DNP (-ES - 2ª pessoa, -MOS, -DES, -EM)
gerúndio: TEMA do infinitivo + -NDO;
particípio regular: infinitivo impessoal sem vogal temática (VT) e R + ADO (1ª
conjugação) ou IDO (2ª e 3ª conjugação).
Quanto à formação, os tempos compostos da voz ativa constituem-se dos verbos auxiliares
TER ou HAVER + particípio do verbo que se quer conjugar, dito principal.
No modo Indicativo, os tempos compostos são formados da seguinte maneira:
pretérito perfeito: presente do indicativo do auxiliar + particípio do verbo principal
(VP) [Tenho falado];
pretérito mais-que-perfeito: pretérito imperfeito do indicativo do auxiliar +
particípio do VP (Tinha falado);
futuro do presente: futuro do presente do indicativo do auxiliar + particípio do VP
(Terei falado);
futuro do pretérito: futuro do pretérito indicativo do auxiliar + particípio do VP
(Teria falado).
No modo Subjuntivo a formação se dá da seguinte maneira:
pretérito perfeito: presente do subjuntivo do auxiliar + particípio do VP (Tenha
falado);
pretérito mais-que-perfeito: imperfeito do subjuntivo do auxiliar + particípio do
VP (Tivesse falado);
futuro composto: futuro do subjuntivo do auxiliar + particípio do VP (Tiver
falado).
Quanto às formas nominais, elas são formadas da seguinte maneira:
infinitivo composto: infinitivo pessoal ou impessoal do auxiliar + particípio do VP
(Ter falado / Teres falado);
gerúndio composto: gerúndio do auxiliar + particípio do VP (Tendo falado).
O modo subjuntivo apresenta três pretéritos, sendo o imperfeito na forma simples e o
perfeito e o mais-que-perfeito nas formas compostas. Não há presente composto nem
pretérito imperfeito composto
Quanto às vozes, os verbos apresentam a voz:
ativa: sujeito é agente da ação verbal;
passiva: sujeito é paciente da ação verbal;
A voz passiva pode ser analítica ou sintética:
analítica: - verbo auxiliar + particípio do verbo principal;
sintética: na 3ª pessoa do singular ou plural + SE (partícula apassivadora);
reflexiva: sujeito é agente e paciente da ação verbal. Também pode ser recíproca ao
mesmo tempo (acréscimo de SE = pronome reflexivo, variável em função da pessoa
do verbo);
Na transformação da voz ativa na passiva, a variação temporal é indicada pelo auxiliar (ser
na maioria das vezes), como notamos nos exemplos a seguir: Ele fez o trabalho - O trabalho
foi feito por ele (mantido o pretérito perfeito do indicativo) / O vento ia levando as folhas As folhas iam sendo levadas pelas folhas (mantido o gerúndio do verbo principal).
Alguns verbos da língua portuguesa apresentam problemas de conjugação. A seguir temos
uma lista, seguida de comentários sobre essas dificuldades de conjugação.
Abolir (defectivo) - não possui a 1ª pessoa do singular do presente do indicativo,
por isso não possui presente do subjuntivo e o imperativo negativo. (= banir, carpir,
colorir, delinqüir, demolir, descomedir-se, emergir, exaurir, fremir, fulgir, haurir,
retorquir, urgir)
Acudir (alternância vocálica o/u) - presente do indicativo - acudo, acodes... e
pretérito perfeito do indicativo - com u (= bulir, consumir, cuspir, engolir, fugir) /
Adequar (defectivo) - só possui a 1ª e a 2ª pessoa do plural no presente do indicativo
Aderir (alternância vocálica e/i) - presente do indicativo - adiro, adere... (= advertir,
cerzir, despir, diferir, digerir, divergir, ferir, sugerir)
Agir (acomodação gráfica g/j) - presente do indicativo - ajo, ages... (= afligir,
coagir, erigir, espargir, refulgir, restringir, transigir, urgir)
Agredir (alternância vocálica e/i) - presente do indicativo - agrido, agrides, agride,
agredimos, agredis, agridem (= prevenir, progredir, regredir, transgredir) / Aguar
(regular) - presente do indicativo - águo, águas..., - pretérito perfeito do indicativo agüei, aguaste, aguou, aguamos, aguastes, aguaram (= desaguar, enxaguar, minguar)
Aprazer (irregular) - presente do indicativo - aprazo, aprazes, apraz... / pretérito
perfeito do indicativo - aprouve, aprouveste, aprouve, aprouvemos, aprouvestes,
aprouveram
Arguir (irregular com alternância vocálica o/u) - presente do indicativo - arguo (ú),
argúis, argúi, arguimos, arguis, argúem - pretérito perfeito - argui, arguiste.
Atrair (irregular) - presente do indicativo - atraio, atrais... / pretérito perfeito - atraí,
atraíste... (= abstrair, cair, distrair, sair, subtrair)
Atribuir (irregular) - presente do indicativo - atribuo, atribuis, atribui, atribuímos,
atribuís, atribuem - pretérito perfeito - atribuí, atribuíste, atribuiu... (= afluir,
concluir, destituir, excluir, instruir, possuir, usufruir)
Averiguar (alternância vocálica o/u) - presente do indicativo - averiguo (ú),
averiguas (ú), averigua (ú), averiguamos, averiguais, averiguam (ú) - pretérito
perfeito - averiguei, averiguaste... - presente do subjuntivo - averigúe, averigúes,
averigúe... (= apaziguar)
Cear (irregular) - presente do indicativo - ceio, ceias, ceia, ceamos, ceais, ceiam pretérito perfeito indicativo - ceei, ceaste, ceou, ceamos, ceastes, cearam (= verbos
terminados em -ear: falsear, passear... - alguns apresentam pronúncia aberta: estréio,
estréia...)
Coar (irregular) - presente do indicativo - côo, côas, côa, coamos, coais, coam pretérito perfeito - coei, coaste, coou... (= abençoar, magoar, perdoar) / Comerciar
(regular) - presente do indicativo - comercio, comercias... - pretérito perfeito comerciei... (= verbos em -iar , exceto os seguintes verbos: mediar, ansiar, remediar,
incendiar, odiar)
Compelir (alternância vocálica e/i) - presente do indicativo - compilo, compeles... pretérito perfeito indicativo - compeli, compeliste...
Compilar (regular) - presente do indicativo - compilo, compilas, compila... pretérito perfeito indicativo - compilei, compilaste...
Construir (irregular e abundante) - presente do indicativo - construo, constróis (ou
construis), constrói (ou construi), construímos, construís, constroem (ou construem)
- pretérito perfeito indicativo - construí, construíste...
Crer (irregular) - presente do indicativo - creio, crês, crê, cremos, credes, crêem pretérito perfeito indicativo - cri, creste, creu, cremos, crestes, creram - imperfeito
indicativo - cria, crias, cria, críamos, críeis, criam
Falir (defectivo) - presente do indicativo - falimos, falis - pretérito perfeito
indicativo - fali, faliste... (= aguerrir, combalir, foragir-se, remir, renhir)
Frigir (acomodação gráfica g/j e alternância vocálica e/i) - presente do indicativo frijo, freges, frege, frigimos, frigis, fregem - pretérito perfeito indicativo - frigi,
frigiste...
Ir (irregular) - presente do indicativo - vou, vais, vai, vamos, ides, vão - pretérito
perfeito indicativo - fui, foste... - presente subjuntivo - vá, vás, vá, vamos, vades,
vão
Jazer (irregular) - presente do indicativo - jazo, jazes... - pretérito perfeito
indicativo - jazi, jazeste, jazeu...
Mobiliar (irregular) - presente do indicativo - mobílio, mobílias, mobília,
mobiliamos, mobiliais, mobíliam - pretérito perfeito indicativo - mobiliei,
mobiliaste... / Obstar (regular) - presente do indicativo - obsto, obstas... - pretérito
perfeito indicativo - obstei, obstaste...
Pedir (irregular) - presente do indicativo - peço, pedes, pede, pedimos, pedis,
pedem - pretérito perfeito indicativo - pedi, pediste... (= despedir, expedir, medir) /
Polir (alternância vocálica e/i) - presente do indicativo - pulo, pules, pule, polimos,
polis, pulem - pretérito perfeito indicativo - poli, poliste...
Precaver-se (defectivo e pronominal) - presente do indicativo - precavemo-nos,
precaveis-vos - pretérito perfeito indicativo - precavi-me, precaveste-te... / Prover
(irregular) - presente do indicativo - provejo, provês, provê, provemos, provedes,
provêem - pretérito perfeito indicativo - provi, proveste, proveu... / Reaver
(defectivo) - presente do indicativo - reavemos, reaveis - pretérito perfeito
indicativo - reouve, reouveste, reouve... (verbo derivado do haver, mas só é
conjugado nas formas verbais com a letra v)
Remir (defectivo) - presente do indicativo - remimos, remis - pretérito perfeito
indicativo - remi, remiste...
Requerer (irregular) - presente do indicativo - requeiro, requeres... - pretérito
perfeito indicativo - requeri, requereste, requereu... (derivado do querer, diferindo
dele na 1ª pessoa do singular do presente do indicativo e no pretérito perfeito do
indicativo e derivados, sendo regular)
Rir (irregular) - presente do indicativo - rio, rir, ri, rimos, rides, riem - pretérito
perfeito indicativo - ri, riste... (= sorrir)
Saudar (alternância vocálica) - presente do indicativo - saúdo, saúdas... - pretérito
perfeito indicativo - saudei, saudaste...
Suar (regular) - presente do indicativo - suo, suas, sua... - pretérito perfeito
indicativo - suei, suaste, sou... (= atuar, continuar, habituar, individuar, recuar,
situar)
Valer (irregular) - presente do indicativo - valho, vales, vale... - pretérito perfeito
indicativo - vali, valeste, valeu...
Também merecem atenção os seguintes verbos irregulares:
Pronominais: Apiedar-se, dignar-se, persignar-se, precaver-se
Caber
presente do indicativo: caibo, cabes, cabe, cabemos, cabeis, cabem;
presente do subjuntivo: caiba, caibas, caiba, caibamos, caibais, caibam;
pretérito perfeito do indicativo: coube, coubeste, coube, coubemos, coubestes,
couberam;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: coubera, couberas, coubera,
coubéramos, coubéreis, couberam;
pretérito imperfeito do subjuntivo: coubesse, coubesses, coubesse, coubéssemos,
coubésseis, coubessem;
futuro do subjuntivo: couber, couberes, couber, coubermos, couberdes, couberem.
Dar
presente do indicativo: dou, dás, dá, damos, dais, dão;
presente do subjuntivo: dê, dês, dê, demos, deis, dêem;
pretérito perfeito do indicativo: dei, deste, deu, demos, destes, deram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: dera, deras, dera, déramos, déreis,
deram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: desse, desses, desse, déssemos, désseis,
dessem;
futuro do subjuntivo: der, deres, der, dermos, derdes, derem.
Dizer
presente do indicativo: digo, dizes, diz, dizemos, dizeis, dizem;
presente do subjuntivo: diga, digas, diga, digamos, digais, digam;
pretérito perfeito do indicativo: disse, disseste, disse, dissemos, dissestes,
disseram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: dissera, disseras, dissera, disséramos,
disséreis, disseram;
futuro do presente: direi, dirás, dirá, etc.;
futuro do pretérito: diria, dirias, diria, etc.;
pretérito imperfeito do subjuntivo: dissesse, dissesses, dissesse, disséssemos,
dissésseis, dissessem;
futuro do subjuntivo: disser, disseres, disser, dissermos, disserdes, disserem;
Seguem esse modelo os derivados bendizer, condizer, contradizer, desdizer, maldizer,
predizer.
Os particípios desse verbo e seus derivados são irregulares: dito, bendito, contradito, etc.
Estar
presente do indicativo: estou, estás, está, estamos, estais, estão;
presente do subjuntivo: esteja, estejas, esteja, estejamos, estejais, estejam;
pretérito perfeito do indicativo: estive, estiveste, esteve, estivemos, estivestes,
estiveram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: estivera, estiveras, estivera,
estivéramos, estivéreis, estiveram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: estivesse, estivesses, estivesse, estivéssemos,
estivésseis, estivessem;
futuro do subjuntivo: estiver, estiveres, estiver, estivermos, estiverdes, estiverem;
Fazer
presente do indicativo: faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazem;
presente do subjuntivo: faça, faças, faça, façamos, façais, façam;
pretérito perfeito do indicativo: fiz, fizeste, fez, fizemos, fizestes, fizeram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: fizera, fizeras, fizera, fizéramos,
fizéreis, fizeram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: fizesse, fizesses, fizesse, fizéssemos, fizésseis,
fizessem;
futuro do subjuntivo: fizer, fizeres, fizer, fizermos, fizerdes, fizerem.
Seguem esse modelo desfazer, liquefazer e satisfazer.
Os particípios desse verbo e seus derivados são irregulares: feito, desfeito, liquefeito,
satisfeito, etc.
Haver
presente do indicativo: hei, hás, há, havemos, haveis, hão;
presente do subjuntivo: haja, hajas, haja, hajamos, hajais, hajam;
pretérito perfeito do indicativo: houve, houveste, houve, houvemos, houvestes,
houveram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: houvera, houveras, houvera,
houvéramos, houvéreis, houveram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: houvesse, houvesses, houvesse, houvéssemos,
houvésseis, houvessem;
futuro do subjuntivo: houver, houveres, houver, houvermos, houverdes,
houverem.
Ir
presente do indicativo: vou, vais, vai, vamos, ides, vão;
presente do subjuntivo: vá, vás, vá, vamos, vades, vão;
pretérito imperfeito do indicativo: ia, ias, ia, íamos, íeis, iam;
pretérito perfeito do indicativo: fui, foste, foi, fomos, fostes, foram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: fora, foras, fora, fôramos, fôreis,
foram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: fosse, fosses, fosse, fôssemos, fôsseis, fossem;
futuro do subjuntivo: for, fores, for, formos, fordes, forem.
Poder
presente do indicativo: posso, podes, pode, podemos, podeis, podem;
presente do subjuntivo: possa, possas, possa, possamos, possais, possam;
pretérito perfeito do indicativo: pude, pudeste, pôde, pudemos, pudestes,
puderam;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: pudera, puderas, pudera, pudéramos,
pudéreis, puderam;
pretérito imperfeito do subjuntivo: pudesse, pudesses, pudesse, pudéssemos,
pudésseis, pudessem;
futuro do subjuntivo: puder, puderes, puder, pudermos, puderdes, puderem.
Pôr
presente do indicativo: ponho, pões, põe, pomos, pondes, põem;
presente do subjuntivo: ponha, ponhas, ponha, ponhamos, ponhais, ponham;
pretérito imperfeito do indicativo: punha, punhas, punha, púnhamos, púnheis,
punham;
pretérito perfeito do indicativo: pus, puseste, pôs, pusemos, pusestes, puseram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: pusera, puseras, pusera, puséramos,
puséreis, puseram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: pusesse, pusesses, pusesse, puséssemos,
pusésseis, pusessem;
futuro do subjuntivo: puser, puseres, puser, pusermos, puserdes, puserem.
Todos os derivados do verbo pôr seguem exatamente esse modelo: antepor, compor,
contrapor, decompor, depor, descompor, dispor, expor, impor, indispor, interpor, opor,
pospor, predispor, pressupor, propor, recompor, repor, sobrepor, supor, transpor são alguns
deles.
Querer
presente do indicativo: quero, queres, quer, queremos, quereis, querem;
presente do subjuntivo: queira, queiras, queira, queiramos, queirais, queiram;
pretérito perfeito do indicativo: quis, quiseste, quis, quisemos, quisestes,
quiseram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: quisera, quiseras, quisera, quiséramos,
quiséreis, quiseram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: quisesse, quisesses, quisesse, quiséssemos,
quisésseis, quisessem;
futuro do subjuntivo: quiser, quiseres, quiser, quisermos, quiserdes, quiserem;
Saber
presente do indicativo: sei, sabes, sabe, sabemos, sabeis, sabem;
presente do subjuntivo: saiba, saibas, saiba, saibamos, saibais, saibam;
pretérito perfeito do indicativo: soube, soubeste, soube, soubemos, soubestes,
souberam;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: soubera, souberas, soubera,
soubéramos, soubéreis, souberam;
pretérito imperfeito do subjuntivo: soubesse, soubesses, soubesse, soubéssemos,
soubésseis, soubessem;
futuro do subjuntivo: souber, souberes, souber, soubermos, souberdes, souberem.
Ser
presente do indicativo: sou, és, é, somos, sois, são;
presente do subjuntivo: seja, sejas, seja, sejamos, sejais, sejam;
pretérito imperfeito do indicativo: era, eras, era, éramos, éreis, eram;
pretérito perfeito do indicativo: fui, foste, foi, fomos, fostes, foram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: fora, foras, fora, fôramos, fôreis,
foram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: fosse, fosses, fosse, fôssemos, fôsseis, fossem;
futuro do subjuntivo: for, fores, for, formos, fordes, forem.
As segundas pessoas do imperativo afirmativo são: sê (tu) e sede (vós).
Ter
presente do indicativo: tenho, tens, tem, temos, tendes, têm;
presente do subjuntivo: tenha, tenhas, tenha, tenhamos, tenhais, tenham;
pretérito imperfeito do indicativo: tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tínheis, tinham;
pretérito perfeito do indicativo: tive, tiveste, teve, tivemos, tivestes, tiveram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: tivera, tiveras, tivera, tivéramos,
tivéreis, tiveram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivésseis,
tivessem;
futuro do subjuntivo: tiver, tiveres, tiver, tivermos, tiverdes, tiverem.
Seguem esse modelo os verbos ater, conter, deter, entreter, manter, reter.
Trazer
presente do indicativo: trago, trazes, traz, trazemos, trazeis, trazem;
presente do subjuntivo: traga, tragas, traga, tragamos, tragais, tragam;
pretérito perfeito do indicativo: trouxe, trouxeste, trouxe, trouxemos, trouxestes,
trouxeram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: trouxera, trouxeras, trouxera,
trouxéramos, trouxéreis, trouxeram;
futuro do presente: trarei, trarás, trará, etc.;
futuro do pretérito: traria, trarias, traria, etc.;
pretérito imperfeito do subjuntivo: trouxesse, trouxesses, trouxesse,
trouxéssemos, trouxésseis, trouxessem;
futuro do subjuntivo: trouxer, trouxeres, trouxer, trouxermos, trouxerdes,
trouxerem.
Ver
presente do indicativo: vejo, vês, vê, vemos, vedes, vêem;
presente do subjuntivo: veja, vejas, veja, vejamos, vejais, vejam;
pretérito perfeito do indicativo: vi, viste, viu, vimos, vistes, viram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: vira, viras, vira, víramos, víreis, viram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: visse, visses, visse, víssemos, vísseis, vissem;
futuro do subjuntivo: vir, vires, vir, virmos, virdes, virem.
Seguem esse modelo os derivados antever, entrever, prever, rever. Prover segue o modelo
acima apenas no presente do indicativo e seus tempos derivados; nos demais tempos,
comporta-se como um verbo regular da segunda conjugação.
Vir
presente do indicativo: venho, vens, vem, vimos, vindes, vêm;
presente do subjuntivo: venha, venhas, venha, venhamos, venhais, venham;
pretérito imperfeito do indicativo: vinha, vinhas, vinha, vínhamos, vínheis,
vinham;
pretérito perfeito do indicativo: vim, vieste, veio, viemos, viestes, vieram;
pretérito mais-que-perfeito do indicativo: viera, vieras, viera, viéramos, viéreis,
vieram;
pretérito imperfeito do subjuntivo: viesse, viesses, viesse, viéssemos, viésseis,
viessem;
futuro do subjuntivo: vier, vieres, vier, viermos, vierdes, vierem;
particípio e gerúndio: vindo.
Seguem esse modelo os verbos advir, convir, desavir-se, intervir, provir, sobrevir.
O emprego do infinitivo não obedece a regras bem definidas.
O impessoal é usado em sentido genérico ou indefinido, não relacionado a nenhuma pessoa,
o pessoal refere-se às pessoas do discurso, dependendo do contexto. Recomenda-se sempre
o uso da forma pessoal se for necessário dar à frase maior clareza e ênfase.
Usa-se o impessoal:
sem referência a nenhum sujeito: É proibido fumar na sala;
nas locuções verbais: Devemos avaliar a sua situação;
quando o infinitivo exerce função de complemento de adjetivos: É um problema
fácil de solucionar;
quando o infinitivo possui valor de imperativo - Ele respondeu: "Marchar!"
Usa-se o pessoal:
quando o sujeito do infinitivo é diferente do sujeito da oração principal: Eu não te
culpo por saíres daqui;
quando, por meio de flexão, se quer realçar ou identificar a pessoa do sujeito: Foi
um erro responderes dessa maneira;
quando queremos determinar o sujeito (usa-se a 3ª pessoa do plural): - Escutei
baterem à porta.
Vozes do Verbo
Voz verbal é a flexão do verbo que indica se o sujeito pratica, ou recebe, ou pratica e recebe a
ação verbal.
01) Voz Ativa: quando o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação verbal ou participa ativamente de
um fato.
Ex. As meninas exigiram a presença da diretora.
A torcida aplaudiu os jogadores.
O médico cometeu um erro terrível.
02) Voz Passiva: quando o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação verbal.
A) Voz Passiva Sintética:
A voz passiva sintética é formada por verbo transitivo direto, pronome se (partícula apassivadora)
e sujeito paciente.
Ex. Entregam-se encomendas.
Alugam-se casas.
Compram-se roupas usadas.
B) Voz Passiva Analítica:
A voz passiva analítica é formada por sujeito paciente, verbo auxiliar ser ou estar, verbo principal
indicador de ação no particípio - ambos formam locução verbal passiva - e agente da passiva. Veja
mais detalhes aqui.
Ex. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor.
As casas foram alugadas pela imobiliária.
As roupas foram compradas por uma elegante senhora.
03) Voz Reflexiva:
Há dois tipos de voz reflexiva:
a) Reflexiva: será chamada simplesmente de reflexiva, quando o sujeito praticar a ação sobre si
mesmo.
Ex. Carla machucou-se.
Osbirvânio cortou-se com a faca.
Roberto matou-se.
a) Reflexiva recíproca: será chamada de reflexiva recíproca, quando houver dois elementos como
sujeito: um pratica a ação sobre o outro, que pratica a ação sobre o primeiro.
Ex. Paula e Renato amam-se.
Os jovens agrediram-se durante a festa.
Os ônibus chocaram-se violentamente.
Passagem da ativa para a voz passiva ou inversa
Para efetivar a transformação da ativa para a passiva e vice-versa, procede-se da seguinte
maneira:
1- O sujeito da voz ativa passará a ser o agente da passiva.
2- O objeto direto da voz ativa passará a ser o sujeito da voz passiva.
3- Na passiva, o verbo ser estará no mesmo tempo e modo do verbo transitivo direto da ativa.
4 Na voz passiva, o verbo transitivo direto ficará no particípio.
Voz ativa: A torcida aplaudiu os jogadores. Sujeito = a torcida. Verbo transitivo direto =
aplaudiu.Objeto direto = os jogadores. Voz passiva: Os jogadores foram aplaudidos pela
torcida.Sujeito = os jogadores.Locução verbal passiva = foram aplaudidos.Agente da passiva = pela
torcida.
IX - Emprego dos pronomes.
COLOCAÇÃO PRONOMINAL
1. EMPREGO DE "EU e TU" / "TI e MIM"
2. COLOCAÇÃO DOS PRONOMES OBLÍQUOS ÁTONOS (ÊNCLISE, PRÓCLISE,
MESÓCLISE)
3. EMPREGO DO PRONOME ÁTONO EM LOCUÇÕES VERBAIS PERFEITAS E EM
TEMPOS COMPOSTOS
4. TEMPOS COMPOSTOS
5. EMPREGO DOS PRONOMES ESTE/ESSE/AQUELE
1. EMPREGO DE "EU e TU" / "TI e MIM".
Os pronomes "eu" e "tu" só podem figurar como sujeito de uma oração. Assim, não podem
vir precedidos de preposição funcionando como complemento. Para exercer esta função,
deve-se empregar as formas "mim" e "ti".
Exemplos:
Nunca houve brigas entre eu e ela. (errado)
Nunca houve brigas entre mim e ela. (certo)
Todas as dívidas entre eu e tu foram sanadas. (errado)
Todas as dívidas entre mim e ti foram sanadas. (certo)
Sem você e eu, aquela obra não acaba. (errado)
Sem você e mim, aquela obra não acaba. (certo)
A festa não será a mesma sem tu e elas. (errado)
A festa não será a mesma sem ti e elas. (certo)
Perante eu e vós, aquelas criaturas são bem mais infelizes. (errado)
Perante mim e vós, aquelas criaturas são bem mais infelizes. (certo)
Levantaram calúnias contra os alunos e eu. (errado)
Levantaram calúnias contra os alunos e mim. (certo)
Observação: Os pronomes "eu" e "tu", no entanto, podem aparecer como sujeito de um
verbo no infinitivo, embora precedidos de preposição.
Exemplos:
Não vais sem eu mandar.
Dei o dinheiro para tu comprares o carro.
Esta regra é para eu não esquecer.
2. COLOCAÇÃO DOS PRONOMES OBLÍQUOS ÁTONOS.
REGRAS PRÁTICAS PARA A COLOCAÇÃO DOS PRONOMES ÁTONOS:
Os pronomes átonos são geralmente empregados depois do verbo (ÊNCLISE), muitas
vezes antes(PRÓCLISE) e, mais raramente, no meio (MESÓCLISE).
ÊNCLISE
As formas verbais do infinitivo impessoal (precedido ou não da preposição "a"), do
gerúndio e do imperativo afirmativo pedem a ênclise pronominal.
Exemplos:
Urge obedecer-se às leis.
Obrigou-me a dizer-lhe tudo.
Bete pediu licença, afastando-se do grupo.
Aqueles livros raros? Compra-os imediatamente!
Observação: Se o gerúndio vier precedido da preposição "em", deve-se empregar a próclise.
Exemplo: "Nesta terra, em se plantando, tudo da."
Não se inicia um período pelo pronome átono nem a oração principal precedida de pausa,
assim como as orações coordenadas assindéticas, isto é, sem conjunções.
Exemplos:
Me contaram sua aventura em Salvador. (errado)
Contaram-me sua aventura em Salvador. (certo)
Permanecendo aqui, se corre o risco de ser assaltado. (errado)
Permanecendo aqui, corre-se o risco de ser assaltado. (certo)
Segui-o pela rua, o chamei, lhe pedi que parasse. (errado)
Segui-o pela rua, chamei-o, pedi-lhe que parasse. (certo)
Observação: A ênclise não pode ser empregada com verbos no futuro e no particípio
passado.
PRÓCLISE
Deve-se colocar o pronome átono antes do verbo, quando antes dele houver uma palavra
pertencente a um dos seguintes grupos:
A) palavras ou expressões negativas;
Exemplos:
Não me deixe sozinho esta noite!
Nunca se recuse ajudar a quem precise.
Nem nos conte porque você fez isso.
Nenhum deles me prestou a informação correta.
Ninguém lhe deve nada.
De modo algum (Em hipótese alguma) nos esqueceremos disso.
B) pronomes relativos;
Exemplos:
O livro que me emprestaste é muito bom.
Este é o senhor de quem lhe contei a vida.
Esta é a casa da qual vos falei.
O ministro, cujo filho lhe causou tantos problemas, está aqui.
Aquela rua, onde me assaltaram, foi melhor iluminada.
Pagarei hoje tudo quanto lhe devo.
C) pronomes indefinidos;
Exemplos:
Alguém me disse que você vai viajar.
Quem lhe disse essas bobagens?
Dos vários candidatos entrevistados, alguns (diversos) nos
pareceram bastante inteligentes.
Entre os dez pares de sapato, qualquer um me serve para ir a
festa no sábado.
Quem quer que me traga uma flor, conquistará meu coração.
D) conjunções subordinativas;
Exemplos:
Deixarei você sair, quando me disser a verdade.
Posso ajudar-te na obra, se me levares contigo.
Faça todo esse trabalho, como lhe ensinei.
Entramos no palácio, porque nos deram permissão.
Fiquem em nossa casa, enquanto vos pareça agradável.
Continuo a gostar de ti, embora me magoasse muito.
Confiei neles, logo que os conheci.
E) advérbios;
Exemplos:
Talvez nos seja fácil fazer esta tarefa.
Ontem os vi no cinema.
Aqui me agrada estar todos os dias.
Agora vos contarei um conto de fadas.
Pouco a pouco te revelarei o mistério.
De vez em quando me pego falando sozinho.
De súbito nos assustamos com os tiros.
Observação: O pronome átono pode ser colocado antes ou depois do infinitivo impessoal,
se antecedendo o infinitivo vier uma das palavras ou expressões mencionadas acima.
Exemplos:
"Tudo faço para não a perturbar naqueles dias difíceis";
ou "Tudo faço para não perturbá-la..."
MESÓCLISE
Emprega-se o pronome átono no meio da forma verbal, quando esta estiver no futuro
simples do presente ou no futuro simples do pretérito do indicativo.
Exemplos:
Chamar-te-ei, quando ele chegar.
Se houver tempo, contar-vos-emos nossa aventura.
Dar-te-ia essas informações, se soubesse.
Observação: Se antes dessas formas verbais houver uma palavra ou expressão que
provocam a próclise, não se empregará, conseqüentemente, o pronome átono na posição
mesoclítica.
Exemplos:
Nada lhe direi sobre este assunto.
Livrar-te-ei dessas tarefas, porque te daria muito trabalho.
3. EMPREGO DO PRONOME ÁTONO EM LOCUÇÕES VERBAIS PERFEITAS E EM
TEMPOS COMPOSTOS.
São locuções verbais perfeitas aquelas formadas de um verbo auxiliar modal (QUERER,
DEVER, SABER, PODER, ou TER DE, HAVER DE), seguido de um verbo principal no
infinitivo impessoal. Neste caso, o pronome átono pode ser colocado antes ou depois do
primeiro verbo, ou ainda depois do infinitivo.
Exemplos:
Nós lhe devemos dizer a verdade.
Nós devemos lhe dizer a verdade.
Nós devemos dizer-lhe a verdade.
Observação: No entanto, se no caso acima mencionado as locuções verbais vierem
precedidas de palavra ou expressão que exija a próclise, só duas posições serão possíveis
para empregar-se o pronome átono: antes do auxiliar ou depois do infinitivo.
Exemplos:
Não lhe devemos dizer a verdade.
Não devemos dizer-lhe a verdade.
4. TEMPOS COMPOSTOS.
Nos tempos compostos, formados de um verbo auxiliar (TER ou HAVER) mais um verbo
principal no particípio, o pronome átono se liga ao verbo auxiliar, nunca ao particípio.
Exemplos:
Tinha-me envolvido sem querer com aquela garota.
Nós nos havíamos assustado com o trovão.
O advogado não lhe tinha dito a verdade.
Observação: Quando houver qualquer fator de próclise, esta será a única posição possível
do pronome átono na frase, ou seja, antes do verbo auxiliar.
5. EMPREGO DOS PRONOMES ESTE/ESSE/AQUELE.
Os pronomes "este, esta, isto" devem ser empregados referindo-se ao âmbito da pessoa que
fala (1ª pessoa do singular e do plural - eu e nós), e quando se quer indicar o que se vai
dizer logo em seguida (referência ao "tempo presente). Relacionam-se com o advérbio
"aqui" e com os pronomes possessivos "meu, minha, nosso, nossa".
Exemplos:
Este meu carro só me dá problemas.
Esta casa é nossa há dez anos.
Isto aqui são as minhas encomendas.
Ainda me soam aos ouvidos estas palavras do Divino Mestre:
"Amai ao próximo como a vós mesmos."
Espero que por estas linhas... (no começo de uma carta, por exemplo)
Neste momento, está chovendo no Rio de Janeiro. (= agora)
Ele deve entregar a proposta nesta semana. (= na semana em que estamos)
Não haverá futebol neste domingo. (= hoje)
O pagamento deverá ser feito neste mês. (= mês em que estamos)
Empregam-se os pronomes "esse, essa, isso", com relação ao âmbito da pessoa com quem
se fala (2ª do singular e do plural - tu e vós; e também com "você, vocês); e quando se quer
indicar o que se acabou imediatamente de dizer (referência ao "tempo passado").
Relacionam-se com o advérbio "aí" e com os pronomes possessivos "teu, tua, vosso, vossa,
seu, sua (igual a "de você").
Exemplos:
Essa sua blusa não lhe fica bem.
Quem jogou esse lixo aí na tua calçada?
Isso aí que você está fazendo tem futuro?
Esses vossos planos não darão certo.
Esses exemplos devem ser bem fixados.
Despeço-me, desejando que essas palavras... (no final de uma carta)
Tudo ia bem com Rubinho até a 57ª volta; nesse momento, acabou
o combustível.
Ele pouco se dedicava ao trabalho, por isso foi dispensado.
Os pronomes "aquele, aquela, aquilo" devem ser empregados com referência ao que está no
âmbito da pessoa ou da coisa de quem ou de que se fala (3ª pessoa do singular e do plural ele, ela, eles, elas). Relacionam-se com o advérbio "lá" e com os possessivos "seu, sua (
igual a "dele, dela").
Exemplos:
Aquele carro, lá no estacionamento, é do professor Paulo.
Aquela garota bonita é da sua turma?
Eu disse ao diretor aquilo que me mandaste dizer.
Observação: Numa enumeração, empregamos os pronomes "este, esta, isto" para nos referir
ao elemento mais próximo, e "aquele, aquela, aquilo" para os anteriores.
Exemplo: Em 96, adquiri duas coisas muito importantes para mim: uma casa e um
computador. Este no início do ano e aquela no fim.
Guarde duas dicas ao se referir à situação dos pronomes "esse" e "este" em um texto:
- "esse" indica "passado", e ambas as palavras se escrevem com dois ss.
- "este" indica "futuro"; em ambos os termos temos a presença do t.
DICAS
COM A GENTE / CONOSCO / COM NÓS
A expressão "com a gente" é típica da linguagem coloquial brasileira. Só pode ser usada em
textos informais.
Exemplos:
A outra turma vai se reunir com a gente às 10h.
A sua irmã vai com a gente ao clube hoje.
Em textos formais, que exijam uma linguagem mais cuidada, devemos usar a forma
"conosco".
Exemplos:
Os pais dos alunos querem uma reunião conosco.
Os diretores irão conosco ver o prefeito.
Devemos usar "com nós" antes de algumas palavras:
_ Antes de "todos, mesmos, dois" - "O presidente deixou a decisão com nós todos." "O
presidente deixou a decisão com nós mesmos." "O presidente deixou a decisão com nós
dois."
X - Sintaxe: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração.
Termos essenciais da oração
Introdução
Chamamos de termos essenciais da oração aqueles compõem a estrutura básica da oração, ou
seja, que são necessários para que a oração tenha significado. São eles: sujeito e predicado.
Encontramos diversas definições do que vem a ser sujeito, tais como:
Sujeito é o elemento do qual se diz alguma coisa.
Sujeito é o ser que pratica ou recebe a ação que o verbo expressa.
Já sobre predicado podemos dizer que é aquilo que se diz sobre o sujeito.
No decorrer deste tutorial veremos a classificação e os tipos de sujeito e predicado.
SUJEITO
NÚCLEO DO SUJEITO
É a palavra (substantivo ou pronome) que realmente indica a função sintática que está exercendo.
Exemplo: O computador travou novamente.
Núcleo
A lâmpada está queimada.
Núcleo
TIPOS DE SUJEITO
O sujeito pode ser:
DETERMINADO
O sujeito é determinado quando é facilmente apontado na oração e subdivide-se em: simples e
composto.
a) SIMPLES à quando possui um único núcleo.
Exemplo: o menino quebrou a janela.
Núcleo
Olga aprendeu a tocar violão.
Núcleo
b) COMPOSTO apresenta dois ou mais núcleos.
Exemplo: Do Carmo e Dirceu cambaleavam pela rua.
Núcleo
O Windows e o Linux disputam o mercado de informática.
Núcleo
c) IMPLÍCITO à quando podemos identificá-lo através da desinência verbal.
Exemplo: (eu) Pintei algumas camisas.
(nós) Viajaremos para São Paulo.
INDETERMINADO
Quando não é possível determiná-lo na oração.
O sujeito indeterminado apresenta-se de duas maneiras:
1. verbo na 3ª pessoa do plural, sem a existência de outro elemento que exija essa
flexão do verbo.
2. verbo na 3ª pessoa do singular acompanhado do pronome SE.
Exemplo: Maria, falaram de você na festa.
Mandaram o pintor concluir o serviço.
Precisa-se de costureiras.
ORAÇÕES SEM SUJEITO
São orações constituídas apenas pelo predicado, pois a informação fornecida não se refere a
nenhum sujeito. As principais são:
1. verbos que exprimem fenômenos da natureza: chover, trovejar, nevar, anoitecer,
amanhecer, etc.
Exemplo: Choveu muito hoje pela manhã.
Nevou bastante durante o inverno.
2. o verbo haver no sentido de existir ou indicação de tempo transcorrido.
Exemplo: Houve sérios problemas na rede da empresa.
Há vários anos não viajamos juntos.
3. verbo fazer, ser e estar indicando tempo transcorrido ou tempo que indique
fenômeno da natureza.
Exemplo: Faz duas semanas que não viajamos.
Está muito quente hoje.
Era noite quando ele chegou.
Observações:
1. o verbo SER, impessoal, concorda com o predicativo, podendo aparecer na 3ª
pessoa do plural.
Exemplo: São oito horas da manhã.
É uma hora da tarde.
2. os verbos que indicam fenômenos da natureza, quando usados em sentido
conotativo (figurado) deixam de ser impessoais.
Exemplo: Amanheci indisposto.
Choveram reclamações sobre as operadoras de telefonia.
3. quando um pronome indefinido representa o sujeito ele deve ser classificado como
determinado.
Exemplo: Alguém pegou a minha borracha.
Ninguém ligou hoje.
PREDICADO
O predicado é aquilo que se comenta sobre o sujeito. Para estudá-lo é necessário conhecer o
verbo que forma o predicado. Quanto à predicação os verbos podem ser classificados como:
intransitivos, transitivos e de ligação.
VERBO INTRANSITIVO
São verbos que não exigem complemento, pois têm sentido completo.
Exemplo: A menina caiu.
V.I
O computador quebrou.
V.I
VERBO TRANSITIVO
São verbos que exigem complemento e se dividem em: transitivo direto, transitivo indireto e
transitivo direto e indireto.
TRANSITIVO DIRETO
Não exigem preposição, ligando-se diretamente ao seu complemento, chamado objeto direto.
Exemplo: As empresas tiveram prejuízos.
VTD
Luíza comprou doce.
VTD
TRANSITIVO INDIRETO
Exigem preposição, ligando-se indiretamente ao seu complemento, chamado de objeto indireto.
Exemplo: Gustavo gosta de chocolate.
VTI
Nós precisamos de melhores salários.
VTI
TRANSITIVO DIRETO E INDIRETO
Exigem os dois complementos – objeto direto e objeto indireto – ao mesmo tempo.
Exemplo: Alan pediu um carro ao pai.
VTDI
Os alunos receberam elogios de seus professores.
VTDI
VERBOS DE LIGAÇÃO
São verbos que expressam estado ou mudança de estado e ligam o sujeito ao predicativo.
Exemplo: Os alunos permaneceram na sala.
VL
O computador é antigo.
VL
O verbo de ligação pode expressar:
1. estado permanente: expressa o que é habitual, o que não se modifica. Verbos SER e
VIVER.
Exemplo: Anita é bonita.
2. estado transitório: expressa o que é passageiro. Verbos ESTAR, ANDAR, ACHARSE, ENCONTRAR-SE.
Exemplo: Antônio anda preocupado.
A criança está doente.
3. mudança de estado: revela transformação. Verbos FICAR, TORNAR-SE,
ACABAR, CAIR, METER-SE.
Exemplo: A pintura ficou bonita
4. continuação de estado: Verbos CONTINUAR, PERMANECER.
Exemplo: O computador permaneceu desligado.
José continua febril.
5. estado aparente: VERBO PARECER.
Exemplo: A sobremesa parece saborosa.
TIPOS DE PREDICADO
Há três tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo-nominal.
PREDICADO NOMINAL
Expressa o estado do sujeito. O verbo é de ligação.
Exemplo: O dia continua quente.
PREDICADO
Todos permaneciam apreensivos.
PREDICADO
Observação: o núcleo do predicado nominal é chamado predicativo do sujeito, pois atribui
qualidade ou condição.
PREDICADO VERBAL
Expressa a ação praticada ou recebida pelo sujeito.
Exemplo: Os professores receberam o prêmio.
PREDICADO
Observação: o núcleo do predicado verbal é o verbo, pois sua mensagem principal é a ação
praticada ou recebida pelo sujeito.
Exemplo: Os trabalhadores exigem melhores condições de trabalho.
PREDICADO
PREDICADO VERBO-NOMINAL
Informa a ação e o estado do sujeito.
Exemplo: Nós chegamos cansados.
AÇÃO ESTADO
Cândida retornou feliz da viagem.
AÇÃO
ESTADO
Observação: o predicado verbo-nominal é constituído de dois núcleos – um verbo e um nome –
porque fornece duas informações: ação e estado.
Exemplo: O comprador saiu da loja estressado.
A criança dormia tranquila.
Termos integrantes da oração
1) Objeto direto
Quando estudamos a predicação verbal, tivemos o primeiro contato com o objeto direto.
Vimos que ele é o termo que complementa o sentido de um verbo transitivo direto, o
qual não necessita de preposição. Exemplos:
Perder o ônibus não será agradável.
O silêncio acarreta o desprezo.
Há, ainda, outros detalhes importantes sobre o objeto direto:
a) objeto direto preposicionado
Há casos específicos em que o objeto direto vem antecedido de preposição, sem ser
classificado como objeto indireto. São eles:
I – pronomes oblíquos tônicos (mim, ti...)
Seu irmão avisou o padre e a mim sobre o ocorrido.
II – pronome relativo “quem”
Você conhece a mulher a quem amo?
III – quebra de ambiguidade
Eu admiro o seu pai, assim como à sua mãe. (para não se interpretar “a mãe” como
sujeito do verbo implícito)
IV – palavra “Deus” ou nomes próprios
Deves respeitar a Deus.
Ele quer seguir a Jesus Cristo.
V – pronomes indefinidos
Jonas agradou a todos com sua performance.
VI – numeral “ambos”
Ele agradou a ambos.
VII – construções partitivas de verbos como “comer” e “beber”
O professor não bebeu do vinho. (parte do vinho)
Ela comeu do bolo. (parte do bolo)
VIII – verbos “sacar” e “puxar”
O bandido, diante da reação, sacou / puxou do revólver.
IX – antecipação do OD
À verdade, ninguém ouviu.
b) objeto direto pleonástico
É lícita a construção em que se repete o objeto direto, com o intuito de enfatizá-lo. A tal
recurso, dá-se o nome de objeto direto pleonástico. Exemplos:
A mim, muito me impressionou a sua atitude.
Suas razões, parece que ninguém as compreende.
c) objeto direto oracional
Se o objeto direto aparecer sob a forma de oração, dar-se-lhe-á o nome oração
subordinada substantiva objetiva direta. Exemplos:
Carla disse que viria.
Eles adoram que os façamos rir.
Eu amo pescar.
2) Objeto indireto
É, como já vimos, o termo que complementa um verbo por meio de preposição.
Exemplos:
Vamos assistir a essa peça?
Você precisa de dinheiro?
Observações:
a) objeto indireto pleonástico
O objeto indireto também pode aparecer repetido na oração, conforme se vê nos
exemplos abaixo:
A ele, ninguém lhe disse nada.
A mim, ele não me obedecia.
b) objeto indireto oracional
Chama-se oração subordinada substantiva objetiva indireta o objeto indireto em forma
de oração. Exemplos:
Ela não se opunha a que eu morasse lá.
Ela nem suspeitou de que eu tramara tudo.
Repare-se que a preposição, a despeito da tendência contrária no português atual, deve
estar presente em tais casos.
3) complemento nominal
É o termo preposicionado que complementa o sentido de um nome, o qual pode ser um
substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Exemplos:
Ela tinha aversão a baratas.
Não seja contrário a mim.
Eu moro perto de sua casa.
Observações:
a) o complemento nominal também pode aparecer sob forma oracional, chamando-se,
em tal caso, oração subordinada substantiva completiva nominal. Exemplos:
Tive a impressão de que ela não estava bem.
Você tem alguma objeção a que eu faça isso?
b) não se deve confundir o complemento nominal com o objeto indireto, na medida em
que este complementa um verbo e aquele, um nome. Exemplos:
O homem necessitava de água. (o termo “de água” é objeto indireto, porque completa o
verbo “necessitava”)
O homem tinha necessidade de água. (o termo “de água” é complemento nominal,
porque completa o substantivo “necessidade”)
c) o complemento nominal pode ser substituído por um pronome átono (me, te, nos,
vos, lhe). Exemplo: Tenha-lhe respeito (tenha respeito a ele).
4) agente da passiva
Indica o ser que age em relação ao sujeito nas orações passivas. É geralmente
introduzido pelas preposições “por” ou “de”. Exemplos:
O visitante foi aplaudido por todos.
O livro compõe-se de várias partes.
Observação: o agente da passiva é correspondente ao sujeito da oração na voz ativa:
Todos aplaudiram o visitante; Várias partes compõem o livro.
Termos acessórios da oração
1) Adjunto adnominal
É o termo que se liga a um núcleo nominal (representado por substantivo ou palavra
substantiva) para especificar, delimitar, restringir a sua significação. O adjunto
adnominal pode ser representado por artigos, adjetivos, locuções adjetivas, numerais e
pronomes. Exemplos (em negrito):
Essas duas complicadas questões de Matemática foram anuladas.
Quem ofendeu o menino se verá com o meu pai.
Quantos anos ela tem?
Observações:
a) O adjunto adnominal oracional é chamado de oração subordinada adjetiva restritiva.
Exemplos:
As moças das quais falávamos foram embora.
Os homens que agridem as esposas devem ser presos.
Veja-se que, no lugar de uma oração adjetiva, sempre é possível posicionar um
adjetivo:
As moças simpáticas foram embora.
Os homens agressivos devem ser presos.
As orações subordinadas adjetivas serão estudadas detalhadamente no capítulo sobre
pronomes relativos.
b) Quando um termo preposicionado se liga a um substantivo abstrato, pode ser
classificado como complemento nominal ou adjunto adnominal. Para facilitar a análise,
costuma-se observar o papel desempenhado pelo termo na oração: se for paciente
(alvo), será complemento nominal; se agente ou possuidor, adjunto adnominal.
Exemplos:
O amor do filho pela mãe era muito grande. (“o filho” é o possuidor do amor; portanto,
é o adjunto adnominal; “a mãe” é o alvo do amor; logo, trata-se do complemento
nominal)
A invasão do Iraque pelos Estados Unidos chocou a todos. (o termo “os Estados
Unidos” é o agente da invasão; portanto, é o adjunto adnominal; “o Iraque” é o alvo da
invasão; logo, trata-se do complemento nominal)
2) Adjunto adverbial
É o termo que se liga ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio para indicar certas
circunstâncias, como tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida, etc. Exemplos:
Sua esposa vem de Brasília. (adjunto adverbial de lugar ligado ao verbo “vem”)
Naquela bela cidade, todos eram felizes. (adjunto adverbial de lugar ligado ao verbo
“eram”)
Com o susto, muitas pessoas ficaram resfolegantes. (adjunto adverbial de causa ligado
ao verbo “ficaram”)
Hoje haverá uma festa. (adjunto adverbial de tempo ligado ao verbo “haverá”)
Ela estava muito assustada. (adjunto adverbial de intensidade ligado ao adjetivo
“assustada”)
Ela se saiu muito bem na prova. (adjunto adverbial de intensidade ligado ao advérbio
“bem”)
Observações:
a) Diferença entre adjunto adverbial e advérbio: este é uma classe gramatical (da
Morfologia) que exprime circunstâncias de tempo, modo, lugar, intensidade, modo,
afirmação, negação, dúvida, entre outras. Aquele é uma classificação sintática, que se
dá a qualquer palavra ou grupo de palavras que também indiquem circunstâncias.
Exemplos:
Eles agiram melhor do que eu. (análise morfológica: advérbio de modo; análise
sintática: adjunto adverbial de modo)
Por meus filhos, eu faço qualquer coisa. (análise morfológica: preposição + pronome
possessivo + substantivo; análise sintática: adjunto adverbial de causa)
b) A classe gramatical dos advérbios é variável somente em grau: comparativo e
superlativo. Assim como nos adjetivos, o comparativo pode ser: de superioridade (Ela
mora mais perto daqui (do) que você); de igualdade (João nada tão bem quanto eu); e
de inferioridade (Ela mora menos perto daqui (do) que você). O superlativo pode ser
absoluto (Joana acordou cedíssimo) ou analítico (Ela acordou cedo demais). Note-se
que os advérbios “bem” e “mal” não admitem as formas analíticas, a não ser que
antecedam um verbo no particípio. Exemplos:
A moça escreve melhor que o pai. (e não “mais bem”).
A moça está mais bem preparada que o pai. (e não “melhor”)
Você foi pior que eu na prova (e não “mais mal”)
Ele é mais malvisto que eu (e não “melhor visto”)
c) Os adjuntos adverbiais podem aparecer em forma oracional, caso em que se
chamarão orações subordinadas adverbiais. Exemplo:
Ela viajará amanhã. (adjunto adverbial de tempo)
Ela viajará assim que tiver dinheiro. (oração subordinada adverbial temporal)
Será dada atenção especial a essa e outras orações no capítulo intitulado “Período
composto”.
d) São vários os contornos semânticos dos adjuntos adverbiais. Vejam-se alguns:
Adjunto adverbial de lugar: Todos ficaram no estádio.
Adjunto adverbial de tempo: À noite, o espírito fica leve.
Adjunto adverbial de modo: Ela entrou na igreja solenemente.
Adjunto adverbial de negação: Eu não diria isso.
Adjunto adverbial de intensidade: Estamos felizes demais.
Adjunto adverbial de afirmação: Eu realmente disse isso.
Adjunto adverbial de dúvida: Talvez ela venha.
Adjunto adverbial de causa: Por sua causa, fui demitido.
Adjunto adverbial de companhia: Sairemos com uns amigos.
Adjunto adverbial de matéria: Essa pulseira é feita de prata.
Adjunto adverbial de meio: Vamos de carro ou a cavalo?
Adjunto adverbial de concessão: Apesar de você, sou feliz.
Adjunto adverbial de preço: As luvas custaram caro.
Adjunto adverbial de instrumento: Ele removeu o lixo com uma vassoura.
e) Algumas palavras e expressões, que não se enquadram rigorosamente em nenhuma
das dez classes previstas pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, mas se assemelham
aos advérbios, são classificadas como palavras denotativas. Estas são divididas de
acordo com o seu teor semântico. Observem-se alguns exemplos:
Palavra denotativa de adição: ainda, além disso, ademais, etc. Exemplo: O homem
chorou. Além disso, desmaiou.
Palavra denotativa de afetividade: felizmente, infelizmente, etc. Exemplo: Infelizmente
não pude ir.
Palavra denotativa de aproximação: quase, aproximadamente, etc. Exemplo: Ela quase
foi reprovada.
Palavra denotativa de exclusão: só, somente, apenas, exclusive, etc. Exemplo: Eu só
quis ser gentil.
Palavra denotativa de inclusão: até, também, inclusive, etc. Exemplo: Até você pode
vencer.
Palavra denotativa de realce: que, é que, etc. Exemplo: Ela é que começou.
Palavra denotativa de situação: então, afinal, etc. Exemplo: Afinal, que faremos?
Palavra denotativa de retificação: aliás, ou melhor, etc. Exemplo: Ele é japonês, ou
melhor, oriental.
Palavra denotativa de explicação ou exemplificação: isto é, ou seja, por exemplo, a
saber, etc. Exemplo: Há vários autores de que gosto, a saber: Machado, Lispector,
Garret e outros.
3) Aposto
É o termo que explica, especifica, resume ou enumera outro termo da oração. Vejamos
cada um dos quatro tipos de aposto:
a) Aposto explicativo: termo que explica, esclarece algum termo da oração. É sempre
isolado por sinais de pontuação, principalmente as vírgulas. Exemplos:
Naquela segunda-feira, um Natal triste, eu não encontrei ninguém.
Alexandre, o engenheiro que contratei, virá aqui hoje.
Só faltava uma coisa: o amor.
O aposto explicativo pode aparecer sob a forma de duas orações, conforme se vê
abaixo:
Naquela segunda-feira, que não passou de um Natal triste, eu não encontrei ninguém.
Só faltava uma coisa: que ela sentisse o verdadeiro amor.
A primeira oração, que tem função adjetiva, chama-se oração subordinada adjetiva
explicativa. A segunda, de função substantiva, é classificada como oração
subordinada substantiva apositiva.
Observação: há autores que consideram ser a oração subordinada adjetiva explicativa
um adjunto adnominal, e não um aposto. Discordamos desse ponto de vista, porquanto
a referida oração se coaduna mais com a concepção de aposto (algo que explica) do que
com a de adjunto adnominal (algo que restringe).
b) Aposto especificador: especifica e nomeia o núcleo nominal. Exemplos:
A Rua Martins Fontes é muito movimentada.
Você é o professor Dílson?
Perceba-se que o aposto especificador geralmente nomeia o núcleo, e não o qualifica,
como faz o adjetivo com função sintática de adjunto adnominal. Sob essa ótica, os
termos destacados abaixo seriam adjuntos adnominais:
Moro numa rua tranquila.
Ele é um professor genial.
c) Aposto enumerador: enumera um termo da oração, desmembrando-o em partes.
Exemplo:
Há vários aspectos a serem considerados: a miséria, os baixos índices de
escolaridade, a violência, entre outros. (os termos destacados enumeram os aspectos
mencionados)
d) Aposto resumidor: desempenha papel contrário ao do enumerador. Em vez de
desmembrar, resume os elementos mencionados em somente um termo, geralmente um
pronome. Exemplos:
Miséria, baixos índices de escolaridade, violência, tudo deve ser considerado. (o
pronome “tudo” resume os elementos mencionados)
Aquela família conseguiu realizar seus maiores sonhos, o que muito nos aprouve. (o
pronome “o” resume o conteúdo da oração anterior)
4) Vocativo
É o termo pelo qual se chama um interlocutor real ou imaginário. Vem sempre isolado
por vírgula(s). Exemplo:
"Deus!, ó Deus!, onde estás que não respondes?" (Castro Alves, Obra Completa, p.
290).
Observação: nos vocativos acima, embora seja usado o ponto de exclamação, não se
afasta o uso da vírgula, já que aquele, nesse caso, não encerra.
Maio/2009