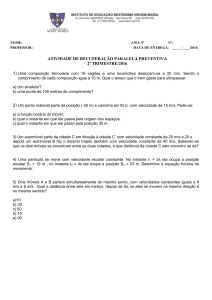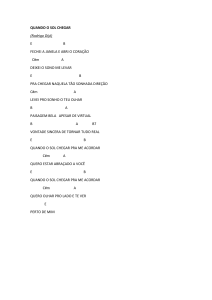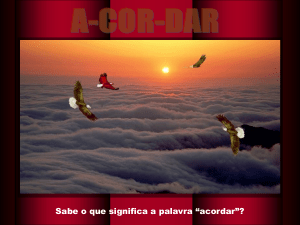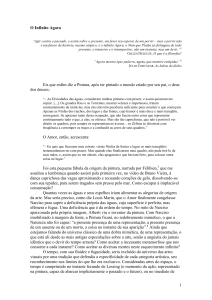8º UNICULT
KRAKEN
Autor(es)
RAFAEL GONZAGA DE MACEDO
Desenvolvimento
Abro meus olhos com o despertar do relógio, 7:20 da manhã, divido meus pensamentos entre os farelos de um pão velho e a longa
jornada que tenho pela frente, penso em qual horário devo sair para chegar num ponto pré-determinado dentro de duas horas, naquele
instante eu seria dois: eu e aquele que vai. Eu seria um espectador assistindo aquele que vai, assim, eu veria todo o percurso do outro
eu, ou seja, eu mesmo em terceira pessoa, tudo do ponto de vista de quem olha ao futuro como o já acontecido, neste exato instante,
eu teria fé no destino ou em deus? Foi quando recordei do livro imaginado por Borges, de autoria de certo Herbert Quain, no qual
lembraríamos do futuro enquanto passado. Este último não seria nada além de reminiscências e intuições.
Com isso na cabeça, ten to imaginar como seria se eu fosse à síntese do devir, nem tese nem antítese, mas só a síntese; neste caso,
minha vida se daria como as imagens de uma tela de televisão, em que eu teria o controle para avançar ou regredir o “futuro”,
conforme eu quisesse conhecer o meu passado, mas nesse caso, conhecer o meu “passado”, enquanto ainda por vir, seria uma tarefa
completamente sobre-humana, pois o fardo do passado seria a certeza do futuro.
Com essa incômoda certeza, encostei-me preguiçosamente no sofá às 7:30 e pensei em Quain: lá e stava eu, nesta manhã, deste dia,
que embora, eu soubesse se tratar de uma piada, consentia à me submeter à todas as regras e valores morais hipocritamente seguido
por todos os outros viventes do passado – e todos, sabendo da piada, evitam, como eu dar risada, por isso todos, como eu, acordam
cedo todos os dias.
O sol causava uma agradável tonalidade em meu olhar, pois eu estava sentado num ponto de ônibus ao lado do cemitério de
Piracicaba, . Nesse ponto, eu contemplaria igualmente meu devaneio em meu próprio quarto como o futuro do amanhã, pois, como
falei, eu me submeto à rotina de todos os viventes do passado, ou na repetição do dia a dia. Lá, daquele certo sofá, onde eu estaria a
pensar, a rua viria em sentido reto para virar para a direita, bem no ponto em que eu me encontrava.
O Sol. Não era dourado, mas punha-se como síntese de um tom azul-melancólico e um vermelho-eletrizante, na verdade, o era só para
mim; talvez, para os outros era um simples sol dourado, não sei. Sua luz se esparramava sobre os velhos telhados vermelhos das casas
e prédios da cidade. Prédios estes que competiam lado a lado com as lápides do cemitério que se erguiam entre o sol e meu olhar no
horizonte.
Devaneio profundamente, enquanto espero no ponto, apenas para acordar com um barulho maquinal e ensurdecedor, que se
aproximava aumentando aquele ruído, acordar com aquele barulho, era acordar na iminência do perigo pleno. Nesse momento, eu
desapareço de mim mesmo, eu era o devir; mas ele, tornara-se o próprio horror que crescia no horizonte, tornei-me uma existência
cujo “passado” é o horror e cresce até ser, também, o presente, isto é, o abismo pleno ou o nada. Sentir a morte no passado que
transcende para o presente e futuro; fui do homem ao lagarto no puro desespero e tensão, virei uma coisa, tudo menos homem.
Aquela coisa sem nome, movendo-se, descolada de seu contexto, e somente por isso, eu pude saber que o inenarrável, quase
inexistente, avançava em minha direção, expelindo baforadas de gases cinzentos e mortais em meio a sons maquinais, uma visão
aterradora. Nesse momento, eu me encolho no chão grunhindo, mijado inteiro, pelo mais absurdo e sublime sentimento de vazio, um
pisar em falso no abismo, um morrer sem a morte.
Neste momento, enquanto eu gritava como um porco que acredita ter chegado a hora de subir à mesa de jantar, o reflexo do sol bate
em meu rosto, neste instante, entre o choque causado pela coisa e minha visão ouso nome-ala: “meu deus!” e no mesmo instante,
como que numa engrenagem os pontos monstruosos da coisa passam a metamorfosear em outras coisas, menos terríveis; aqui, o
futuro e o passado entrariam em sincronia novamente, e um a um eu reconheceria cada detalhe daquela coisa: sua pele escura daria
lugar à um cinza metálico, notaria, como mágica, que pequenas linhas de cores diferentes apareceriam e no entrelaçamento das linhas
reconheceria o símbolo da prefeitura, suas patas negras ganhariam um contorno circular e em vez de pesadas e lentas passariam a
deslizar sobre o asfalto, os olhos seriam as janelas e as baforadas terrível seriam a boa e velha poluição jogada ao ar, por fim, eu
notaria, já meio sem graça, um homem la dentro, no volante, me esperando.
Então, com um sorriso incrédulo, eu perceberia que ao invés de um monstro, ali estava algo quadrado, feio, amassado e desamassado
de todas as formas possíveis, pulsando – vrum, vrum, vrum, um ônibus! Subo sem graça, naquele ambiente frio, todas as pessoas
imersas em seus próprios devaneios, ninguém sequer reparou em mim, piso sobre o chão de metal, entulhado de restos de comida,
procuro meio que em vão um assento, a cidade berrando lá fora, lá dentrobancos cinzas e laranjas, mas almejo o laranja, e lá está ele
vazio como que me esperando, sento, e olho.
Do sofá, descubro que chegaria, assim, ao meu destino, mais ou menos 9:30, se saio daqui às 8:10, para chegar ao ponto às 8:19 e
conforme o passado se mostrou, pegaria o ônibus às 8:20 e encontraria eu mesmo às 9:30. Volto ao presente, me aconchego no
passado para descansar o tempo que ainda tenho pela frente.