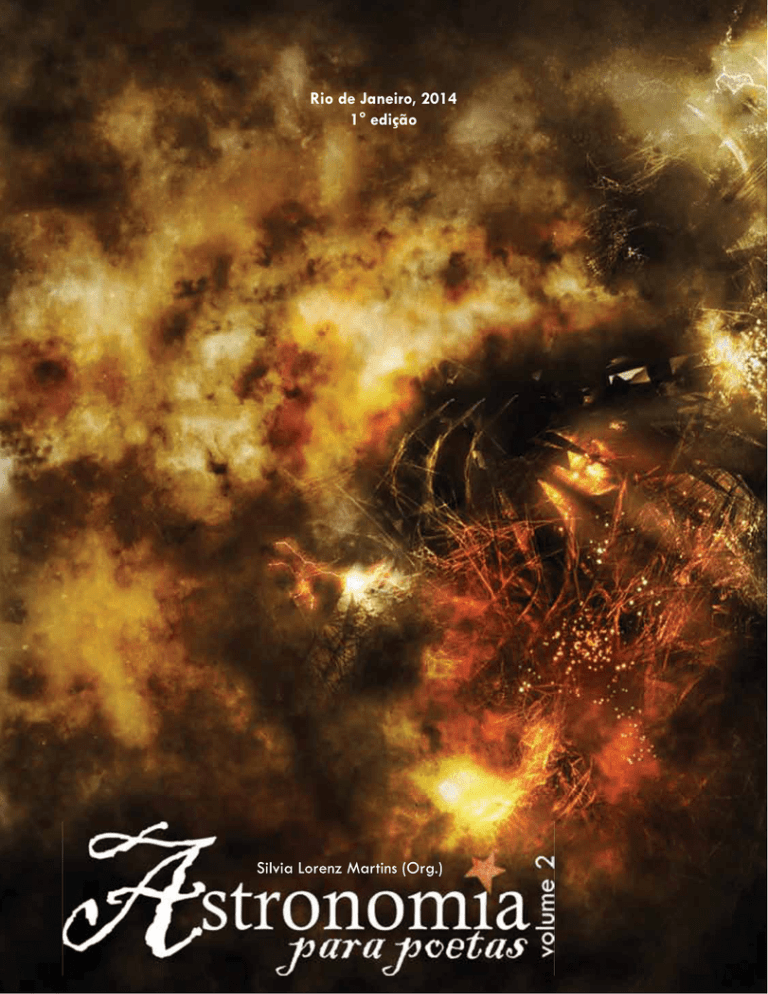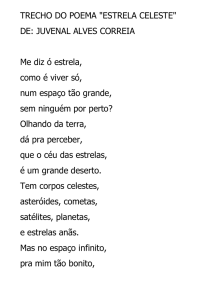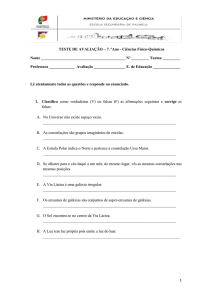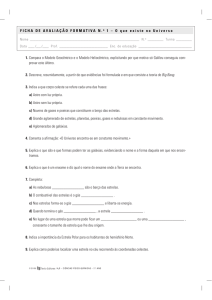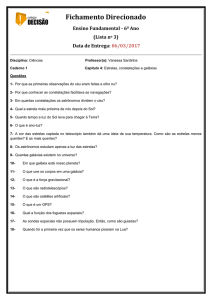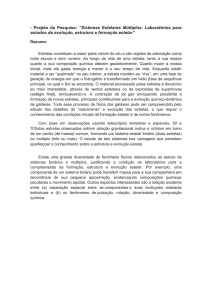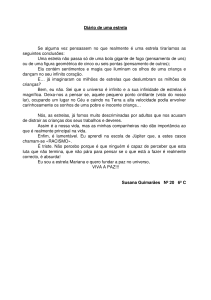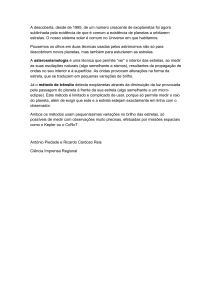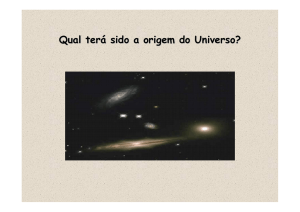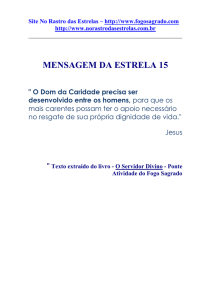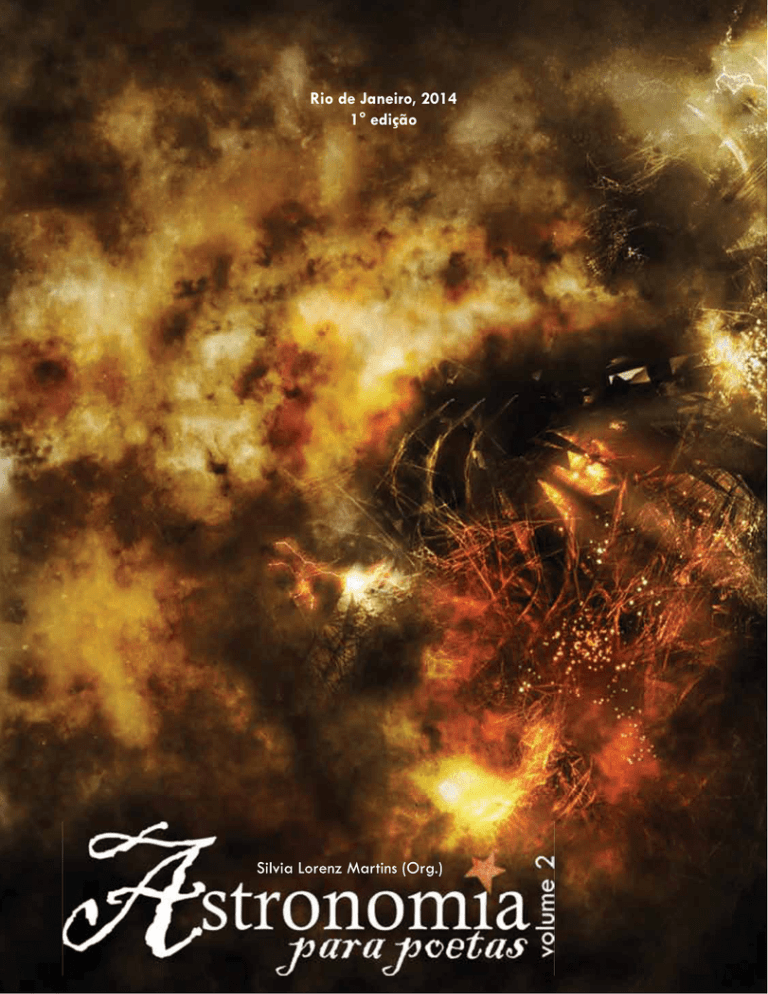
Rio de Janeiro, 2014
1° edição
Silvia Lorenz Martins (Org.)
fotos de capa e aberturas de capítulos: http://www.maxisciences.com/univers/wallpaper
Sumário
Teoria da Relatividade Geral
05
História das Mulheres Astrônomas
13
Como Morrem as Estrelas? Em Espetáculos de Rara Beleza
19
Alquimia Estelar
31
A Fundação de Observatórios e o Ensino de
Astronomia no Rio de Janeiro
35
O Universo Distante
41
O Universo em Grandes Escalas
49
Expedições Astronômicas no Segundo Império
55
Interestelar: o Espaço Entre as Estrelas é Realmente Vazio?
61
Telescópios: Observando a História do Universo
69
Ventos Estelares
75
“Ora ( direis ) ouvir estrelas!
Certo, perdeste o senso!
E eu vos direi, no entanto
Que, para ouví-las,
muitas vezes desperto
E abro as janelas, pálido de espanto “
Assim inicia a mais famosa poesia de língua portuguesa que fala do amor por estrelas escrita
por Olavo Bilac. Nela o autor conversa com a Via Láctea. Astronomos não conversam com as estrelas
mas certamente as ouvem e entendem. Medidas cada vez mais precisas mapeiam e localizam nosso
endereço no Universo. Outras anuciam a descoberta de novos sistemas planetários ou a descoberta
de moléculas orgânicas complexas no Meio Interestelar. Sondas enviadas à planetas do nosso sistema
solar evidenciam inúmeras semelhanças entre eles e a Terra. Outras traçam o ínicio do nosso sistema
solar a partir de medidas feitas in loco nos cometas. A poesia está aí, em cada uma dessas descobertas
e nas imagens cada vez mais belas obtidas por telescópios espaciais e terrestres.
Esse é o segundo volume da revista Astronomia para Poetas, dando continuidade a um projeto iniciado em 2002 cujos textos encontram-se disponíveis em nossos site (www.ov.ufrj.br). Além
dessas duas rodadas iniciais, ambas em 2002, outras duas foram feitas: uma em 2009 e outra em 2011,
originando o primeiro volume da revista Astronomia para Poetas. Em 2009, as palestras integraram as
comemorações pelo Ano Internacional de Astronomia escolhido como um marco para compartilhar
com o grande público os mais belos e interessantes resultados do estudo do Universo. O ano de 2009
não foi escolhido ao acaso, nesse ano foi celebrado o primeiro uso astronômico de um telescópio por
Galileu Galilei – uma invenção que desencadeou 400 anos de incríveis descobertas astronômicas. A
Casa da Ciência-UFRJ acolheu nossas palestras e também a exposição de mesmo nome onde imagens
e textos explicativos de diversos objetos estelares foram apresentados.
Em 2011, a comemoração foi outra: o Observatório do Valongo-UFRJ completou 130 anos
desde a sua fundação no morro de Santo Antônio ainda como observatório da Escola Politécnica. Com
o desmanche do morro, todos os instrumentos foram transferidos para o morro da Conceição, onde o
observatório passa a se chamar inicialmente Observatório do Morro do Valongo. Naquela ocasião o
local escolhido para levar “nosso” Universo foi a ilha da Cidade Universitária, no Centro de Ciências
da Terra e da Natureza, onde além dos seminários montamos a exposição “130 anos de história do
Observatório do Valongo”.
Nessa quinta rodada, com novos temas, fomos convidados a apresentar as palestras na Biblioteca Comunitária da Prainha, inaugurando esse espaço comunitário localizado no Morro da Conceição. Assim nasceu esse volume. Convido-os a ouvirem e se apaixonarem, não somente por estrelas
mas pelo nosso Universo como um todo. Para isso não é necessário ser astrônomo.
Agradecimentos a CoordCOM em especial a Anna Bayer pela produção da revista e a Fortunato Mauro pela edição.
Silvia Lorenz Martins
Teoria da
Relatividade Geral
Alexandre Lyra de Oliveira
Professor Adjunto do Observatório do Valongo da UFRJ
Doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)
([email protected])
A
ntes do tema principal deste texto, que é a Teoria da
Relatividade Geral, é conveniente iniciarmos escrevendo
sobre a Teoria da Relatividade Especial. Ambas foram criadas
pelo físico teórico alemão Albert Einstein (1879-1955). Sua
elaboração foi de forma sucessiva, inclusive a dedicação
exclusiva de Einstein à Teoria da Relatividade Geral o deixou sem
tempo para se dedicar à Mecânica Quântica, para a qual, também, deu
grandes contribuições. Einstein foi um físico que virou personalidade
conhecida do grande público, quer por suas posições pacifistas, quer
por suas teorias físicas. O intervalo de tempo envolvido na criação das
duas teorias relativistas foi longo, mais de uma década. A Teoria da
Relatividade Especial foi criada em 1905, já a Teoria da Relatividade
Geral chegou a sua elaboração final somente em 1916.
1-Equações matemáticas para escrever as leis da Natureza
A descrição que a Física faz dos fenômenos naturais através
de equações matemáticas permite que a partir da suposição de que
esse comportamento é sistemático, possamos prever os acontecimentos
futuros com exatidão. As equações nos fornecem uma maneira objetiva
de descrever os fenômenos. Diz-se que a Matemática é a linguagem da
Física. Ao resolvermos as equações, obtemos, a partir de um conjunto de
valores fornecidos, outros valores das grandezas que desejamos prever.
Algumas equações fornecem diretamente os valores a serem medidos
pelos experimentos, já outras, como no caso da Mecânica Quântica,
predizem as probabilidades das medidas, e não os valores exatos.
Figura 1: Sir Isaac Newton (16431727), criador da Primeira Teoria
da Gravitação.
2-A jornada começou com a Teoria da Relatividade Especial
Essa teoria foi construída por Einstein estabelecendo-se que
a velocidade da luz é uma velocidade muito especial da Natureza,
é considerada invariável e igual a 299.792.458 m/s, e independe de
estarmos ou não nos movendo em relação à fonte que a originou. A
Mecânica de Isaac Newton não assume esse fato. Os resultados de
medidas previstos pela teoria de Einstein são muito diferentes dos
previstos pela teoria Newtoniana. São previstos os efeitos de dilatação
do tempo e de contração do comprimento. Por exemplo, considerando
5
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
E=m.c²
o movimento de uma partícula, quanto mais próxima da velocidade
da luz é a sua velocidade, maiores serão esses efeitos. A “dilatação do
tempo” é comprovada através de fatos ligados com a chegada dos raios
cósmicos e através de certos experimentos. Existem partículas que são
produzidas pelos raios cósmicos, e que nos chegam a partir do topo
da atmosfera, e que têm uma vida média muito curta. Mesmo que elas
viajassem com a velocidade da luz, o seu tempo de viagem previsto na
ausência da dilatação do tempo, seria cerca de 10 vezes maior do que
sua vida-média, o que não é possível.
Para velocidades muito altas, comparáveis com a velocidade
da luz, iríamos constatar que os relógios em movimento funcionam
mais devagar e as réguas encolhem. Na Física denominada “clássica”,
baseada nas equações de Newton, esses efeitos não são previstos. As
previsões da Teoria da Relatividade Especial coincidem com as previsões
da Física Newtoniana para velocidades muito menores do que a da luz.
A teoria criou uma nova entidade matemática, o espaço-tempo.
As equações da Teoria da Relatividade Especial têm a mesma
forma em qualquer referencial inercial, que são aqueles nas quais as leis
da Mecânica Newtoniana têm sua forma mais simples; por exemplo, nele
a Lei da Inércia se verifica. A passagem de um referencial para outro, na
Teoria da Relatividade Especial, é feita utilizando-se as Transformações
de Lorentz, e com isso ela também mantém invariante as equações do
Eletromagnetismo, o que não ocorre com a Física Newtoniana, que é
baseada nas Transformações de Galileu. A velocidade relativa entre
dois referencias inerciais é constante, sem aceleração. Já no caso de
transformações entre referenciais não inerciais, a forma das leis será
modificada. Esse fato se tornou um problema para Einstein: quais são as
transformações que incluiriam também os referenciais não inerciais? A
solução para esse problema somente viria com a Teoria da Relatividade
Geral. Porém na nova teoria ele trabalharia 11 anos até conseguir a sua
forma final.
3-Como generalizar a Teoria da Relatividade Especial?
Quando Einstein, em 1905, concluiu a Teoria da Relatividade
Especial, alterou o entendimento que se tinha sobre o espaço e sobre o
tempo. Com ela, e com a Mecânica Quântica, que estava emergindo, a
Física começava a passar pela grande revolução científica do início do
Século XX. Essa revolução continuaria com a elaboração final da Teoria
da Relatividade Geral, em 1916, e prosseguiria ao longo do século.
Após a elaboração da Teoria da Relatividade Especial, ficou
explícita a sua incompatibilidade com a teoria de Newton da Gravitação,
o que levou Einstein à busca de uma nova teoria gravitacional que
estivesse em acordo com a Teoria da Relatividade Especial. Entre
1907 e 1911 Einstein utilizou o Princípio da Equivalência para a sua
formulação, e buscou modificações das equações da Física Clássica,
Newtoniana, que fossem compatíveis com a Relatividade Especial.
Figura 2: O famoso experimento imaginário do elevador de Einstein: em campos
gravitacionais homogêneos não conseguimos distinguir se estamos em elevador
acelerado ou em um campo gravitacional.
No transcurso das suas pesquisas foi fundamental a descoberta
da Matemática desenvolvida nos séculos anteriores, por Riemann,
Ricci, Levi-Civita, Christoffel e outros. Na realidade foi o seu amigo
e colaborador, o matemático Marcel Grossman, quem levou Einstein,
em 1912, ao conhecimento dos trabalhos desses matemáticos. Com
Grossmann, Einstein, entre 1912 e 1914, já estava construindo a sua
teoria, a qual utilizava agora o tensor métrico “g” ao invés do potencial
newtoniana Ø, que vinha sendo utilizado anteriormente em equações
que buscavam a generalização da teoria de Newton. Esse tensor “g”
pode ser entendido inicialmente apenas como uma matriz 4x4, pois os
tensores são objetos cujas componentes formam conjuntos ordenados.
Em 1913 foi escrito o primeiro trabalho de Einstein com
Grossmann, no qual utilizou o tensor métrico “g” para representar o
campo gravitacional. Já com a poderosa, e nova para aquela época,
ferramenta dos tensores, Einstein pôde dar o impulso final à teoria
que vinha construindo desde 1905. Nesse processo, além dos nomes
já citados, tiveram papel importante H. Minkowski, H. Poincaré, M.
Abraham e outros.
O Princípio da Equivalência é um dos alicerces da Teoria da
Relatividade Geral. Tal princípio trata da equivalência entre referenciais
acelerados e campos gravitacionais. Até hoje se discute o Princípio de
Equivalência, agora nas suas diferentes formulações pós-Einstein, já que
é considerado um dos princípios fundamentais da própria Física.
O famoso “elevador de Einstein” é uma forma de visualização
deste princípio; ele estabelece que, no caso de campos gravitacionais
homogêneos, uma pessoa em um hipotético elevador não distinguiria
se o elevador está subindo ou se existe um campo gravitacional para
baixo.
Além do Princípio da Equivalência o Princípio da Covariância
teve também papel fundamental na construção da nova teoria. Esse
princípio estabelece que as leis da Física devam ser formuladas de
maneira que sejam válidas em qualquer tipo de referencial, inclusive
com movimentos arbitrários. Esse princípio exigia que na formulação da
teoria gravitacional de Einstein fossem utilizados tensores.
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
²c.m=E
8
4-A Teoria da Relatividade Geral
Várias tentativas foram feitas nos anos que
precederam a formulação final da teoria. Em
fins de 1915, Einstein apresentou a sua
nova teoria, mas foi em março de
1916 que publicou na famosa
revista alemã Annalen der Physik,
o trabalho, com mais de 50 páginas,
“Os Fundamentos da Teoria Geral
da Relatividade”.
A teoria é elaborada através
de tensores, podendo ser escrita na forma
G = - k T, que é uma maneira de representar
um conjunto de 10 equações. A teoria escrita nessa
forma não tem a famosa constante cosmológica Λ, cuja
existência foi tão discutida na Física. Na equação acima, G
é o conhecido tensor de Einstein que representa a
curvatura da Geometria do espaço-tempo, e T é
o tensor energia-momentum, que representa, nas
suas diversas formas, a matéria no espaço-tempo,
e k é uma constante com dimensões adequadas
ao sistema de unidades utilizado. Numa região na
qual não há matéria, T é um tensor nulo, e numa
região onde há matéria altamente concentrada,
por exemplo, como em estrelas de nêutrons, T
é muito grande, já que a constante k é muito pequena. As
equações completas da teoria também recebem o nome
de Equações de Einstein-Hilbert, porque a partir de 1915
o famoso matemático alemão David Hilbert se interessou
pela teoria que Einstein construía. Em 20 de novembro
de 1915, em Göttingen, Hilbert obteve as
equações finais da teoria, alguns dias
antes de Einstein obtê-las, o que o
fez em 25 de novembro em Berlim.
Hilbert, entretanto, as elaborou
usando os métodos variacionais
da Matemática, diferentemente do
método físico de Einstein.
A
teoria
permite
que
encontremos os valores previstos pela
teoria de Newton e, além disso, suas
previsões vão além da teoria Newtoniana.
Por exemplo, o movimento dos planetas é
previsto com exatidão muito maior que a
teoria de Newton, como é o caso da órbita do
planeta Mercúrio. O resultado previsto para Mercúrio foi um
dos pontos importantes para a aceitação da teoria de Einstein.
Albert Einstein
A previsão da existência das ondas gravitacionais foi feita
em 1916. Einstein descobriu que da mesma forma que se têm ondas
eletromagnéticas, a sua Teoria da Gravitação também tem as soluções
de ondas, que se propagariam com a velocidade da luz, chamadas
de ondas gravitacionais. Até hoje há uma busca incessante, pelos
pesquisadores, de evidências observacionais dessas ondas.
No corrente ano (2014), um grupo de pesquisadores, em
um observatório na Antártida, divulgou que haviam detectado ondas
gravitacionais do Big Bang. Entretanto esse resultado, segundo o
trabalho publicado em junho de 2014, ainda necessita de novas
pesquisas observacionais para sua confirmação.
A primeira solução exata das equações de Einstein foi feita
por Karl Schwarzschild, e ficou sendo conhecida como a solução
de Schwarzschild, publicada em 1916. É uma solução estática, com
simetria esférica. Teve uma importância enorme no estudo das órbitas
dos planetas previstas pela Teoria da Relatividade Geral,
assim como na previsão dos buracos negros, e abriu
uma área de pesquisa na teoria que até hoje produz
resultados importantes: por exemplo, o trabalho
recentemente publicado por Steven Hawking, sobre a
Mecânica Quântica do buraco negro.
A famosa constante cosmológica foi colocada por Einstein
nas suas equações ao aplicar sua teoria à Cosmologia. Einstein
imaginava que o Universo seria finito, de curvatura positiva,
estático, e com certo raio. Para que obtivesse esse resultado
teve que adicionar às suas equações a famosa constante
cosmológica Λ. Posteriormente ele concluiu que havia
sido um grande erro; entretanto, a Física de hoje voltou
a considerar modelos com a constante
cosmológica.
5-Uma teoria cosmológica
A primeira aplicação
da teoria de Einstein à
Cosmologia foi feita pelo
próprio
Einstein,
assim
criando o seu primeiro modelo
cosmológico. Esse modelo é
conhecido como o Universo Estático
de Einstein e foi publicado em
1917, em um trabalho que tratou
também da Constante Cosmológica.
O modelo de Willem De Sitter
também foi publicado no ano de
1917, descrevendo um Universo
em expansão, sem conteúdo material,
9
Cegueira
Poucos são aqueles
que vêem
com seus próprios olhos,
e sentem
com seus próprios corações,
e pensam
com suas próprias mentes. . .
e quem já não pode pausar
a se perguntar
e ficar extasiados com temor,
é tão bom como morto;
seus olhos estão fechados.
Poesia atribuída a Einstein
10
Figura 6: Exemplos de Geometrias de 2-dimensões.
As duas de cima são curvas a terceira é plana.
plano. Com esse trabalho iniciavam-se as soluções cosmológicas de
“universos em expansão”.
Em 1922 foi publicado, pelo físico russo Alexander Friedmann,
o modelo de Universo homogêneo e isotrópico com curvatura positiva,
já o de curvatura negativa foi publicado em 1924. A descoberta dos
“redshifts” de galáxias por Vesto M. Slipher em 1917 juntamente com
a usual interpretação da famosa Lei de Hubble de 1929, levaram ao
estabelecimento definitivo dos modelos de universos em expansão.
Em 1931 o próprio Einstein elaborou um modelo de Universo que se
expandia e depois se contraía, rejeitando o seu Universo Estático, pois
as observações indicavam universos em expansão.
Avançando um pouco no tempo, já nos anos 1940 do século
passado, um aluno de Friedmann, George Gamow, com o seu grupo de
pesquisadores, desenvolveu um modelo de Universo quente e denso na
sua fase inicial. Em 1949 Fred Hoyle criou a denominação Big Bang. O
grupo de Gamow previu a existência do que hoje chamamos de Radiação
Cósmica de Fundo, que em 1965 foi confirmada observacionalmente.
Ao longo de vários anos de pesquisa esse modelo foi sendo
aperfeiçoado e hoje em dia temos o Modelo Cosmológico Padrão, que é
baseado na Teoria da Relatividade Geral de Einstein. A enorme aceitação
do modelo se deve em parte à verificação, em 1965, da previsão da
Radiação Cósmica de Fundo. Entretanto foram também identificadas
várias dificuldades, ou mesmo inconsistências do modelo, que passou
a ser revisado criticamente. Na tentativa de solucionar esses problemas
surgiu a Cosmologia Inflacionária com novas propostas. Hoje em dia o
Modelo Padrão incorpora previsões da Cosmologia Inflacionária.
6-Heranças de Einstein
O trabalho do físico Albert Einstein continua até hoje
repercutindo no desenvolvimento da nossa compreensão da Natureza.
Há uma frase que é atribuída a Einstein: “A coisa eternamente
incompreensível sobre o mundo é sua compreensibilidade”. Frase que
retrata a Ciência de nossa época, buscando decifrar os enigmas do
Universo desde a sua criação até a formação do Sistema Solar e da
Terra, a origem da vida e o estágio atual da evolução cósmica.
Einstein deu à Gravitação uma nova interpretação, a qual
revolucionou a Física e a nossa compreensão da Natureza, pois
introduziu a Geometria como um elemento fundamental para a
Gravitação e, consequentemente, para a compreensão das interações
fundamentais: ele elaborou um modelo físico-matemático para o
Universo. Beleza e simplicidade se efetivaram na sua Teoria Geral da
Relatividade, na qual uma equação relaciona Geometria com a matéria.
A busca incessante de Einstein por uma “Teoria do Campo Unificado”
prosseguiu até os seus últimos dias. Hoje em dia, em novos contextos,
prossegue como um desafio enorme para os físicos. Qual é a teoria que
unifica todas as interações?
No que se refere à unificação, podemos dizer que a Física
atual tem dois pilares, a Teoria da Relatividade Geral e a Mecânica
Quântica. A primeira foi criada por Einstein e, na segunda, ele também
desenvolveu importantes trabalhos. Ganhou o Prêmio Nobel de Física
em 1921 por seu trabalho na Física e em especial pela Lei do Efeito
Fotoelétrico. Sabemos que nas pequenas escalas a Mecânica Quântica
funciona razoavelmente bem, e nas grandes escalas, a Teoria da
Relatividade Geral é bastante satisfatória, entretanto, em pequenas
escalas a Teoria da Relatividade Geral fica incompatível com a Mecânica
Quântica. Buscam-se teorias que resolvam tal impasse. As famosas
Teorias de Cordas desenvolvem explicações para a constituição das
partículas fundamentais através de elementos discretos, “cordas”, ou
filamentos ultramicroscópicos, da ordem de 10-33 cm, que vibram em
espaços multidimensionais, por exemplo, de 10 dimensões espaciais e
uma temporal. Essas teorias tentam resolver o conflito entre a Mecânica
Quântica e a Teoria da Relatividade Geral. Porém há o problema que
ainda não existem evidências experimentais que confirmem as Teorias
de Cordas. Busca-se na Física por uma Teoria Fundamental em 11
dimensões, chamada Teoria M, onde o M pode ser de Matriz ou de
Mãe, com a proposta de ser a Teoria de Tudo.
Na Revolução Científica do século XX Einstein teve papel
fundamental. A Revolução prossegue até hoje em todas as áreas da
Ciência, e é estimulada por inúmeras novas descobertas, por exemplo,
na Astronomia e nas Partículas Elementares. Muitas ideias do físico
Albert Einstein continuam repercutindo até hoje na incessante busca
por uma maior compreensão da Natureza.
Poema da Curva
Não é o ângulo reto que me
atrai,
Nem a linha reta, dura,
inflexível,
criada pelo homem.
O que me atrai é a curva livre e
sensual,
A curva que encontro nas
montanhas do meu país,
no curso sinuoso dos seus rios,
nas nuvens do céu,
no corpo da mulher amada.
De curvas é feito todo o
universo.
O universo curvo de Einstein”
Poesia de Oscar Niemeyer
11
Hipácia de
Alexandria
capa do dvd de Ágora e cena do filme. Fontes: Wikipedia
Histórias de
Mulheres Astrônomas
Carlos Roberto Rabaça
Professor-adjunto do Observatório do Valongo da UFRJ
Ph.D. em Astrofísica pela The University of Alabama, EUA
([email protected])
A
primeira vez em que me propus a
pensar sobre o tema da mulher na
Astronomia foi quando recebi o
convite de uma amiga que trabalha
com cultura, mais especificamente
com teatro de rua, para falar sobre a vida singular de Hipácia de
Alexandria. Considerada a primeira mulher astrônoma, foi também
uma talentosa matemática, inventora e filósofa. Sua vida foi retratada
no filme “Ágora”, uma produção espanhola de 2009, dirigida com
competência por Alejandro Amenábar, o que facilitou a minha busca
por fatos ligados a sua história. Nascida provavelmente no ano 370,
viveu durante um momento de grande conturbação.
Hipácia teria sido criada por seu pai, Theon, o último diretor da
famosa Biblioteca de Alexandria, a universidade local, que a ensinou
Matemática, Ciências, Literatura, Filosofia e Artes - diz a lenda que ele
estava determinado a tornar sua filha um “ser humano perfeito”. Sua
beleza, graça e eloquência seriam tão fascinantes quanto sua sabedoria.
Mas Hipácia nunca se casou, optando por seguir a vida acadêmica.
Amada e admirada por seus alunos, escreveu muitos livros sobre
Matemática e Astronomia, e editou livros de seu pai.
Elbert Hubbard em seu livro “Jornadas às Casas dos Grandes”,
de 1928, escreveu que Hipácia supostamente teria afirmado o seguinte
sobre suas convicções religiosas: “O neoplatonismo é uma filosofia
progressista e não espera estabelecer condições finais para os homens,
cujas mentes são finitas. A vida é um desdobramento e, quanto mais
viajamos, mais verdades podemos compreender. Entender as coisas
que estão à nossa porta é a melhor preparação para compreender as
que estão além dela.” Embora sua filosofia fosse ligada à razão pura,
os primeiros cristãos identificaram isso como paganismo. Por isso, foi
cruelmente assassinada no ano 415 por uma turba de cristãos fanáticos,
formados por monges e seguidores do bispo Cirilo.
13
Hildegarda de Bingen
Fonte: Martyrologio Romano
14
Na ocasião do seu assassinato, a Biblioteca também foi invadida
e milhares de documentos foram queimados e perdidos para sempre,
destruindo todo o progresso científico e filosófico da época, inclusive
suas obras. Muito do que se sabe hoje sobre ela vem de cartas escritas
por seu aluno mais famoso, Sinésio de Cirene, que viria a se tornar o
rico e poderoso bispo de Ptolemaida. Para um colega de escola, Sinésio
escreveu sobre Hipácia: “Você e eu, nós mesmos vimos e ouvimos a
verdadeira e real mestra dos mistérios da Filosofia.” Sinésio teria mantido
contato com ela mesmo depois de deixar Alexandria, procurado-a para
aconselhar-se, obter críticas a poemas e a projetos de instrumentos
astronômicos, como astrolábios e planisférios.
Hipácia simbolizou o aprendizado e a Ciência, tendo sido a
primeira mulher cientista cuja vida foi bem documentada. Mas teria
sido sua vida singular uma exceção na Ciência? Não parece ser o
caso! Em geral, as histórias de mulheres na Ciência, e em particular na
Astronomia, são de muita dedicação e luta por reconhecimento.
Hildegarda de Bingen (1098-1179), por exemplo, era monja
beneditina e foi mestra do Mosteiro de Rupertsberg em Bingen am
Rhein, na Alemanha. Teóloga, compositora, pregadora, naturalista,
médica informal, poetisa, dramaturga e escritora, foi também a única
astrônoma no período medieval, época em que mulheres versadas eram
vistas como bruxas e condenadas a queimar em fogueiras, de quem
temos conhecimento. Seus vários e extensos escritos mostram que ela
possuía uma concepção mística e integrada do Universo.
Caroline Herschel (1750-1848) trabalhou muito próximo ao
irmão William Herschel, astrônomo que descobriu o planeta Urano e
fez contribuições pioneiras para o entendimento da estrutura em grande
escala do Universo. Nascida de uma família grande e com inclinação
musical em Hannover, na Alemanha, recebeu apenas educação formal
mínima, uma vez que se esperava dela cuidar da família. Em 1772,
mudou-se para a Inglaterra, para
cantar e auxiliar o irmão. Mas
somente o fez após obter dele a
promessa de pagar por uma serviçal
para substituí-la em Hannover. Ela
cozinhava e limpava sua casa.
Além disso, o auxiliava nos registros
das observações astronômicas, na
construção e polimento de espelhos
dos telescópios, nos cálculos e na
redação de artigos e catálogos. Em
1782, William deu a Caroline um
pequeno telescópio, para observar
o céu enquanto estava distante.
Em 1786, descobriu um cometa;
o primeiro dos oito que descobriu
ao longo de 11 anos. Também descobriu três nebulosas, incluindo a
companheira da galáxia Andrômeda. Pelo seu trabalho como “assistente
de astrônomo da Corte”, o rei da Inglaterra pagou-lhe uma pensão anual
de 50 libras. William eventualmente casou-se, liberando a irmã dos
afazeres domésticos. Ela continuou a assisti-lo com Astronomia, fazendo
suas próprias observações quando o tempo assim permitia. Em 1835, foi
uma das duas primeiras mulheres eleitas membro honorífico da Real
Academia de Ciências, da Inglaterra; “honorífico” porque mulher não
podia ser membro pleno.
Maria Mitchell (1818-1889) aprendeu a observar o céu com seu
pai, um ávido astrônomo amador. Empregada como bibliotecária no
Ateneu de Nantucket, nos E.U.A., teve bastante tempo para estudar os
livros de Astronomia da biblioteca enquanto observava o céu com o
telescópio instalado no telhado de sua casa. Em 1847, descobriu um
cometa que passou a ser conhecido como “Cometa de Miss Mitchell” nome oficial C/1847 T1. Por essa descoberta, recebeu do rei Frederico
VII da Dinamarca uma medalha de ouro que dizia: “Não é em vão
que observamos o nascer e o pôr das estrelas”. A medalha havia sido
oferecida há 16 anos pelo rei a primeira pessoa a encontrar um cometa
que não fosse visível a olho nu por ocasião de sua descoberta. Um ano
depois, foi eleita a primeira mulher membro da Academia Americana
de Artes e Ciências (passou-se 95 anos até a segunda mulher ser eleita!).
Em 1850, também tornou-se membro da Sociedade Americana para o
Progresso da Ciência. Em 1865, a despeito de não ter uma educação
formal, foi convidada a fazer parte do corpo docente do Vassar College,
tornando-se, assim, a primeira mulher americana a trabalhar como
astrônoma profissional. Devotou o resto de sua vida a preparar alunos
para os recém formados programas de pós-graduação naquele país.
Henrietta Swan Leavitt (1868-1921) fez a mais significativa
descoberta de todas as “mulheres computadores” do Observatório da
Universidade de Harvard, nos E.U.A. - cabia a mulheres, contratadas pelo
diretor Charles Pickering, fazer os cálculos pesados com dados colhidos
pelos verdadeiros astrônomos, todos homens! Depois de se formar em
Radcliff, ela entrou para o Observatório como voluntária em 1895.
Suas qualidades e vivacidade permitiram-lhe ser admitida no quadro
de funcionários. Foi rapidamente nomeada chefe do Departamento de
Fotometria Fotográfica e tornou-se responsável pela catalogação de
estrelas variáveis, um trabalho que envolve a determinação do diâmetro
de estrelas em placas fotográficas tiradas em épocas distintas, com o
objetivo de definir seus brilhos aparentes. Ela descobriu e catalogou
1.777 estrelas variáveis situadas nas Nuvens de Magalhães, incluindo
20 variáveis Cefeidas (nomeadas assim em virtude de a primeira da
classe ter sido Delta Cefeida). Em 1912, descobriu que as variáveis
Cefeidas mais brilhantes tinham um maior período de variação do
seu brilho. Como todas as estrelas nas Nuvens de Magalhães estão
aproximadamente à mesma distância da Terra, ela percebeu que essa
variabilidade no período estava, de fato, diretamente ligada à diferença
Caroline Herschel
Fonte: Wikipedia
Maria Mitchell
Fonte: Wikipedia
Henrietta Swan Leavitt
Fonte: Wikipedia
Carolyn Jean
Spellman Shoemaker
Fonte: Wikipedia
16
na luminosidade intrínseca das estrelas e não apenas ao seu brilho
aparente - essa relação período-luminosidade foi a base primária que
permitiu aos astrônomos expandirem a escala de distâncias das estrelas
de meros 100 anos-luz até dezenas de milhões de anos-luz. Com isso,
Ejnar Hertzsprung determinou a distância de estrelas; Harlow Shapley
mediu o tamanho da Via Láctea; e Edwin Hubble desvelou a expansão e
a idade do Universo. Entretanto, não foi permitido a Henrietta continuar
seu trabalho com a nova relação estabelecida - ela não estava sendo
paga para aquilo, tendo de retornar ao tedioso trabalho de medir
diâmetros em placas fotográficas. Morreu ainda relativamente jovem, de
câncer, e somente podemos imaginar que outras contribuições poderia
ter dado à Astronomia.
Já à Carolyn Jean Spellman Shoemaker, nascida em 1929, cabe a
distinção de ter encontrado mais cometas do que qualquer outra pessoa
viva! Ela também descobriu mais de 800 asteroides, incluindo vários
NEO (Near Earth Objects), asteroides que passam relativamente próximo
à Terra. Sua paixão por cometas e asteroides começou em 1980, quando
seu marido, Eugène Shoemaker (1928-1997), tornou-se pesquisador
visitante em Astrogeologia no Serviço Geológico Norte-Americano, em
Flagstaff, no Arizona. Com graduação em História e Ciência Política,
decidiu não continuar seus trabalhos nesses campos. Seu marido, então,
passou a confiar a ela a observação do céu no telescópio de 46 cm
de Monte Palomar, durante sete noites por mês - excluindo o verão,
quando iam para a Austrália investigar locais nos quais ocorreram
quedas de meteoritos. O conjunto de descobertas e trabalhos realizados
por Carolyn e Eugène valeu-lhes o título de “Cientistas do Ano” da
Nasa, em 1995.
Poderia continuar a citar uma miríade de outras mulheres
astrônomas e suas histórias de dedicação e luta. Mas, para finalizar,
é fundamental falar de uma que é muito cara para nós brasileiros, por
ter sido a primeira astrônoma do nosso país. Yeda Veiga Ferraz Pereira,
nascida em 1925, foi contratada pelo Observatório Nacional, no Rio de
Janeiro, na década de 1950, oriunda da Escola Nacional de Engenharia.
Lá, trabalhou na observação cuidadosa e rigorosa do céu, visando a
publicação do “Anuário Astronômico” daquela instituição. Somente
mais tarde, em 1958, surgiu no país o primeiro curso de graduação em
Astronomia, na Universidade do Brasil, atual UFRJ. A partir da década
de 1980, com o crescente incentivo à pesquisa astronômica, o número
de mulheres astrônomas no país cresceu de maneira notável. Em 2008,
ao celebrar 50 anos, o curso de graduação da UFRJ havia formado 172
astrônomos, sendo 56 mulheres - ou seja, 33% dos seus formandos
são mulheres. Já a percentagem de mulheres na União Astronômica
Internacional tem sido monitorada por mais de uma década. Entre 1997
e 2009, permaneceu praticamente constante em 22%. Esses dados
demonstram claramente que é preciso reconhecer a existência de uma
diferença no número de homens e mulheres na Astronomia. Por uma
razão ou por outra, mulheres ainda parecem procurar menos as carreiras
científicas do que homens. E isso é uma característica que ocorre em
todos lugares no mundo. Então qual será a real origem de tal problema?
O astrônomo americano negro Neil deGrasse Tyson apresentou
o que considero ser a melhor resposta que alguém poderia dar à questão.
Perguntado se haveria diferenças genéticas entre homens e mulheres
durante o painel “A sociedade secular e seus inimigos”, que discutia
a compreensão pública da Ciência na Academia de Ciências de Nova
Iorque, em 2007, Tyson afirmou que, apesar de nunca ter sido mulher,
tinha sido negro por toda a sua vida e que, por isso, se sentia apto a
oferecer uma perspectiva sobre o tema do acesso a oportunidades em
uma sociedade dominada por homens brancos. Segundo ele, apesar de
ter tomado a decisão de ser astrônomo desde os nove anos de idade,
quando pela primeira vez visitou um planetário, teve de enfrentar diversas
barreiras para alcançar o seu objetivo final. “Onde estariam os outros
que, como ele, poderiam estar ali?” - questionou. Segundo ele, o fato
de encontrar menos negros e mulheres cientistas seria consequência de
forças sociais de resistência. “Antes de falar sobre diferenças genéticas,
é preciso criar um sistema no qual as oportunidades sejam iguais.” concluiu. Precisamos começar a discutir ainda hoje como estabelecer
essas oportunidades!
Yeda Veiga Ferraz Pereira
Fonte: Arquivo Pessoal
17
18
Como morrem as
estrelas?
Em espetáculos de rara beleza!
Denise Rocha Gonçalves
Professora-adjunta do Observatório do Valongo da UFRJ
Doutora em Astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e
Ciências Atmosféricas (IAG) da USP
([email protected])
À
semelhança de todos os tipos de seres vivos que conhecemos,
estrelas nascem, vivem e morrem. Ainda que nasçam e tenham
infância, juventude e madureza similares, na velhice e na morte as estrelas diferem muito, a depender essencialmente de suas
massas. E, contrariamente à visão atual que temos dos seres humanos, na velhice e na morte as estrelas são muito mais glamorosas do que
na juventude, daí o título. Veremos que o título é ainda mais verídico quando
comparamos estrelas gordinhas (massudas) e de mais baixa massa. Ambas
terminam de forma esplêndida.
Estrelas massudas evoluem mais rápido do que suas colegas com
menos massa. O que equivale a dizer que quanto mais massa, mais compulsivo o consumo do combustível original, o hidrogênio (H). O Sol passará
cerca de 11 bilhões de anos consumindo seu H (ou seja, através de fusão
termonuclear transformando-o em hélio, He), ao que chamamos sequência
principal, SP. Estrelas de cinco e 10 massas solares (Msol), por sua vez, terão
sequências principais de, apenas, 100 e 20 milhões de anos, respectivamente.
Essa fase da vida das estrelas termina pelo simples fato de que elas
deixam de possuir H no seu núcleo, portanto, já não podendo transformá-lo
em He. Por isso, imediatamente após a SP a evolução estelar também é qualitativamente similar para todos os tipos de estrelas: o consumo do H nuclear
necessariamente produz um núcleo de He (inicialmente inerte) em contração
(já que ao cessar a fusão nuclear também cessa a pressão que contrabalança
a gravidade) rodeado por uma camada externa na qual o H continua em
combustão. Essa estrutura interna vale tanto para estrelas de alta quanto de
baixa massa. A partir daqui, na velhice estelar, os caminhos de umas e outras
19
serão completamente diversos. Porém, desde já podemos adiantar que umas
e outras são velhinhas de rara beleza. E, morrendo de forma explosiva (como
supernovas) ou lentamente perdendo suas camadas externas para o entorno
– como nebulosas planetárias – fatalmente coroarão suas vidas com uma
morte espetacularmente bela!
Em poucas palavras, a vida das estrelas jovens
Antes de falar da velhice estelar, e dado que já deixamos claro que,
excetuando-se o tempo que permanecem em cada das fases, a vida de todas
as estrelas é similar até que deixem a SP. Vamos dar uma rápida olhada em
como as estrelas nascem e evoluem até que consumam seu H nuclear.
Tabela 1: Do nascimento à SP (o Sol)
Tempo até a
próxima fase
(Anos)
20
Temperatura Temperatura
central (K) superficial (K)
Densidade
central
(Partículas/
m3)
Diâmetro
(Dsol)
2 x 106
3 x 104
105
10
100
10.000
10
10
100
109
1012
1018
7 x 107
7 x 105
7 x 103
106
107
3 x 107
1010
1.000.000
5.000.000
10.000.000
15.000.000
3.000
4.000
4.500
6.000
1024
1028
1031
1032
70
7
1,4
1
Objeto observável
Nuvem interestelar
Nuvem fragmentada
Nuvem
fragmentada/
protoestrela
Protoestrela
Protoestrela
Estrela
Sequência Principal
A Tabela 1 reúne as várias fases que levam à formação das estrelas destacando as características observacionais de cada fase. Nela lista-se o
tempo de uma fase para a subsequente, as temperaturas, tanto no centro da
estrutura em questão quanto na sua superfície, as densidades e os tamanhos.
Note-se que nessa tabela denotamos os tamanhos em unidades de diâmetros
solares (Dsol), na próxima a medida será raios solares (Rsol). Essa tabela diz
mais ou menos o seguinte: I) o berço das estrelas é o meio interestelar ou as
nuvens moleculares frias quando começam a colapsar, devido à autogravidade; II) ao longo do colapso fragmentos das nuvens vão se aquecendo até
chegar ao ponto em que suas zonas mais centrais tornam-se suficientemente
quentes, aptas para a ignição de reações termonucleares; III) nesse ponto a
contração é freada (pela pressão das reações nucleares) e nasce a estrela;
IV) essa estrela, identificada com o nosso Sol, passará aproximadamente 11
bilhões de anos na SP.
O responsável pelo equilíbrio da estrela na SP é o balanço entre a
gravidade (que propicia colapso) e a pressão interna (que propicia expansão).
Uma vez que já não haja pressão interna no núcleo, fim da SP, esse equilíbrio desaparece, causando importantes modificações na estrutura interna
e na aparência das estrelas. Para estudar as várias fases da vida das estrelas
é crucial entender que é justamente esse equilíbrio que determina os vários
estágios de evolução das mesmas.
Seguindo na sequência dada pela Tabela 1, agora que a estrela deixou a SP, ela definitivamente entra em fase terminal e as características da
morte dependem crucialmente de sua massa. Estrelas morrem catastroficamente ou de maneira mais suave. As estrelas massudas têm massas superiores
a 8 Msol, enquanto que as de baixa massa, ou tipo solar, possuem menos de 8
Msol (em um estudo detalhado aprende-se que existem diferenças importantes
dentro desses grupos).
E, afinal, como morrem as estrelas de baixa massa?
Agora somente considerando estrelas tipo solar vemos os eventos
principais até a morte definitiva da estrela como anã branca, ou melhor, anã
negra. A Tabela 2 trás as características dessas fases, e cada delas será discutida detalhadamente a seguir.
Ao sair da SP o núcleo da estrela compõe-se de He inerte. Esse somente poderá ser transformado em outros elementos se a temperatura nuclear
for superior a aproximadamente 108K. De fato, a camada que circunda tal
núcleo – e composta por H – começa a ter reações nucleares antes do núcleo
inerte de hélio, já que essa está a uma temperatura superior aos 107K, necessários para ignição do H. A queima do hidrogênio acontece, então, não no
centro da estrela, mas em um “anel” que o circunda. A transformação H-He
nessa camada é mais rápida do que o processo similar no núcleo durante a
SP, por isso, apesar de ter um núcleo inerte, nesse estágio a estrela cresce em
luminosidade.
Mas a estrela está completamente fora do equilíbrio. A transformação H-He no anel é cada vez mais rápida e a pressão que advém dessa alta
taxa de produção de He faz com que a camada se expanda, ou seja, com que
a estrela cresça. Enquanto isso o núcleo de He continua em contração, com
consequente aquecimento, portanto a estrela é uma composição de núcleo
em contração e aquecimento e camadas externas em expansão e esfriamento. Essa estrela subgigante expandiu-se até 3Rsol. O processo continua dessa
vez com forte aumento na luminosidade estelar e, ao transformar-se em uma
gigante vermelha, a estrela já tem aproximadamente 100 Rsol e umas 100 luminosidades solares (Lsol).
Essa situação de desequilíbrio não pode durar pra sempre... Quando o núcleo da estrela torna-se tão denso quanto 108kg/m3 e sua temperatura
ultrapassa aquela da ignição da fusão do He, reinicia-se a queima desse gás
no núcleo da estrela. Dessa vez, no entanto, não se aplica o comportamento
que vimos antes, ou seja, de que a pressão aumentaria devido ao aumento
de temperatura e contrabalançaria a gravidade. Assim, a pressão do núcleo
é anômala por possuir um gás de elétrons comprimidos a tão alta densidade que já não suporta mais compressão. A pressão, que é independente da
temperatura, é conhecida como pressão dos elétrons degenerados. Nessas
condições, mesmo com o crescimento da taxa das reações de queima do
He, a pressão quase não muda e a temperatura cresce tão abruptamente que
21
Tabela 2: da SP à morte (estrelas de baixa massa - tipo solar)
Tempo até a
próxima fase (anos)
1010
108
105
5 x 107
104
Temperatura
central (K)
15 x 106
5 x 107
108
2 x 108
2,5 x 108
Temperatura
superficial (K)
6.000
4.000
4.000
5.000
4.000
Densidade
central (kg/m3)
105
107
108
107
108
Diâmetro (R sol )
Objeto observável
1
3
100
10
500
105
3 x 108
─
─
100.000
10.000
1010
10-17
0,01
1.000
─
100
50.000
1010
─
~0
~0
1010
* Esses valores dizem respeito ao envoltório que caracteriza a nebulosa.
0,01
0,01
seqüência principal
sub-gigante
flash de hélio
ramo das gigantes
ramo assintótico
das gigantes
núcleo de carbono
nebulosa
planetária*
anã branca
anã negra
22
causa a queima explosiva do hélio (o flash do He). Depois de algum tempo
(da ordem de horas) nesse processo explosivo, o núcleo finalmente retoma
sua condição de pressão térmica, com a recuperação das condições de equilíbrio, expansão nuclear e queda de densidade. Em suma, o efeito líquido do
flash de He é tal que ocorre um rearranjo na estrutura da estrela de forma que
o equilíbrio é reestabelecido e essa passa a transformar He em C (carbono)
no núcleo, como esperávamos. A camada que circunda o núcleo estelar está,
simultaneamente, fundindo H em He. A essa estrela denominamos estrela
do ramo horizontal.
Devido à fusão do He em C, surge então um núcleo composto de
carbono. Aquele é consumido e, porque se torna escasso, o núcleo deixa de
produzir C. Portanto, o núcleo se contrai e se aquece levando ao crescimento da taxa de queima de He e H nas camadas que o rodeiam. A estrutura
da estrela, de dentro para fora, compõe-se de um núcleo inerte de C (em
contração), uma camada de transformação He-C e uma camada de H-He.
Seu envoltório mais externo constitui-se também de matéria inerte. Essa zona
externa se expande e a estrela volta a ser uma gigante vermelha – também
conhecida pelo nome de estrela do ramo assintótico das gigantes (AGB). Luminosidade e raios voltam a superar aqueles do flash do He e, por isso, também a denominamos super gigante vermelha.
Durante a trajetória até o ramo assintótico das gigantes as camadas
mais externas das estrelas expandem-se ao mesmo tempo em que o núcleo
se contrai. Quando a temperatura nuclear torna-se suficientemente alta para
a ignição das reações de queima do C (sintetizando elementos ainda mais
pesados) é que o equilíbrio da estrela volta a ser recuperado. Nesse tipo de
estrela (de baixa massa) a temperatura jamais será tão alta para que essa fase
de fusão nuclear possa ocorrer, ou seja, para que haja queima do C. Na
tentativa de chegar à ignição do C, a densidade nuclear cresce até um limite
tão alto que seus elétrons nucleares tornam-se degenerados, sua temperatura
para de crescer e a contração é freada. Essa estrela é sim capaz de sintetizar
oxigênio (O), por causa das reações do C com o He na fronteira da camada
composta de hélio.
A fase terminal das estrelas de baixa massa: as nebulosas planetárias
O que são e porque tem esse nome
Uma nebulosa planetária compõem-se por gás e poeira que circundam uma estrela do tipo solar na fase terminal da sua vida. Essa estrela, a
estrela central da nebulosa planetária, ilumina a nebulosidade ao seu redor,
que por sua vez é observada em todas as zonas do espectro eletromagnético, desde rádio até raios X. Comparadas com as estrelas que emitem numa
banda de luz contínua (luz branca), as nebulosas planetárias emitem sua luz
em bandas muito mais estreitas, ou seja, em linhas de emissão (luz discreta
com diferentes cores). Por isso são facilmente identificadas no céu quando se
utiliza um telescópio contendo um prisma, produzindo seu espectro.
Data de 1764 a primeira vez em que se observou uma nebulosa
planetária, a Nebulosa dos Halteres. Essa observação foi seguida por aquela da Nebulosa do Anel (M57), em 1779. O observador, Antoine Darquier,
descreveu-a como “pouco brilhante, mas com contornos bem definidos... É
tão grande quanto Júpiter, parecendo-se com um planeta tênue”. O termo
“nebulosa planetária” (NP) foi-lhe atribuído por William Herschel, dadas as
suas similaridades com os discos esverdeados de planetas como Urano e
Netuno, assim separando-as das nebulosas brancas formadas por estrelas, ou
seja, das galáxias.
Quando observada com baixa resolução espacial, uma NP parece
redonda e poderia assemelhar-se a um planeta, daí o nome tão equivocado.
Por outro lado, com grande resolução espacial vê-se claramente que essas
Figura 1: NGC 6543, Cat’s Eye
Nebula (Nebulosa do Olho do
Gato), obtida com o telescópio
de 2.56m NOT, por R. Corradi
e D. R. Gonçalves (em 2002). A
imagem, captura a emissão dos
átomos de nitrogênio uma vez
ionizado [NII] (vermelho) e dos
átomos de oxigênio duas vezes
ionizado [OIII] (verde e azul). A
dimensão da imagem é de 3,2 x 3
minutos de arco. O processamento da imagem destaca detalhes da
parte interna brilhante revelando
simultaneamente os tênues anéis
concêntricos e o halo filamentar.
23
são constituídas por muitas e variadas estruturas. Mas, o que são essas estruturas? A nebulosa do Olho de Gato, por exemplo, compõem-se de uma
grande variedade de estruturas simétricas, as quais incluem: um halo filamentar extenso; vários anéis concêntricos; um par de jatos e um complexo
conjunto de anéis em seu núcleo (NGC 6543, Figura 1). Em particular, o
conjunto de cascas nebulares no coração de NGC 6543 tem uns mil anos
de idade. Contornando esse núcleo encontram-se uma série de anéis concêntricos (“azuis”), cada um desses anéis está no limite de uma bolha de gás
em expansão expelida da estrela central em intervalos regulares de uns 1.500
anos, sendo que o primeiro ocorreu há uns 18.000 anos. Já os filamentos
Figura2: Montagem de nebulosas planetárias observadas com o HST. M 2-9,
A montage of images of planetary
with theAs
Hubble
Space
Telescope.
These
illustrate
imagem nebulae
grande àmade
esquerda.
imagens
menores,
de cima
para
baixo, da esthe various ways in which dying stars eject their outer layers as highly structured nebulae. Credits:
querda para a direita correspondem a: NGC 6826; MyCn18, Hourglass Nebula,
Bruce Balick, Howard Bond, R. Sahai, their collaborators, and NASA.
24
ou Nebulosa da Ampulheta; NGC 3918; CRL 2688, Egg Nebula ou Nebulosa do
Ovo; NGC 6543, Cat’s Eye Nebula ou Nebulosa do Olho de Gato; Hubble 5;
NGC 7009, Saturn Nebula ou Nebulosa do Saturno; Red Rectangle Nebula ou
Nebulosa do Retângulo Vermelho; NGC 7662, Blue Snowball ou Bola de Neve
Azul. Crédito: Muitas das imagens acima são de B. Balick e colaboradores. A
maioria das demais encontram-se no sítio Space Telescope Science Institute.
mais externos (“verdes”) datam, no máximo, de há uns 60.000 anos. A massa
do material estelar dessa nebulosa deve ser similar à massa do Sol.
Ventos estelares
Agora queremos entender o processo de formação das nebulosas
planetárias, ou seja: o que faz com que estrelas com núcleo de C se transformem em NP no seu caminho até sumirem como anãs negras (ver Tabela 2)?
Como já visto, quando a estrela entra no ramo assintótico das gigantes o seu núcleo já não queima H nem He e compõe-se do que sobrou
das combustões anteriores, ou seja, de C e O. Nessa fase, e por um período
de aproximadamente um milhão de anos, a estrela continuará seu processo
de expansão, ao mesmo tempo em que sua luminosidade crescerá, alçando
valores de 1.000 Lsol. Os ventos estelares presentes nessa (ou seja, os ventos
que ocorrem numa AGB e numa pós-AGB, englobando as fases AGB, proto
planetária e NP) gradualmente expulsam o gás das camadas mais externas
da estrela, deixando exposto o núcleo quente. O que sobra dos ventos estelares é a própria NP (o envoltório estelar que se desprendeu da estrela).
Assim, aquela que denominamos a estrela central de uma NP é justamente
a estrela da qual estivemos “acompanhando” a evolução, nas Tabela 1 e 2.
Quando cessa a combustão nas camadas externas, a estrela perde seu brilho
e transforma-se em uma anã branca, cujas características encontram-se ao
final da Tabela 2.
Destacamos dois episódios distintos de perda de massa. Primeiro, devido ao vento lento de uma estrela AGB, cuja velocidade típica é da
ordem de 10 km/s, com uma taxa de perda de massa de 10-5Msol/ano. E
depois, através do vento rápido, expelido de uma pós-AGB, caracterizado
por 10-7Msol/ano e que alcança uma velocidade de até 2.000 km/s. O vento
estelar ‘rápido’, que varre o material expelido previamente, dando forma à
nebulosa que se expande com velocidade de ~25km/s, é mais denso do que
os ventos dos quais originou-se, tem T=10.000K e dura ~30.000 anos. O gás
do vento rápido (pós-AGB), ao expandir-se sobre o material do vento lento
(AGB), forma uma frente de choque que, quando observada no óptico, é a
componente mais brilhante de uma NP. Entre os choques interno e externo,
encontra-se a bolha quente (somente observável em raios-X). E, por último,
o halo compõem-se pelo que resta do vento AGB, o qual devido à sua baixa
densidade é o mais tênue nas imagens ópticas. Isto explica a formação das
NP, não só esféricas, mas também daquelas cuja casca tem forma elíptica,
bipolar, ou com simetria de ponto (ver Figura 2). Tais ideias também dão
conta das propriedades físicas (temperaturas e densidades), químicas (enriquecimento químico do meio circunstelar oriundo da síntese de He, C, N e
O, na estrela central) e cinemáticas das NP.
As nebulosas planetárias – velhinhas de rara beleza – são a fase
terminal de estrelas tipo solar e representam uma curta fase, ainda que gloriosa, da vida de muitíssimas estrelas. Elas terminam sua existência espalhando
átomos, moléculas e poeira nas diferentes regiões das galáxias. Depois de
vagar pelo meio interestelar durante milhões de anos, alguns desses ingre-
25
dientes podem ter-se agregado ao ejeta de outras NP para formar as nuvens
densas onde nasceram novas estrelas na nossa Galáxia. Os fragmentos que
restaram da formação estelar resultaram em cometas, asteroides e planetas.
Parte do material originado nas NP pode ter sobrevivido e sido depositado no
planeta do qual surgiu a nossa vida. De fato, recentemente, foram observadas
moléculas orgânicas complexas, similares àquelas de organismos vivos, em
nebulosas planetárias ricas em carbono, como NGC 7027 e BD+30˚3639.
26
Outro fim realmente espetacular: a morte de estrelas massudas
Quando discutimos a queima explosiva do He, nas estrelas tipo
solar, não mencionamos o fato de que estrelas com massa maior do que
2,5Msol transformam He em C de forma suave e não explosiva como descrito
antes. Na verdade, quanto mais massuda a estrela, menor a densidade na
qual começam a queima do He.
A evolução mais rápida das estrelas massudas na SP também se
aplica na vida pós-SP. Devido à alta massa estelar, nas estrelas realmente
massudas (>10-12Msol), as fases de queima são muito rápidas. Uma estrela de
15Msol, por exemplo, começa a transformar He em C sem chegar a ser uma
gigante vermelha, contrariamente ao que ocorria nas estrelas tipo solar. As
estrelas massudas quase não mudam de aparência quando passam de uma
fase para a fase subsequente de queima. Elas podem fundir elementos mais
pesados do que o C e o O, já que seus núcleos continuam a contrair-se e suas
temperaturas centrais continuam a crescer. A taxa de queima é acelerada em
função da evolução do núcleo. Mas, existe um limite para esse processo de
queima? Uma estrela massuda, em fase terminal é composta por várias camadas nas quais ocorrem reações de fusão de elementos. De fato, a queima
de um dado elemento no núcleo tem como consequência sua escassez local,
seguida, então, da contração – portanto aquecimento – e começo da fusão do
elemento que foi sintetizado na queima anterior. Esse processo continua. A
cada uma dessas fases descritas a temperatura central cresce mais, acelerando a taxa de reações nucleares e produzindo pressão que permite que o núcleo contrabalanceie a contração gravitacional. A estrutura interna de nossa
estrela terminal é tal que, de fora pra dentro, tem-se uma camada de H inerte
seguida de várias camadas mais internas nas quais H, He, C, O, Ne (neônio),
Mg (magnésio) e Si (silício) estão sendo fundidos em elementos mais pesados
e, por fim, um núcleo de Fe (ferro). É interessante notar que os tempos em que
cada um desses elementos são produzidos depende da massa, uma estrela de
20Msol funde H por mil, He por 106, C por 103 anos, O por 1 ano e Si por uma
semana. A “estabilidade” de seu núcleo de Fe dura menos do que 24 horas!
A rara beleza da vitória da gravidade
Devido ao fato de que a fusão nuclear que envolve o Fe não produz energia, a estrela não poderá voltar a recuperar seu estado de equilíbrio.
Jamais será capaz de, efetivamente, como fez até aqui, contrabalancear a
contração gravitacional. Apesar de que a temperatura no núcleo da estrela
é de vários 109K, a gravidade supera a pressão interna e a estrela colapsa
definitivamente.
Na verdade, ao invés de produzir energia com a fusão do Fe, o que
ocorre no núcleo é a fotodesintegração do ferro em elementos mais leves,
até que somente sobre prótons e nêutrons. Esse processo não apenas não
produz, mas consome parte da energia térmica do núcleo, assim esfriando-o
e acelerando o colapso. O núcleo composto somente de elétrons (e), prótons
(p), nêutrons (n) e fótons, comprimidos a altíssimas densidades, é capaz de,
unindo p+e produzir n+neutrinos. Esses neutrinos facilmente escapam do núcleo (pois praticamente não interagem com a matéria) levando parte da energia desse núcleo. Assim, a densidade continua crescendo no núcleo e – à semelhança do que ocorreu com os elétrons do núcleo das gigantes vermelhas
e das anãs brancas - esse atinge a degenerescência, no caso, dos nêutrons.
As densidades envolvidas podem chegar a ser de 1017 ou 1018 kg/m3. Como
o núcleo já não pode ser mais comprimido, toda a matéria que continua
caindo gravitacionalmente será expelida de volta, de maneira super violenta.
Forma-se uma onda de choque que é expelida e leva consigo toda a matéria
das camadas adjacentes. O evento é tão energético que pode produzir, por
alguns dias, luminosidades superiores àquelas das galáxias que hospedam tal
estrela massuda. Esse é o evento conhecido como explosão supernova (ver
Figura 3). A energia gerada no processo (desde a explosão até que ela deixe
de brilhar) pode ser equivalente à energia irradiada pelo Sol durante toda a
sua vida. Mais contundente, ainda, é a energia emitida na forma de neutrinos,
podendo chegar a ser 100 vezes o valor acima. A estrela que existia antes da
explosão é normalmente chamada de a estrela progenitora da supernova.
Figura 3: Uma composição de imagem
ótica do Hubble Space Telescope
mostrando o anel central e da emissão
em raios-X, do Telescópio Chandra, da
SN1987A. Créditos: Raios-X: NASA/
CXC/PSU/ S. Park & D. Burrows;
Óptico: NASA/STScI/CfA/ P.Challis.
27
28
Os dois tipos de supernovas
Algumas supernovas quase não possuem H, enquanto outras o
possuem em abundância. Na verdade dois tipos de supernovas podem ser
identificados não apenas devido ao seu conteúdo de H, mas também pelas
suas curvas de luz (ou seja, a forma na qual a luminosidade cai com o passar
do tempo). Assim: as supernovas Tipo I são pobres em H e têm queda de
luminosidade mais acentuada (rápida); as supernovas Tipo II possuem grande
quantidade de H e suas luminosidades caem de forma mais suave, menos
abrupta.
Existem razões muito óbvias para esses dois tipos de supernovas.
Para falar delas teremos que adicionar algo à nossa descrição da morte estelar, que é o fato de que nem todas as estrelas evoluem isoladamente. Parte
delas está em sistemas binários. Sua morte será ou não influenciada por esse
fato a depender da distância que separa as duas estrelas. A anã branca – uma
estrela já morta –, que descrevemos antes, pode, de fato, “voltar à vida” por
ter uma acompanhante próxima. Uma anã branca que tem como companheira, suficientemente próxima, uma estrela da SP ou uma gigante, pode
atrair/transferir massa (H e He) dessa para si. A queda de matéria na anã
branca faz com que ela volte a aquecer-se e cresça em densidade. Ao atingir
107K a anã volta a queimar H, mas de forma rápida e violenta, o que aumenta muito sua luminosidade, e a estrela que já estava morta volta a brilhar. A
estrela que passa por esse processo é conhecida como nova, apesar de que
na verdade é uma estrela já bem velhinha, quase morta, a bem da verdade,
ressuscitada.
Algo similar explica a existência de supernovas Tipo I. Em verdade
essas advêm do fato de que as novas podem não expelir todo o material que
recebem da companheira. Como o processo de nova pode ser recorrente,
a cada novo evento mais material é acumulado pela anã branca. Mesmo
considerando que o equilíbrio da anã branca vem da pressão dos elétrons
degenerados, há um limite de massa para que o núcleo possa manter esse
equilíbrio (1,4Msol). Ao ultrapassar essa massa a anã fica instável e entra em
colapso. Isso leva ao aumento da temperatura e à ignição do He formando C. A fusão ocorre quase simultaneamente em todas as zonas da estrela,
fazendo-a explodir como supernova. Por tal razão as supernovas Tipo I quase não possuem H. Ao contrário, na explosão de supernovas Tipo II, parte
considerável do material que é expelido é composto de H e He das camadas
externas, tornando esse tipo de supernova rico em H. Em termos da quantidade de energia liberada na explosão, ambos os tipos são similares.
E, por último, devemos frisar mais uma importante diferença entre
esses dois tipos de supernovas. Bem como as anãs brancas (ou negras) são o
destino final das estrelas de baixa massa, ainda que pareça estranho, as supernovas do Tipo II deixam sobreviver um caroço estelar, que são as estrelas
de nêutrons. Isso é assim porque a violenta onda de choque que leva à explosão supernova se dá a partir das paredes do núcleo de nêutrons degenerados,
deixando-o intacto. De novo, à semelhança das anãs brancas e das nebulosas planetárias, as supernovas Tipo II produzem tanto um ejeta brilhante que
vai se dissipando no meio interestelar – o remanescente da supernova, ver
Figura 3, quanto um caroço estelar extremamente denso e inerte, a estrelas de
nêutrons. As supernovas Tipo I, é claro, também produzem o remanescente
nebular, mas acredita-se que não deixem caroço estelar algum.
Para fechar nosso ritual de despedida com todo o glamour que estas velhinhas merecem, teríamos que discutir em detalhe os pulsares (estrelas
de nêutrons com alta rotação e intensos campos magnéticos) e os buracos
negros estelares. Mas isso fica para outra oportunidade... Aqui só nos resta
esperar que os tenhamos convencido de que, pelo menos quando de estrelas
se trata, as velhinhas e suas fases terminais são muitíssimo mais interessantes
do que suas juventudes, e se constituem em espetáculos de rara beleza!
Referências Utilizadas e Sugestões de Leitura:
À Luz das Estrelas: ciência através da Astronomia, de Lilia Irmeli Arany-Prado (Editora DP&A, Rio de Janeiro 2006);
Vamos Falar de Estrelas? De K. C. Chung (Editora UERJ, 2000);
Astronomy Today, de E. Chaisson & S. McMillan (Editora: Prentice Hall,
Upper Saddle River, New Jersey).
29
30
Alquimia
Estelar
Helio Jaques Rocha-Pinto
Doutor em Astronomia (USP)
Professor Adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro
([email protected])
O
s antigos alquimistas tornaram-se legendários em sua busca pela
pedra filosofal: a substância cuja qualidade superior lhe concederia
capacidade de modificar outras substâncias, podendo, entre outras
coisas, tornar metais grosseiros em ouro e conceder imortalidade
ao Homem. Igualmente legendária é a história da evolução das
ideias que levam à compreensão da origem dos elementos químicos. Essas
duas narrativas distintas, aparentemente desconexas, confluem na asserção de
que metais podem sim ser transmutados em ouro. Todavia, a pedra filosofal
da Astronomia moderna não é uma substância passível de ser encontrada
em cadinhos e fornos terrestres, mas sim em um ambiente de natureza
profundamente extraterrena: o interior de uma estrela.
O interior de uma estrela é um ambiente bem diferente de todos
aqueles com os quais estamos acostumados e somos capazes de reproduzir.
Tomemos o Sol, como exemplo. Comparado a outras estrelas, o Sol não tem
nada demais. Ele não figura nem entre as maiores, nem entre as menores
estrelas. A rigor, o Sol é uma estrela muito ordinária, similar a diversas outras
estrelas de nossa Galáxia. Sua importância para nós deve-se ao fato de que
é a estrela central de nosso sistema planetário e é a fonte de energia primaz
do nosso ecossistema. A potência energética do Sol, i.e., a taxa de energia
produzida e lançada ao espaço pelo Sol, equivale a cerca de 383 sextilhões de
watts, dos quais uma ínfima fração chega à Terra. Essa potência é descomunal
face às potências das maiores usinas que conseguimos planejar. Ainda mais
assombroso é constatar que o Sol mantém aproximadamente essa potência há
mais de 4,5 bilhões de anos. Certamente, o Sol possui, em seu interior, algum
mecanismo de geração de energia altamente eficiente e sustentável, distinto
de tudo quanto há na Terra. O mesmo mecanismo é ainda mais eficiente nas
estrelas maiores que o Sol, para as quais a potência pode chegar a ser até 1
milhão de vezes maior do que a do Sol.
A fonte dessa energia parece, a princípio, tão mágica quanto as
propriedades reputadas à pedra filosofal. No cerne de seu entendimento,
encontram-se ideias relativamente recentes da Física, enfeixadas no que
rotulamos de Mecânica Quântica. O mistério da geração de energia nos
interiores estelares começou a dissipar-se após o advento da teoria dos quanta
31
32
e da descoberta da radioatividade. Foi na década de 20 que o astrônomo
inglês Arthur Eddington aventou a possibilidade de que no interior de estrelas
haveria fusão nuclear de hidrogênio em hélio, gerando energia. Vários físicos
e astrônomos posteriormente elaboraram essa ideia, dentre os quais merecem
destaque George Gamow e Hans Bethe.
O russo Gamow foi quem forneceu boa parte do arcabouço teórico
necessário à compreensão da radioatividade, explicando como alguns núcleos
atômicos conseguem “quebrar-se”, gerando energia e núcleos atômicos ou
partículas elementares diferentes. Essas mesmas equações permitem entender
como dois outros núcleos podem juntar-se, formando um novo núcleo
atômico. Em 1939, onze anos após a publicação da teoria de Gamov, o
alemão Hans Bethe, já trabalhando nos EUA, analisou a geração de energia por
estrelas, identificando dois conjuntos de reações termonucleares que levavam
à criação de hélio a partir da fusão sucessiva de quatro átomos de hidrogênio.
Cada instância dessa cadeia de fusões termonucleares gera, isoladamente,
cerca de 47 milhões de vezes menos energia do que cada um de nós gasta,
em média, ao pronunciar uma única sílaba de uma palavra. Porém, no Sol,
ocorrem cerca de 1 duodecilhão de instâncias desse conjunto de reações a
cada segundo. Esse número é de assustar qualquer mortal, não somente pelo
neologismo raramente empregado, mas pelo que ele significa numa escala
um pouco mais compreensível: mil bilhões de bilhões de bilhões de bilhões.
A maior parte dessa energia fica retida no próprio Sol, mantendo-o estável
contra a força de sua própria gravidade. Curiosamente, é a própria gravidade
do Sol que promove essas reações termonucleares, ao esmagar átomos uns
contra os outros nas partes mais internas da estrela. Por isso, o mecanismo
de geração de energia é sustentável e tem durado tanto tempo: o peso das
camadas mais externas do Sol funde átomos no seu interior, cuja liberação de
energia aquece essas mesmas camadas externas, aumentando-lhes a pressão,
e contrabalançando, assim, a força da gravidade.
As consequências mais fascinantes desse mecanismo é a produção
de novos núcleos atômicos, a partir da fusão de núcleos pré-existentes no
interior estelar. Essa teoria, batizada Nucleossíntese Estelar, começou a ser
desenvolvida em 1948 por Fred Hoyle e ganhou contornos mais bem definidos
em 1957, após a publicação de seminal artigo do próprio Hoyle, do casal
Geoffrey e Margaret Burbidge e de Willie Fowler, apodado B2FH, a partir das
iniciais dos sobrenomes de seus autores.
De acordo com a teoria cosmológica padrão, o Big Bang — a
“Grande Explosão” — corresponde ao evento a partir do qual o Universo veio
a ser criado. Matéria, energia, partículas, tudo isso ganha existência após o
Big Bang. Mas sabemos que as condições físicas desse evento teriam gerado
um universo composto por matéria bariônica quase que exclusivamente sob a
forma de átomos de hidrogênio, hélio e alguns poucos, raros núcleos atômicos
mais pesados que este. Não haveria oxigênio, carbono, ferro... Não haveria
mais de 90% da tabela periódica. O Universo pós-Big Bang deve ter sido um
marasmo em termos de diversidade química! Donde vieram então todos os
demais elementos químicos? Das estrelas!, indica-nos B2FH.
As reações termonucleares que vimos ocorrer no interior solar
envolvem apenas a fusão do hidrogênio. Uma vez que o hidrogênio no centro
da estrela seja completamente consumido e transformado em hélio, novas
reações vêm a ocorrer, compondo núcleos cada vez mais pesados a partir
da fusão de núcleos menores. Essas cadeias de reações termonucleares mais
complexas ocorrem tanto no interior de estrelas mais pesadas que o Sol, como
devem ocorrer parcialmente no interior do próprio Sol, dentro de uns 5 bilhões
de anos, quando o hidrogênio do interior solar for totalmente consumido.
São várias as “famílias” de reações termonucleares da Nucleossíntese
Estelar, que podem envolver tanto a fusão, quanto a fissão nuclear, ou ainda,
a captura de partículas menores, como os nêutrons, o que por sua vez leva à
novas transmutações. Por exemplo, as reações termonucleares que envolvem
a fusão de átomos de hélio com outros átomos de hélio ou átomos resultantes
desta mesma fusão geram os chamados núcleos alfa: carbono, oxigênio,
magnésio, silício, enxofre, neônio, argônio, entre outros... Essas reações são
mais frequentes nos interiores de estrelas com massa superior a 2 massas
solares. Já os elementos mais pesados do que o ferro, tais como bário, iodo,
prata, chumbo, etc., são formados a partir da fusão de nêutrons com átomos
de ferro ou de algum outro elemento mais pesado que o ferro que pré-exista
na estrela.
Uma vez formados, esses átomos podem participar de novas reações
na própria estrela ou manterem-se intactos, até o momento em que a vida da
estrela chegar ao fim.
O destino da estrela será traçado pelo seu tamanho. As estrelas
muito pesadas acabam explodindo e dando origem a supernovas. As de menor
massa, como o Sol, expulsarão boa parte da sua massa através de pulsos,
dando origem ao objeto que chamamos de Nebulosa Planetária. Em ambos os
casos, uma grande quantidade de elementos químicos sintetizados na estrela
será lançada ao espaço interestelar. Assim, paulatinamente o Universo foi-se
enriquecendo em novos elementos químicos, após várias e várias gerações
estelares terem chegado ao fim da vida.
Mas a morte das estrelas é o prelúdio de nova vida. Dessa matéria
interestelar enriquecida em novas espécies atômicas, outras estrelas formarse-ão, tendo herdado uma matéria mais diversificada do que aquela deixada
pelo Big Bang. No entorno dessas novas estrelas, fenômenos astronômicos
que dependem de um meio atomicamente diversificado começam a ter vez:
moléculas ricas em silício se aglomeram em grãos de poeira, que podem
crescer em tamanho, eventualmente ganhando uma capa de gelos compostos
majoritariamente por H2O e CO2, moléculas orgânicas participam de cadeia
de reações químicas elaboradas, planetas se formam, a Vida evolui...
É muito intrigante constatar o quanto dessa história nos toca. Dez por
cento do peso médio do corpo humano é composto por átomos de hidrogênio.
Todo o resto é de elementos mais pesados que o hélio, justamente aqueles
elementos produzidos dentro de estrelas. Praticamente toda a matéria de nosso
corpo foi forjada no quentíssimo interior de incontáveis gerações estelares que
surgiram ao longo de cerca de 8 a 9 bilhões de anos de idade da Galáxia antes
da formação do Sol. Somos, por assim dizer, poeira cósmica, cinza estelar,
ligas de uma siderurgia sideral.
33
34
A fundação de
observatórios e o
ensino da Astronomia
no Rio de Janeiro
José Adolfo Snajdauf de Campos
Professor-adjunto do Observatório do Valongo da UFRJ
Doutor em História das Ciências, das Técnicas
e Epistemologia pela UFRJ
([email protected])
A
fundação de observatórios astronômicos no Brasil português
esteve sempre ligada com o ensino de Astronomia, que se iniciou nas academias militares e cujos objetivos foram a aplicação prática dos conhecimentos astronômicos à Navegação
e à Geodésia.
No Brasil, o ensino de Astronomia começou com a Academia Real dos Guardas-Marinha (AGM), instituição que se transferiu de
Lisboa para o Rio de Janeiro no início de 1808 e que tinha inserida a
disciplina Astronomia Aplicada à Navegação no terceiro ano do seu
curso de Matemático. Chegando ao Rio de Janeiro a AGM se instalou
na Hospedaria do Mosteiro de São Bento (Figura 1), no qual as aulas do
seu curso de Matemático começaram ainda em 1808.
Em 1810 D. João VI, por proposta de D. Rodrigo de Sousa Coutinho,
criou a Academia Real Militar (ARM), concebida como um lugar para
formar oficiais para o Exército e engenheiros geógrafos e topógrafos
para o Brasil. Nela o ensino da Astronomia estava prescrito no quarto
ano do curso com duração de sete anos, que era reservado apenas para
os oficiais de Engenharia e Artilharia. A ARM se instalou inicialmente
nas salas da Casa do Trem (Figura 2), na ponta do Calabouço e em 1812
se transferiu para o prédio originalmente destinado à Sé Nova, no Largo
de São Francisco.
Nos regulamentos de ambas as academias estavam previstos
observatórios astronômicos que seriam os responsáveis pelo ensino prático da Astronomia.
Em Portugal, os alunos da AGM e da Real Academia da Marinha faziam o seu treinamento em observações astronômicas no ObEntrada do Observatório da Escola Politécnica
no morro de Santo Antonio em 1921 (acervo
do Observatório do Valongo)
35
Figura1: Mosteiro de São Bento em
1841 (pintura de Jules de Sinty).
36
servatório Real da Marinha (ORM), instituição fundada em 1798 por
proposta também de D. Rodrigo de Sousa Coutinho para ser um observatório escola. A AGM trouxe alguns dos instrumentos do ORM com
o objetivo de montar um observatório, no qual seus alunos pudessem
praticar as observações.
No entanto, apesar do decreto de 15 de novembro de 1809
mandando construir o observatório em dependências do Mosteiro de
São Bento, apenas um pálido simulacro de observatório com o uso de
instrumentos portáteis foi usado pela AGM nas suas precárias instalações na Hospedaria. A AGM permaneceu no Mosteiro até 1839, com
exceção dos anos de 1832-1833, quando se transferiu para o prédio da
ARM no Largo de São Francisco, por força da sua incorporação pela
Academia Militar, logo desfeita. Nessa transferência, a maioria dos instrumentos não foi devolvida à AGM depois de desfeita a incorporação,
tendo ficado armazenada no Arquivo Militar, que estava instalado no
prédio da ARM.
Em fins de 1840, a situação parecia que ia mudar com o decreto da criação do Observatório da Marinha, mas a intenção ficou apenas
no papel, apesar de terem se iniciado as obras na Ilha das Cobras. Os
alunos da Academia de Marinha só voltaram a ter práticas regulares de
observações com a criação do Imperial Observatório do Rio de Janeiro
(IORJ) no morro do Castelo, em 1846, instituição ligada à Escola Militar
da Corte.
Em 1827, por proposta de Candido Baptista de Oliveira, lente
da Academia Militar, o Legislativo aprovou a criação do Observatório
do Rio de Janeiro (ORJ). A proposta previa que o Observatório fosse uma
instituição de pesquisa astronômica e prestadora de serviços e não servisse para a prática dos alunos das academias. Para atender ao decreto
legislativo foi nomeada uma comissão de lentes representando a AGM,
ARM e o Corpo de Engenheiros, cuja função era fazer o regulamento
do estabelecimento e sugerir a sua localização. Por discordâncias na
comissão, que apresentou relatórios conflitantes dos seus membros, o
ORJ nunca foi instalado.
No regulamento de 1832, o ORJ é considerado como estabelecimento pertencente à Academia Militar e mais uma vez não saiu
do papel. Na Academia Militar o observatório só existiu, no papel, até
1846, apesar de mencionado repetidas vezes nos vários regulamentos
que teve a Academia. Ao longo das quase quatro décadas se houve alguma prática foi de maneira esporádica em lugares improvisados como
o torreão da Escola Militar no Largo de São Francisco.
Em 1844 e 1845, os ministros da Guerra Jerônimo Coelho e
seu sucessor João Paulo Barreto, iniciaram a reforma das instalações do
Convento dos Jesuítas, no morro do Castelo, para instalar os instrumentos do Observatório, que culminaram com um novo regulamento para
o Observatório da Escola Militar, aprovado pelo decreto de 22 de julho
de 1846, que lhe trocou o nome para Imperial Observatório do Rio de
Janeiro (Figura 3). Dentre as atribuições previstas para o IORJ estavam,
entre outras, a de “formar os alunos da Escola Militar na prática de observações astronômicas aplicáveis à grande Geodésia” e “adestrar os
alunos da Academia da Marinha na prática das observações astronômicas necessárias e aplicáveis à Navegação”.
Em 1858, com a criação da Escola Central, se inicia o processo
de separação entre a formação de engenheiros civis e engenheiros militares, com o IORJ continuando como dependência da Escola Central.
Em 1870, o Imperador D. Pedro II, amante das ciências e em especial da
Astronomia, convidou o doutor Emmanuel Liais para assumir o Imperial
Observatório. Liais impôs como condição o desli-gamento do Observatório da Escola Central e somente assumiu efetivamente a sua direção
após conseguir essa medida, em 1871. Sob a direção de Liais o Imperial
Observatório mudou de objeti-vos, deixando de ser um observatório
quase que exclusivamente de apoio às atividades didáticas das escolas
Central e de Marinha, para se tornar um observatório voltado para a
pesquisa astronômica e prestador de serviços essenciais tais como fornecimento da hora, acerto de cronômetros de navios e determinação de
posição geográfica com alta precisão. Como consequência, os alunos
da Escola Central e também da Academia de Marinha ficaram órfãos de
ensino prático de Astronomia a partir de 1871. O IORJ é o antecessor do
Observatório Nacional e que nunca mais teve a função de observatório
escola.
Em 1874, com a criação da Escola Politécnica (EP) (Figura 4),
houve a separação definitiva entre o ensino para militares e o ensino
Figura 2: Casa do Trem – Século XIX
37
Figura 3: Imperial Observatório
do Rio de Janeiro (IORJ), no
morro do Castelo (acervo do
Observatório Nacional).
Figura 4: Escola Politécnica do
Rio de Janeiro em 1875 (Foto de
Marc Ferrez).
para civis, acabando com a mistura de finalidades e regimes escolares bem diferenciados. A Escola Politécnica, instituição agora
sob o comando do Ministério do Império, ficou responsável pelo
ensino de Engenharia Civil e formação de bacharéis e doutores
em Ciências Físicas e Matemáticas. A Astronomia continuou no
currículo do curso de Engenharia.
A ausência de práticas astronômicas perdurou durante os
anos iniciais da EP e, apesar dos pedidos de instalação de um observatório pelos lentes de Astronomia Lossio e Seilbtz e Ezequiel
dos Santos Junior, somente foi solucionada com a criação efetiva
do Observatório Astronômico da Escola Politécnica (OAEP) em
1881.
Em junho de 1881 assume a cátedra de Astronomia da EP
o doutor Manoel Pereira Reis (1837-1922), que tinha sido astrônomo do IORJ e de onde saiu brigado com o diretor Liais. Em julho
de 1881, Pereira Reis faz a doação para EP de seus direitos sobre
um pequeno observatório em construção desde 1880, no morro de
Santo Antonio. A Congregação da EP aceita oficialmente a doação
em 5 de julho de 1881, data considerada como da fundação do
OAEP, antecessor do atual Observatório do Valongo da UFRJ.
Ao longo dos anos, Pereira Reis equipou o Observatório
e incrementou as práticas dos alunos tanto nas instalações do morro de Santo Antônio (Figura de abertura) quanto nas práticas finais
desenvolvidas durante as férias, e que eram feitas nas cidades de
Petrópolis e Barbacena. Aliás, em Barbacena, Reis montou um observatório em área de sua propriedade para que os alunos tivessem
melhores condições de executar as práticas e fez a doação do terreno e construções à EP, em 1893, para a sua ampliação. Pereira
Reis se aposentou com 75 anos, no final de 1912.
O OAEP permaneceu no morro de Santo Antonio até
1924, quando foi transferido para a sua atual localização no morro
da Conceição, em virtude dos trabalhos de desmonte do morro de
Santo Antônio. A transferência incompleta de suas instalações, que
terminou em 1926, junto com a mudança de objetivos da cadeira
de Astronomia da EP, foram as responsáveis pela decadência do
Observatório que ficou praticamente abandonado nas décadas de
1940 e 1950. Sua recuperação como Observatório Escola começou com o seu uso pelos alunos do curso de Graduação em Astronomia, fundado em 1958, na Faculdade Nacional de Filosofia
(FNFi) da então Universidade do Brasil.
Atualmente o Observatório é a sede do Observatório do
Valongo (Figura 5), um instituto da UFRJ que é responsável por
cursos de graduação, mestrado e doutorado em Astronomia.
Da Minha Aldeia
(Alberto Caeiro
O Guardador de Rebanhos)
Da minha aldeia vejo quando da
terra se pode ver no Universo…
Por isso a minha aldeia é grande
como outra qualquer
Porque eu sou do tamanho do que
vejo
E não do tamanho da minha altura…
Figura. 5 Observatório do Valongo da UFRJ no Morro da Conceição (acervo do
Observatório do Valongo)
Nas cidades a vida é mais pequena
Que aqui na minha casa no cimo
deste outeiro.
Na cidade as grandes casas fecham a
vista a chave,
Escondem o horizonte, empurram
nosso olhar para longe de todo o
céu,
Tornam-nos pequenos porque nos
tiram o que os nossos olhos nos
podem dar,
E tornam-nos pobres porque a única
riqueza é ver.
39
40
O Universo
Distante
Karín Menéndez-Delmestre
Doutora em Astronomia (Caltech, EUA)
Professora Adjunta da Universidade Federal de Rio de Janeiro
http://www.ov.ufrj.br/docentes/kmd/
N
ossa galáxia, a Via Láctea, é composta por centenas de bilhões de estrelas. A maioria delas se concentra na região
central do sistema, com o restante distribuído em um disco relativamente fino. Esse disco reúne também uma grande
quantidade de gás que serve de combustível para novas gerações de estrelas. Hoje em dia a Via Láctea é uma galáxia com um ritmo
de vida “calmo”, onde novas estrelas se formam aos poucos: aproximadamente uma estrela com massa similar à do Sol é formada a cada ano.
No entanto, a Via Láctea não foi sempre um sistema tão calmo, assim
como a estrutura complexa que observamos hoje não sempre esteve
presente.
Baseados em observações da composição química, da localização e movimentos das estrelas, os astrônomos desenvolveram um
modelo padrão que explica como nossa galáxia se formou. Esse modelo
é utilizado como referência para a formação e evolução de galáxias em
geral. Há bilhões de anos a Via Láctea era apenas uma grande nuvem de
gás (que chamamos de nuvem proto-galáctica) composta sobretudo de
hidrogênio, já que ainda não houvera estrelas para contaminar esse gás
pristino com elementos mais pesados, manufaturados em seus núcleos.
Em um dado momento, essa nuvem proto-galáctica sofreu um colapso e
uma série de eventos transformaram essa nuvem até o sistema complexo
no qual residimos hoje. Esse processo todo não foi rápido, mas levou
vários bilhões de anos!
41
Figura 1: NGC634, uma galáxia dita de
tipo “espiral” apresenta um fino disco
composto de estrelas, gás e poeira.
Créditos:
ESA/Hubble & NASA
Notamos porém, que a Via Láctea é apenas uma das centenas
de bilhões de galáxias que povoam o universo. Graças aos grandes levantamentos feitos com telescópios na superfície terrestre (por exemplo,
o Sloan Digital Sky Survey) e no espaço (como o telescópio espacial
Hubble) possuímos hoje uma enorme quantidade de imagens que revelam a grande diversidade que existe entre as galáxias: algumas possuem
finos discos como a Via Láctea, possuem grande abundância de gás e
poeira e formam estrelas ativamente (veja Figura 1); outras galáxias não
apresentam um disco, possuem uma estrutura mais arredondada, e quase nenhuma atividade de formação estelar (veja Figura 2).
Figura 2: M87, uma galáxia dita de
tipo “elíptica” apresenta uma imensa
distribuição esferoidal de estrelas, sem
disco. Neste caso, podemos observar
um energético jato (em azul) de
material ejetado por um buraco negro
supermassivo que reside no centro do
sistema.
Créditos:
NASA, ESA, and the Hubble Heritage
Team (STScI/AURA);
Agradecimentos: P. Cote (Herzberg Institute of
Astrophysics) and E. Baltz (Stanford
University)
42
As galáxias no universo local podem ser classificadas segundo
a sua morfologia (forma). O “diagrama de diapasão” proposto há mais
de 80 anos pelo astrônomo Edwin Hubble ainda é o sistema de classificação mais utilizado (veja Figura 3). Esse sistema de classificação é
baseado na aparência das galáxias na luz óptica; as galáxias são divididas entre aquelas sem disco (as ditas “galáxias elípticas”) e aquelas
com disco; a presença de uma estrutura brilhante atravessando o centro
da galáxia divide ainda as galáxias com disco entre galáxias espirais
com e sem barra. A importância de identificar e estudar as diferenças
nas propriedades das galáxias é que para desenvolver um modelo geral
sobre a formação e evolução de galáxias precisamos considerar a ampla
diversidade nas características de galáxias que observamos. Para ser válido, um modelo adequado precisa poder reproduzir as características
observadas nas galáxias locais.
Figura 3:
Diagrama de diapasão proposto por
Hubble para descrever as diferentes
formas das galáxias no universo local.
Créditos:
NASA & ESA
As galáxias emitem luz; mas quando dizemos “luz”, não nos
referimos apenas à luz visível que nossos olhos conseguem perceber.
As galáxias irradiam ondas de luz com energias muito altas (raios gama,
raios X) assim como muito baixas (infravermelho, rádio). A energia de
uma onda de luz está relacionada com o seu comprimento de onda:
as ondas muito energéticas dos raios X possuem um comprimento de
onda muito menor do que as ondas pouco energéticas de rádio. Em
ordem decrescente de energia, observamos raios X, ultravioleta, luz óptica (do azul ao vermelho), infravermelho e ondas de rádio (veja Figura
4). Observar a emissão de uma galáxia em cada um desses intervalos de
energia (usando instrumentos e/ou filtros diferentes) nos permite estudar
aspectos diferentes de uma mesma galáxia; por exemplo, a luz ultravio-
43
leta representa um mapa das estrelas mais jovens, o óptico traça estrelas
mais velhas e no rádio a emissão pode ser dominada por um buraco
negro super massivo.
Figura 4: As galáxias emitem luz
em todos os comprimentos de
onda. A figura mostra imagens
da galáxia espiral NGC1512 em
diferentes comprimentos de onda
desde o ultravioleta e o óptico até
o infravermelho.
Créditos: NASA, ESA, Dan Maoz
(Tel-Aviv University, Israel, e
Columbia University, EUA).
Considerando que a velocidade da luz é constante (aproximadamente 300,000 km/s), sabemos que a luz de galáxias distantes deve
percorrer grandes distâncias – e, portanto, leva muito tempo – para chegar até nós. Isso significa que a luz que observamos hoje mostra-nos essas galáxias como eram há muito tempo. Dessa forma, estudar galáxias
muito distantes nos permite investigar os estágios primitivos dos processos de formação (e transformação) de galáxias. Portanto, ainda que a
caracterização do Universo local nos permita estabelecer a diversidade
em propriedades astrofísicas existentes em galáxias, para desenvolver
um modelo completo sobre os processos que formam e transformam
galáxias é necessário estudar galáxias tanto no universo próximo como
no universo distante. Mas estudar o universo distante não é uma coisa
fácil! Vejamos porque...
Os objetos distantes possuem um brilho aparente muito fraco
devido às grandes distâncias envolvidas. Isso exige uma grande sensibilidade para poder detectar a distribuição de luz nestes sistemas. Por
outro lado, estudar os detalhes desses objetos também exige uma grande capacidade de resolução espacial (i.e., a capacidade de separar a
emissão entre dois pontos), bem acima do permitido pela turbulência
de nossa atmosfera à qual estão submetidos todos os telescópios na superfície terrestre. Isso impulsionou, em grande parte, o desenvolvimento
44
de observatórios no espaço, como o telescópio espacial Hubble. Além
disso, uma onda de luz emitida no passado (por uma galáxia distante) é afetada pela expansão do universo: seu comprimento de onda é
“esticado” até comprimentos maiores; por exemplo, ondas emitidas no
passado com energias na faixa azul são observadas hoje na faixa do
vermelho. A exploração do universo distante requer, portanto, também
uma visão multienergia, de forma a poder se estudar a emissão intrínseca de galáxias cada vez mais distantes.
O lançamento do telescópio espacial Hubble representou um
grande salto em termos de sensibilidade e resolução espacial para a Astronomia moderna. Os grandes levantamentos feitos a partir dos anos 90
com o Hubble permitiram, por fim, uma exploração mais eficiente do
universo distante. Graças a vários levantamentos recentes, os astrônomos hoje possuem imagens de milhões de galáxias distantes. Podemos
hoje utilizar essa riqueza de imagens para estender o sistema de classificação morfológica até o universo distante, no qual já não estamos
traçando sistemas bem comportados e estabelecidos, mas sistemas cada
vez mais desordenados e em plena transformação: as galáxias distantes
apresentam uma aparência mais desorganizada e perturbada, por vezes
devido a impressionantes colisões entre galáxias ou por uma formação
de grandes cúmulos estelares em frágeis discos primitivos (veja Figura
5). Com esses estudos, os astrônomos estão começando a traçar os primeiros estágios na formação e evolução de galáxias quando o universo
tinha apenas uns 10% de sua idade atual.
Discutamos brevemente a origem das galáxias no contexto
cosmológico. As galáxias representam a unidade básica na construção
das estruturas de grande escala no universo. Por isso, uma das perguntas mais fundamentais no campo de Astrofísica é como as galáxias
se formam e evoluem. Apenas instantes após o Big Bang, os níveis de
densidade e temperatura são extremamente altos e dizemos que a matéria e a radiação estão interligadas. Não é até que a temperatura cai o
suficiente que os primeiros átomos estáveis de hidrogênio se formam.
Nesse momento dizemos que matéria e radiação se desacoplam e esse
é o momento em que as partículas de luz (fótons) dessa era primordial
podem escapar. Esses fótons viajam enormes distâncias até nós e constituem a radiação cósmica de fundo que observamos hoje nos maiores
comprimentos de onda (rádio e micro-ondas), correspondendo a um
fundo de radiação de baixíssima energia; esse sinal é o mais parecido
que temos com um “eco” do Big Bang, emitido quando o universo tinha
apenas 400.000 anos (veja Figura 6).
Uma vez que os primeiros átomos se formem (um processo
chamado de nucleossínteses primordial) são necessárias algumas cen-
45
tenas de milhões de anos para que as primeiras fontes de luz (estrelas, proto-galáxias) apareçam. Os fótons emitidos por essas primeiras fontes são aqueles que aos poucos dão início ao processo
de reionização do universo. Por isso hoje em dia o espaço entre as
galáxias (dito meio intergaláctico) é principalmente composto por
hidrogênio ionizado; o hidrogênio neutro e molecular (a partir do
qual se formam as estrelas) se concentra nas próprias galáxias que
servem de berço para novas gerações estelares.
Figura 5: Com milhões de imagens
profundas de galáxias distantes
capturadas pelo telescópio Hubble,
astrônomos
buscam
estender
a classificação morfológica de
galáxias distantes, de quando o
universo tinha apenas ~2-3 bilhões
de anos. Com cores cada vez mais
vermelhas (devido à expansão do
universo), as galáxias, cada vez
mais distantes, apresentam aspectos
ainda mais desordenados. Isso
demonstra que vários processos
de transformação aconteceram
para que as galáxias adquirissem
as estruturas mais complexas e
relaxadas que observamos hoje no
universo local. Créditos: NASA,
ESA, M. Kornmesser; equipe
da colaboração CANDELS (H.
Ferguson)
Figura 6: Histórico da formação
de estruturas ao longo do tempo
cósmico. Créditos: NASA/ESA e
Ann Feild (STScI)
Na radiação cósmica de fundo detectamos pequenas variações
em temperatura, indicativas de pequenas variações na distribuição de
matéria (veja Figura 7). Essas variações servem de pequenas sementes
nas quais a matéria, consequentemente, se acumula via atração gravitacional, criando os sítios de formação de galáxias e até de grandes
estruturas que hoje associamos à grandes aglomerados de galáxias.
Simulações cosmológicas, baseadas nas leis fundamentais da
Física, nos mostram como a simples consideração da gravidade no desenvolvimento dessas sementes pode reproduzir a estrutura em grande
Figura 7: As variações na radiação
cósmica de fundo estão associadas às sementes que levaram
à formação de estruturas no
universo (grupos e aglomerados
de galáxias). Créditos: ESA e a
colaboração Planck.
escala que observamos no universo local. Porém, os processos astrofísicos internos que levam aos complexos históricos de formação estelar
nesses sistemas, fazendo com que meras nuvens de gás protogalácticas
virem os sistemas complexos que hoje observamos, ainda fogem ao nosso entendimento. Os astrônomos têm, ainda, muito a descobrir!
47
48
O Universo
em Grandes Escalas
Paulo Afrânio Augusto Lopes
Professor-adjunto do Observatório do Valongo da UFRJ.
Doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional.
([email protected])
Q
uando astrônomos falam do Universo em grandes escalas
eles se referem aos maiores objetos e estruturas existentes.
Os corpos celestes mais conhecidos do público, em geral,
são os planetas e as estrelas. Em torno de nossa estrela – o
Sol – orbitamos com a companhia de outros sete planetas e
diversos corpos menores, como asteroides e cometas. Ao contemplar o
firmamento, em especial no interior, podemos vislumbrar uma infinidade
de outras estrelas. Mesmo fora de nosso alcance visual sabemos que
algumas delas possuem uma corte de planetas, assim como nosso Sol.
Muitas estrelas são sozinhas, mas pelo menos metade delas encontra-se
em pares, trios ou sistemas com ainda mais objetos. Aglomerados de
estrelas podem conter desde dezenas até milhares ou mesmo mais de
um milhão de estrelas.
Nesses objetos celestes já podemos vislumbrar diferentes
estruturas, desde as estrelas individuais até aquelas em grandes
concentrações. Todas essas estrelas pertencem a uma estrutura ainda
maior que as engloba, junto a uma grande quantidade de gás e poeira.
Essa é a nossa Galáxia, com uma estimativa de mais de cem bilhões
de estrelas! Nossa Galáxia também é conhecida como Via Láctea, em
função de uma parte dessa (que conseguimos observar a olho nu) ter a
aparência de uma faixa ou “caminho de leite” no céu. A Galáxia tem
aproximadamente cem mil anos-luz de diâmetro. Para nossos padrões
essas medidas são algo assombroso, ou simplesmente astronômico. A
Via Láctea é enorme! E por muito tempo acreditávamos ser ela a maior
estrutura do Universo. Em verdade, até menos de um século atrás não
tínhamos certeza da existência de outras galáxias como a nossa. O
Universo era a Galáxia...
Mas elas existem! E, na verdade, numa diversidade de tamanhos,
tipos, formas e distâncias. A mais próxima da Terra encontra-se a mais
de 150 mil anos-luz. Além da nossa própria galáxia, apenas três outras
podem ser vistas a olho nu. Duas delas orbitam a nossa e chamam-
49
Figura 1: Distribuição de galáxias
no 2MASS Redshift Survey (2MRS).
Crédito: T.H. Jarrett (IPAC/Caltech)
50
se Pequena e Grande Nuvens de Magalhães, ambas descobertas (mas
obviamente não reconhecidas como galáxias) pelo navegador Fernão de
Magalhães, em torno de 1519. Talvez parte da dificuldade de algumas
pessoas para entender o que são as galáxias passe por tal fato: elas não
são visíveis a olho nu. São objetos de tamanho colossal. No entanto,
estão a distâncias tão grandes que sua luz chega à Terra de maneira
muito débil, tornando impossível seu reconhecimento visual no céu.
O auxílio de telescópios torna possível esta tarefa, trazendo
para perto aquilo que está longe. O uso desses instrumentos permite
ampliar nossa percepção do Universo, de forma que podemos
observar objetos cujo brilho aparente é pequeno. Dito de outra forma,
conseguimos enxergar objetos relativamente próximos da Terra, mas do
qual recebemos pouca luz, ou objetos que intrinsecamente são bastante
luminosos, mas que estão a distâncias muito grandes. Com isso, hoje
em dia podemos mapear, em detalhe, diversas famílias de asteroides no
sistema solar, da mesma forma que estrelas pouco luminosas na Galáxia
ou, ainda, milhões de galáxias Universo afora.
Para entender a distribuição de matéria no Universo os
astrônomos fazem levantamentos da distribuição de galáxias. Esses
fornecem pistas sobre a formação e evolução do Universo. As galáxias
são os seus blocos de construção e a sua distribuição espacial traça o
que é conhecido como estrutura em grande escala. Galáxias podem
ser encontradas isoladas, mas, comumente, se agrupam, formando
estruturas chamadas grupos (com algumas dezenas de galáxias) e
aglomerados de galáxias (com várias dezenas até milhares em seu
interior). O tamanho típico de aglomerados é de vários milhões de anosluz! Em escalas ainda maiores, os astrônomos descobriram os chamados
superaglomerados de galáxias. Esses são a concentração de diversos
grupos e aglomerados. Entretanto, ainda estão em processo de formação
(ao contrário da maior parte dos grupos e aglomerados). Um exemplo
da distribuição de galáxias no Universo próximo está exibido na Figura
1. Estes são dados do 2MASS Redshift Survey (2MRS). Na figura, cada
ponto representa uma galáxia, com a cor do ponto simbolizando o
desvio para o vermelho (um indicador da distância) da galáxia. Alguns
aglomerados e superaglomerados são marcados na figura. Esta é uma
projeção de toda a esfera celeste, com o plano da nossa Galáxia no
centro.
A estrutura em grande escala do Universo é, portanto, delineada
pela distribuição de galáxias, grupos, aglomerados e superaglomerados.
O padrão encontrado assemelha-se ao de bolhas de sabão. Ou seja, na
distribuição de galáxias temos o que são chamados de grandes vazios
envolvidos por finas paredes de galáxias. Na interseção das paredes
encontram-se os grupos e aglomerados de galáxias. Essa estrutura
filamentar é também apelidada de teia cósmica. Outro levantamento da
estrutura em grande escala é conhecido por 2dF Galaxy Redshift Survey
(2dFGRS), tendo sido finalizado em 2003. Na Figura 2 podemos ver
duas representações da distribuição de galáxias. Uma obtida por esse
levantamento e outra baseada no Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Cada
ponto representa uma galáxia. Na figura da direita os chamados vazios
são marcados por círculos azuis, enquanto galáxias de filamentos são
representadas por pontos pretos. Grupos e aglomerados são formados
nas junções, nas regiões de mais alta densidade.
Na Sociologia das galáxias percebemos que elas gostam
de viver juntas. Os astrônomos dizem que aquelas mais isoladas,
encontradas em regiões de baixa densidade de matéria no Universo,
formam a distribuição de galáxias conhecida por campo. Já os objetos em
regiões de alta densidade formam os grupos e aglomerados de galáxias.
Interessante é que o ambiente tem forte influência nas propriedades
de galáxias. As de campo, em geral, são mais azuis, tem bastante gás
em seu interior, e formam estrelas regularmente (o gás é o combustível
necessário à formação de estrelas). Além disso, são, na maioria, galáxias
conhecidas como dos tipos espirais e irregulares. Já as galáxias de
grupos e aglomerados são mais vermelhas, têm pouco gás e, portanto,
formam poucas estrelas. Em geral, são dos tipos lenticular e elíptica.
As galáxias típicas de campo possuem populações de estrelas jovens
e velhas, ao passo que as comuns em aglomerados possuem somente
uma população estelar velha. Os tipos de galáxias referem-se a uma
classificação da morfologia destas. Os principais tipos morfológicos são
estes já citados. Outros tipos conhecidos são, por exemplo, galáxias
anãs (elípticas, esferoidais e irregulares), e galáxias peculiares.
Essa dependência com o ambiente nos leva a uma analogia
com seres humanos. As pessoas que vivem no campo, em geral, são
menos estressadas, vivem mais e tem humor distinto das urbanas.
Sabemos que os seres humanos tendem a aglomerar-se em grandes
Figura 2: Esquerda: Representação da
distribuição de galáxias no levantamento 2dFGRS (Crédito: Equipe do
2dFGRS). Direita: Representação da
distribuição de galáxias no levantamento SDSS. Pontos pretos marcam
galáxias pertencentes a filamentos, e
pontos vermelhos representam galáxias em regiões de vazios (demarcados
por círculos azuis). Crédito: Pan et
al. (2012); The Royal Astronomical
Society
51
Figura 3: Visão noturna da costa Leste
dos EUA. Crédito: Expedição 30 da
ISS; NASA
Figura 4: Evolução do brilho artificial
do céu nos EUA entre aproximadamente 1950 e 2025. Crédito: P.
Cinzano, F. Flachi e C. Elvidge (2001)
52
centros. Entretanto, as causas dessa aglomeração são socioeconômicas,
enquanto que para galáxias a causa é outra: gravidade! De qualquer
forma, na distribuição dos humanos sobre a superfície terrestre
percebemos uma estrutura similar à de galáxias, com aglomerados
urbanos conectados por finos filamentos. Um exemplo é exibido na
Figura 3, na qual temos uma visão noturna da região Leste dos Estados
Unidos a partir da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em
inglês). O que vemos são as luzes artificiais que iluminam a vida das
pessoas nessa área. As principais concentrações de luz representam as
maiores cidades. As de mais fácil identificação são Nova York, Long Island,
Philadelphia, Baltimore e Washington DC. Note-se a existência de uma
espécie de filamento luminoso conectando essas principais metrópoles.
Apesar de na Figura 3 haver a representação de uma visão muito
bela, uma ameaça às observações astronômicas, e mesmo à vida selvagem,
está implícita. Isso porque a chamada poluição luminosa afeta drasticamente
observações noturnas ao tornar o céu mais brilhante.
Associações como a International Dark-Sky Association (IDA) e o
Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento Luminoso tem
como principal objetivo proteger o ambiente de céu noturno e
preservar os céus escuros para futuras gerações. Na Figura
4 podemos ter uma ideia da evolução do brilho artificial do
céu nos EUA desde a década de 1950 até uma extrapolação
para o ano de 2025. Hoje em dia, em menos do que 50%
dos EUA pode-se observar a Via Láctea. Na Europa como
um todo isso já é praticamente impossível.
Na Figura 4 é evidente o crescimento dos centros
urbanos, e do desperdício energético, nos EUA. Em 2025, a
poluição luminosa nos EUA afetará todo o Leste do país. Como
destacado na Figura 3, podemos inclusive detectar parte da maior
megalópole do mundo, conhecida como BosWash, estendendose desde Boston até Washington DC. Megalópole é o termo usado
para uma conurbação de várias metrópoles ou regiões metropolitanas.
No contexto de galáxias seriam as megalópoles os análogos de
superaglomerados? Após o alerta, voltemos ao tema desse texto.
A distribuição de matéria no Universo não é estática. Ela tem uma
origem e evolui com o tempo. O que vemos nas figuras 1 e 2 é o resultado
para o Universo próximo de nós. Através desta distribuição, conseguimos
entender importantes aspectos sobre a estrutura do Universo. No entanto,
o objetivo principal é descobrir como formou-se e evoluiu sua estrutura em
grande escala. Levantamentos de galáxias como o 2dFGRS são fundamentais
para esses estudos. Porém, além de observações astronômicas os cosmólogos
precisam refinar cada vez mais seus modelos de Universo e também
desenvolver simulações computacionais que tentam reproduzir a estrutura
que observamos atualmente. Um exemplo é apresentado na Figura 5, com
a distribuição de matéria obtida numa simulação cosmológica. Devido às
grandes escalas espaciais, temporais e de massa, não temos como realizar
experimentos de laboratório para testar teorias sobre o Universo. Por isso
as simulações cosmológicas são tão importantes, pois com base em leis
físicas conhecidas podemos verificar a evolução de modelos do Universo
(em escalas de tempo razoáveis) que podem ser confrontadas com dados
reais do mesmo. Dessa forma, podemos refinar teorias e obter um melhor
entendimento do nosso Universo observado.
Atualmente, nosso conhecimento sobre as origens e evolução do
Universo aumentou por várias ordens de grandeza, assim como a nossa
imagem do mesmo. Mas ainda há muito pela frente. O futuro da Cosmologia
guarda ainda diversos desdobramentos, com inúmeras surpresas. Nessa
área (assim como na Astrofísica com um todo), são necessários avanços
tecnológicos na construção de telescópios de alcance cada vez maior e no
melhoramento de supercomputadores. Mas, acima de tudo, são necessários
cérebros entusiasmados para pensar novos desafios e interpretar futuras
descobertas.
Figura 5: Simulação computacional da
distribuição de matéria no Universo.
Crédito: The Bolshoi Cosmological
Simulations
Figura 6: Superaglomerado Laniakea
(delineado pela linha laranja), com 160
Mpc de diâmetro (cerca de 520 milhões
de anos-luz) e englobando cerca de 1017
(cem milhões de bilhões) de massas
solares. Crédito: Tully et al. 2014, Nature,
513, 71-73.
Um exemplo de uma descoberta recente é a atualização de
nosso endereço cósmico. Nossa Galáxia é parte de um grupo de galáxias
chamado Grupo Local. Até pouco tempo acreditávamos que nosso grupo
fazia parte de um superaglomerado com outros grupos e aglomerados
vizinhos. No entanto, uma equipe de astrônomos liderada por Brent
Tully (Universidade do Havaí) descobriu que o superaglomerado de
galáxias do qual fazemos parte é 100 vezes maior em massa e volume
do que antes imaginado. Eles aplicaram um método que é baseado
no movimento das galáxias, que reflete a distribuição de matéria no
Universo. A partir deste método eles definiram o superaglomerado
Laniakea (“Céu grandioso” na língua havaiana). Uma ilustração deste
superaglomerado, com estruturas vizinhas, é exibida na Figura 6.
Fig 1: Observatório particular de d. Pedro II no Paço de
São Cristóvão (parte superior
direita) – Acervo do Museu
Nacional
54
Expedições astronômicas
no Segundo Império
Q
Astrônomo do Observatório do Valongo da UFRJ.
Doutor em História das Ciências e das Técnicas
e Epistemologia pela UFRJ.
([email protected])
uando ouvimos ou lemos a palavra Astronomia, logo nos vêm à
mente belas imagens de objetos coloridos e com as formas mais
diversas, alguns próximos para os padrões da escala do Universo e
outros muitos distantes, com quase a idade dele, obtidas de telescópios em órbita da Terra. Porém, quando olhamos através de telescópios não profissionais ficamos um pouco decepcionados. Afora alguns
objetos, tais como Saturno, a Lua ou Júpiter, ficamos imaginando: onde estão
aquelas cores maravilhosas, aquela definição incrível que vemos nas fotos?
Por que não podemos ver assim através dos nossos telescópios amadores? O
que acontece é que essas imagens passam por tratamento e são obtidas através de diferentes filtros, que deixam passar algumas cores e escondem outras
e que nos ajudam a descobrir qual a composição química daquele objeto.
Ou seja, passam por uma “maquiagem”.
Mas, após passada a primeira decepção, se estivermos munidos
de um bom atlas celeste que nos indique os objetos mais interessantes visíveis em cada época do ano e um pouco de paciência poderemos fazer uma
fascinante viagem, que nos fará compreender melhor o Universo no qual
vivemos. E quanto mais longe da poluição luminosa das grandes cidades,
mais objetos veremos. A facilidade de comprarmos a preços acessíveis bons
instrumentos amadores é coisa recente, de menos de 40 anos. Mas isto é a
moderna Astronomia. Como será que era a prática dessa ciência no Brasil
Império?
Lá pela metade do século XIX, a Astronomia estava passando por
uma grande transformação. A técnica de fabricação de lentes e construção
de telescópios já era bem dominada e as novas descobertas no campo da
Física abriam as portas para o surgimento de uma nova Astronomia, baseada
até então apenas na Mecânica Celeste e na Astrometria, ou seja, no estudo
do movimento e na posição dos astros. Estava surgindo a Astrofísica. A descoberta de mais elementos químicos e a constatação da existência de alguns
deles no Sol, bem como aspectos mais complexos do comportamento e da
composição das estrelas estavam começando a ser desvendados.
Figura 1 – Observatório particular de D. Pedro II no Paço de São
Cristóvão (parte superior direita) – Acervo do Museu Nacional
55
As Estrelas
(João da Cruz e Sousa – 1900)
Lá, nas celestes regiões distantes,
No fundo melancólico da Esfera,
Nos caminhos da eterna Primavera
Do amor, eis as estrelas palpitantes.
Quantos mistérios andarão errantes,
Quantas almas em busca da Quimera,
Lá, das estrelas nessa paz austera,
Soluçarão, nos altos céus radiantes.
Finas flores de pérolas e prata,
Das estrelas serena desata
Toda a caudal das ilusões insanas.
Quem sabe, pelos tempos esquecidos,
Se as estrelas não são os ais perdidos
Das primitivas legiões humanas?!
56
Na verdade, esses avanços estavam ocorrendo basicamente na Europa e, em menor grau, nos Estados Unidos. O Brasil havia se tornado independente de Portugal a cerca de 30 anos e não tinha ainda nenhuma tradição
em pesquisas científicas.
Vamos retroceder um pouco no tempo, até o dia 2 de dezembro de 1925, na
capital do Império do Brasil, o Rio de Janeiro, com uma população de cerca
de 113.000 pessoas, com um índice de analfabetismo de 85%. Nesse dia
nascia Pedro de Alcântara. Esse menino, que com 14 anos seria aclamado
como Pedro II, Imperador do Brasil, teve um papel fundamental na tentativa
de modernização e inserção do país no cenário astronômico internacional.
Seu pai, D.Pedro I, criou o Observatório do Rio de Janeiro em
1927, quando ele tinha menos de dois anos de idade, mas que na prática
nunca saiu do papel até 1846, quando foi efetivamente tornado ativo com o
nome de Imperial Observatório do Rio de Janeiro (IORJ), no morro do Castelo, embora de forma bastante precária, com uma Astronomia muito distante
da que se praticava, por exemplo, na França e na Inglaterra.
O Imperador D. Pedro II sempre foi tido como um grande incentivador da Astronomia. Além de contribuir pessoalmente para a melhoria do
IORJ, cedendo equipamento por ele adquirido, mandou construir um observatório particular no telhado do Palácio da Quinta da Boa Vista em 1856,
onde fazia suas observações particulares, e que foi retirado pelo governo
após a proclamação da República, em 1889 (Figura 1).
Devido a esse interesse do Imperador pelas ciências, em geral, e
Astronomia, especificamente, sua influência na criação de expedições, sobre as quais comentaremos brevemente aqui, foi fundamental. Apoiadas e
patrocinadas pelo Governo Imperial, foram um marco divisório para que a
Astronomia no Brasil começasse a sair de sua fase exclusivamente utilitária e
passasse a ser encarada como uma ciência experimental, tentando equipará-la com o que havia de mais recente, teórica e instrumentalmente, na Europa
à época.
Em 1858, o Imperador D. Pedro II vislumbrou a possibilidade de
inserir o Brasil no que se fazia de mais recente em pesquisa astronômica no
mundo. Aproveitando a ocorrência de um eclipse total no país naquele ano,
resolveu criar uma comissão de observação do evento como nunca havia
sido feito antes no país. Com o auxílio do astrônomo belga Emmanuel Liais,
que mais tarde se tornaria diretor do IORJ, montou uma grande expedição, que
rendeu bons frutos para a Astronomia nacional.
O eclipse de 1858 era a oportunidade do Brasil se inserir como participante atuante na vanguarda do cenário científico mundial da Astronomia.
Afinal, o primeiro eclipse a ser observado com rigor científico nos Estados Unidos, aconteceu apenas em 1860 e na Inglaterra somente em 1893.
O momento era mais que propício para se realizar uma expedição
que pudesse afirmar a competência do Brasil em organizar uma observação
científica astronômica. Haveria um eclipse total do Sol que passaria em território nacional, relativamente próximo à capital do Império (sua fase máxima seria
visível na baía de Paranaguá), e ainda por cima coincidiria com o dia em que
se comemora a independência do país: 7 de setembro. Nada mais simbólico.
Cândido Baptista de Oliveira, chefe da expedição, comenta em
seu relatório que “a importância ci-entifica da observação deste interessante
fenômeno não podia deixar de manifestar-se no Brasil, onde deverá ser apreciado em grande parte do seu território, e principalmente no Rio de Janeiro,
que goza da imediata influencia do alto Protetor das ciências, e possui já um
nascente observatório astronômico”.
Pela primeira vez no Brasil foi usada a técnica da fotografia para um registro
astronômico. Quinze placas fotográficas foram obtidas, porém apenas 12 puderam ser aproveitadas, segundo in-formação do próprio Liais.
Segundo o Relatório de Oliveira, Liais afirmava ter identificado que
a coroa solar é fracamente polarizada, e em seu livro L’éspace celeste et la
nature tropicale, Liais reafirmava que sua primeira verificação sobre a presença da polarização da coroa dos eclipses foi realizada no eclipse de 1858, no
Brasil (Figura 2).
Há também a citação de outras três estações de observação do
eclipse. Dois pontos de observação no Rio de Janeiro - no Imperial Observatório e no Palácio Imperial de São Cristóvão - e outro em Recife, na Torre
Malakoff, no Arsenal de Marinha.
A expedição criada para observar o eclipse de 1858 foi um marco
na história da Astronomia no Brasil. Aproveitando uma oportunidade única,
contando com pessoal qualificado e com a pre-sença de Liais, podemos dizer que foram feitas as primeiras observações astrofísicas no país.
A missão científica para a observação do trânsito de Vênus pelo
disco solar da qual participou o engenheiro e astrônomo Francisco Antônio
de Almeida Jr. foi o primeiro contato direto de um brasileiro com o Japão de
que a historiografia tem registro. Em 1874, o Conde de Prados, então diretor
do IORJ, enviara Almeida Jr. para a França com a finalidade de estudar Astronomia.
Quando o governo francês organizou uma missão científica de observação e registro da passagem do planeta Vênus diante do Sol, prevista para
ocorrer em Nagasaki no dia 8 de dezembro do mesmo ano, o astrônomo brasileiro integrou a missão, como adido, por solicitação do Governo Imperial.
Em consequência dessa participação, Almeida Jr. além de uma obra sobre a
paralaxe do Sol e a passagem de Vênus, escreveu o primeiro livro publicado
no Brasil sobre o Japão (Da França ao Japão: Narração de viagem e descrição
histórica, usos e costumes dos habitantes da China, do Japão e de outros
países da Ásia, publicado no Rio de Janeiro em 1879).
Embora Almeida Jr. tenha se desviado um pouco do trabalho de
que teria sido incumbido e essa não tenha sido propriamente uma expedição
no sentido estrito, foi um marco nas observações astronômicas, uma vez que
ele teve participação na utilização pioneira de um instrumento utilizado na
observação de Vênus: o revólver fotográfico astronômico. Colaborando com
o astrônomo francês Jules Janssen nas experiências efetuadas em Nagasaki
obtiveram, com tal dispositivo, imagens em intervalos muito curtos, que eram
gravadas em um tipo de película através do qual Vênus era visualizado passando na frente ao Sol. Essa invenção é considerada o protótipo das máquinas de projeção de hoje (Figura 3).
Figura 2 – Desenho da coroa solar no
eclipse de 1858, feito por Emanuel
Liais (Relatório de Cândido Baptista
de Oliveira)
57
Figura 3 - Desenho mostrando Almeida Jr. utilizando o re-volver fotográfico
em Nagasaki. À esquerda, detalhe do
dis-positivo de captura da imagem
Figura 4 - Observatório montado
pela Comissão de São Tomás, nas
Antilhas, para a observação da
pas-sagem de Vênus pelo disco
solar em 1882. (Relatório Final da
Comissão – Biblioteca do Observatório Nacional)
58
Diferentemente da primeira participação do Brasil nas observações
do trânsito de Vênus sobre o disco solar, a segunda passagem foi o evento
científico que mais causou agitação no Império, desde o homem simples da
rua, até o Senado, levando a um debate em um tom muito acima do jamais
visto para um assunto que parecia estar tão distante do dia a dia da Corte.
Oito anos após o primeiro trânsito, que passara despercebido pela população, em 1882, o Governo Imperial teve que enfrentar uma enorme oposição no Parlamento. Além dos deputados e senadores, a própria Imprensa
se opunha à participação efetiva do Brasil e, principalmente, à grande verba
envolvida.
Esse foi, talvez, um dos mais enfáticos debates já ocorridos em nosso país sobre a utilidade da Ciência Básica.
Para elaborar as instruções a serem adotadas durante a observação da passagem de 1882, repre-sentantes de 14 países, inclusive o Brasil,
reuniram-se em Paris, um ano antes no Congresso da Comissão Internacional
da Passagem de Vênus, organizada pela Comissão da Passagem de Vênus
da França e composta por mais de 50 astrônomos e físicos, na maior parte
membros das seções de Astronomia e Física da Academia das Ciências de
Paris. O Brasil foi representado por Liais.
Nessas reuniões ficou decidido que o Imperial Observatório deveria estabelecer, no mínimo, duas estações em seu território e duas no exterior. Dessa
forma, estabeleceram-se duas estações no Brasil, uma em Pernambuco, Olinda, sob a chefia do astrônomo Julião de Oliveira Lacaille e outra no Rio de
Janeiro, no Imperial Observatório, e as outras duas do exterior, uma em Punta
Arenas, na Patagônia Chilena, sob o comando de Luís Cruls, então diretor
do IORJ, e outra nas Antilhas, a cargo da Repartição Hidrográfica, chefiada
pelo engenheiro hidrógrafo Antonio Luis Von Hoonholtz, o Barão de Tefé
(Figura 4).
Mesmo com toda a oposição e dificuldades, foi aprovado um crédito extraordinário para o Imperial Observatório pelo Parlamento. Graças ao empenho pessoal do Imperador, as três missões foram enviadas. Como o crédito
extraordinário para a Marinha foi recusado pelo Parlamento, a expedição
às Antilhas somente foi possível graças a uma lista de doações, encabeçada
pelo Imperador, que doou a quantia de 10 mil contos de réis.
No Rio de Janeiro o céu esteve encoberto pelas nuvens, o que impediu que D. Pedro II, que esteve o dia todo no Observatório, pudesse acompanhar o fenômeno. Em Pernambuco e nas Antilhas, apesar das condições
não terem sido boas, foi possível acompanhá-lo. O grande sucesso foi a missão à Patagônia, onde Luís Cruls, em Punta Arenas, conseguiu observar todas
as fases do fenô-meno . Várias comunicações científicas com os resultados
relativos à Astronomia pelos cientistas brasileiros foram apresentadas por D.
Pedro II à Academia de Ciências de Paris.
A paralaxe solar determinada pela Comissão brasileira foi de 8,808
segundos de arco (149.400.000±1.000.000 km) e representou, à época, um
dos valores mais precisos. Para termos uma comparação, em 1900 o valor
aceito era de 8,806±0,004 segundos de arco (149.000.000±100.000 km),
com base na paralaxe do asteroide Eros, obtida pelo astrônomo inglês Arthur
Robert Hinks e o valor adotado pela União Astronômica Internacional (IAU)
é de 149.600.000 km. Esse é o valor da distância média entre a Terra e o Sol,
e também é conhecida co-mo uma unidade astronômica (1UA). A precisão
dessa medida era de extrema importância à época, pois implicava em conhecer as verdadeiras dimensões do Sistema Solar.
A expedição de resgate do meteorito de Bendegó, já próximo ao
fim do Império, foi a última levada a cabo. O objetivo era o translado do
meteorito de Bendegó do seu sítio de queda original, na região de Monte
Santo, no sertão da Bahia, para o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde
se encontra em exposição até os dias atuais.
Pesando 5.360 kg e medindo 2,15m x 1,5m x 0,65m, ele foi descoberto em
1784, porém não se sabe a época da queda. Trata-se de uma massa compacta, composta principalmente de ferro (Fe) e níquel (Ni), contendo outros
elementos em quantidades menores. Um ano após, foi feita uma tentativa de
retirada frustrada e o meteorito lá permaneceu por mais de 100 anos.
Em 1886 o então diretor do Museu Nacional, Ladislau de Souza
Mello Netto enfatizou a ne-cessidade de transportar o Bendegó para a Corte,
a fim de serem realizadas análises sobre o frag-mento e para o meteorito ser
exposto na instituição. As providências para o deslocamento do Bendegó
para o Rio de Janeiro aconteceram ainda quando D. Pedro II estava em Paris,
em 1886, ao receber por meio de membros da Academia de Ciências de
Paris, a solicitação da transferência de Bendegó a um museu.
Em 1895, o geólogo Orville Adalbert Derby publicou na Revista do Museu
Nacional do Rio de Janeiro um longo artigo, onde relata toda a saga do meteorito, desde os sertões da Bahia até o Museu Nacional, e faz
uma detalhada análise físico-química do mesmo (Figura 5).
Essa é apenas uma brevíssima visita à segunda metade do
século XIX, para mostrar o quão rica e pouco conhecida
é a nossa história a respeito da Astronomia em nosso próprio país. Aos que quiserem se aprofundar mais no tema,
podem consultar, para começar, os arquivos digitalizados
disponíveis no site da Biblioteca Nacional e do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).
Figura 5 - Foto da Comissão encarregada de transportar o meteorito Bendegó da Bahia para o Rio de Janeiro
em 1888. (Acervo da Princesa Isabel,
Biblioteca Nacional)
59
60
Interestelar:
o espaço entre as estrelas
é realmente vazio?
Silvia Lorenz Martins
Professora associada e diretora do Observatório do Valongo da UFRJ
Doutora em Ciências Físicas pela Université Nice Sophia Antipolis
(França)
([email protected])
Q
uando olhamos para o céu em uma noite clara, sem nuvens,
percebemos que existem algumas regiões mais escuras e
imaginamos que ali, naquela direção nada exista. Um exemplo é o Saco de Carvão, na direção do Cruzeiro do Sul, uma
nuvem de poeira e gás que absorve toda a luz emitida por estrelas atrás dela. Outra da mesma espécie é a nuvem escura Cabeça de
Cavalo (Figura 1). Também é possível ver regiões um tanto “nubladas”
(embora não haja nuvens a vista), onde o brilho das estrelas parece estar embaçado. Ao contrário do que pensamos, não há nenhuma região
no universo que seja completamente vazia. Há entre as estrelas muita
matéria; matéria visível, mas também “invisível”, pelo menos aos nossos olhos.
Nessas extensões que acreditamos vazias existem certos tipos
de nuvens contendo gás e poeira. Tais nuvens são suficientemente ricas
em compostos químicos para dar origem a novas estrelas e também
sistemas planetários completos. O espaço entre as estrelas é conhecido
como Meio Interestelar. Nesse ambiente é rica a “fauna” de objetos
presentes; além das nuvens que podem conter desde hidrogênio neutro
ou ionizado (o único elétron do hidrogênio foi liberado) ou moléculas,
existem outros objetos estelares tais como restos de supernovas, onde o
gás presente pode ter temperaturas de milhões de graus e atingir velocidades de até 6.000 km/s! A Figura 2 mostra a imagem de uma remanescente de supernova (ou seja, restos da explosão de uma estrela), a
Figura 1: Nebulosa Cabeça de Cavalo, parecida com um buraco no céu, essa
nuvem escura concentra grandes quantidades de poeira interestelar (grãos interestelares) a qual absorve praticamente toda a luz (radiação) emitida por estrelas
que se encontram atrás dela. Ela é parte de uma região maior, conhecida como
nuvem molecular de Orion. Image Credit & Copyright: Optical: Aldo Mottino &
Carlos Colazo, OAC, Córdoba; Infrared: Hubble Legacy Archive
61
Cassiopeia A, que explodiu há 325 anos atrás sendo registrada por astrônomos chineses.
Figura 2: Cassiopeia A - essa é uma
imagem feita pelo telescópio espacial
Spitzer, no infravermelho. O tamanho
da remanescente é de 15 anos-luz
e ela fica a uma distância de 10.000
anos-luz da Terra, na direção da constelação de Cassiopeia. Image Credit:
O. Krause (Steward Obs.) et al., SSC,
JPL, Caltech, Nasa
62
Onde está e de onde vem essa matéria de composição química tão rica?
Na Via Láctea, galáxia que hospeda nosso Sistema Solar,
grande parte da matéria que compõe o meio interestelar está localizado
nos braços espirais. A Figura 3 mostra parte da Via Láctea e na Figura 4
é apresentada a imagem de outra galáxia espiral, semelhante a nossa, na
qual podemos ver com maior precisão onde se encontra essa matéria.
Quanto a sua composição química, a maior parte da matéria
do Universo é composta por hidrogênio e hélio e pequenas quantidades
de outros elementos mais pesados, tais como carbono, oxigênio, ferro,
silício etc. Na Via Láctea, o meio interestelar representa cerca de 20%
da massa total em que elementos mais pesados, tais como carbono,
oxigênio, ferro, representam apenas 1%. Embora rarefeita, essa matéria
afeta a radiação emitida por estrelas e o ciclo de vida das mesmas. A
matéria que compõe o meio interestelar, como já foi dito, é enriquecida,
e tal enriquecimento é resultado do processo evolutivo constante pelo
qual as estrelas passam. Assim como nós, as estrelas nascem, vivem e
morrem, produzindo ao longo de sua existência elementos químicos em
Fig. 3: A Via Láctea, galáxia que abriga o Sistema Solar. Nessa imagem as
regiões escuras são compostas principalmente por grãos de poeira, mas
também contém gás, ambos componentes do meio interestelar. Credit &
Copyright: Larry Landolfi
seus interiores através de reações termonucleares. De fato, a Terra e o
Sol, possuem elementos que foram processados nos interiores estelares,
ou seja, matéria reciclada, produzida por gerações de estrelas anteriores
ao nosso Sistema Solar. Na medida em que as estrelas “envelhecem” esses elementos são lançados para o meio interestelar, através dos ventos
estelares, enriquecendo-o. Dessa forma, a galáxia como um todo também
evolui, já que tal processo evolutivo estelar gera matéria mais rica, favorecendo a formação de novas estrelas com matéria reciclada, as quais repetirão o
ciclo, até que se esgote o gás e a poeira do meio interestelar. A Figura 5
mostra uma região mais interna da nebulosa Rosette, na qual estrelas
recém-formadas começam a aparecer expulsando o gás e a poeira circundante. Essa região é considerada uma nebulosa de reflexão.
Figura 4: Galáxia espiral M83 – muito
parecida com a Via Láctea. Nos braços espirais dessa galáxia concentra-se
o meio interestelar, à semelhança do
que ocorre em nossa própria galáxia.
Image Credit: Nasa, ESA, Hubble
Heritage Team (STScI/Aura), and W.
P. Blair (JHU) et al.
63
Figura 5: No coração da Nebulosa
Rosette. Em seu centro, podemos
ver um aglomerado estelar brilhante
(aglomerado aberto) no qual várias
estrelas recém-formadas estão iluminando a nebulosa. As partículas de
poeira (grãos) localizadas principalmente nas regiões mais escuras absorvem, mas também espalham essa luz.
A nebulosa Rosette fica na direção da
constelação do Unicórnio (Monoceros) a uma distância de cerca de
4.500 anos-luz daqui. Image Credit &
Copyright: Don Goldman
64
A descoberta da existência do meio interestelar
O estudo do meio interestelar remonta o Século XVIII, mas foi em
1930 que um pesquisador, Robert Trumpler (1886-1956), apresentou evidências científicas concretas sobre a existência de matéria entre as estrelas
que faz com que seja diminuída a percepção da luz emitida pelas mesmas e
que chega até nós. Trumpler observando aglomerados estelares numa dada
direção do céu percebeu que a energia que essas estrelas emitiam estava
reduzida, mais avermelhada do que o esperado. O valor médio calculado
por esse astrônomo foi de 0.67 magnitudes por kpc, ou seja, a luz observada
aqui na Terra seria diminuída por esse fator. Mas, bem antes, Edmond Halley
(1656-1742), mais conhecido por seus estudos relacionados ao cometa Halley, já havia mencionado a possibilidade da existência de matéria interestelar localizada em nuvens escuras atenuando a luz estelar. Outro astrônomo,
William Herschel (1738-1822) acreditava que essas regiões escuras seriam
buracos no céu e Georg Wilhelm Struve (1793- 1864) elaborou uma teoria
sobre o fenômeno de absorção interestelar deduzindo um valor para essa
taxa de uma magnitude por kpc. Sabemos hoje que essa extinção é provocada pela existência de material sólido; esses são os grãos de poeira interestelar
que podem ter dimensões de grãos de areia ou mesmo maiores. A extinção é na verdade a combinação de dois efeitos causados pela poeira:
a absorção e o espalhamento da luz das estrelas. A poeira chega até o meio
interestelar na ocorrência de ventos estelares, durante a vida de uma estrela.
As estrelas, em seus estágios evolutivos finais ejetam grandes quantidades
de matéria que, após seu suficiente afastamento, produz grãos sólidos. A
composição química desses grãos será definida pela composição química
da estrela que os produziu. Existem dois regimes para definir tal química:
ou os grãos serão ricos em carbono ou serão ricos em oxigênio. Uma vez
soprados para o meio interestelar tais grãos se arranjarão em nuvens onde
serão modificados por vários processos físicos, tais como radiação de estrelas
bem quentes (originando nebulosas de reflexão), raios cósmicos, choques
com outros grãos etc. Essa metamorfose na poeira cria uma nova classe de
grãos, que são os grãos interestelares. Eles podem, também, receber uma ou
muitas camadas externas de gelo ou moléculas mais abundantes nas nuvens.
Nas nuvens escuras e frias (a exemplo da Cabeça de Cavalo) o efeito de absorção da luz estelar é maior do que em nuvens nas quais existem estrelas que tem
uma temperatura muito alta. Nessas nuvens o efeito causado pela poeira será,
principalmente, o de espalhar a luz estelar. Essas são as nebulosas de reflexão
(Figuras 5 e 6).
Figura 6: M78 – Nebulosa de reflexão
onde a presença de poeira é evidenciada nas áreas escuras. O espalhamento
causado pela poeira é visto nas cores
azuis. Essa nebulosa de reflexão também pertence a nuvem molecular de
Orion (Figura 7), assim como a nebulosa da Cabeça de Cavalo (Figura 1).
Image Credit & Copyright: Ian Sharp
65
Figura 7: Orion – Esse complexo
de nuvens escuras, nebulosas de
reflexão e regiões de formação
estelar, contém muito gás de
hidrogênio, estrelas quentes muito
jovens, embriões de sistemas planetários e jatos estelares expelindo
matéria a altas velocidades. Também conhecida como M42, Orion
tem 40 anos-luz de tamanho,
localiza-se no mesmo braço espiral
que o Sol e está distante de nós
por apenas 1.500 anos-luz. Image
Credit: R. Villaverde, Hubble
Legacy Archive, Nasa
66
Nuvens moleculares
Como já foi apresentado, o meio interestelar é composto por diferentes
regiões, as nuvens, as quais podem ser escuras e frias (Figura 1), nuvens
mais aquecidas que dão origem às nebulosas de reflexão (Figuras 5 e 6)
e grandes nuvens moleculares, formando regiões extensas, tais como o
complexo de Orion (Figura 7) ou a Nebulosa Trífida (Figura 8). As nu-
vens moleculares são regiões extensas nas quais, em geral, há presença
das diferentes classes de nuvens citadas nesse texto. São regiões em que
a densidade de partículas pode ser bastante alta e a química presente é
muito complexa, contendo moléculas com muitos átomos. As moléculas interestelares vão desde as mais simples moléculas diatômicas como CO,
CN e OH até complexas estruturas como CH3 ou mesmo CH3CH2CHO, por
exemplo.
Até agora 130 espécies moleculares já foram observadas. Outra
característica importante é que a formação estelar ocorre exclusivamente dentro de nuvens moleculares. Isso é uma consequência natural da combinação
entre baixas temperaturas e altas densidades. Além disso, as regiões de formação estelar produzirão não somente uma, mas várias gerações de estrelas. O
complexo de Orion, como é chamada essa vasta região do meio interestelar
contendo diversas nebulosas escuras, nuvens de reflexão e também regiões
de formação estelar, é um bom exemplo de nuvem molecular gigante. Orion
abriga o famoso aglomerado aberto conhecido como Trapézio e várias outras
regiões de formação estelar. Nessas regiões foram observados inúmeros “proplyds”, que são embriões de discos que formarão sistemas planetários. Orion
fica na direção das Três Marias e pode ser vista a olho nu em regiões afastadas
da luminosidade das grandes cidades. As nuvens moleculares são objetos transientes e viverão cerca de 100.000 anos ou um pouco mais. De fato, em poucos milhões de anos muito da poeira existente em Orion será destruída para
que novas gerações de estrelas sejam formadas ou simplesmente dispersada no
meio interestelar da galáxia. Com o passar do tempo se aglutinará novamente,
dessa vez em outra nuvem, recomeçando o processo.
As nuvens moleculares tem um papel importante na história das galáxias como um todo. A formação de estrelas com muita massa fornece uma
das principais fontes de energia do meio interestelar, destruindo as nuvens nas
quais foram formadas, reciclando a matéria e devolvendo-a ao meio. O entendimento do ciclo de vida das nuvens moleculares e do meio interestelar como
um todo é fundamental não somente para entender como as estrelas e planetas
se formam, mas também entender a dinâmica e evolução da própria galáxia.
Figura 8: Nebulosa Trifida: Também
conhecida como M20 essa nebulosa
pode ser vista com binóculos na direção da constelação de Sagitário. O
processo de formação estelar origina
as belas cores, onde o vermelho resulta da interação entre a radiação estelar e o gás composto principalmente
por hidrogênio. As faixas escuras
são regiões nas quais se encontra a
poeira produzida por estrelas em seus
estágios evolutivos finais. A distância
dessa nebulosa ainda permanece
imprecisa, mas ela deve estar a cerca
de 3.000 anos-luz e seu tamanho é
de 50 anos-luz. Credit & Copyright:
Adam Block, Mt. Lemmon SkyCenter,
U. Arizona
67
68
Telescópios são os nossos olhos
para o universo. Os avanços
tecnológicos, criando “olhos” cada
vez melhores e mais potentes, nos
permitem descobrir novos segredos
cósmicos. Se hoje observamos
novos fenômenos, misteriosos
talvez, em breve conheceremos
melhor como se formam e evoluem
os astros desde o Big Bang até
o presente. Os próximos anos
são promissores para aqueles
que desejam se aventurar na
Astronomia, com a expectativa de
uma revolução técnica e científica.
Eu, pessoalmente, me sinto um
felizardo e um privilegiado por
receber um salário para ser um
astrônomo nesse ambiente.
E o que eu faço exatamente? Eu
estudo a história do universo.
Telescópios:
Observando a história do Universo
Thiago Signorini Gonçalves
Professor-adjunto do Observatório do Valongo da UFRJ
Doutor em Astrofísica pelo California Institute of Technology
Pós-doutor em Astrofísica Extragaláctica pela UFRJ
([email protected])
“O que você faz, exatamente?”
F
equentemente, quando digo a alguém que sou um astrônomo,
escuto essa pergunta. A Astronomia parece exercer um fascínio
natural sobre as pessoas, despertando a curiosidade inata que
todos temos sobre a origem do Universo. No entanto, muitos
não entendem muito bem o que um astrônomo faz em seu dia
a dia.
Por exemplo: muita gente pensa que passamos todas as noites
com o olho grudado em um telescópio observando as estrelas. Bom,
são dois enganos: primeiro, não são todas as noites; e, segundo, não
grudamos o olho em nada.
Não são todas as noites porque telescópios são instrumentos
caros e concorridos. Em alguns casos, um único telescópio pode custar
mais de um bilhão de dólares! Assim, não é cada astrônomo que tem
acesso ao seu próprio observatório, mas são universidades e países
que se unem para financiar a construção de um único telescópio.
Cada pesquisador tem acesso a algumas noites por ano, no máximo,
para realizar seu trabalho – o resto do tempo é gasto analisando os
dados e calculando modelos físicos e matemáticos. Felizmente, isso é
mais que suficiente: os instrumentos hoje em dia são tão avançados
tecnologicamente, que isso já basta para descobrirmos os segredos do
Universo um pouquinho de cada vez.
A visão clássica do astrônomo olhando pelo telescópio
tampouco corresponde à realidade. Há muito tempo não trabalhamos
dessa forma, porque um desenho feito à mão não é um registro confiável
do que foi observado. Além disso, nosso olho não é particularmente
sensível à luz. Para resolver o problema, durante a maior parte do Século
69
XX foram utilizadas placas fotográficas para guardar a informação. Hoje
em dia, entretanto, usamos CCD (do inglês charge-coupled device ou
dispositivo de carga acoplada), similares aos que podem ser encontrados
em câmeras digitais e smartphones. Esses detectores eletrônicos são
muito mais sensíveis e permitem uma análise digital de nossos dados
usando computadores. É a tecnologia a serviço da ciência.
Um Abraçaço
Dei um laço no espaço
Pra pegar um pedaço
Do universo que podemos ver
Com nossos olhos nus
Nossas lentes azuis
Nossos computadores luz
(Caetano Veloso)
70
Apontando para o vazio
Okay, nós temos os recursos, mas o que fazer agora? O que
queremos ver?
Essencialmente, tudo que está fora da Terra é objeto de estudo
dos astrônomos. O próprio nome indica: Astrofísica é o estudo da física
dos astros. Queremos entender como se formam e evoluem os objetos
que vemos no espaço, desde planetas em nosso Sistema Solar, passando
por estrelas e galáxias além da nossa Via Láctea. Estudamos até mesmo
a formação do Universo desde o Big Bang. Temos então uma ciência
que engloba escalas desde minutos-luz (a distância percorrida por um
feixe de luz em alguns minutos), como por exemplo o Sol, até bilhões
de anos-luz.
Para saber mais sobre cada área da Astronomia, basta ler - ou reler - os
outros textos nesta mesma edição do Astronomia para Poetas!
Nesse sentido, a Astronomia difere fundamentalmente de
outras ciências no aspecto experimental. Outros cientistas como
biólogos e físicos podem realizar suas pesquisas em um laboratório, em
condições controladas; podem mexer e alterar seus experimentos como
lhes parecer conveniente. Nossos objetos de estudo, por outro lado,
estão além de nosso alcance, e tudo que podemos fazer é observá-los.
Daí a importância de construir telescópios cada vez mais potentes.
É interessante notar também o efeito da velocidade da luz
finita sobre nossa pesquisa. Lembrem-se de que a luz de uma estrela
ou galáxia leva um determinado tempo para chegar até nós. Assim,
quanto mais longe o objeto, mais longa foi a viagem do feixe de luz que
observamos, indicando que estamos vendo algo que aconteceu há mais
tempo no passado.
Em casos extremos, vemos galáxias cuja luz levou mais de
13 bilhões de anos para chegar até nós. Como a idade do universo é
um pouco menos de 14 bilhões de anos, estamos vendo algo que se
formou “pouco tempo” depois do Big Bang. Se observar a evolução
de um determinado objeto é quase impossível, já que esses processos
levam milhões ou bilhões de anos para acontecer, ainda assim podemos
inferir a evolução de estrelas e galáxias observando várias delas com
diferentes idades, e até mesmo ver o Universo evoluindo através do
tempo observando camadas de distâncias diferentes. É nossa maneira
de observar a história do Universo.
No meio do caminho, havia o ar
Infelizmente, há muitas dificuldades técnicas que devemos
enfrentar. Uma das principais é nossa atmosfera. Imaginem que estão
no fundo de uma piscina olhando para alguém que está fora d’água.
Nossa atmosfera tem um efeito semelhante: as imagens são um pouco
borradas, o que atrapalha bastante.
A solução mais óbvia – e cara – para o problema é simplesmente
colocar telescópios no espaço. O pioneiro foi o Hubble, que gerou
imagens famosas e com uma resolução fantástica, possibilitando um
salto em nosso entendimento sobre diversos tipos de objetos, desde a
formação de planetas ao redor de outras estrelas até a evolução das
primeiras galáxias do universo.
Mas isso é algo recente, e ainda custoso. A solução tradicional
é construir observatórios no topo de montanhas, com uma camada
menor de ar e menos umidade para atrapalhar as observações. É uma
pena que, nesse caso, a resolução da imagem seja ditada pela qualidade
da atmosfera, e não pelo tamanho do telescópio.
Alguém poderia então perguntar: qual é a vantagem de
construir telescópios cada vez maiores? Não estamos vendo mais
detalhes em nossas imagens! Sim, isso é verdade, mas em contrapartida
há uma vantagem grande: a sensibilidade. Imaginem a seguinte situação:
coloquemos um balde na rua em um dia chuvoso. Se o balde for maior,
acumulará mais água enquanto a chuva continuar. Os telescópios
maiores, da mesma forma, acumulam mais luz, o que nos permite
observar objetos menos brilhantes. Essa é a única forma de observar
as galáxias mais distantes, e somente assim podemos esperar entender
como o Universo evoluiu desde seu princípio.
Os astrônomos também estão constantemente buscando novas
técnicas observacionais, de modo a impulsionar a Ciência cada vez
mais. Um bom exemplo de um avanço recente é a óptica adaptativa, que
corrige as imperfeições causadas pela atmosfera. Analisando o brilho de
Figura 1: Comparação de imagens de
uma galáxia obtidas com um telescópio na superfície terrestre (esquerda)
com o que podemos observar com o
telescópio espacial Hubble (direita).
Figura 2: Telescópios no topo do
vulcão Mauna Kea, no Havaí.
Créditos: Alan L
71
Figura 3: Telescópios Keck, no
Havaí, utilizando a técnica de óptica
adaptativa com lasers para observar o
centro de nossa galáxia, a Via Láctea
(visível no campo superior esquerdo
da imagem).
uma estrela – ou até mesmo de um laser apontado para o céu – podemos
determinar como a atmosfera está afetando nossas observações. Um
computador analisa as imagens e controla a deformação de um espelho
para compensar essas distorções – são 60 deformações por minuto!
Dessa forma, podemos observar detalhes pequenos, e se pudéssemos
fazer o mesmo apontando para a Terra ao invés do céu, seria possível
ver se a moeda que alguém está segurando a 100 km de distância é de
10 ou de 25 centavos.
Figura 4: Projeto do E-ELT. Note o
tamanho de carros (esquerda) e pessoas (direita) quando comparados ao
tamanho esperado do telescópio.
72
Uma nova geração
Atualmente, os maiores telescópios do mundo têm espelhos
de 10 metros de diâmetro. Isso já é impressionante; pensem que, para
obter a qualidade de imagem necessária, as imperfeições na superfície
do espelho devem ser menores que 0,00001 cm. No entanto, queremos
sempre ver melhor, mais longe. E para isso telescópios ainda maiores se
tornam necessários.
Existem três projetos de telescópios gigantes em andamento,
com inauguração prevista para aproximadamente 2020. Dois deles
serão instalados em um deserto no Chile, enquanto o terceiro será no
topo de um vulcão no Havaí. Esses são provavelmente os melhores
locais do mundo para observação astronômica, com a presença de
vários instrumentos já existentes, devido à excelente combinação de
baixa umidade e grandes altitudes.
O mais impressionante, provavelmente, é o tamanho dessas
máquinas. O menor desses telescópios, chamado Telescópio Magellan
Gigante (ou GMT na sigla em inglês), terá um diâmetro de 24 metros.
O Telescópio de Trinta Metros (TMT), como o próprio nome indica, terá,
bom, 30 metros de diâmetro. E o Telescópio Europeu Extremamente Grande
(E-ELT) será um monstro de 39 metros.
Caso você esteja imaginando, saiba que os astrônomos não
têm mesmo muita criatividade para nomes de telescópios. O consórcio
responsável pelo Telescópio Extremamente Grande é o mesmo que criou o
Telescópio Muito Grande (ou Very Large Telescope – VLT).
Se os nomes não são inspiradores, a Ciência que esperamos na
próxima década é. Poderemos estudar as primeiras estrelas da história do
Universo. Poderemos medir a quantidade de oxigênio (O) em uma galáxia
como a Via Láctea a mais de 10 bilhões de anos-luz de distância. Poderemos
analisar as atmosferas de planetas fora de nosso Sistema Solar. Será um
grande salto em nosso entendimento do universo.
Telescópios são os nossos olhos para o Universo. Os avanços
tecnológicos, criando “olhos” cada vez melhores e mais potentes, nos
permitem descobrir novos segredos cósmicos. Se hoje observamos novos
fenômenos, misteriosos talvez, em breve conheceremos melhor como se
formam e evoluem os astros desde o Big Bang até o presente. Os próximos
anos são promissores para aqueles que desejam se aventurar na Astronomia,
com a expectativa de uma revolução técnica e científica. Eu, pessoalmente,
me sinto um felizardo e um privilegiado por receber um salário para ser um
astrônomo nesse ambiente.
E o que eu faço exatamente? Eu estudo a história do Universo.
73
74
Ventos
estelares
Wagner Luiz Ferreira Marcolino
Professor-adjunto do Observatório do Valongo da UFRJ
Doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional e pós-doutor pelo
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
([email protected])
P
or mais estranho que pareça, a maioria das estrelas possui um
vento! Nos próximos parágrafos discutiremos essa questão,
que certamente poderia inspirar poetas a falarem ainda mais
sobre estrelas. Primeiramente, devemos entender ventos estelares não no sentido do vento que estamos acostumados aqui
na Terra, fundamental para sobrevivermos durante o verão do Rio de
Janeiro. Um vento estelar é na verdade uma perda contínua das partes
mais externas de uma estrela. Em outras palavras, um vento estelar é a
Figura 1: Aurora: um dos efeitos do
vento solar ao atingir a Terra (Crédito:
NASA)
75
Figura 2: A cauda azulada dos cometas indica a presença
do vento solar
(Foto: Hale Bopp em 1995)
76
matéria (o gás; a atmosfera) da própria estrela que é perdida continuamente para o espaço. A definição é simples assim, mas se trata de um
fenômeno bastante complexo. De fato, ventos estelares constituem uma
área inteira de pesquisa da Astrofísica moderna! Mas vamos devagar,
não precisamos de equações complicadas para entender um pouco do
assunto.
A maioria das estrelas possui um vento, dissemos anteriormente. Então vamos considerar o Sol, a estrela mais próxima de nós! Prestamos atenção quando o Sol vai se pôr, de preferência, e não vemos nenhum vento (de acordo com a definição acima!). Vemos também várias
fotos do Sol e não conseguimos identificar nenhum vento. Como então
observar o vento do Sol? Ele existe mesmo?
O chamado vento solar existe e esse é, na verdade, monitorado
diariamente (veja, por exemplo: http://www.swpc.noaa.gov/SWN/index.
html). O que acontece é que o vento solar (i.e., o gás perdido continuamente)
não é tão intenso a ponto de ser percebido de maneira direta, à olho nu. Ele
pode ser observado mais facilmente através de satélites. Mas não se engane!
Apesar de ser relativamente “fraco”, o vento do Sol tem uma enorme influência aqui na Terra e sua existência pode ser aferida por nós de diferentes
maneiras.
Ocasionalmente, o vento solar pode sofrer variações bruscas. Ao chegar na
Terra com mais intensidade, por exemplo, pode provocar danos permanentes em satélites e linhas de transmissão de energia elétrica (causando os chamados “apagões”). Isso já aconteceu e o prejuízo financeiro pode ser eventualmente grande. Tais variações bruscas podem produzir ainda as chamadas
auroras (australis e borealis), quando o vento é influenciado pelo campo
magnético da Terra e colide com a atmosfera terrestre (Figura 1).
Além das auroras, uma outra bela evidência de que o vento
do Sol existe é a aparência dos cometas. Duas caudas podem ser vistas
em muitas imagens de cometas, como a ilustrada na Figura 2: a cauda
de gás (cor azulada) e a de poeira. A cauda de poeira é produzida pela
ação da luz do Sol, enquanto a cauda de gás (azulada) é causada principalmente pela colisão com as partículas do vento solar.
Com relação ao vento do Sol podemos concluir então: 1) ele
existe; 2) ele é monitorado diariamente; 3) ele tem grande influência
aqui na Terra e redondezas. No entanto, um outro aspecto deve ser
considerado: como o vento solar é o próprio gás do Sol que é perdido
para o espaço continuamente, alguém pode afirmar que o Sol está diminuindo sua massa com o tempo! Ou seja, que, de certa forma, o Sol está
“emagrecendo”! Sim, isso é verdade! Todavia, essa perda de massa do
Sol é bastante pequena, não sendo importante para sua estrutura e fase
de vida atual.
E o vento de outras estrelas? Apesar de seus efeitos, o vento
solar está longe de ser intenso se comparado a outros tipos de ventos.
Como sabemos, existem diferentes tipos de estrelas: diferentes tamanhos, massas, luminosidades e temperaturas (veja a Figura 3).
A partir da década de 1960, medimos (indiretamente) ventos de até um
bilhão de vezes mais intensos do que o vento solar. Se pudéssemos nos
aproximar de um objeto desses não conseguiríamos nem mesmo enxergar direito o que seria a “superfície” da estrela, devido à intensidade
do vento. Nesse sentido, a analogia com uma tempestade de areia em
um deserto aqui na Terra pode ajudar um pouco. A nossa visibilidade é
muito prejudicada se a tempestade de areia for severa. Se for moderada,
ainda assim enxergamos coisas em uma certa distância. Com as estrelas temos algo parecido: se o vento é muito “forte”, não conseguimos
“enxergar” a superfície. Se for relativamente fraco, como no caso do
Sol, podemos identificar a superfície e, então, fica mais fácil definir seu
tamanho, um raio.
É interessante notar que estrelas com ventos intensos “emagrecem” muito rapidamente! E, ao contrário do Sol, essa perda de massa
pode mudar significativamente o futuro de uma estrela, alterando suas
propriedades químicas e físicas. Hoje, podemos dizer que no estudo da
estrutura e da evolução das estrelas é fundamental considerar a existência dos ventos. Isso não era feito algumas décadas atrás e, por isso, não
conseguíamos entender diferentes fenômenos observados. Não conseguíamos explicar nem mesmo a existência de certos tipos de estrelas!
Vale ressaltar que não é apenas a quantidade de gás perdida
em um vento estelar que é importante, mas também a sua velocida-
Figura 3: Os principais tipos de estrelas
observados no Universo. Nessa figura,
as maiores (O e B) são as mais raras
e possuem os ventos mais intensos. O
Sol é uma modesta estrela do tipo G.
77
Figura 4: Colisão de ventos estelares (Impressão artística. Crédito:
NASA/C.Reed)
78
de. A velocidade do vento solar é de algumas centenas de quilômetros
por segundo (km/s). Em certas estrelas, em algumas supergigantes, por
exemplo, temos ventos de milhares de km/s! Atenção: milhares de quilômetros por segundo e não de quilômetros por hora (km/h)! Tendo em
vista essa característica, é importante lembrar um fato muito interessante observado na Natureza: a maioria das estrelas se encontra em um
sistema binário ou múltiplo, ao invés de serem encontradas isoladas.
Portanto, se por acaso ambas estrelas de um sistema binário possuem
um vento intenso (p.e. estrelas do tipo O; Figura 3), teremos colisão de
ventos! Choques supersônicos com velocidades de milhares de km/s
produzem vários efeitos observáveis interessantes, como por exemplo,
uma forte emissão de raios X. Esse fenômeno (veja ilustração na Figura
4) é estudado também através de simulações sofisticadas em computadores, o que é fundamental para termos uma ideia melhor de como as
estrelas do sistema binário evoluirão.
Os ventos estelares podem ter uma enorme influência na “vizinhança”, ou seja, no meio interestelar e, de uma maneira mais ampla,
nas galáxias. Lembramos que o vento é o gás da própria estrela que é
perdido. Portanto, pode levar elementos químicos presentes na mesma,
alterando a composição química do ambiente. Além disso, os ventos
podem depositar sua energia cinética ao redor, por exemplo, através
de choques com nuvens de gás próximas. Atualmente existem diversas
imagens feitas por telescópios que demonstram esse tipo de fenômeno
(veja o exemplo disso na Figura 5).
Até aqui falamos basicamente da existência, das características e dos efeitos dos ventos. Mas o que produz um vento estelar? O
que faz com que a matéria nas partes mais externas de uma estrela se
perca para o espaço? Para responder tais perguntas devemos investigar
o que faz com que o campo gravitacional da estrela seja vencido para
que o gás consiga escapar para o espaço. Ou seja, qual força (ou forças)
atua(m) em oposição à gravidade da estrela para conseguir empurrar
o material de maneira contínua para o espaço, mantendo um “vento”.
Isto é papo para outra hora, mas podemos dizer que apesar de boas
respostas em alguns casos, várias questões permanecem em aberto para
certos tipos de estrelas. Para finalizar, de um ponto de vista científico,
enfatizamos que atualmente não podemos estudar as propriedades físicas e químicas, a origem e a evolução de certas estrelas sem considerar
seus ventos! De maneira mais poética, no entanto, podemos dizer que
as estrelas não somente brilham bastante, mas parecem gostar de lançar
um pouco de si mesmas ao redor, deixando o Universo mais misturado,
menos vazio! Quem diria... Ventos das estrelas!
Figura 5: A nebulosa da bolha (NGC
7635) – Esta nebulosa se encontra
a cerca de 7100 anos-luz da Terra.
A região em azul é criada pela ação
do vento de uma estrela massiva que
pode ser vista na imagem (objeto mais
brilhante). Este vento possui uma velocidade de cerca de 2000 km/s (ou
7 200 000 km/h) e colide com o gás
circundante (Crédito: NASA)
79
Este impresso foi composto em: Tw Cent (títulos), Chiller (títulos),
Optima ( corpo de textos), com capa em Duo Design 250g e miolo em
off set 120g. Produzido pelo Observatório do Valongo/UFRJ e pela
Coordenadoria de Comunicação da UFRJ em novembro de 2014.