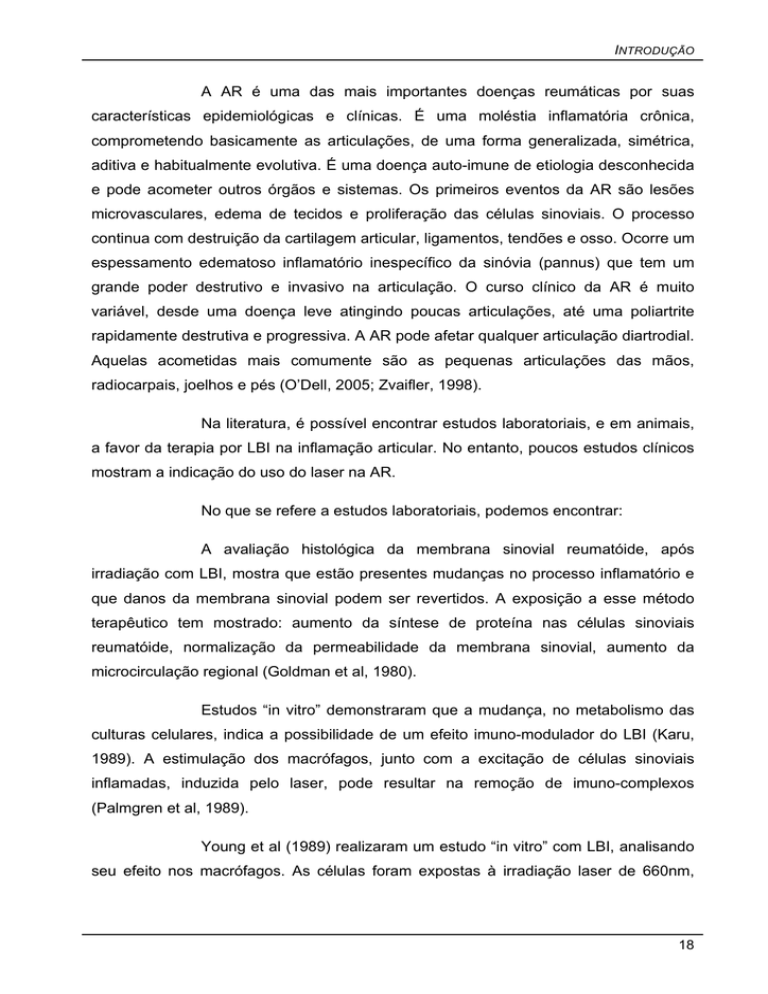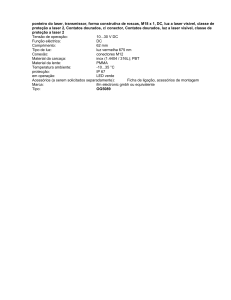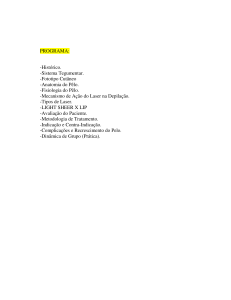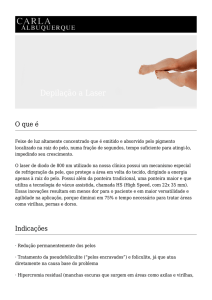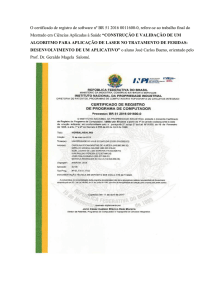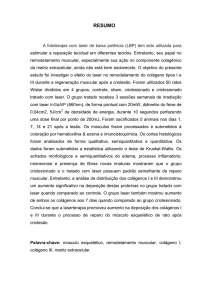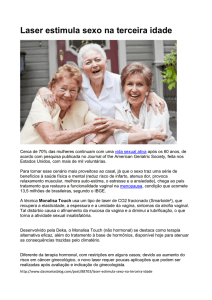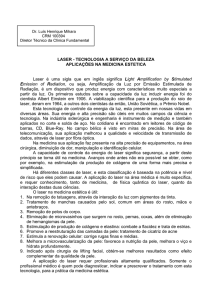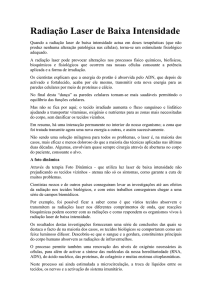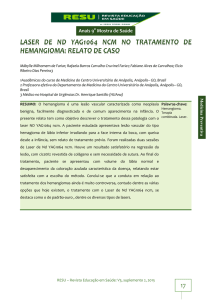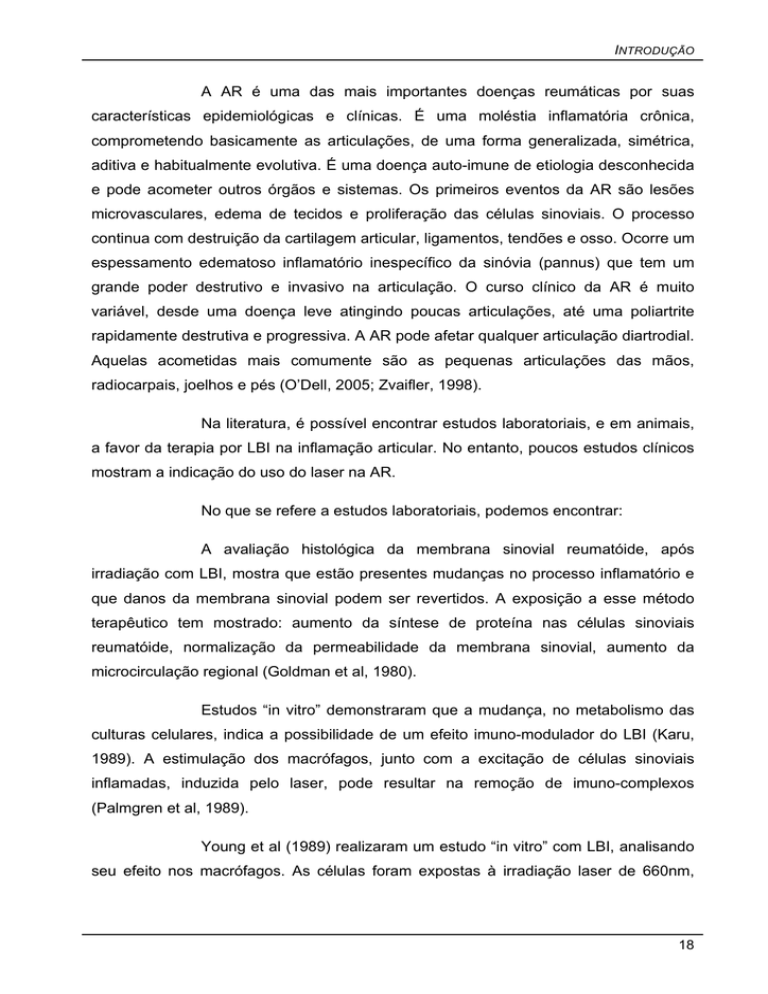
INTRODUÇÃO
A AR é uma das mais importantes doenças reumáticas por suas
características epidemiológicas e clínicas. É uma moléstia inflamatória crônica,
comprometendo basicamente as articulações, de uma forma generalizada, simétrica,
aditiva e habitualmente evolutiva. É uma doença auto-imune de etiologia desconhecida
e pode acometer outros órgãos e sistemas. Os primeiros eventos da AR são lesões
microvasculares, edema de tecidos e proliferação das células sinoviais. O processo
continua com destruição da cartilagem articular, ligamentos, tendões e osso. Ocorre um
espessamento edematoso inflamatório inespecífico da sinóvia (pannus) que tem um
grande poder destrutivo e invasivo na articulação. O curso clínico da AR é muito
variável, desde uma doença leve atingindo poucas articulações, até uma poliartrite
rapidamente destrutiva e progressiva. A AR pode afetar qualquer articulação diartrodial.
Aquelas acometidas mais comumente são as pequenas articulações das mãos,
radiocarpais, joelhos e pés (O’Dell, 2005; Zvaifler, 1998).
Na literatura, é possível encontrar estudos laboratoriais, e em animais,
a favor da terapia por LBI na inflamação articular. No entanto, poucos estudos clínicos
mostram a indicação do uso do laser na AR.
No que se refere a estudos laboratoriais, podemos encontrar:
A avaliação histológica da membrana sinovial reumatóide, após
irradiação com LBI, mostra que estão presentes mudanças no processo inflamatório e
que danos da membrana sinovial podem ser revertidos. A exposição a esse método
terapêutico tem mostrado: aumento da síntese de proteína nas células sinoviais
reumatóide, normalização da permeabilidade da membrana sinovial, aumento da
microcirculação regional (Goldman et al, 1980).
Estudos “in vitro” demonstraram que a mudança, no metabolismo das
culturas celulares, indica a possibilidade de um efeito imuno-modulador do LBI (Karu,
1989). A estimulação dos macrófagos, junto com a excitação de células sinoviais
inflamadas, induzida pelo laser, pode resultar na remoção de imuno-complexos
(Palmgren et al, 1989).
Young et al (1989) realizaram um estudo “in vitro” com LBI, analisando
seu efeito nos macrófagos. As células foram expostas à irradiação laser de 660nm,
18
INTRODUÇÃO
820nm, 870nm e 880nm. Os resultados indicaram que essa irradiação pode modificar
sua habilidade de afetar a proliferação dos fibroblastos.
Amano et al (1994) estudaram a histologia da membrana sinovial,
previamente tratada com LBI, de pacientes com AR. Irradiaram, com LBI AsGaAl de
790nm e 10mW de potência, joelhos de pacientes que iriam passar por cirurgia e,
durante o procedimento cirúrgico, retiraram amostras de membrana sinovial irradiadas
e não irradiadas. O tratamento foi feito por 6 dias antes da cirurgia. Os resultados
encontrados foram: 1 – achatamento, afrouxamento intercelular e pcnose (degeneração
do núcleo celular) das células epiteliais; 2 – diminuição da proliferação do vilo sinovial;
3 – compactação do estroma; 4 - espessamento da parede dos vasos sangüíneos e
estreitameno dos lúmens; 5 - diminuição da infiltração de células inflamatórias e
folículos linfóides. Os avaliadores das amostras foram cegos e estes autores
concluíram que houve diferença, estatisticamente significante, entre as análises das
membranas sinoviais, sugerindo que esta terapia tem efeitos antiinflamatórios.
Barberis et al (1996) analisaram a síntese de prostaglandina E2
(PGE2) ¨in vitro¨ em 12 amostras (por biópsia) de tecido sinovial de joelhos afetados
pela AR. Os joelhos tinham sido irradiados com LBI do tipo HeNe de 632,8nm e 5mW
de potência. Esses autores concluíram que houve a redução da síntese de PGE2 e que
esse fato poderia estar associado a uma possível redução da dor nesses pacientes.
Bjordal et al (2003) também comentam que estudos “in vitro” têm
demonstrado diminuição da inflamação
através da redução da síntese de
prostaglandinas em culturas celulares irradiadas com LBI.
Alguns autores descrevem também estudos feitos em animais:
Schultz et al (1985) notaram que a cartilagem de porco, quando em
exposição ao LBI, inicia o processo de regeneração articular apenas 4 semanas depois
da irradiação, e inferiram que o controle do mecanismo mitótico está envolvido.
O LBI aumentou os proteoglicanos da cartilagem, colágeno, proteínas
não colágenas e síntese do ácido desoxirribonucleico (DNA) em estudos animais
(Herman et al, 1989).
19
INTRODUÇÃO
Honmura et al (1992) estudaram o efeito antiinflamatório do LBI em
ratos. A inflamação foi induzida por carragenina e os ratos foram tratados com LBI
AsGaAl de 780nm ou indometacina. Os resultados mostraram que os ratos tratados
com LBI tiveram melhores resultados do que os tratados com medicamento. Esses
autores relataram que, em menos de 10 minutos, a inflamação diminuiu de 20 a 30%.
Ulugöl et al (1997) realizaram um estudo em ratos com o objetivo de
comprovar a ação antiinflamatória do LBI. Induziram a inflamação em 40 patas de
animais e dividiram as cobaias em 4 grupos: GC (sem tratamento), grupo que utilizou
tenoxicam, grupo que usou LBI e grupo que foi tratado com LBI e tenoxicam. Os ratos
foram tratados por 10 dias e o LBI usado foi o HeNe com 4mW de potência. Esses
autores concluíram ter havido uma redução significante do edema nos 3 grupos
experimentais, quando comparados ao controle e que o melhor resultado ocorreu no
grupo tratado com LBI e tenoxicam. Os autores sugerem que o LBI pode auxiliar em
tratamentos antiinflamatórios.
Usuba et al (1998) realizaram um estudo em ratos com o objetivo de
comparar o efeito do LBI com um tratamento em um turbilhão para a diminuição de
rigidez articular. Vinte e oito ratos foram operados e foi feita uma sutura subcutânea
femorotibial, mantendo o joelho a 150 graus. Após uma semana, os ratos foram
divididos em 4 grupos e tratados com LBI de 810nm com 40mW de potência, com LBI
com 60mW de potência, com turbilhão e um GC sem tratamento. No turbilhão, os ratos
nadavam em água quente por 7 minutos. O LBI não teve resultados superiores aos
exercícios em água quente. No entanto, os resultados foram superiores quando
comparados ao grupo sem tratamento.
Guerino et al (2000) aplicaram LBI em 19 cobaias e constataram
melhora do processo de reparo da cartilagem lesada através da redução das células
inflamatórias e danos teciduais.
Castano et al (2007) realizaram um experimento em joelhos de ratos
para verificar a efetividade do LBI na inflamação induzida. O laser usado foi de 810nm.
Esses autores testaram vários tempos de aplicação do laser e concluíram que tempos
maiores e menores diminuíram a circunferência dos joelhos tratados; no entanto
tempos maiores (doses maiores) foram mais efetivos.
20
INTRODUÇÃO
Alguns estudos também foram feitos em humanos:
Minor et al (1999) publicaram um artigo de revisão, discutindo as
principais modalidades físicas para reduzir a dor na artrite e referiram que os estudos
sobre laser são feitos principalmente em AR e OA, geralmente nas mãos e com
resultados controversos.
Brosseau et al (2005) relatam que a terapia com LBI foi introduzida,
como tratamento não invasivo da AR, há mais de 10 anos, porém sua efetividade
continua duvidosa.
Bliddal et al (1987) analisaram 17 pacientes com AR com o objetivo de
comprovar a efetividade do LBI nas mãos afetadas. A dor melhorou, em ambas as
mãos, sem diferença estatisticamente significante. Os autores concluem que, apesar
de os pacientes terem referido algum alívio na dor, o LBI não é efetivo para a AR.
Walker et al (1987) avaliaram 72 pacientes com AR para verificar a
efetividade do LBI nesta doença. Os pacientes tiveram alívio na dor no GE, com
diferença, estatisticamente significante, quando comparados ao GC; daí a conclusão
dos autores de que o LBI auxilia no tratamento da AR.
Palmgren et al (1989) estudaram 35 pacientes, apresentando AR com
as metacarpofalângicas (MCFs) e interfalângicas proximais (IFPs) afetadas para provar
a efetividade do LBI. No grupo laser, a força e a flexibilidade melhoraram; o inchaço, a
rigidez matinal e a dor diminuíram. Os autores concluíram que o LBI é um tratamento
efetivo para pacientes com AR nas mãos.
Heussler et al (1993) analisaram 28 pacientes com AR, com
comprometimento de MCFs e IFPs em fase ativa da doença tratados com LBI ou
placebo. A maioria dos pacientes, reportou alívio na dor, mas não houve diferença,
estatisticamente significante, entre os grupos placebo e laser.
Gam et al (1993) realizaram um levantamento bibliográfico sobre laser
nas doenças musculoesqueléticas. Os resultados apontaram 23 estudos, entre os
quais, 2 eram sobre OA e 5, sobre AR. Os autores detectaram diversas falhas
metodológicas nesses estudos, porém, em 95% deles, havia um índice para medir dor,
21
INTRODUÇÃO
tendo a maioria indicado que a terapia com o laser não diminuiu a dor desses
pacientes. Os autores confirmam a controvérsia sobre o assunto.
Hall et al (1994) analisaram 40 pacientes com AR classes funcional de
Steinbrocker II e III, que apresentavam acometimento de MCFs ou IFPs em fase ativa
(sinovite aguda). Os autores queriam provar a efetividade do LBI nesses pacientes. O
laser usado foi o AsGaAl. Não houve diferença, estatisticamente significante, entre os
grupos experimental e controle.
Johannsen et al (1994) avaliaram 22 pacientes com AR, que foram
randomizados em 2 grupos: laser e laser placebo. O estudo mostrou que não houve
diferença, estatisticamente significante, entre os grupos. Os autores inferiram que a
terapia com o LBI não é indicada para o tratamento de pacientes com AR nas mãos.
Goats et al (1996) estudaram 35 pacientes com AR e com as
articulações dos membros inferiores afetadas com o objetivo de testar a efetividade do
LBI. O estudo foi randomizado, controlado e duplo-cego. Para essas articulações, os
autores concluem que o LBI não foi efetivo.
Ottawa Panel (2004) publicou um guideline sobre meios físicos em AR.
No que diz respeito ao LBI, encontraram cinco trabalhos controlados randomizados. A
recomendação clínica foi que o laser poderá ser aplicado no pé, joelho e mão, na AR,
para diminuir a dor. Os resultados do guideline foram encaminhados a 5 especialistas e
2 deles concordaram com a recomendação; 1 não concordou e 2 não responderam. Os
autores desse estudo sugerem que este resultado está de acordo com revisões
sistemáticas prévias e estudos sobre fisiologia (humana e animal).
Ottawa Panel (2004) também comentou que o laser é uma intervenção
rápida e modelos portáteis estão disponíveis oferecendo vantagens. Sugere, ainda, que
mais estudos devam ser feitos para determinar o comprimento de onda, dosagem,
técnica de aplicação e durações ótimas para essa intervenção e, também, para
identificar resultados a longo prazo para pacientes com AR.
Brosseau et al (2005) realizaram uma revisão sistemática para avaliar a
efetividade da terapia por LBI em pacientes com AR principalmente no que se refere a
dor. Os objetivos secundários desta pesquisa foram determinar a maior efetividade e
22
INTRODUÇÃO
administração do LBI, incluindo as melhores dosagens, comprimentos de onda, técnica
de aplicação e tempo de tratamento. Cento e noventa e um estudos foram
selecionados e apenas 6 preencheram os critérios de inclusão desse estudo. Esta
revisão mostrou diferenças, estatisticamente significantes, na dor (70% menor no GE),
para flexibilidade dos dedos e rigidez matinal (27 minutos a menos no GE). Tal estudo
sugere que a terapia por LBI, a curto prazo, minimiza a dor nos pacientes com AR,
diminui a rigidez matinal e nenhum efeito colateral foi citado. Os autores relatam que,
apesar da indicação do uso do LBI, os dados do estudo não são consistentes para
conclusões sólidas.
Christie et al (2007) apresentaram uma panorâmica das revisões
sistemáticas sobre intervenções não medicamentosas em pacientes com AR. Entre
outros achados, o LBI foi apontado como um tratamento de qualidade de evidência
moderada para essa doença.
Apesar de a literatura científica ser limitada em quantidade e
evidências de boa qualidade, existe a recomendação para o uso do laser. A principal
dificuldade em determinar a efetividade das intervenções em reabilitação é a falta de
ECRs prospectivos bem desenhados com métodos mais rigorosos como grupo
placebo, duplo-cegos, randomização, grupos homogêneos e adequado tamanho de
amostra.
A maioria dos autores pesquisados afirmaram que mais ECRs devem
ser feitos para comprovar a efetividade do LBI na AR (Brosseau et al, 2005; Ottawa
Panel, 2004; Brosseau et al, 2000; Goats et al, 1996; Hall et al, 1994; Johannsen et al,
1994; Heussler et al, 1993; Gam et al, 1993; Palmgren et al, 1989; Bliddal et al, 1987;
Walker et al,1987).
23
2. Objetivo
OBJETIVO
Avaliar a efetividade do laser de baixa intensidade no tratamento das
mãos de pacientes com artrite reumatóide, em relação à diminuição da dor e melhora
da capacidade funcional.
25
3. Material e Métodos
MATERIAL E MÉTODOS
Esse estudo é do tipo ensaio clínico controlado randomizado duplocego. Foram estudados 82 pacientes com o diagnóstico de AR, segundo os critérios de
classificação do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) (Arnett et al,1988),
selecionados dos ambulatórios da Disciplina de Reumatologia da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP).
O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da UNIFESP (Anexo 1) e
todos os pacientes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido para
participar da pesquisa (Anexo 2).
Os pacientes foram randomizados em 2 grupos: GE (laser) e GC (laser
placebo). A randomização foi realizada a partir de uma seleção aleatória feita no
programa Excel e, para cada paciente, foi atribuído um envelope opaco e lacrado que
continha o grupo participante. Os pacientes e o terapeuta, que selecionou os
componentes do estudo, desconheciam o conteúdo do envelope (sigilo de alocação).
Para o cálculo do tamanho da amostra, foi usada a variável dor
(parâmetro principal do estudo). Foi considerado o nível de significância de 1%, o poder
do teste de 95% e a variância da dor igual a 5, como apresentado no artigo de Hall et al
(1994). Para se detectarem diferenças significativas de 2 pontos na escala visual
analógica (EVA) de dor, o número da amostra (n) foi estabelecido em, no mínimo, 32
pacientes em cada grupo (Sokal et al, 1969; Bussab et al, 2002). Considerando
possíveis perdas, participaram do estudo 41 pacientes em cada grupo.
Os critérios de inclusão foram: pacientes com AR há pelo menos 1 ano,
acometimento inflamatório de pelo menos duas articulações das mãos entre
radiocarpal, IFP e MCF, EVA para dor entre 3 e 8 cm durante as atividades de vida
diária, classe funcional de Steinbrocker II e ambos os gêneros.
Os critérios de exclusão foram: apresentar lesões de pele no local da
aplicação, apresentar outra doença afetando as mãos, tratamento fisioterapêutico para
as mãos nos últimos 3 meses, infiltração nos últimos 3 meses, alteração de drogas
anti-reumáticas modificadoras da doença nos últimos 3 meses e alteração do
corticoesteróides no último mês.
27
MATERIAL E MÉTODOS
O laser utilizado para o tratamento dos pacientes no GE foi de baixa
intensidade tipo AsGaAl com comprimento de onda de 785nm (infravermelho),
dosagem de 3J/cm2 , potência média de 70mW e área do feixe de 0,06cm2 da marca
BIOSET (Indústria de Tecnologia Eletrônica Ltda – Rio Claro - Brasil) (figura 8). A
técnica de aplicação realizada foi "em contato com a pele".
Figura 8. Laser de baixa intensidade
O GC realizou o tratamento com o mesmo laser simulado (placebo).
Para o laser placebo, foi utilizado o mesmo aparelho com um bloqueio na passagem da
luz laser. Terapeuta e pacientes foram cegos.
O aparelho apresenta uma luz-guia que é um feixe que aponta com
precisão o local a ser irradiado quando se usa a técnica de aplicação "sem contato com
a pele". Quando utilizávamos o aparelho sem o bloqueio da luz laser, a luz-guia poderia
ser vista. Para garantir que terapeuta e pacientes não vissem essa luz e não
soubessem que tipo de laser estava sendo aplicado (experimental ou placebo),
utilizamos, em todas as aplicações, um pano cobrindo a mão do paciente e a caneta
laser no momento do disparo do laser (figura 9).
28
MATERIAL E MÉTODOS
Figura 9. Aplicação do laser
Foram estabelecidos 6 pontos de aplicação para as radiocarpais na
altura das pregas destas, sendo 3 pontos dorsalmente e 3 pontos ventralmente, 4
pontos de aplicação nas MCFs sobre as pregas dígitopalmares nas margens ulnar,
radial, ventral e dorsal e 4 pontos nas IFPs e interfalângicas (IFs) dos polegares sobre
as pregas IFPs nas margens ulnar, radial, ventral e dorsal (figura 10).
29
MATERIAL E MÉTODOS
Figura 10. Pontos de aplicação
O tratamento foi feito por um fisioterapeuta treinado para a aplicação
da técnica. Pacientes e terapeuta usaram óculos protetores específicos.
Os pacientes foram orientados por um reumatologista a usar
diclofenaco e/ou paracetamol para dor, quando necessário, tendo sido o número de
comprimidos ingeridos anotados em uma folha trocada mês a mês (Anexo 3).
O tratamento teve a duração de dois meses e foi realizado duas vezes
por semana (16 sessões). O tempo de aplicação variou conforme o número de
articulações tratadas. Nesta dose e potência, cada ponto é irradiado por 2,57
segundos. O tempo de aplicação foi calculado automaticamente pela máquina. No
entanto, podemos nos certificar desse número através do cálculo:
30
MATERIAL E MÉTODOS
t(s) =
D(J/cm2) X A (cm2)
P(W)
t(s) =
3 X 0,06
0,07
O laser foi calibrado no início e meio do tratamento, através do
aparelho FieldMaster Power and Energy Meter com termossensor da marca Coherent
(Coherent Inc – Santa Clara - USA), no laboratório do Instituto de Física da
Universidade de São Paulo (USP) - São Carlos (laboratório independente). Através do
mesmo aparelho de calibração, pudemos verificar a efetividade do placebo que,
quando acionado, demonstrou potência real de 0W em várias tentativas.
Os pacientes foram avaliados por um avaliador cego através dos
seguintes instrumentos:
No início do tratamento:
Ficha de identificação na qual foram coletadas características e dados
demográficos dos pacientes (Anexo 4).
No início e no final do tratamento:
Variáveis principais do estudo:
Para avaliação da dor, o paciente indicou uma nota em uma EVA
horizontal que marca de 0 a 10 cm na qual 0 representa sem dor e 10, a máxima dor
(insuportável). Essa escala foi realizada globalmente e para cada articulação afetada
da mão em repouso e em atividade (Ferraz et al, 1990A).
Para avaliar a capacidade funcional dos pacientes, aplicamos o Health
Assessment Questionary (HAQ), que é um questionário validado para a língua
portuguesa, de vinte questões avaliando situações das atividades de vida diária, e o
paciente indica se consegue realizar a tarefa sem dificuldade, com alguma dificuldade,
com muita dificuldade ou se não consegue realizar. O resultado é obtido em forma de
uma nota calculada por grupos de perguntas. No escore final, quanto maior o valor,
menor a capacidade funcional do indivíduo (Ferraz et al, 1990B) (Anexo 5).
31
MATERIAL E MÉTODOS
Ainda, no que diz respeito à função, utilizamos o questionário
Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH), também validado para a língua
portuguesa, que mede alterações da extremidade superior. É constituído por três
módulos de perguntas: o primeiro para atletas e músicos, o segundo para
trabalhadores e o terceiro módulo apresenta trinta questões que são designadas para
medir função física e sintomas nas atividades de vida diária (AVDs). Caso o paciente
não trabalhe, não seja atleta e não toque instrumento musical, os dois primeiros
módulos deixarão de ser aplicados (Orfale et al, 2005) (Anexo 6).
Variáveis secundárias do estudo:
Para avaliação da inflamação, foi usada uma escala do tipo Likert
(1932) na qual o avaliador deu uma nota: (1) sem inflamação, (2) inflamação leve (fria
com sinovite leve), (3) inflamação moderada (fria com sinovite importante), (4)
inflamação forte (com calor e sinovite), (5) inflamação muito forte (com calor, rubor e
sinovite).
A rigidez matinal foi avaliada através de uma EVA variando de 0 a 10
cm sendo que o paciente deu uma nota para a rigidez matinal global da mão referente
à última semana, sendo que 0 significou sem rigidez e 10, rigidez extrema. A rigidez
matinal foi também medida em minutos.
Para avaliação da força de preensão palmar, utilizamos o dinamômetro
hidráulico de preensão palmar North Coast (North Coast Medical, Inc – USA). O
paciente foi posicionado sentado com o cotovelo a 90 graus de flexão e a radiocarpal
em posição neutra. Foram realizadas 3 medidas e a média em Kgf foi considerada
(Mathiowetz et al, 1984) (figura 11).
32
MATERIAL E MÉTODOS
Figura 11. Dinamômetro hidráulico de força de preensão palmar
Para a avaliação da força de pinça, usamos o Pinch Gauge North
Coast (North Coast Medical, Inc – USA) e o paciente foi posicionado sentado e com o
cotovelo a 90 graus de flexão e a radiocarpal em posição neutra.
Foram realizadas 3 medidas em cada tipo de pinça: polpa-polpa,
trípode e chave. A média da medida de cada tipo de pinça foi considerada em Kgf
(Mathiowetz et al, 1984) (figura 12).
Figura 12. Dinamômetro de força de pinça
33
MATERIAL E MÉTODOS
A avaliação da destreza foi realizada pelo teste O’Connor (Lafayette
Instrument Company – USA), que é composto por um tabuleiro de plástico que contém
100 furos distribuídos em 10 fileiras com 10 furos em cada. O paciente sentou-se em
uma cadeira e o tabuleiro foi colocado sobre uma mesa a sua frente. O paciente foi
orientado a pegar, com a mão testada, 3 peças de metal localizadas na parte superior
côncava do tabuleiro, realizando uma pinça com o polegar e o segundo e/ou terceiro
dedo da mesma mão, e encaixou-as nos furos do tabuleiro.
Foi solicitado que o paciente fizesse o teste o mais rápido possível. O
tempo foi cronometrado em segundos da primeira até a quinta fileira (tempo 1) e depois
da sexta até a décima fileira (tempo 2). Obtidos os 2 tempos, então foi feito o cálculo
para o escore final:
tempo 1 + (tempo 2 x 1,1)
2
O paciente realizou um treino antes de começar o teste (O'Connor et al,
1999; Hung et al, 1999) (figura 13).
Figura 13. Teste de destreza O’Connor
34
MATERIAL E MÉTODOS
A avaliação das amplitudes de movimento (ADMs) foi realizada através
da goniometria ativa das articulações tratadas por um goniômetro manual de punho e
dedos da marca North Coast (North Coast Medical, Inc – USA). As ADMs testadas
foram pronação e supinação de antebraço; flexão, extensão, desvio ulnar e radial da
radiocarpal; flexão e extensão das MCFs; flexão e extensão das IFPs; flexão, extensão,
abdução lateral, abdução ventral da MCF do polegar e flexão e extensão da IF do
polegar; ainda, medimos a oponência do polegar em cm (Marques, 1997; Hoppenfeld,
1987).
Na medida de pronação do antebraço, o paciente posicionou-se
sentado e o cotovelo manteve-se na posição de 90 graus de flexão, antebraço em
posição neutra, a mão fechada e o polegar em abdução lateral. O braço fixo do
goniômetro
foi
colocado
sobre
a
margem
dorsal
dos
metacarpeanos
perpendicularmente ao eixo do úmero; o braço móvel foi alinhado paralelamente ao
eixo do polegar e acompanhou o movimento de pronação. Partindo da mesma posição
inicial, foi medida a supinação no movimento contrário.
Para a flexão e extensão da radiocarpal, o paciente posicionou-se
sentado com o antebraço em supinação, cotovelo fletido a 90 graus e dedos
estendidos. O braço fixo do goniômetro foi posicionado sobre a margem ulnar; o braço
móvel na margem medial do quinto metacarpo e o eixo na margem medial da
radiocarpal.
Quando medimos o desvio ulnar e radial da radiocarpal, o paciente
posicionou-se com o cotovelo fletido e o antebraço em pronação. O braço fixo do
goniômetro foi posicionado sobre a região posterior do antebraço, o braço móvel sobre
a margem dorsal do terceiro metacarpo e o eixo sobre a articulação radiocárpica.
Para a flexão e extensão da articulação MCF, o paciente posicionou-se
com o cotovelo fletido a 90 graus, antebraço em pronação e dedos estendidos. O braço
fixo do goniômetro foi posicionado sobre a margem dorsal do metacarpo, o braço móvel
sobre a margem dorsal da falange proximal e o eixo sobre a articulação MCF.
Na flexão e extensão da articulação IFP, o paciente posicionou-se com
o cotovelo fletido a 90 graus, antebraço em pronação e dedos estendidos. O braço fixo
35
MATERIAL E MÉTODOS
do goniômetro foi posicionado sobre a margem dorsal da falange proximal; o braço
móvel sobre a margem dorsal da falange medial e o eixo sobre a articulação IFP.
Para a articulação do polegar, em todas as medidas, o paciente
posicionou-se sentado, com o antebraço em supinação e cotovelo a 90 graus: na flexão
e extensão da MCF do polegar, o braço fixo do goniômetro foi posicionado sobre a
margem do metacarpo; o braço móvel sobre a falange proximal e o eixo sobre a
articulação MCF. Para abdução ventral ou palmar do polegar, o paciente afastou o
polegar anteriormente à palma e realizou abdução ventral completa. Para a abdução
lateral, o braço fixo foi alinhado paralelamente à margem lateral do segundo metacarpo;
o braço móvel na margem dorsal do primeiro metacarpo, o eixo na linha articular da
articulação carpometacárpica do polegar. Para a flexão e extensão da IF do polegar, o
braço fixo do goniômetro foi posicionado sobre a margem da falange proximal; o móvel
sobre a falange distal e o eixo sobre a articulação IF e a oponência do polegar foi medida
em centímetros, tendo sido o paciente orientado a encostar a ponta do polegar na prega
dígitopalmar do quinto dedo (Marques, 1997; Hoppenfeld, 1987).
A perimetria da radiocarpal, da MCF global, MCF do polegar e IFP de
cada dedo foi feita com fita métrica específica North Coast (North Coast Medical, Inc –
USA) (Heussler et al, 1993).
Na radiocarpal, a fita foi posicionada sobre a prega da radiocarpal, na
MCF global sobre essas articulações do 2º ao 5º dedo; na MCF do polegar sobre a
prega dígitopalmar do polegar, e na IFP sobre a prega IFP do 1º ao 5º dedo (em cada
dedo).
O estado global (incluindo: rigidez, deformidades, inflamação, função e
dor) das mãos dos pacientes foi relatado pelo avaliador que utilizou uma EVA que
variou de 0 a 10 cm na qual 0 significou normal e 10 extremamente comprometida.
No final do tratamento:
A satisfação do paciente foi medida através de uma escala do tipo
Likert (1932) que apresentou as opções: muito melhor, pouco melhor, inalterado, pouco
pior e muito pior. O avaliador também seguiu esta escala para avaliar a evolução do
paciente.
36
MATERIAL E MÉTODOS
Nas medidas inflamação, goniometria, dor e perimetria, apenas foram
avaliadas as articulações afetadas de cada paciente, o que significa que, para cada
paciente, o número de articulações avaliadas nesses parâmetros poderia ser diferente.
Análise estatística:
A comparação entre os grupos experimental e controle foi feita com o
uso do teste t de Student para amostras não relacionadas para as variáveis numéricas
e do teste exato de Fisher para variáveis categóricas (Winer, 1971).
Para a comparação do comportamento dos grupos ao longo do tempo,
considerando-se a associação existente entre as medidas tomadas no mesmo
indivíduo, empregou-se o modelo de análise de variância com medidas repetidas
(Winer, 1971).
Para o estudo das variáveis obtidas através de uma escala visual
analógica, foi empregado o método não-paramétrico para medidas repetidas em dados
longitudinais (Brunner et al, 2000).
Nos casos de interrupções no tratamento, foi realizada a análise
intention to treat.
As normas para estrutura e referências desse trabalho basearam-se no
livro de Rother et al (2001).
37
4. Resultados
RESULTADOS
Foram estudados 82 pacientes, 41 no GE e 41 no GC. Quatro pacientes
do GC não concluíram o tratamento; 3 deles por motivos alheios aos efeitos da
intervenção e 1 paciente por referir piora após ter iniciado o tratamento placebo. No
entanto, a análise intention to treat foi realizada e esses pacientes foram reavaliados após
2 meses do início do tratamento, como os outros participantes do estudo (figura 14).
Na tabela 1, observamos as características dos pacientes. Não houve
diferença, estatisticamente significante, entre os grupos com exceção da raça
(p=0,021). Observamos, nesse parâmetro, 7 pacientes da raça negra no GC e nenhum
no GE.
Conforme mostram as tabelas a seguir, avaliamos no total 163
parâmetros ao longo do tempo em cada grupo (experimental e controle). Os grupos
experimental e controle foram homogêneos em 98% das variáveis estudadas no início
do tratamento (baseline) com p>0,05. Não houve homogeneidade no baseline em
apenas 3 variáveis secundárias do estudo: perimetria da IF do polegar à esquerda
(p=0,019), perimetria da terceira IFP à direita (p=0,038) e força de preensão palmar à
esquerda (p=0,036).
Na tabela 2, podemos verificar as médias das medidas de inflamação
por uma escala do tipo Likert (1932). Observamos melhora do início para o final do
tratamento em diversas articulações em ambos os grupos com diferença estatística
(intragrupos) (p<0,05). Entre os grupos, houve diferença, estatisticamente significante,
com vantagem para o GE apenas na IF do polegar à direita (p=0,012).
Nas tabelas 3 e 4, observamos as médias de dor em atividade e
repouso. Para EVA em atividade, todas as articulações apresentaram diminuição de
dor com diferença, estatisticamente significante, no intragrupos (p<0,05). As médias de
dor no início eram 5 e 6 cm e, no final, diminuíram para 3 e 2 cm. Na análise
intergrupos, não houve diferenças estatísticas.
Para EVA ao repouso, os resultados também apresentaram melhora
em ambos os grupos no final do tratamento com diferença, estatisticamente
significante, para todas as articulações no intragrupos (p<0,05). Da mesma forma que
para EVA em atividade, não encontramos diferenças, estatisticamente significantes,
entre os grupos experimental e controle.
39
RESULTADOS
400 pacientes foram contactados
318 não fecharam critérios de inclusão ou
não quiseram participar
82 pacientes foram randomizados
41 participaram do GE laser
41 participaram do GE laser placebo
Nenhum paciente interrompeu o tratamento.
Não houve perdas
Descontinuaram o tratamento: 1 por doença
na família, 1 por falta de tempo, 1 por
dificuldade em chegar à terapia, 1 por
sensação de desconforto
41 pacientes concluíram o estudo no GE
37 pacientes concluíram o estudo do GC
78 pacientes concluíram o estudo
82 pacientes foram analisados – intention to treat
Figura 14. Representação esquemática do estudo
TABELA 1. Características clínicas e demográficas dos grupos
Grupo experimental
Grupo controle
média (DP)
média (DP)
Média de idade (anos)
52,44 (8,38)
53,17 (10,34)
0,726
Média do tempo de doença (anos)
11,90 (7,38)
11,78 (7,34)
0,940
Média de escolaridade (anos)
5,95 (3,58)
6,22 (3,66)
0,738
3 : 24 : 14 : 0
1: 23 : 10 : 7
0,021
Sexo – feminino : masculino
40 : 1
40 : 1
1,000
Classe Funcional Steinbrocker
41 II
41 II
1,000
Mão Dominante – D : E
37 : 4
41 : 0
0,116
Raça – A : B : P : N
p
p < 0,05 significante,
DP = desvio padrão, A = amarela, B = branca, P = parda, N = negra, D = direita, E = esquerda
40
RESULTADOS
TABELA 2. Medidas de inflamação por uma escala tipo Likert
MÃO DIREITA
MÃO ESQUERDA
média (DP)
média (DP)
Grupo
experimental
Grupo
controle
p
Grupo
experimental
Grupo
controle
p
inicial
final
inicial
final
Intergrupos
inicial
final
inicial
final
Intergrupos
Radiocarpal
2,94
(0,66)
2,52*
(0,80)
2,91
(0,71)
2,35*
(0,77)
0,557
2,94
(0,68)
2,66*
(0,80)
2,73
(0,64)
2,33*
(0,71)
0,069
MCF
polegar
2,75
(0,68)
2,21*
(0,59)
2,68
(0,72)
2,07*
(0,66)
0,530
2,67
(0,76)
2,29*
(0,69)
2,44
(0,65)
2,08
(0,64)
0,206
2ª MCF
2,77
(0,59)
2,31*
(0,62)
2,88
(0,54)
2,21*
(0,78)
0,983
2,60
(0,65)
2,16*
(0,75)
2,64
(0,49)
2,18*
(0,59)
0,845
3ª MCF
2,56
(0,51)
2,16*
(0,75)
2,91
(0,60)
2,35*
(0,93)
0,118
2,54
(0,76)
2,19*
(0,63)
2,50
(0,76)
1,75*
(0,64)
0,115
4ª MCF
2,57
(0,65)
2,07*
(0,73)
2,67
(0,72)
2,00*
(0,76)
0,959
2,07
(0,62)
2,14
(0,86)
2,17
(0,72)
1,83
(0,58)
0,633
5ª MCF
2,58
(0,67)
2,08*
(0,79)
2,75
(0,58)
2,06*
(0,57)
0.730
2,33
(0,98)
2,00
(0,95)
2,11
(0,60)
1,89
(0,60)
0,546
IF
polegar
2,19
(0,40)
1,56*
(0,51)
2,50
(0,52)
2,00*
(0,55)
0,012
2,38
(0,62)
1,63*
(0,50)
2,19
(0,54)
1,81*
(0,54)
1,000
2ª IFP
2,39
(0,61)
1,89*
(0,68)
2,30*
(0,56)
1,83*
(0,49)
0,639
2,32
(0,75)
1,74*
(0,73)
2,27
(0,46)
1,67*
(0,49)
0,759
3ª IFP
2,38
(0,58)
2,04*
(0,55)
2,67
(0,58)
2,10*
(0,54)
0,224
2,33
(0,76)
1,83*
(0,64)
2,43
(0,76)
1,71*
(0,61)
0,950
4ª IFP
2,44
(0,73)
2,00*
(0,63)
2,47
(0,74)
1,80*
(0,56)
0,684
2,17
(0,83)
2,00
(0,74)
2,22
(0,67)
1,89
(0,60)
0,927
5ª IFP
2,31
(0,63)
1,77*
(0,60)
2,50
(0,76)
2,00*
(0,55)
0,313
2,27
(1,01)
1,64
(0,67)
1,80
(0,45)
1,60
(0,55)
0,484
p < 0,05 significante,
MCF = metacarpofalângica, IF = interfalângica, IFP = interfalângica proximal, DP = desvio padrão
* = diferença estatisticamente significante intragrupos (p<0,05)
41
RESULTADOS
TABELA 3. EVA (em cm) para dor nas mãos durante as atividades de vida diária
MÃO DIREITA
MÃO ESQUERDA
média (DP)
média (DP)
Grupo
experimental
Grupo
controle
p
Grupo
experimental
Grupo
controle
p
inicial
final
inicial
final
Intergrupos
inicial
final
inicial
final
Intergrupos
Global
6,08
(1,87)
4,20*
(2,50)
5,85
(1,76)
3,21*
(2,82)
0,163
6,30
(1,80)
4,28*
(2,89)
5,90
(1,76)
3,44*
(2,58)
0,154
Radiocarpal
6,06
(1,85)
4,15*
(2,45)
6,18
(1,78)
3,44*
(2,61)
0,488
6,26
(1,54)
4,31*
(2,72)
6,19
(1,56)
3,13*
(2,43)
0,145
MCF polegar
5,92
(1,47)
4,29*
(2,54)
5,21
(2,13)
3,21*
(2,78)
0,097
5,83
(1,61)
3,33*
(2,01)
5,65
(1,67
2,73*
(2,32)
0,390
2ª MCF
6,27
(1,48)
3,31*
(2,51)
5,38
(1,64)
3,38*
(2,72)
0,400
6,08
(1,61)
3,38*
(2,90)
5,43
(1,65)
3,00*
(2,45)
0,304
3ª MCF
6,16
(1,57)
3,68*
(2,44)
5,52
(1,75)
3,26*
(3,05)
0,303
5,60
(1,58)
3,18*
(2,79)
5,35
(1,76)
2,55*
(2,31)
0,407
4ª MCF
6.07
(1,64)
3,14*
(2,28)
5,57
(1,87)
3,64*
(2,73)
1,000
6,62
(1,33)
2,96*
(2,52)
5,00
(1,91)
2,92*
(2,78)
0,266
5ª MCF
5,92
(1,93)
3,75*
(2,09)
5,00
(1,97)
2,75*
(3,07)
0,222
6,82
(1,33)
4,00*
(2,28)
5,44
(1,81)
2,78*
(2,54)
0,093
IF
polegar
6,19
(1,42)
3,72*
(2,66)
5,50
(2,14)
2,57*
(2,41)
0,154
6,13
(1,73)
3,37*
(3,03)
6,06
(1,20)
2,65*
(2,45)
0,508
2ª IFP
6,06
(1,39)
3,11*
(2,14)
5,39
(1,67)
2,52*
(2,25)
0,227
6,22
(1,59)
2,47*
(1,96)
5,40
(1,45)
3,20*
(2,48)
0,933
3ª IFP
5,96
(1,57)
3,19*
(2,67)
5,76
(1,37)
2,76*
(2,10)
0,512
5,70
(1,61)
2,72*
(2,67)
5,79
(1,93)
2,79*
(2,39)
0,895
4ª IFP
6,06
(1,53)
2,81*
(2,17)
5,53
(1,55)
2,80*
(1,90)
0,604
6,36
(1,75)
2,70*
(2,87)
6,11
(2,20)
2,33*
(1,94)
0,821
5ª IFP
6,21
(1,63)
3,00*
(1,92)
5,71
(1,54)
2,07*
(2,30)
0,247
6,50
(1,51)
3,60*
(1,26)
6,20
(2,28)
2,60*
(2,19)
0,337
p < 0,05 significante,
MCF = metacarpofalângica, IF = interfalângica, IFP = interfalângica proximal, DP = desvio padrão,
EVA = escala visual analógica
* = diferença estatisticamente significante intragrupos (p<0,05)
42
RESULTADOS
TABELA 4. EVA (em cm) para dor nas mãos durante o repouso
MÃO DIREITA
MÃO ESQUERDA
média (DP)
média (DP)
Grupo
experimental
Grupo
controle
p
Grupo
experimental
Grupo
controle
p
inicial
final
inicial
final
Intergrupos
inicial
final
inicial
final
Intergrupos
Global
4,24
(2,14)
3,08*
(2,44)
3,97
(2,02)
2,31*
(2,31)
0,214
4,25
(2,37)
2,89*
(2,98)
3,61
(2,65)
2,21*
(2,35)
0,176
Radiocarpal
4,03
(2,64)
2,76*
(2,63)
3,59
(2,49)
2,12*
(2,21)
0,282
3,97
(2,65)
2,62*
(2,82)
3,77
(2,57)
1,97*
(2,25)
0,433
MCF polegar
4,21
(2,87)
2,83*
(2,55)
3,43
(2,36)
1,64*
(2,20)
0,098
3,79
(2,36)
1,71*
(2,35)
3,24
(2,49)
1,16*
(1,65)
0,312
2ª MCF
4,12
(2,21)
2,15*
(2,24)
3,75
(2,09)
2,04*
(2,14)
0,651
3,96
(2,47)
2,56*
(2,66)
3,18
(2,67)
2,05*
(2,10)
0,292
3ª MCF
3,96
(2,67)
2,28*
(2,21)
3,83
(2,17)
2,22*
(2,47)
0,864
3,56
(2,24)
2,42*
(2,54)
2,85
(2,58)
1,60*
(1.90)
0.164
4ª MCF
4,36
(2,73)
2,29*
(2,37)
3,87
(2,07)
1,93*
(2,25)
0,548
4,00
(2,20)
2,08*
(2,50)
2,75
(1,82)
1,75*
(2,45)
0,296
5ª MCF
4,42
(2,75)
2,58*
(2,43)
3,88
(2,06)
1,81*
(2,56)
0,393
4,45
(2,66)
2,91*
(2,66)
3,33
(1,80)
2,00*
(2,40)
0,259
IF
polegar
4,25
(2,89)
2,75*
(2,44)
3,57
(2,14)
1,36*
(2,02)
0,131
4,53
(2,23)
2,13*
(2,61)
3,75
(2,54)
1,38*
(2,03)
0,303
2ª IFP
3,56
(2,38)
2,22*
(2,02)
3,39
(2,04)
1,50*
(1,74)
0,470
4,35
(2,64)
1,67*
(1,97)
3,20
(2,81)
1,73*
(1,87)
0,455
3ª IFP
3,92
(2,69)
2,21*
(2,04)
3,81
(1,86)
1,60*
(1,67)
0,560
4,00
(2,45)
1,83*
(2,31)
3,07
(2,59)
1,36*
(1,95)
0,323
4ª IFP
3,94
(2,91)
1,94*
(1,69)
3,80
(1,78)
1,47*
(1,68)
0,628
5,09
(2,07)
1,55*
(2,07)
3,44
(2,83)
1,33*
(1,80)
0,240
5ª IFP
4,71
(2,33)
2,14*
(1,66)
4,14
(2,03)
1,36*
(1,78)
0,257
4,90
(2,42)
2,30*
(1,83)
4,80
(2,77)
1,60*
(2,19)
0,679
p < 0,05 significante,
MCF = metacarpofalângica, IF = interfalângica, IFP = interfalângica proximal, DP = desvio padrão,
EVA = escala visual analógica
* = diferença estatisticamente significante intragrupos (p<0,05)
43
RESULTADOS
Nas tabelas 5, 6 e 7, são apresentadas as goniometrias das mãos dos
pacientes estudados. Muitas vezes, as médias de goniometria melhoraram do início
para o final do tratamento com diferença, estatisticamente significante, tanto no GE,
quanto no GC (intragrupos) (p < 0,05). Encontramos diferença, estatisticamente
significante, entre os grupos apenas na flexão da IFP do quinto dedo à direita (p =
0,021) no entanto, a favor do GC (tabela 7).
A tabela 8 mostra a perimetria das mãos dos pacientes. Podemos
observar que as médias se mantiveram, na maioria das vezes, em ambos os grupos no
final do tratamento sem diferenças estatísticas (intragrupos). Não houve diferença,
estatisticamente significante, também entre os grupos, salvo na IF do polegar à
esquerda (p = 0,013), apontando melhora para o GE e na terceira IFP à direita (p =
0,044), mas com melhora maior no GC.
As tabelas 9 e 10 apresentam os resultados da rigidez matinal avaliada
em minutos e através de uma EVA; estado global das mãos sob o ponto de vista do
terapeuta por meio de uma EVA; os resultados da força de preensão palmar e de
pinça; o teste de destreza O’Connor e os questionários DASH e HAQ. Verificamos
melhora, em ambos os grupos, do início para o fim do tratamento em diversas variáveis
com diferença estatística (intragrupos) (p < 0,05). Não encontramos para esses
parâmetros diferenças, estatisticamente significantes, entre os grupos, com exceção da
força de preensão palmar à esquerda (p = 0,010) e do questionário DASH no domínio
trabalho (p = 0,010) com vantagem para o GC.
44
RESULTADOS
TABELA 5. Goniometrias (em graus) das radiocarpais, polegares e oponência (em cm)
MÃO DIREITA
MÃO ESQUERDA
média (DP)
média (DP)
Grupo
experimental
inicial
final
Grupo
controle
p
Grupo
experimental
inicial
final
Intergrupos
inicial
final
Grupo
controle
inicial
final
p
Intergrupos
Flexão da
RC
63,48 68,94*
(18,43) (16,14)
69,41
(21,17)
71,62*
(24,55)
0,370
62,43
(20,98)
66,86*
(20,22)
70,69 75,17*
(15,68) (16,93)
0,065
Extensão
da RC
56,52
(22,52)
57,73
(20,04)
51,32
(23,91)
51.18
(25,08)
0,241
51,71
(23,26)
61,71*
(17,94)
53,97 55,17*
(20,41) (22,74)
0,657
Desvio
Ulnar da
RC
Desvio
Radial da
RC
35,91 39,70*
(11,21) (12,31)
33,38
(9,98)
37,50*
(12,14)
0,297
33,14
(12,84)
34,14
(12,57)
33,62
(10,08)
37,93
(10,98)
0,415
18,18 21,67*
(12,55) (10,73)
18,48
(9,56)
19,12*
(9,81)
0,709
25,43
(11,27)
27,57*
(11,72)
22,93
(10,05)
27,07*
(8,92)
0,528
Pronação
80,00
(14,42)
81,82
(14,41)
81,62
(17.91)
80,88
(20,98)
0,928
81,00
(17,31)
84,86
(14,58)
82,76
(12,22)
82,83
(14,24)
0,981
Supinação
77,27 85,76*
(19,17) (10,91)
76.18
(21,14)
78,24*
(21,14)
0,299
78,00
(16,50)
84,57*
(10,74)
79,14 84,31*
(18,42) (14,50)
0,898
Abdução
Lateral do
pol
Abdução
Ventral do
pol
62,50
(10,83)
63,75*
(7,11)
56,96
(8,09)
61,07*
(9,27)
0,056
63,70
(10,47)
66,96
(7,19)
65,00
(6,43)
66,88
(9,07)
0,760
65,42
(10,52)
66,67
(9,29)
59,64
(11,05)
66,25*
(9,78)
0,228
61,52
(9,82)
64,78
(8,72)
64,79
(10,88)
65,42
(8,46)
0,420
Oponência
do pol
0,06
(0,31)
0,02
(0,10)
0,04
(0,19)
0,00
(0,00)
0,508
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
n/a
p < 0,05 significante, DP = desvio padrão, n/a = não se aplica, RC = radiocarpal, pol = polegar
* = diferença estatisticamente significante intragrupos (p<0,05)
45