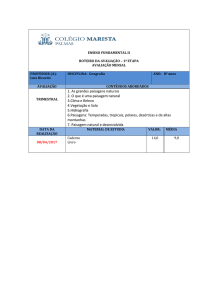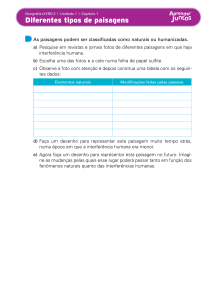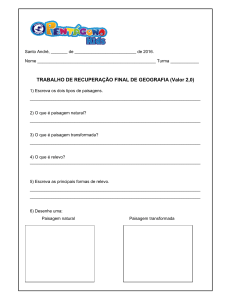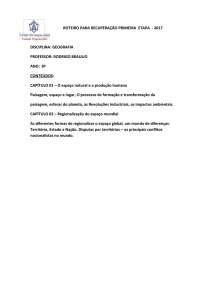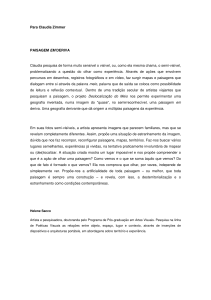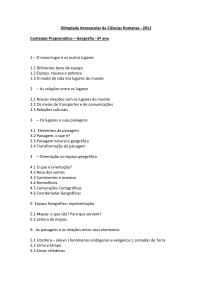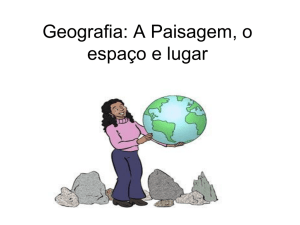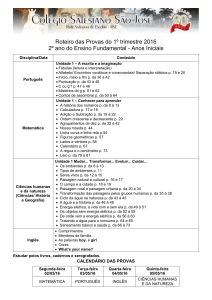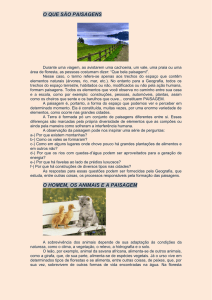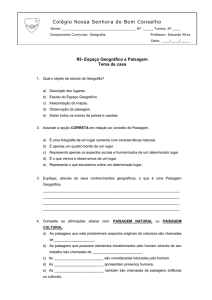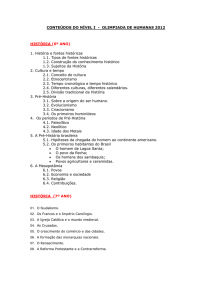Geografia. Ensino & Pesquisa, v. 12, p. 2462-2479, 2008. Santa Maria: UFSM.
HEMEROBIA NAS UNIDADES DE PAISAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO SOROCABA (SP) – DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Oriana Aparecida Fávero ([email protected]) - CCBS/UPM1
João Carlos Nucci ([email protected]) – DG/UFPR2
Mário De Biasi ([email protected]) – DG/FFLCH/USP3
RESUMO: Considerando que a natureza desempenha inúmeras funções básicas para o
suprimento do ser humano e que as transformações antrópicas têm provocado
profundas modificações nos sistemas naturais, capazes de comprometer sua
conservação, o presente trabalho objetivou avaliar os graus de alteração antrópica
(hemerobia) nas Unidades de Paisagem (UPs) da Bacia Hidrográfica do Rio
Sorocaba/SP, escala 1:250.000 [elaborado por Fávero (2007)], e as contribuições, dos
usos das terras predominantes em cada UP, para a conservação da natureza (CCN).
Partindo-se do pressuposto de que quanto mais modificadores forem os usos maiores
as transformações nos sistemas naturais e menor sua estabilidade dificultando a
conservação da natureza, elaborou-se o Mapa de Hemerobia das 35 UPs da Bacia
que contemplou a avaliação da CCN. Foram identificados cinco graus de hemerobia
que foram classificados comparando os diferentes usos (predominantes) e tipos de
coberturas entre si conforme sua contribuição (relativa) para a conservação da
natureza (muito alta, alta, média, baixa e muito baixa). Verificou-se que a maior parte
das UPs (21 UPs - cerca de 65% da área da Bacia) apresentam usos das terras que
acarretam modificações moderadas a fortes em sua paisagem, pastagens e campos
antrópicos, que alteram o potencial de suprimento de funções naturais, mas mantêm a
capacidade de recuperação de seu estado original e, portanto promovem média CCN.
Usos mais modificadores e artificializadores, desde cultivos comerciais até graus
diversos de urbanização, podem desestruturar os sistemas naturais comprometendo
sua capacidade de recuperação, oferecendo baixa e muito baixa CCN, e compõem
cerca de 25% da área estudada (onze UPs). Todavia usos antrópicos bem menos
modificadores (silvicultura) que podem permitir melhor cumprimento das funções
naturais, e os usos indiretos (recreação, áreas protegidas, etc.), são oportunidades de
alta e muita alta CCN, porém reduzidas na área estudada (10% - três UPs).
PALAVRAS CHAVES: hemerobia, unidade de paisagem, conservação da natureza.
1
Bióloga, doutora em Geografia Humana, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
2
Biólogo, doutor em Geografia Física, Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná.
3
Geógrafo, doutor em Geografia Humana, Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Abstract: The nature performs countless functions according to human demand,
however the anthropological transformations have caused deep changes in natural
systems, which are able to endanger these functions maintenance. This paper has
objectivated to evaluate the degrees of anthropological alterations (hemeroby) in the
landscape’s unities (UPs) of the Sorocaba River’s Basin/SP, scale 1:250.000, and the
contribution of prevailing land usage in each UP, to the nature’s conservation (CCN).
From the idea of the more modifiers are the usages, the more transformations in the
natural systems, and minor its stability, making more difficult the nature’s conservation.
A Hemeroby Map of the 35 UPs in the basin was made that completed the evaluation
of the CCN. Five hemeroby degrees were identified, that were classified by comparing
the different usages (prevailing) and kinds of coverage among them according their
distribution (relative) to the nature’s conservation (very high, high, medium, low and
very low). It was verified that 21 UPs (around 65% of the basin’s area) show land
usages that cause moderated to strong modifications in its landscape, pastures an
anthropical fields, that change the natural functions` supplying potential, but that keep
the capacity of recovering of its original state and, therefore, promotes medium CCN.
Usages that are stronger modifiers and artificial makers, since commercial cultivations
up to different degrees of urbanization, can eliminate the structure of the natural
systems jeopardizing their recovering capacity, offering low and very low CCN, and
consists around 25% of the study area (eleven UPs). Nevertheless, athropical usages
that are less modifiers (as forest cultivation) that can allow better accomplishment for
natural functions, and the indirect usages (recreation, protected areas, etc.) are
opportunities of high and very high CCN, although reduced in the study area (10% and
three UPs).
KEY-WORDS: hemeroby, landscape unity, nature’s conservation.
1 INTRODUÇÃO
O bem-estar e a qualidade de vida do ser humano dependem tanto da
manutenção das funções da natureza quanto das relações técnicas que são estabelecidas
entre ser humano e natureza, as quais acarretam diversos graus de transformação dos
sistemas naturais.
De forma direta ou indiretamente inúmeros benefícios e serviços são realizados
pela natureza na medida em que a integridade das funções por ela realizadas é mantida.
De acordo com De Groot (1992 e 2006), a natureza realiza cinco grupos de funções (de
regulação, de habitat, de produtividade, de suporte e de informação) que conforme Born
e Talocchi (2002) oferecem: os recursos ou bens – produtos ou elementos – e, os
serviços naturais – processos protetores e regulatórios entre outros –, necessários ao
bem-estar dos seres humanos e dos demais seres vivos.
Entretanto, as transformações antrópicas quando feitas pensando-se apenas no
maior lucro direto e imediato, baseada na crença no avanço tecnológico e sem um
planejamento com visão sistêmica, têm provocado profundas modificações nos sistemas
naturais, com conseqüências indesejáveis (LEFF, 2000; DOUROJEANNI e PÁDUA,
2001; FOLADORI, 2001; WILSON, 2002; FÁVERO et al., 2004; e FÁVERO, 2007).
Além do comprometimento das funções da natureza, com a crescente tendência à
concentração das populações em áreas urbanas, por exemplo, cada vez menos os
cidadãos conseguem encontrar oportunidades de contato direto com a natureza (cuja
importância para a saúde é fato comprovado cientificamente) já que, na maioria dos
casos, a urbanização ocorre com aumento de “concreto” em detrimento da paisagem
natural (McHARG, 2000; FÁVERO et al., 2004; e FÁVERO, 2007).
Segundo ainda vários autores (ODUM, 1985; FORMAN, 1995; MATEO
RODRIGUEZ, 2000; e McHARG, 2000) certas perturbações (estresses físicos)
introduzidas pelos seres humanos (ou antrópicas), nos ecossistemas, são repentinas
demais, violentas demais ou arrítmicas demais para o processo de adaptação da
comunidade biótica, de tal forma que ocorre uma forte oscilação ao invés de uma
estabilidade. Portanto, certos impactos que podem ser absorvidos nas paisagens
naturais, em paisagens antropogênicas podem ser catastróficos.
Desta forma, a adoção de uma postura precavida e de valorização de medidas de
conservação da natureza, nos processos de planejamento do uso das terras e de
transformação da natureza, buscando a utilização de conceitos e métodos que
contemplem um melhor aproveitamento de seu potencial, tem se tornado emergencial.
Das várias abordagens geográficas que vêm desenvolvendo conceitos e métodos
para procurar integrar sociedade e natureza destaca-se a Ciência da Paisagem cujos
princípios básicos são (MONTEIRO, 2000; MATEO RODRIGUEZ, 2000; NUCCI,
2001; MATEO RODRIGUES et al., 2004; DIAS, 2006; e FÁVERO, 2007):
9 a construção de conceitos e métodos que buscam integrar os elementos da natureza e
da sociedade de forma espacializada (e/ou georreferenciada);
9 a valorização da natureza e do entendimento de suas leis para buscar estabelecer
suas potencialidades (limites e aptidões para os usos antrópicos).
Tais princípios são fundamentais para o estabelecimento de estratégias, com
critérios e parâmetros, que possibilitem utilizar a natureza aproveitando ao máximo os
fluxos de renovação do suporte básico da vida e a capacidade de depuração de rejeitos
dos processos ecológicos, para proporcionar uma qualidade ambiental (mínima) que
melhore as condições de vida das populações conforme suas peculiaridades culturais.
O conceito de “paisagem” foi introduzido como termo científico-geográfico no
início do século XIX por Alexander von Humboldt (1769-1859), o grande pioneiro da
moderna geobotânica e geografia física e, mais recentemente, foi resgatado por Bertrand
(1972) que procurou reforçar a importância da visão integrada (holística) em renuncia
ao processo de determinação de unidades sintéticas com base nas unidades elementares
delimitadas pelas disciplinas mais especializadas (Geologia, Geomorfologia, Pedologia,
Climatologia, etc), procurando talhar diretamente a paisagem global tal qual ela se
apresenta, enfatizando que ‘a síntese vem felizmente, no caso, substituir a análise’
(FÁVERO, 2007; FÁVERO et al., 2007; e NUCCI, 2007).
A Geografia das Paisagens foi se desenvolvendo em vários países tendo grande
influência, segundo vários autores (BERTRAND, 1972; SOTCHAVA, 1978; MATEO
RODRIGUEZ, 2000; MONTEIRO, 2000; NUCCI, 2001; e MATEO RODRIGUEZ et
al., 2004), da teoria geral dos sistemas e, no Brasil, os trabalhos do professor Dr. Carlos
Augusto
de
Figueiredo
Monteiro
apresentaram
suas
contribuições,
a
este
desenvolvimento, com vários estudos voltados a construção de um conjunto de
concepções e métodos integradores para tratamento das questões sobre qualidade
ambiental.
Deste esforço destaca-se o conceito de paisagem, o qual está sendo adotado para
este trabalho: “Entidade espacial delimitada segundo um nível de resolução do
geógrafo (pesquisador), a partir dos objetivos centrais da análise, de qualquer modo
sempre resultando da integração dinâmica e, portanto, instável dos elementos de
suporte, forma e cobertura (físicos, biológicos e antrópicos) e expressa em partes
delimitáveis infinitamente, mas individualizadas através das relações entre elas, que
organizam um todo complexo (sistema), verdadeiro conjunto solidário e único, em
perpétua evolução” (MONTEIRO, 2000, p. 39).
Para estudo da estrutura e dinâmica de uma paisagem, visando estabelecer suas
potencialidades, o procedimento básico, largamente recomendado (BERTRAND, 1972;
DELPOUX, 1974; SOTCHAVA, 1978; MONTEIRO, 2000; MATEO RODRIGUEZ,
2000; NUCCI, 2001; e FÁVERO, 2007), seria a apreensão das descontinuidades
objetivas da paisagem (BERTRAND, 1972), ou a delimitação de Unidades de Paisagem
(MONTEIRO, 2000).
A Unidade de Paisagem seria definida por uma síntese de numerosas
características e justificada pela redundância ou repetição, que fornecem uma relativa
homogeneidade do sistema assim constituído, sendo, portanto uma representação
geográfica (projeção espacial) do ecossistema, denunciada por indicadores facilmente
perceptíveis (vegetação, formas de relevo, uso e cobertura do solo, etc.), com um nível
homogêneo de organização da vida em seu interior, tanto no que diz respeito a sua
estrutura quanto ao seu funcionamento (FÁVERO et al., 2004; e FÁVERO, 2007).
A delimitação de Unidades de Paisagem não pode ser entendida como um fim
em si mesma e também deve vir acompanhada da escala cartográfica adotada (dado que
a escala restringe o grau de detalhamento da realidade analisada) (NUCCI, 2001). Cada
unidade pode e deve passar por uma avaliação, ou seja, uma valoração em termos de
suas qualidades ou grau de excelência intrínseco (GÓMEZ OREA, 1978).
McHarg (2000), por exemplo, defende que cada paisagem apresenta uma
suscetibilidade intrínseca aos usos das terras podendo eventualmente suportar mais de
um tipo de uso antrópico sem comprometimento das funções da natureza, porém estas
oportunidades ou aptidões para usos antrópicos diferem de acordo com suas
características. Desta forma, utilizar a natureza racionalmente implica em reverter a
favor do uso humano suas oportunidades respeitando, o máximo possível, seus limites.
O acompanhamento e avaliação das mudanças no uso e na cobertura da terra,
com a criação de um mosaico de unidades de paisagem em diferentes graus de
transformações tem influenciado positivamente a construção de conceitos e métodos
para a avaliação das paisagens.
Para Mateo Rodriguez (2000), pode-se classificar e avaliar as paisagens,
conforme o grau de impacto, modificação ou transformação.
Esta idéia de avaliação das interferências antrópicas sobre as potencialidades
naturais da paisagem está também presente na construção do conceito de hemerobia,
proposto por Jalas (1953 e 1965 apud TROPPMAIR, 1989) e utilizado por Sukopp
(1972), entre outros conforme apresenta o Quadro 01 obtido de Mateo Rodrigues e
colaboradores (2004). Levando-se em consideração mudanças no solo (tipos de
superfícies), mudanças na vegetação e na flora (perda de espécies nativas, por exemplo),
as paisagens são classificadas em relação aos graus de naturalidade ou de estado
hemerobiótico (artificialidade). Em Haber (1990), ainda, há outra classificação dos tipos
de usos da terra, sem citar o termo hemerobia, de acordo com a diminuição da
naturalidade ou aumento da artificialidade dos ecossistemas.
Quadro 01 – Diferentes Interpretações do Grau de Transformação Antropogênica da Paisagem
(FONTE: PIOTRZAK, 1990 apud MATEO RODRIGUEZ et al., 2004, p. 180).
NÍVEL
GRAU DE
GRAU DE
GRAU DE
ESTRATOS DE
GRAU DE
HEMERÓBICO NATURALIDADE
(H. Sukopp,
(H. Ellemberg, SINANTROPIZAÇÃO NATURALIDADE SINANTROPIZAÇÃO TRANSFORMAÇÃO
1982, L. Jalas,
1973, H. Leser,
(H. Sohiutter, 1982) (H. Sohlutter,1982) (J.B. Falinski, 1966)
(J.B. Falinski (1966)
l953 e 1963)
1978)
0. A-hemeróbico
(primogênico)
l. Oligohemeróbico
(transformação
leve)
2. Mesohemoeróbico
(transformação
média)
3. Eu-hemeróbico
(extensamente
transformado)
4. Polihemerôbico
(maior grau de
transformação)
5. Metahemetóbico
(completamente
transformado)
Totalmente
natural
0
9
-
-
Natural Seminatural
1-2
8-7
Presinantropização
I
Distante do
natural
3-4-5
6-5
Preotosinantropização
II
Muito distante
do natural
6-7-8
3–2-1
Polisinantropização
III - IV
Artificial
9
0
Metasinantropização/
Eusinantropização
V - VI - VII
Áreas urbanas
8
0
Pansinantropização
VIII
Desta forma o presente trabalho, considerando que a natureza desempenha
inúmeras funções básicas para o suprimento de qualquer ser humano (ou outro ser vivo)
e que as transformações antrópicas têm provocado, por vezes, profundas modificações
nos sistemas naturais, capazes de comprometer sua conservação, objetivou avaliar os
graus de alteração antrópica (hemerobia) nas Unidades de Paisagem (UPs) da Bacia
Hidrográfica do Rio Sorocaba/SP, escala 1:250.000 [elaborado por Fávero (2007)], e as
contribuições, dos usos das terras predominantes em cada UP, para a conservação da
natureza.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A Bacia do Rio Sorocaba possui uma área de drenagem de 5.273 km² e encontrase entre as latitudes 22°45’ e 24° Sul e as longitudes 47° e 48°15’ Oeste, na região
centro-sudeste do Estado de São Paulo (Figura 01) e de cobertura vegetal natural do
Domínio da Mata Atlântica que é um dos 10 ‘hotspots’ de biodiversidade considerados
prioritários para a conservação da natureza dada sua grande riqueza em espécies
endêmicas e o extremo grau de fragmentação dos remanescentes.
Figura 01 – Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba no Estado de São Paulo (Org.: FÁVERO, 2006).
Fávero (2007), em sua tese de doutorado intitulada “Paisagem e Sustentabilidade
na Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba”, elaborou o mapa síntese com proposta de
delimitação de Unidades de Paisagem (UPs), na escala 1:250.000, para a Bacia do Rio
Sorocaba, com base na integração de elementos de cobertura (a vegetação e o uso das
terras), com as unidades geomorfológicas (os compartimentos morfoestruturais e
morfoesculturais de suporte). Para tanto utilizou a sobreposição dos mapas: de
caracterização da vegetação natural (ou original e secundária); de usos das terras; e o
geomorfológico.
Do quadro síntese, elaborado por Fávero (2007), que caracteriza exaustivamente
cada uma das UPs, foram utilizadas, principalmente as informações referentes à
vegetação e os usos das terras para a avaliação do grau de naturalidade/artificialidade de
acordo com o conceito de hemerobia (dominação e/ou alteração das paisagens, ou a
totalidade dos efeitos das ações, voluntárias ou não, do ser humano sobre os
ecossistemas/paisagens) revisado na literatura.
Partindo-se do pressuposto de que quanto mais modificadores ou hemerobióticos
forem os usos das terras estabelecidos maiores as transformações nos sistemas naturais e
menor sua estabilidade dificultando a conservação da natureza, elaborou-se o Mapa de
Hemerobia das UPs da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba (Figura 02) que contemplou
a avaliação da contribuição dos usos das terras para a conservação da natureza.
Conforme cada tipo de uso favorece ou dificulta a manutenção das funções da
natureza ao modificar menos ou mais a estrutura (morfo-funcional dinâmica) dos
sistemas naturais, e contribuindo (ou não) para a conservação da natureza, atribuiu-se
valores numéricos correspondentes ao grau de contribuição para a conservação.
Pretendeu-se não uma avaliação absoluta e independente, mas sim uma
comparação entre as UPs para ordená-las de forma relativa de acordo com uma maior
ou menor interferência antrópica levando ao afastamento da paisagem mais natural.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As trinta e cinco Unidades de Paisagem (UPs), delimitadas por Fávero (2007)
para a Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba, foram avaliadas de acordo com os
elementos naturais e as interferências antrópicas concretizadas na paisagem.
Cinco graus de hemerobia foram identificados e classificados comparando os
diferentes usos das terras e tipos de coberturas entre si conforme sua contribuição
(relativa) para a conservação da natureza estabelecendo as seguintes categorias para
avaliação das UPs:
9 muita alta (contribuição para a conservação da natureza - CCN) – paisagens não
modificadas ou levemente modificadas [(naturais e semi-naturais) - com muito baixa
hemerobia] – cujos usos das terras predominantes são as áreas protegidas com controle
de usos antrópicos onde ocorrem atividades de turismo, educação ambiental e recreação
controladas (a cobertura vegetal natural e sucessões naturais predominam);
9 alta (CCN) – paisagens levemente modificadas [(semi-naturais) - com baixa
hemerobia] – usos silviculturais (reflorestamentos de eucaliptos) e atividades de
turismo, educação ambiental e recreação extensivas;
9 média (CCN) – paisagens com modificações moderadas a fortes [(antropo-naturais;
pastoris) - com média hemerobia] – com pastagens entremeadas por campos antrópicos;
9 baixa (CCN) – paisagens com modificações fortes a muito fortes [(antropo-naturais;
agrícolas) - com alta hemerobia]
– com culturas e lavouras diversas e grandes
barragens;
9 muito baixa (CCN) – paisagens com vários graus de urbanização [(desde povoados
até grandes áreas urbanizadas com alta densidade demográfica) - com muito alta
hemerobia] e áreas industrializadas.
Os graus de hemerobia correspondentes são inversamente proporcionais às
contribuições dos usos das terras para a conservação da natureza sendo tanto maiores
quanto menores forem estas contribuições.
O Quadro 02 resume as categorias supracitadas e sistematiza a legenda do Mapa
de Hemerobia da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba da Figura 02.
Por sua vez o Quadro 03 apresenta a avaliação das UPs da Bacia do Rio
Sorocaba quanto a contribuição dos usos antrópicos para a conservação da natureza
conforme as categorias detalhadas no Quadro 02.
Quadro 02 – Graus de Modificação ou Artificialização dos Usos das Terras (Hemerobia) e Respectivos
Parâmetros para a Avaliação da Importância dos Usos das Terras para a Conservação da Natureza nas
UPs da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba (Elaborado por FÁVERO, 2007).
Grau de Modificação ou
artificialização
(Hemerobia)
Não modificadas ou
levemente modificadas –
naturais e semi-naturais
(Menor hemerobia)
Levemente modificadas –
semi-naturais
Modificações moderadas a
fortes – antropo-naturais
(pastoril)
Modificações fortes a muito
fortes – antropo-naturais
(agrícolas)
Intensamente modificadas –
artificializadas ou
antrópicas
(Maior hemerobia)
Descrição dos Usos Predominantes
9 Parte de ou áreas protegidas (UCs)
com controle dos usos antrópicos;
9 Atividades de turismo, educação
ambiental e recreação controladas;
9 Atividades de turismo, educação
ambiental e recreação extensivas;
9 Silvicultura (reflorestamentos de
eucaliptos);
Contribuição para a
Conservação da Natureza
(Parâmetro)
Muito Alta (4)
Alta (3)
9 Pastagens entremeadas por campos
antrópicos
Média (2)
9
9
Baixa (1)
Culturas e lavouras diversas
Grandes Barragens
9 Povoados e Áreas urbanas (em geral
com alta densidade demográfica);
9 Áreas de industrialização.
Muito Baixa (0)
Quadro 03 – Avaliação da Contribuição dos Usos Estabelecidos nas UPs da Bacia do Rio Sorocaba para
a Conservação da Natureza (Elaborado por FÁVERO, 2007).
Contribuição para a Conservação dos Usos
das Terras Estabelecidos
MUITO ALTA (4)
ALTA (3)
UPs
6
4a, 4b,
MÉDIA (2)
1a, 1b, 2a1, 2a2, 2a3, 2b, 3a, 3b, 5a1, 5a2, 5a3, 5b1,
5b2, 5c1, 5c2, 5c3, 5d, 8a1, 8a2, 8a3, 8b
BAIXA (1)
7a, 7b1, 7b2, 7b3
MUITO BAIXA (0)
9a1, 9a2, 9b1(a), 9b1(b), 9b1(c), 9b1(d), 9b2
Analisando o Quadro 03 e o Mapa de Hemerobia da Bacia Hidrográfica do Rio
Sorocaba (Figura 02) verificou-se que a maior parte das UPs (21 UPs - cerca de 65% da
área da Bacia), apresenta predominância de pastagens entremeadas a campos antrópicos
em seus usos das terras, atividades que promovem modificações moderadas a fortes nos
sistemas naturais e, portanto oferecem média contribuição para a conservação da
natureza.
Menor
Graus de
Hemerobia
Maior
Figura 02 – Mapa de Hemerobia e Contribuição dos Usos das Terras para a Conservação da Natureza nas Unidades de Paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio
Sorocaba (Elaborado por FÁVERO, 2007).
Conforme alguns autores (MATEO RODRIGUEZ, 2000; FÁVERO et al., 2004;
e MATEO RODRIGUEZ et al., 2004) as pastagens e os campos antrópicos alteram de
forma moderada a forte as paisagens promovendo principalmente remoção ou
modificação na cobertura vegetal natural, alterando o relevo e o microclima, que
acarretam alterações no potencial de suprimento de certas funções naturais, porém
conservam a capacidade de recuperação de seu estado original.
Na Bacia do Rio Sorocaba a grande extensão do estabelecimento desta forma de
uso das terras está homogeneizando esta paisagem e em certas UPs acarretando redução
nos fluxos de funções da natureza por elas oferecidos.
Usos indiretos das terras (recreação e turismo controlado, áreas protegidas, entre
outros), que promovem muito alta contribuição à conservação da natureza só foram
encontrados, com predominância, em uma UP (cerca de 2% da área), e usos menos
modificadores das paisagens, como a silvicultura, que promovem alta contribuição para
a conservação da natureza predominam em duas UPs (cerca de 8% da área).
A silvicultura ou as plantações florestais, consideradas como uma forma de usos
antrópicos menos modificadora dos sistemas naturais, alterando em geral a cobertura
vegetal natural e a composição faunística, segundo vários autores (MATEO
RODRIGUEZ, 2000; FÁVERO et al., 2004; e MATEO RODRIGUEZ et al., 2004),
permite melhor cumprimento das funções naturais.
Em quatro UPs (cerca de 15% da área) atividades agrícolas, (para cultivos
diversos) que promovem modificações fortes a muito fortes nas paisagens, são
predominantes, e em sete UPs (cerca de 10% da área) encontram-se as paisagens mais
artificializadas caracterizadas por vários graus de urbanização, oferecendo, portanto, as
menores contribuições para a conservação da natureza, baixa e muito baixa,
respectivamente.
Segundo os mesmos autores supracitados (MATEO RODRIGUEZ, 2000;
FÁVERO et al., 2004; e MATEO RODRIGUEZ et al., 2004) os cultivos comerciais
provocam modificações mais intensas (fortes a muito fortes) na estrutura e estabilidade
dos sistemas naturais, pois além da substituição da cobertura vegetal natural ocorrem
alterações físico-químicas, sobretudo no suporte edáfico (erosão ou empobrecimento
nutricional dos solos) e nos recursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos. De
acordo, ainda, com Fearnside (1997), os cultivos anuais ou perenes intensivos, com o
passar do tempo, levam a aumentos significativos da lixiviação, compactação do solo, e
invasão por ervas daninhas, minando as condições mínimas para estas mesmas
atividades.
4 CONCLUSÕES
Verificou-se que a maior parte da (65%) Bacia do Rio Sorocaba apresenta usos
das terras que acarretam modificações moderadas a fortes em sua paisagem, as
pastagens e os campos antrópicos, que alteram o potencial de suprimento de certas
funções naturais, mas mantêm a capacidade de recuperação de seu estado original e,
portanto certa contribuição para a conservação da natureza.
Usos mais modificadores e artificializadores, desde cultivos comerciais até graus
diversos de urbanização, podem desestruturar os sistemas naturais comprometendo sua
capacidade de recuperação, desta forma desafiam a conservação da natureza e compõem
aproximadamente 25% da área estudada.
Todavia usos antrópicos bem menos modificadores, como a silvicultura que,
apesar de alterar a cobertura vegetal natural e a composição faunística, pode ainda
permitir melhor cumprimento das funções naturais, e os usos indiretos (recreação,
turismo controlado, etc.), são oportunidades, porém reduzidas na área estudada (10%),
para a conservação da natureza.
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BERTRAND, G. Paisagem e Geografia Física Global, Esboço Metodológico. Caderno
de Ciências da Terra, São Paulo, n. 13, p. 01-27, 1972.
BORN, R. H. e TOLOCCHI, S.. Compensações por Serviços Ambientais:
sutentabilidade ambiental com inclusão social. In: BORN, R. H. e TOLOCCHI, S.
(Coords.). Proteção do Capital Social e Ecológico: por Meio de Compensações por
Serviços Ambientais (CSA). São Paulo: Peirópolis, 2002. p. 27-45.
DE GROOT, R.. Functions of Nature. Amsterdã: Wolters-Noordhoff, 1992. 315p.
DE GROOT, R.. Functions-analysis and valuation as a tool to assess land use conflicts
in planning for sustainable, multi-functional landscapes. Landscape and Urban
Planning, Oxford, n.75, 2006. p. 175-186.
DELPOUX, M.. Ecossistema e Paisagem. Série Métodos em Questão, São Paulo, n.13,
1974. p. 01-23.
DIAS, Janise B.. A dimensão dos sistemas naturais na (re)produção dos sistemas
agrícolas da agricultura familiar: análise da paisagem de três comunidades rurais na
Região Metropolitana de Curitiba (em São José dos Pinhais, Manduritiba e Tijucas do
Sul). Curitiba: UFPR, 2006. Tese (Doutorado apresentada ao Programa de Pósgraduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná).
DOUROJEANNI, M. J. e PÁDUA, M.T.J.. Biodiversidade. A hora decisiva. Curitiba:
UFPR, 2001, 308p.
FÁVERO, Oriana A.. Paisagem e Sustentabilidade na Bacia Hidrográfica do Rio
Sorocaba. São Paulo: DG/FFLCH/USP, 2007. Tese (Doutorado apresentada ao
Programa de Pós-graduação em Ciências – Geografia Humana da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo). Disponível em:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-11122007-095647/.
FÁVERO, O. A.; NUCCI, J. C. e DE BIASI, M.. Hemerobia das Unidades de Paisagem da
Floresta Nacional de Ipanema, Iperó/SP. In: CONGRESSO NACIONAL DE UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO, 4., 2004, Curitiba. Anais..., v. 1. Curitiba: Fundação O Boticário de
Proteção à Natureza/ Rede Nacional Pró Unidades de Conservação, 2004. p. 550-559.
FÁVERO, O. A., NUCCI, J. C., DE BIASI, M.. Delimitação de Unidades de Paisagem
como Subsídio ao Planejamento da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba/SP. In:
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, 12., 2007, Natal.
Anais de Trabalhos Completos. Natal: UFRN, 2007. p. 510-527. 1 CD-ROM.
FEARNSIDE, P. M.. Serviços Ambientais como Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável
na Amazônia Rural. In: CAVALCANTI, C. (Org.). Meio Ambiente, Desenvolvimento
Sustentável e Políticas Públicas. SÃO PAULO: CORTEZ, 1997. p. 314-45.
FOLADORI, G.. Limites do Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Imprensa
Oficial de SP, 2001. 221p.
FORMAN, R. T. T.. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. New
York: Cambridge University Press, 1995. 632p.
GÓMEZ OREA, D.. El Medio Fisico y la Planificación. Madrid: Cuadernos del
CIFCA, v.1 y v.2, 1978.
HABER, W.. Using Landscape Ecology in Planning and Management. In:
ZONNEVELD, I. S. and FORMAN, R. T. T. (Eds.) Changing Landscapes: an
ecological perspective. New York: Springer-Verlag, 1990.
LEFF, E.. Ecologia, Capital e Cultura: racionalidade ambiental, democracia
participativa, e desenvolvimento sustentável. Blumenau: Ed. da FURB, 2000. 381p.
MATEO RODRIGUEZ, J. M.. Geografia de los paisajes – primera parte paisajes
naturales. Habana: Universidad de Habana, 2000. 193p.
MATEO RODRIGUEZ, J. M.; SILVA, E. V. e CAVALCANTI, A. P. B.. Geoecologia das
Paisagens: uma visão geossistêmica da análise ambiental. Fortaleza: Ed. UFC, 2004. 222p.
McHARG, I. L.. Proyectar com la Naturaleza. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA,
2000. 198p.
MONTEIRO, C. A. de F.. Geossistemas: a História de uma Procura. São Paulo:
Contexto, 2000. 127p.
NUCCI, J. C.. Qualidade Ambiental e Adensamento Urbano. São Paulo:
HUMANITAS/FAPESP, 2001. 236p.
NUCCI, J. C. Origem e desenvolvimento da Ecologia e da Ecologia da Paisagem.
Revista Geografar, n. 2, Curitiba: Programa de Pós-graduação em Geografia –
DGEOG/UFPR, 2007 (on line).
ODUM, E. P.. Ecologia. Rio de Janeiro: Discos CBS (Interamericana), 1985. 434p.
SOTCHAVA, V. B. Por uma Teoria de Classificação de Geossistemas de Vida
Terrestre. Biogeografia, São Paulo, n.14, p. 01-24, 1978.
SUKOPP, H.. Wandel von Flora und Vegetation in Mitteleuropa unter dem Einfluss des
Menschen. Berichte uber Landwirtschaft, Bd. 50/H.1: 112-139, 1972.
TROPPMAIR, H.. Biogeografia e meio ambiente. Rio Claro: edição do autor, 1989.
WILSON, E. O.. O Futuro da Vida: um estudo da biosfera para a proteção de todas as
espécies, inclusive a humana. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 242p.