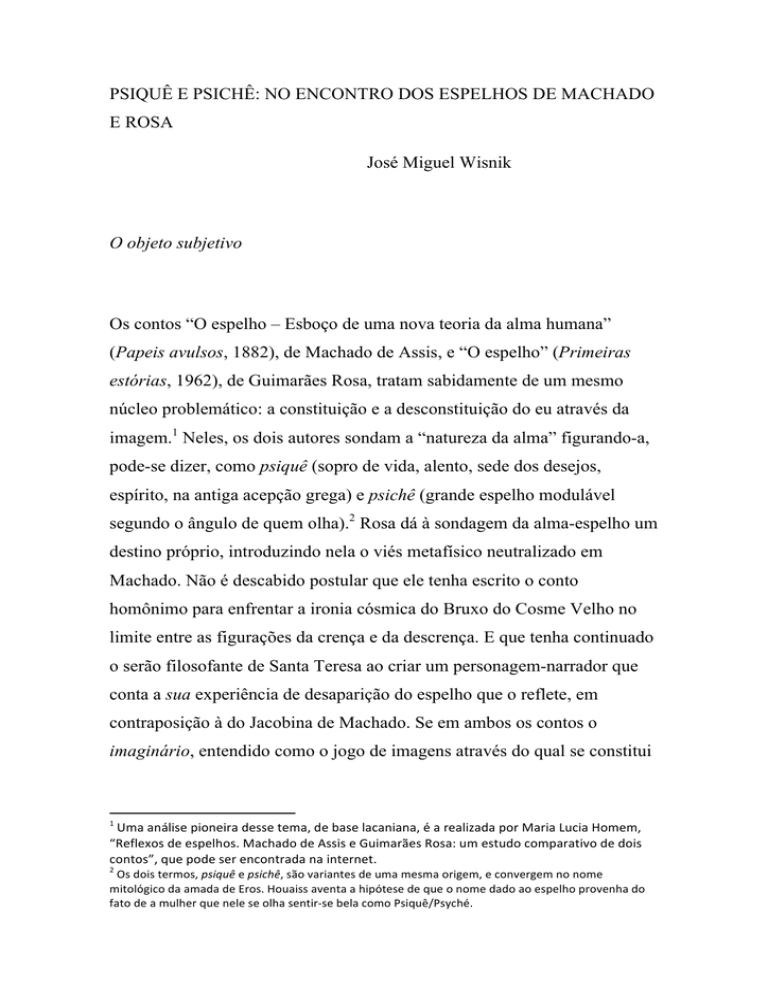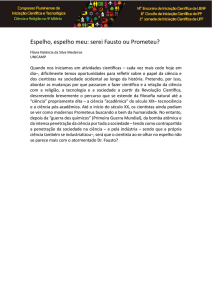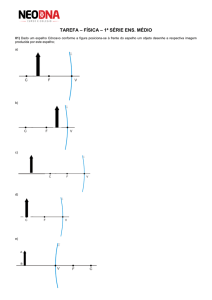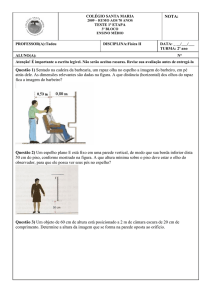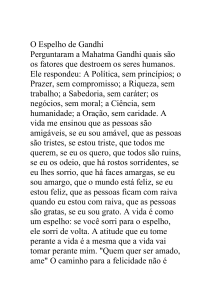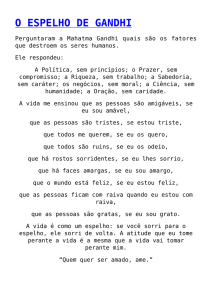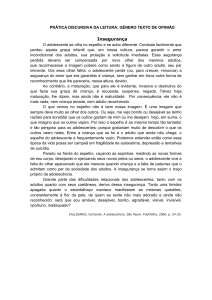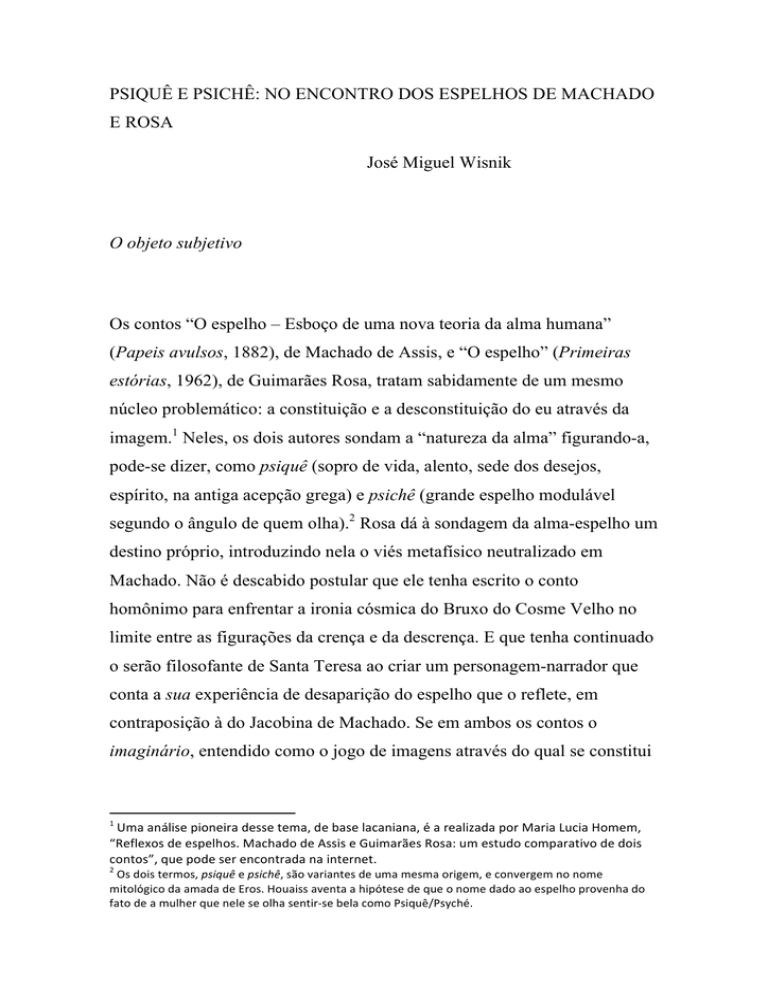
PSIQUÊ E PSICHÊ: NO ENCONTRO DOS ESPELHOS DE MACHADO
E ROSA
José Miguel Wisnik
O objeto subjetivo
Os contos “O espelho – Esboço de uma nova teoria da alma humana”
(Papeis avulsos, 1882), de Machado de Assis, e “O espelho” (Primeiras
estórias, 1962), de Guimarães Rosa, tratam sabidamente de um mesmo
núcleo problemático: a constituição e a desconstituição do eu através da
imagem.1 Neles, os dois autores sondam a “natureza da alma” figurando-a,
pode-se dizer, como psiquê (sopro de vida, alento, sede dos desejos,
espírito, na antiga acepção grega) e psichê (grande espelho modulável
segundo o ângulo de quem olha).2 Rosa dá à sondagem da alma-espelho um
destino próprio, introduzindo nela o viés metafísico neutralizado em
Machado. Não é descabido postular que ele tenha escrito o conto
homônimo para enfrentar a ironia cósmica do Bruxo do Cosme Velho no
limite entre as figurações da crença e da descrença. E que tenha continuado
o serão filosofante de Santa Teresa ao criar um personagem-narrador que
conta a sua experiência de desaparição do espelho que o reflete, em
contraposição à do Jacobina de Machado. Se em ambos os contos o
imaginário, entendido como o jogo de imagens através do qual se constitui
1
Uma análise pioneira desse tema, de base lacaniana, é a realizada por Maria Lucia Homem, “Reflexos de espelhos. Machado de Assis e Guimarães Rosa: um estudo comparativo de dois contos”, que pode ser encontrada na internet. 2
Os dois termos, psiquê e psichê, são variantes de uma mesma origem, e convergem no nome mitológico da amada de Eros. Houaiss aventa a hipótese de que o nome dado ao espelho provenha do fato de a mulher que nele se olha sentir-­‐se bela como Psiquê/Psyché. a função do eu, sofre o impacto de um real que o desarma,3 cada um deles
leva a mesma síndrome a consequências distintas, senão opostas, no
percurso simbólico da sua narratividade.
Ao introduzir, junto com o tema, as categorias real, imaginário e
simbólico, não estou pretendendo reduzir os dois contos a categorias
lacanianas, mas cotejar as suas semelhanças e diferenças com esse vértice
psicanalítico, a teoria da etapa do espelho como formadora da função do
eu.4 Sem pensar, evidentemente, em termos de influência, mas em
estabelecer relações entre paradigmas, o contraponto pode iluminar, talvez,
o modo enviesado e singular pelo qual a literatura participa da história das
ideias, guiada por um tempo próprio.
É no contexto da sua teoria da etapa do espelho que Lacan postula a imago
como o objeto constitutivo da psicologia, “na mesma medida em que a
noção galileana de ponto material inerte fundou a física”. A “paixão da
alma por excelência”, o narcisismo – vale dizer, o ponto escapadiço e
instável sobre o qual se constitui o sujeito – , investe-se aí de um caráter
fundacional, já que “impõe sua estrutura a todos os seus desejos, mesmo os
mais elevados”.5 Uma análoga centralidade das síndromes narcísicas, tendo
em “O espelho” seu foco de convergência, pode ser observada nos escritos
machadianos por ocasião da sua famosa virada em torno de 1880 e na
3
Toma-se aqui o real, em primeira instância, como um perturbador esvaziamento da
representação, no sentido contrário do que se costuma entender por realidade. Luciana Serrano
Pereira analisa o mesmo fenômeno como efeito de vertigem, em O conto machadiano – Uma
experiência de vertigem, Rio de Janeiro, Companhia de Freud, 2008. 4
Jacques Lacan, “Le stade du miroir como formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique”, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 93-­‐100. Observação: “Communication faite ao XVIe. Congrés International de Psychanalyse, a Zürich, le 17 Juillet 1949”. As primeiras intervenções sobre o tema datam de 1936 e 1938. A questão é estendida em “L’agressivité em psychanalyse” (Écrits, p. 101-­‐124, apresentada ao XI Congresso de Psicanalistas de Língua Francesa, em 1948), “Propos sur la causalité psychique” (Écrits, p. 151-­‐
193) e retomada em O Seminário Livro 3 As Psicoses (Rio, Jorge Zahar, 1985). 5
Jacques Lacan, “Propos sur la causalité psychique”, op. cit., p. 188. própria estrutura do livro Papeis avulsos. Neles, a fixação em objetos que
se constituem em verdadeiros complementos ortopédicos da insuficiência
narcísica, indo da farda de Jacobina ao Emplasto Brás Cubas, aparece como
uma espécie de ponto arquimédico da alma, como sua muleta e alavanca
imaginária.
A necessidade inerente ao sujeito, pode-se dizer doentia, de se ver
confirmado pelo olhar do outro, necessidade que se reflete e se entranha na
autoimagem através de múltiplas modalidades da ilusão, pulula em
situações conhecidas de “O alienista”, “Teoria do medalhão”, “D.
Benedicta”,“Verba testamentária”. São variações agudas sobre “este móvel
profundo e inescapável de toda e qualquer ação”, a fome de
reconhecimento, que está no miolo da vertente analítica impiedosa dos
moralistas clássicos franceses dos quais Machado de Assis se alimenta.6
Mas a demanda de reconhecimento como demanda estrutural do sujeito
investe-se nele, também, de uma dimensão nova, porque Machado a
submete ao crivo desse singular objeto subjetivo, a um tempo externo e
interno, que é o espelho, graças ao qual a análise, para além de uma
alegoria moral, penetra de maneira cerrada nas configurações propriamente
psíquicas da subjetividade. Com seu ceticismo radical quanto à estrutura
imaginária inescapável que constitui os sujeitos, os contos em torno de “O
espelho” atualizam os filósofos moralistas do século XVII pela via de uma
premonitória filosofia do inconsciente, na qual podemos reconhecer
antecipatoriamente questões da psicanálise e, em particular, da primeira
teoria lacaniana do imaginário.
6
Pedro Meira Monteiro, “Machado de Assis e Pascal: um contraponto”, em Marta de Senna e Hélio de Seixas Guimarães (orgs.), Machado de Assis e o outro: diálogos possíveis, Rio de Janeiro, Móbile, 2012, p. 62.Alfredo Bosi trata do mesmo tema, de maneira abrangente, em Machado de Assis: O enigma do olhar, São Paulo, WMF Martins Fontes, 2007. Guimarães Rosa inclui a mesma questão moderna que vemos se desenhar
em Machado, mas glosando-a simultaneamente com uma outra concepção
de espelho, corrente numa certa tradição místico-filosófica, a do
instrumento capaz de dar a ver no fundo sem fundo de suas imagens, pelo
viés de uma teologia negativa, a face resplandecente de uma dimensão
invisível. Por ora, cabe apenas dizer que o primeiro paradigma, o
machadiano-lacaniano, - se se permite a expressão -, desnuda
provocativamente a ilusão da identidade, desvelando-lhe o vazio subjacente
como marca de uma falta, enquanto o segundo, esotérico-rosiano, desvela
nesse mesmo vazio subjacente o vislumbre de uma presença inominável
que ganha aí um viés epifânico.
Um discutível e estimulante livrinho, Lacan e o espelho sofiânico de
Boehme, de Dany-Robert Dufour, carreia elementos reveladores para o
entendimento do modo como essas duas concepções de espelho se cruzam.7
O autor sustenta que entre as influências presentes na elaboração da etapa
do espelho em Lacan (o narcisimo freudiano, a neotonia neodarwinista,
com a ideia do nascimento prematuro e fetalizado do ser humano, a
psicologia da Gestalt e a dialética de senhor e escravo), é preciso
reconhecer o papel da teosofia de Jacob Boehme tal como recuperada e
pensada por Alexandre Koyré. 8 Lacan mantinha sólida amizade filosófica
com Alexandre Koyré e com Alexandre Kojève nos anos 1930 e 1940, os
mesmos anos em que lança e afirma sua litigiosa teoria da etapa do espelho
no campo psicanalítico. Os cursos de Kojève sobre a Fenomenologia do
Espírito, decisivamente influentes na construção da teoria, constituíram-se
num núcleo filosófico em torno do qual gravitaram, entre outros, Henry
Corbin, Georges Bataille, Raymond Queneau. Estudando as conexões entre
7
Dany-­‐Robert Dufour, Lacan e o espelho sofiânico de Boehme, tradução de Procopio Abreu, Rio de Janeiro, Companhia de Freud, 1999. 8
La philosophie de Jacob Boehme, Paris, J. Vrin, 1929. ciências e concepções religiosas, nos séculos XVI e XVII, Alexandre
Koyré “reintegrou na história do pensamento uma coorte de místicos
especulativos, teósofos e outros sábios como Nicolau de Cusa, Paracelso,
Giordano Bruno, Jacob Boehme”.9 No pensamento deste último a ideia de
espelho sofiânico ocupa o lugar central: o espelho é pensado como o olho
da Sabedoria divina que contém, sobre um fundo nadificante, as imagens
de todos os seres individuais, engendrando a passagem do Um, indizível e
invisível, para a multiplicidade visível do mundo. É através do espelho,
assim concebido, que o humano e o divino se deixariam entrever. Henry
Corbin, por sua vez, teria partido do ensinamento de Koyré para formular o
conceito de imaginal.10 Neste, a visão essencial de si depende de um
processo de iniciação em que o sujeito, atravessando o vazio especular,
chega a se mirar no espelho transparente de sua pura presença, que se
autoengendra ao superar tanto a abstração intelectual quanto a concretude
sensível.11
Diferentemente de Dufour, não estamos propondo hipóteses de influência
ao relacionar o núcleo Lacan-Koyré-Corbin ao caso Machado-Rosa. Em
vez disso, propondo paradigmas, de efeito comparativo, da exploração das
possibilidades cambiantes do espelho como objeto subjetivo capaz de dar a
ver, quando fracassa ou se ultrapassa o automatismo da sua função
mimética, os efeitos ilusórios por meio dos quais se constitui a identidade,
por um lado, e o vislumbre epifânico de uma alma-corpo para além da
aparência, por outro. A acreditar na hipótese de Dufour, Lacan teria tomado
a concepção teosófica do espelho como uma das matrizes sugestivas de sua
teoria do imaginário, revertida no entanto, é preciso frisar (o que Dufour
não faz), a uma perspectiva materialista e psicanalítica. Corbin, ao
9
Dufour, op. cit., p. 29. 10
Dufour, op. cit., p. 41. 11
Ver Henry Corbin, En Islam iranien – Aspects spirituels et philosophiques, Tome II Sohrawardî et les Platoniciens de Perse, Paris, Gallimard, 1971. contrário, teria explorado a concepção teosófica do espelho no simbolismo
do seu conceito de imaginal, metafísico e iniciático. No primeiro caso,
profana-se a ideia da unicidade da alma, desvelando-se o caráter alienante
da sua constituição, na linha da desmitificação moderna. Machado segue
agudamente nessa direção. No segundo caso, resgata-se a ideia ancestral do
poder do espelho como instrumento de acesso a um real indivisível e
divinizado, para além da sua representação em imagens. Rosa joga com
essa segunda concepção, sem abdicar da primeira.
Os espelhos
O conto machadiano é mais do que conhecido, já foi parafraseado muitas
vezes, mas não há como não retomá-lo, mesmo que sumariamente. Num
amável serão filosofante em Santa Teresa, o casmurro Jacobina, que de
início se recusava a opinar sobre os temas em debate, apresenta a certa
altura a sua teoria da alma, definida como um caminho de mão dupla onde
“cada criatura traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora,
outra que olha de fora para dentro...”. Dividida numa alma interna e noutra
externa, a constituição oscilante do eu é inseparável dos objetos com os
quais o seu desejo o confunde, e nos quais se aliena: “há casos, por
exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma
pessoa; - e assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um
par de botas, uma cavatina, um tambor, etc.”.
Entre os aspectos escandalosos da teoria, apresentada com a petulância de
uma autoridade que não admite refutação, estão os fatos de a alma ser
concebida em parte decisiva como estando fora do sujeito, e de se
constituir numa coisa. Quebra-se sem maior cerimônia tanto o preceito da
sua unicidade metafísica como o da sua imaterialidade, apontando para a
tendência reificante, alienada e regressiva que lhe é dada como inerente.
O modelo literário dessa operação parece estar no “cavalinho-de-pau” do
Tristram Shandy de Sterne: em inglês Hobby-Horse, “significa tanto o
brinquedo conhecido entre nós por ‘cavalinho-de-pau’ (...) quanto uma
distração ou assunto favorito”, assumindo, em sentido figurado, a acepção
de uma dedicação excessiva a um assunto, um passatempo (hobby) ou um
objeto,12 ao modo da compulsão ou da machadiana ideia fixa.13 “Conquanto
eu não possa dizer que um homem e seu CAVALINHO DE PAU ajam e
reajam exatamente da mesma maneira que a alma e o corpo entre si, existe
indubitavelmente comunicação de alguma espécie entre eles”. Essa
comunicação, explica-se no livro de Laurence Sterne, é da ordem dos
corpos eletrificados, como se uma espécie de fricção anímica continuada
acabasse por infundir as propriedades do objeto no sujeito que se apega a
ele, fazendo com que a descrição de um denuncie de maneira “bem
precisa” o “gênio e o caráter do outro”.14
Voltando à alma externa machadiana, o sujeito é apegado necessariamente
a um objeto material ou imaterial do qual não pode prescindir, que lhe
serve de suporte eternamente infantil, como o cavalinho de pau, e de
complemento ortopédico da insuficiência narcísica, a ponto de se confundir
com ele no uso continuado. É nesse ponto que entrará o espelho, na
figuração machadiana: ele é, no reino das coisas, o meta-objeto do desejo
como desejo do outro, o correspondente por excelência desse dispositivo
psíquico em que o auto-reconhecimento depende do apoio em um
12
Laurence Sterne, A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, tradução, introdução e notas José Paulo Paes, São Paulo, Companhia das Letras, 1998, p. 603, nota 17b. 13
No romance de Sterne pergunta-se, a certa altura: “não tiveram os homens mais sábios de
todas as épocas, sem exceção do próprio Salomão – seus CAVALINHOS DE PAU; - seus
cavalos de corrida, - suas moedas e seus barquinhos, seus tambores e suas cornetas, seus
violinos, suas paletas, - suas larvas e suas borboletas?”. Sterne, op.cit., p. 53. 14
Sterne, op.cit., p. 103. equivalente externo visível e ao mesmo tempo reversível – que dá a ver,
vendo. Submetida à lógica do imaginário, a alma externa se tornará
dominante, no processo, e a interna, recessiva e caudatária da externa.
A exposição teórica é seguida de um depoimento autobiográfico de cunho
exemplar sobre como a alma interna da personagem, formada por seus
difusos impulsos infantis e juvenis, no tempo em que era conhecido como
Joãozinho, veio a ser eclipsada depois de sua nomeação como alferes da
Guarda Nacional e a consequente identificação generalizada de sua pessoa
através do novo status conferido pela patente e pela farda. Esta constitui-se,
afinal, numa alma externa com a qual ele descobre ter-se identificado
irreversivelmente.
O móvel da descoberta é o grande espelho vindo para o Brasil com a corte
de D. João VI, que a tia Marcolina colocara especialmente para ele no
quarto do sítio onde o hospeda, e no qual ele descobrirá, em situação
extrema, que não vê a si mesmo se não estiver apoiado na ótica do outro. A
peripécia que o faz defrontar-se com a radical dependência do olhar do
outro para o reconhecimento de si mesmo é dada pelo fato de que a tia
Marcolina, que até então o mimava e nele se mirava narcisicamente,
ocupando nisso a posição do imaginário da mãe, é obrigada a se retirar
inesperadamente do sítio em que estavam, exigida pela súbita doença da
filha e, assim, pelo real da sua maternidade. Os escravos da propriedade,
na ausência da senhora, adulam de dia o alferes e fogem na calada da noite,
relegando-o à solidão social em que o homem livre na ordem escravocrata,
sem o anteparo de proprietários nem de escravos (a “alma ausente com a
dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos”), se vê literalmente como
um ninguém.
Sugiro aqui uma ponte com a leitura clássica de Roberto Schwarz.15 As
questões psicanalíticas que estamos privilegiando nesse momento são
inseparáveis de questões sociais brasileiras de largo alcance, sendo umas
inseparáveis de outras, em Machado de Assis. Vale notar que a patente de
alferes era a mais baixa na hierarquia da Guarda Nacional, que esta mesma
instituição monárquica conferia, sob o manto aparente da simbologia
militar, o estatuto político de coronel, major e capitão a proprietários rurais,
sacramentando-lhes o poder local na falta de uma representação da lei de
Estado, e contribuindo para consumar a conhecida labilidade brasileira
entre interesses públicos e interesses privados. O golpe da sorte que faz do
jovem Jacobina um alferes da Guarda Nacional, abrindo-lhe perspectivas
de ascensão ao lugar do “capitalista astuto e cáustico” que ele ocupará vinte
anos mais tarde, desfazendo dos escravos como “espíritos boçais”, entre
seus pares, participa implicitamente da dinâmica do favor e do arbítrio, em
que o mercado da imagem tem um papel destacado. Esse pano de fundo dá
um caráter ironicamente derrisório e de mascarada ao embate em cena, no
conto, mas faz, por isso mesmo, entende-lo como uma análise aguda dos
mecanismos do imaginário entranhados na constituição do sujeito e na vida
coletiva, em que batalhas tremendas pelo reconhecimento são travadas em
cima de ninharias.
Destituído da reciprocidade especular do jogo social, no sítio abandonado,
Jacobina vê a paisagem familiar transformar-se num pesadelo, e ele
mesmo, sentindo-se um autômato, defrontado com o espelho que não lhe
devolve senão rastros perdidos e vagos da sua figura. A terapia dessa
síndrome de esgarçamento e anulação da autoimagem se faz através da
reiteração especular da imagem-objeto com que é visto, desejado e
invejado pelos outros: ele posa dias seguidos para o espelho, durante horas,
15
Ao vencedor as batatas. São Paulo, Duas Cidades, 1977. vestido da farda, e opera assim uma espécie de recomposição narcísica a
olhos nus. Tal tratamento desnuda escandalosamente o caráter alienado da
alma, num strip-tease ao contrário em que ela aparece não como uma
essência una e eterna, mas como a imagem deslocada de um outro. A
exposição descarada (e subversiva) do real da própria ilusão é seguida
pelo ato da retirada final de cena, sem comentários nem complementos
simbólicos: “Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as
escadas”.16
Temos aqui motivos clássicos do conto fantástico do século XIX (a
aparição ou desaparição do duplo, a perda da imagem ou da sombra),
tratados não mais segundo a hesitação entre o caráter natural ou
sobrenatural de um acontecimento (que definiria o gênero, segundo
Todorov), mas como o radicalmente estranho que veremos teorizado por
Freud em Das Umheilich, e que confina com o real lacaniano. Em suma, o
gênero fantástico, que deu largas à sondagem das esquisitices do sujeito ao
longo do século XIX, cede vez ao campo desnudado do psiquismo: “A
realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me
textualmente, com os mesmos contornos e feições (...). Mas tal não foi a
minha sensação”. A imagem perdida se recompõe na forma cínica de um
emplastro imaginário, que espelha incomodamente, por sua vez, o serão
metafísico em que se insere.
Guimarães Rosa chega ao mesmo núcleo (a perda da imagem ao espelho)
por uma via inversa: se Jacobina está como que hipnotizado pela alma
externa que ele e os outros conspiram para preservar contra a queda
16
Sobre as várias modalidades do real, incluída entre elas o “real da ilusão”, ver Slavoj Zizek, “O Real da ilusão cristã: notas sobre Lacan e a religião”, em Vladimir Safatle (org.), Um limite tenso – Lacan entre a filosofia e a psicanálise, São Paulo, UNESP, 2003, p. 181. Ver também Slavoj Zizek, “Le devenir-­‐lacanien de Deleuze”, tradução de Paulo Pimenta Marques, em Iannini, Rocha, Pinto e Safatle (org.), O tempo, o objeto e o avesso – Ensaios de Filosofia e Psicanálise, Belo Horizonte, Autêntica, 2004, p. 39-­‐40. nadificante do real, o personagem-narrador rosiano empenha-se
obsessivamente na busca vã de um imaginário sem cisão, depois de ter-se
abalado com a sua figura entrevista casualmente no jogo de espelhos
refletidos de um banheiro público como sendo a de um monstruoso outro.
O estranhamento da autoimagem está no ponto de partida da sua estória, e
não no ponto de chegada, como na de Jacobina. Um jogo de espelhos
revela a sua identidade, a partir de então, como um jogo não confiável,
feito de um ilusório efeito-cascata de imagens em que nada garante a
certeza do olho-no-olho. A partir do impacto angustiante desse
estranhamento, passa a procurar o impossível espelho perfeito que repare a
falha, na busca obsessiva e tresloucada de um registro do imaginário em
estado puro que pudesse ser atestado como real, e que o fizesse voltar a se
sentir como coincidindo consigo próprio. Pondo espelhos à prova, e
desmascarando um a um na sua falta de fidedignidade, o personagem
narrador inicia uma série mirabolante de experimentos em que lança mão
da filosofia e da para-ciência de almanaque, de técnicas de medição e
meditação, de testes demonstrativos do caráter contingente da imagem, de
táticas astuciosas para tentar driblar as camadas de ilusão (“fintas de
pálpebras”), para neutralizar as excrescências da herança fisiognômica, da
bagagem genética e seus padrões totêmicos, dos traços atávicos, até chegar
ao inconclusivo limiar em que a percepção se reduz a formas de onda, nas
quais não se distingue mais o caráter receptivo ou emissivo do olhar (“meu
esquema perspectivo clivava-se, em forma meândrica, a modos de couveflor ou bucho de boi, e em mosaicos, e francamente cavernoso, como uma
esponja”).
À beira da desagregação, e depois de ter decidido suspender as
experiências, guiado pela imagem da Prudência, produz-se um efeito
inesperado: o narrador não se enxerga mais no espelho vazio, como se
figurasse ali como “o transparente contemplador” invisível. A busca de sua
imagem plena, na forma da ideia fixa, “confundindo o físico, o hiperfísico e
o transfísico”, o conduz afinal, justamente quando desiste dela, à
contemplação involuntária e paradoxal de uma imagem zerada: “partindo
para uma figura gradualmente simplificada, despojara-me, ao termo, até à
total desfigura”. No processo frenético e obsessivo em que decalca os
traços inessenciais do rosto para extirpá-los, na tentativa vã de chegar a
uma redução essencial, despojada de todo atributo, chega à liquidação
imagética de uma face em que não sobra nada.
A visão o leva à constatação perturbadora de ser (ou de sermos) uma
junção mal ajambrada de acidentes, tendo ao centro um nada, “o espírito do
viver não passando”, como nos infantes, “de ímpetos espasmódicos,
relampejados entre miragens: a esperança e a memória”.
Se a imagem especular falta a Jacobina porque ele investiu demais naquela
que os outros lhe devolviam, e que não comparece sem a fiança deles, a
imagem falta ao personagem-narrador rosiano porque ele mesmo a
submeteu a uma série implacável de provas, na ideia fixa de chegar à visão
definitiva e apaziguadora de si mesmo, em que o aparente coincidisse com
alguma essência. Um paga o preço real de ter investido no caráter
imaginário do imaginário, que se desnuda. Outro paga o preço de ter
cobrado do imaginário uma veracidade que aquele não pode dar. Por uma
via ou por outra, ambos estão expostos e regredidos, nesse ponto, a uma
identidade em farrapos, reduzidos a uma condição inconsistente que não
tem como se fixar numa autoimagem.
O sentimento de si que não forma figura, mas que só se percebe como um
feixe de impulsos desconexos, descrito nos dois textos, tem paralelo com as
vicissitudes identitárias que estão na base da já citada teoria lacaniana da
etapa do espelho como formadora da função do eu (ver nota 4). Segundo
Lacan, a etapa do espelho, que se desenrola entre seis meses e um ano e
meio, manifesta na criança “o dinamismo afetivo pelo qual o sujeito se
identifica primordialmente à Gestalt visual de seu próprio corpo”, isto é, à
“unidade ideal” e à “imago salutar” que a descoberta do espelho lhe oferece
em contraposição “à descoordenação (ainda) profunda da sua própria
motricidade, à discordância intraorgânica e relacional da criança, com os
signos da sua prematuração natal fisiológica”.17 Em outras palavras, esse
neonato prematuro e fetal, que é o humano, todo feito de “ímpetos
espasmódicos, relampejados entre miragens”, para usar os termos rosianos,
encontra no objeto espelho, durante um período larvar da sua identidade, a
prefiguração exultante de um corpo próprio que lhe escapa, de uma unidade
figurada que não emana de si mesmo.
Nesse sentido, a imagem ao espelho comparece como um “complemento
ortopédico (e funcionalmente essencial no homem) dessa insuficiência
nativa, desse desconcerto, ou desacordo constitutivo, ligado à sua
prematuração no nascimento” (o destaque é meu). Como parte essencial e
complicadora do processo o infante não sabe que o objeto-imagem que lhe
promete semelhante unidade mágica é um reflexo dele mesmo, com o que
“sua unificação não será jamais completa porque é feita precisamente por
uma via alienante, sob a forma de uma imagem estranha, que constitui uma
função psíquica original”.18
Assim, “o eu humano é (...) originalmente coleção incoerente de desejos –
corpo espedaçado”, e sua “primeira síntese é (...) essencialmente alter ego”,
projeção alienada numa imagem outra. “O sujeito humano desejante se
constitui em torno de um centro que é o outro na medida em que ele lhe dá
17
Jacques Lacan, “L’agressivité en psychanalyse”, p. 113. 18
Idem, O Seminário Livro 3, p. 113. a sua unidade, e o primeiro acesso que ele tem do objeto, é o objeto
enquanto objeto do desejo do outro”.19
Machado de Assis intui e analisa essas síndromes, em seus próprios termos,
como quem ilumina, surpreendendo-a, a precária lógica da identidade
através do imaginário. Não precisamos colocar ênfase, aqui, no caráter
“antecipatório” de suas formulações em relação a posteriores “descobertas”
psicanalíticas. O mais importante é que ele fere cordas que ressoavam e
continuam ressoando numa interrogação de longo curso sobre a
subjetividade, com extraordinário poder de observação e com a potência
não de um saber que se deposita, mas que desloca. O interesse da relação
com a psicanálise é o de nos ajudar a reconhecer o quanto a situação
narrada não se limita ao plano da alegoria moral, na qual se mostraria o
grau extremo com que o nosso ser é influenciado pela opinião dos outros, a
ponto de as máscaras esconderem a nossa verdadeira face. O que não temos
no conto é justamente o assentamento da dicotomia moral entre uma face
autêntica e uma face inautêntica, não porque ela não se coloque, mas
porque é lançada para um outro e mais vertiginoso plano problemático.
Entre a alma interna que se esboça e se esfuma junto com os jogos infantis,
e a alma externa que se consuma na farda, há um corpo próprio cuja
inconsistência busca se garantir na mímese mimante, no efeito narcísico
que resulta da imitação de si dada pela confirmação do olhar do outro. A
retirada desse dispositivo ilusório, em situação psicossocial precisa, expõe
a nudez cósmica do sujeito e a debilidade constitutiva do eu. Temos aí a
descrição de um processo psíquico em que o sujeito entra em angústia
pânica num huis clos escravista em que o tempo se arrasta e se nulifica,
pendulando inutilmente entre o instante e a eternidade, “diálogo do abismo,
cochicho do nada”, destituído dos ritmos de espera e resolução que
19
Idem, ibidem, p. 50. enformam as relações identificatórias do indivíduo com o seu semelhante e
que dão espessura ao tempo.
Ao contrário do conto de Guimarães Rosa, em que a busca de si está
concentrada no rosto e no olhar, a busca pela identidade através da imagem
n’” O espelho” de Machado de Assis não se concentra em nenhum
momento no rosto, mas na perda do corpo, reduzido a uma imagem “vaga,
esfumada, difusa, sombra de sombra”, resíduo de um gesto “disperso,
esgaçado, mutilado”. Para atestar o alcance desse deslocamento e dessa
inversão, vale lembrar que, ao contrário do clássico de von Chamisso,
“Peter Schlemihl”, em que o protagonista aliena sua sombra, no conto de
Machado não se trata de um corpo que perdeu a sombra, mas de uma
sombra que perdeu o corpo.20
Guimarães Rosa vai, à sua maneira, ao mesmo núcleo onde estamos. Mas
Rosa o faz como que para ultrapassá-lo, ao núcleo: a sua narrativa guarda
uma peripécia a mais, em que, por obra de uma série de experiências de
passagem – o “amor”, a “conformidade” e a “alegria” – o sujeito volta a se
reconhecer no espelho através de uma radiância que transparece como a
face de uma criança, a “flor pelágica” e abissal de um quase-rosto que
renasce. A pseudo anagnórisis produzida artificialmente em Machado pela
reposição do imaginário, com ironia corrosiva, se contrapõe à anagnórisis
espectral em Rosa, com o renascimento de um quase-rosto infantil e
luminoso que se deixa entrever no espelho.
Aqui chegamos a um ponto de inflexão no nosso roteiro: se o giro,
digamos, epifânico, acontece em Guimarães Rosa, é porque a narrativa
20
Remeto aqui a uma página fulgurante de “O 18 Brumário de Luís Bonaparte”, em que Marx sintetiza as contradições paralisantes da França imediatamente posterior ao período da Monarquia de Julho, dizendo que “os homens e os acontecimentos aparecem como Schlemihl invertidos, como sombras que perderam seus corpos”. As consequências dessa percepção para o caso brasileiro ficam por desenvolver. Karl Marx, Manuscritos econômico-­‐filosóficos e outros textos escolhidos, Seleção por José Arthur Gianotti, Coleção Os Pensadores, São Paulo, Abril Cultural, 1974, p. 352. rosiana glosa secretamente uma tradição metafísica e esotérica, que
também tem o espelho como seu núcleo, e que, numa coincidência
curiosamente significativa, para prosseguirmos no paralelo, tinha vindo à
tona como questão filosófica no mesmo campo intelectual em que Lacan
produzia sua teoria inicial, em contato com Koyré e Corbin.
O espelho como complemento ortopédico da alma
Antes de voltarmos a esse ponto, no entanto, vejamos ainda como a
perspectiva machadiana é aparentada com o materialismo dessacralizador
de Lacan.
Em Lacan, a etapa do espelho se processa em três movimentos: A. O
infante prematurado é um feixe desconexo de impulsos ao qual falta uma
imagem totalizante; B. O espelho (que, mais que o objeto literal, é o olhar
do outro, e, em especial, a mãe que o mima) prefigura como imagem
gestáltica a figura exultória de alguma coisa que a criança não sabe que a é
a imagem dela mesma; C. O eu não se constitui se não for pela
identificação desse outro como ele próprio (quando se apagam ou rasuram
as marcas sofridas do processo). Em outros termos, o eu é primeiro um
nenhum, depois é dois, e só depois um, embora assombrado, na constituição
paranoide do seu tecido sempre apto a se desfazer, pelos fantasmas do
duplo e do nada. Quando sozinho no sítio de tia Marcolina, Jacobina
experimenta a passagem a um real em que o tempo se converte em “diálogo
do abismo” e “cochicho do nada”, e em que ele mesmo, mais do que pelo
medo, é tomado pela angustiosa “sensação inexplicável” de ser “um
defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico”. Mas a “coisa
pior” transparece na sua relação com o espelho, que ele primeiro evitava
olhar, num “impulso inconsciente”, por “receio de achar-me um e dois, ao
mesmo tempo, naquela casa solitária; e se tal explicação é verdadeira, nada
prova melhor a contradição humana, porque no fim de oito dias, deu-me na
veneta olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei
e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo: não
me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra
de sombra”.
Em suma, Machado lê a “etapa do espelho na constituição do eu” a
contrapelo, pelo avesso do seu desmonte: se o infante lacaniano é primeiro
nenhum, depois dois e depois um, no relato de Jacobina ele é primeiro um,
depois dois e daí nenhum. Desvela-se a constituição dupla do imaginário,
remetendo-o ao nenhum do real. No seu tratamento homeopático, pela
identificação da sua imagem com a da farda, Jacobina reconstitui
(ironicamente) a ilusória unidade do imaginário, mas sua narrativa (a
narratividade é a intervenção do simbólico) deixa transparecer nela o real
da ilusão. É com esse piparote suspensivo, como numa sessão curta
lacaniana, que o conto termina.
Uma coincidência curiosa, mas não menos significativa: o grupo do serão
metafísico em Santa Teresa exibe o formato do cartel lacaniano. O cartel é
um dispositivo de trabalho a partir de um desejo de saber sobre algum
tema, clínico, teórico, político ou transdisciplinar, organizado em pequenos
grupos, de três a cinco integrantes, acrescido de um Mais-um.
Veja-se: ”Quatro ou cinco cavalheiros debatiam, uma noite, várias questões
de alta transcendência”, “quatro ou cinco investigadores de coisas
metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do
universo”. “Por que quatro ou cinco? Rigorosamente eram quatro os que
falavam; mas, além deles, havia na sala um quinto personagem, calado,
pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro
resmungo de aprovação”.21
Sobre o lugar do Mais-um na formação do cartel, diz-se que trabalha na
contramão dos efeitos imaginários a ele conferidos, e que, “impondo um
obstáculo à soldagem imaginária do grupo, na medida em que lhe falta
(pode ser contado como Menos-um), (...) o Mais-um revela que o sujeito
(...) não é idêntico ao significante (um nome, uma obra) que o
representa”.22
Nos Escritos de Lacan o texto sobre “A etapa do espelho” é desdobrado por
ele, à maneira de um corolário, em “A agressividade em psicanálise”. A
constituição da identidade sobre a imagem, a fragilidade de sua alienação,
implica uma estrutura rivalitária em que o outro é objeto de admiração e
inveja, de amor e de ódio. “A tensão agressiva desse eu ou outro está
absolutamente integrada a toda espécie de funcionamento imaginário no
homem”.23 Assim também “O espelho – Esboço de uma nova teoria da
alma humana” pode ser visto como articulado, em Papeis avulsos, com o
conto “Verba testamentária”. Neste, uma criança ataca e rasga a fardinha de
alferes que um pequeno rival ganhou do pai, numa manobra onde entram os
já citados esquemas do favor. Esse traço de inveja e agressão, associado à
impressão de que o outro possui, no sucesso de sua imagem, algo que rouba
de si, se estende por toda a biografia da personagem, e corre em
contraponto com a história da constituição do Estado nacional.24 “A etapa
21
Encontro a observação sobre a semelhança entre o grupo d’ “O espelho” e a estrutura do cartel em um paper de Paulo Siqueira, “L’âme divisée em deux: un conte brésilien”, registrado na Biblioteca do Campo Freudiano em Salvador, sob o número INE-­‐0391, 1997. 22
Dicionário enciclopédico de Psicanálise – O legado de Freud e Lacan, editado por Pierre Kaufmann. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 1996. 23
Jacques Lacan, O Seminário Livro 3, p. 113. John Gledson já havia apontado para a conexão temática entre “O espelho” e “Verba 24
testamentária”, contos ligados a uma interpretação cifrada do Brasil, em Por um novo Machado de Assis, São Paulo, Companhia das Letras, 2006, p. 48-­‐49. As datas de publicação, 8 do espelho” está para “A agressividade em Psicanálise”, nos Escritos,
assim como “O espelho” está para “Verba testamentária”, em Papeis
avulsos, tudo girando, nos dois casos, em torno da mesma emblemática
farda de alferes da Guarda Nacional. Os dois contos foram os últimos do
livro a ser escritos, um logo depois do outro, como se fechassem o
processo, dando-lhe um arremate interno.
Rosa, Koyré e Corbin
No pensamento de Jacob Boehme, em cuja figura Hegel reconheceu “o
primeiro filósofo alemão”, Deus, o Absoluto livre de toda determinação, só
pode conhecer-se a si mesmo opondo-se a si mesmo. Deus se exprime ou
se espelha no homem, criado à sua imagem, num movimento jamais
acabado, infinito, instável. O meio desse engendramento, em que se passa
do Um, indizível e indivisível, à multiplicidade visível do mundo, não é
outro senão o espelho, olho da sabedoria divina que contém as imagens de
todos os seres individuais. “Para esse esquema de pensamento, o mundo
percebido /construído pelo homem é um vasto teatro de espelhos” enquanto
que o espelho funciona, por sua vez, “como o teatro de uma estranha
operação, que faz surgir o infinitamente grande no pequeno e, logo,
também o pequeno no grande e que converte o infinito em finito ao preço
de uma aceleração, de uma precipitação (...)” vertiginosa.25
O espelho (chamado Sofia, ou espelho sofiânico) é o mediador reversível
através do qual Deus se vê no homem e no qual o homem pode entrever o
de setembro e 8 de outubro de 1882, na Gazeta de Notícias, reforçam a hipótese da proximidade intencional entre os dois contos. 25
Dufour, p. 50. divino.26 Deus não deixaria de experimentar, assim, uma espécie de
síndrome narcisista, em que o desejo de completar-se e reconhecer-se
depende de seu vislumbrar-se incessante no Outro. Essa dialética narcísica
é notável na teofania cristã, como observa também Slavoj Zizek, em
passagem em que comenta a religião à luz da teoria lacaniana: “É
justamente porque Deus é um enigma EM SI E PARA SI MESMO, porque
ele traz uma insondável Alteridade em Si mesmo, que Cristo precisou
surgir para revelar Deus, e não apenas para a humanidade, mas PARA O
PRÓPRIO DEUS – é somente através de Cristo que Deus realizou-se
plenamente como Deus”.27
Dufour acredita que Lacan extraiu também dessa postulação filosófica do
narcisismo divino, com sua alteridade constitutiva, a teoria do espelho, e
que o espelho sofiânico habita no corpo dela, dando liga aos outros
componentes da fórmula. A hipótese é plausível, mas se é verdade que a
ideia do espelho sofiânico participa da formulação do espelho lacaniano,
me parece mais que, ao identificar na teofania cristã o núcleo narcísico do
sujeito, o espelho é programaticamente destituído por Lacan de qualquer
transcendência unitiva, tornando-se o lugar em que se acusa uma cisão.
Esse é um gesto diferencial inequívoco que Dufour não identifica, deixando
a sua original sugestão genética num estado de certa confusão conceitual. A
matriz conceitual do espelho sofiânico, tomada in natura, é próxima, mais
propriamente, do modelo junguiano, e oposta ao modelo lacaniano que, se
é que a absorve, é para invertê-la e neutralizar seu aporte místicoarquetípico.
26
Ver também “Pensées de Dieu, Images de l’Homme (Figures, Miroirs et engendrements selon J. Boehme, F. CH. Oetinger e F. von Baader)”, em Antoine Faivre, Accès de l’ésotérisme occidental II, (Paris, Gallimard, 1996, p. 220-­‐240). 27
Slavoj Zizek, “O Real da ilusão cristã: notas sobre Lacan e a religião”, em Vladimir Safatle (org.), Um limite tenso – Lacan entre a filosofia e a psicanálise, São Paulo, UNESP, 2003, p. 181. Se é para a transcendência unitiva que aponta o pensamento teosófico do
espelho sofiânico, e é isso que Lacan desloca metodologicamente, é isso
que reaparece, a seu modo e em seus próprios termos, na cartada rosiana.
Para entendê-lo, é importante retornarmos ao imaginal de Henry Corbin,
“que remete ao engendramento recíproco da imagem e de seu modelo”.28
Em contraposição às vicissitudes do imaginário, envolvido sempre com a
cisão estrutural que constitui o sujeito, e, como vimos, com as ilusões
decorrentes, o imaginal sonda, como via positiva, as possibilidades de um
sujeito que, despindo-se das representações de si, entre em contato com
dimensões ocultas, dando lugar a um virtual que quer entrar no mundo, e
que só pode fazê-lo através de um espelho reversível em que dois lados que
não se veem chegam a se entrever pela instância radiante de uma espécie de
terceira margem.
No caso do imaginal, trata-se do acesso ao não-cindido, só possível pelo
caminho esotérico (que quer dizer viagem interior, viagem da alma em
busca da alma interna) a um estado de graça onde o sujeito/objeto
transparece não na sua representação mas como a pura presença da
presença, singularidade ontológica livre de toda abstração lógica e de sua
concretização num fenômeno sensível, só possível, por sua vez, tendo-se
atravessado o vazio do espelho, a cifra em que, olhando-se o zero do seu
fundo, se vê o fundo do olhar e não mais as imagens do mundo.29
A travessia do espelho esvaziado de imagens tem história na tradição
mística. Diz Giorgio Agamben, em “Ideia da glória”: “Se eu pudesse
verdadeiramente ver o ponto cego do meu olho, não veria nada (é esta a
treva que, segundo os místicos, é a morada de Deus)”.30 Essa teologia
28
Dufour, op. cit., p. 41. 29
Cf. Ver Henry Corbin, op. cit., em especial, a parte denominada “La théosophie ‘orientale’”, p. 40-­‐80. 30
Giorgio Agamben, “Ideia da glória”, Ideia da prosa, Lisboa, Ed. Cotovia, 1999, p. 125. negativa encontra ressonância na tradição literária como ponto de passagem
do processo criativo. Roberto Calasso mostra como o ter chegado a desverse no espelho veneziano de seu quarto é declarado em cartas, por
Mallarmé, como um ponto de viragem capital para o desenvolvimento de
sua obra poética.31 E Clarice Lispector, em Água viva: “Quem olha um
espelho, quem consegue vê-lo sem se ver, quem entende que a sua
profundidade consiste em ele ser vazio, quem caminha para dentro do seu
espaço transparente sem deixar nele o vestígio da própria imagem – esse
alguém então percebeu o seu mistério de coisa”.32
Para Corbin, no imaginal o ser e o conhecer, a substância e a visão, se
iluminam reciprocamente: o imaginal “é a aurora da substância, mas
também a própria substância da aurora; a visão da essência, mas também a
essência da visão”.33
Rosa: “Por um certo tempo nada enxerguei. Só então, só depois: o tênue
começo de um quanto como uma luz, que se nublava, aos poucos tentandose em débil cintilação, radiância. Seu mínimo ondear comovia-me, ou já
estaria contido em minha emoção? Que luzinha, aquela, que de mim se
emitia, para deter-se acolá, refletida, surpresa? Se quiser, infira o senhor
mesmo.”
Nessa passagem-chave do conto, em que uma cintilação desponta no
espelho anteriormente esvaziado, podemos constatar aquele
“engendramento recíproco entre a imagem e seu modelo” que dizíamos
definir o imaginal, e que consiste aqui nessa espécie de jogo indiscernível
entre quem vê e o que é visto, entre a onda luminosa e o ondear da emoção,
entre o sujeito e o objeto, entre – literalmente – a aurora da substância (“o
31
Roberto Calasso, “Um aposento sem ninguém dentro”, A literatura e os deuses, São Paulo, Companhia das Letras, 2004, p. 82 e seguintes. 32
Clarice Lispector, Água viva, p. 79-­‐80. 33
Henry Corbin, op.cit. p. 66. tênue começo de um quanto como uma luz”, despontando esse quanto
como a substância mínima) e a substância da aurora (“aos poucos tentandose em débil cintilação, radiância”), entre a visão da essência e a essência da
visão, indivisas (“que luzinha, aquela, que de mim se emitia, para deter-se
acolá, refletida, surpresa?”) (o destaque é meu). Como essa passagem
depende de um certo salto mortale intransferível do ser no mundo, a
questão é lançada sistematicamente pelo narrador para o outro que ocupa a
dupla posição de ouvinte interno à narrativa e de leitor: “Se quiser, infira o
senhor mesmo”.
“São coisas que se não devem entrever, pelo menos, além de um tanto. São
outras coisas, conforme pude distinguir, muito mais tarde – por último –
num espelho. Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava – já aprendendo,
isto seja, a conformidade e a alegria. E... Sim, vi, a mim mesmo, de novo,
meu rosto, um rosto; não este, que o senhor razoavelmente me atribui. Mas
o ainda-nem-rosto – quase delineado, apenas – mal emergindo, qual uma
flor pelágica, de nascimento abissal... E era não mais que: rostinho de
menino, de menos-que-menino, só. Só. Será que o senhor nunca
compreenderá?”
Como dissemos antes, as vicissitudes da perda da alma em “O espelho” de
Machado se colocam como a derrisão de um corpo próprio cuja imagem se
esgarça e decompõe: uma sombra que perde um corpo. Em “O espelho” de
Guimarães Rosa, em vez disso, temos uma sombra que ganha um rosto. E
isso se dá porque em Machado de Assis a ênfase irônica está na anatomia
material/imaterial do imaginário, submetido à angústia fundante da falta de
um corpo próprio. Sofrendo o golpe do real, o mecanismo do imaginário se
recompõe sabendo-se ilusório, como o real de uma ilusão em que se funda
um sujeito espectral. O trabalho simbólico que permite o relato distanciado
desse fato, a elaboração implícita pressuposta pela narração teorizante de
Jacobina, fica posto estrategicamente em estado de suspensão, implícito na
própria narratividade. Em Guimarães Rosa a ênfase irônica está na
reparação espiritual que sobrevém à anatomia do imaginário na forma de
uma inesperada dádiva simbólica. Metendo os pés pelas mãos, “pondo os
bois atrás do carro e os chifres depois dos bois”, o sujeito faz sem saber um
percurso iniciático e chega a uma espécie de revelação à revelia, a inaudita
contemplação da essência em sua luminosa face espectral.
Duas aproximações ao real
Podemos identificar n’”O espelho” de Machado, e no de Rosa, duas
pegadas diferentes em termos de aproximação ao real, ambas passíveis de
serem localizadas no campo teórico lacaniano, mas com consequências
literárias diversas.
Numa das formulações temos o real como buraco não-semiotizável, onde o
imaginário e o simbólico fracassam, introduzindo estranheza radical na
realidade, como negatividade. Numa outra formulação, que não contradiz a
primeira, mas que diz respeito mais propriamente a uma teologia negativa
do que a um pensamento crítico da negatividade, o real como “o
absolutamente sem fissuras”,34 homólogo do Deus Absoluto indeterminado
de Boehme, que não pode ser acessado senão pela via imaginal de um salto
mortale no “desengonço e mundo (...) – intersecção de planos – onde se
completam de fazer as almas”. Insisto: espelho reversível em que dois
lados que não se veem chegam a se entrever pela instância radiante de uma
34
Jacques Lacan, O Seminário Livro 2, ver Bento Prado Junior, “Lacan: biologia e narcisismo ou A costura entre o real e o imaginário”, em Vladimir Safatle (org.), Um limite tenso – Lacan entre a filosofia e a psicanálise, São Paulo, UNESP, 2003, p. 242. espécie de terceira margem. A pergunta vertiginosa por esse real, em meio
ao “vale de bobagens” em que vivemos, é : “você chegou a existir?”
Se “O espelho – Uma nova teoria da alma humana”, de Machado de Assis,
é um passo original na empreitada do Ocidente que postula a cisão
constitutiva do sujeito concentrada na fórmula rimbaudiana eu é um outro,
“O espelho” de Guimarães Rosa mobiliza o princípio igualmente
vertiginoso, colhido em tradições diversas, ou naquela que o Ocidente
esqueceu, de que outro é um eu (e o mundo a desencontrada interseção de
planos “onde se completam de fazer as almas”). Um faz a anatomia crítica
do imaginário, o outro toma o imaginário como transe da passagem ao
imaginal. Um acusa a exterioridade da alma como estando no cerne do
sujeito, outro visa a interioridade da alma como se completando de fazer no
outro.
Nos contos de Papeis avulsos, mais do que um pessimismo biológico,
temos um ceticismo radical quanto à estrutura do imaginário que constitui
os sujeitos. Machado satiriza o cientificismo de seu tempo, utiliza a antiga
teoria hipocrática dos humores, revirada pelo humor, atualiza os filósofos
moralistas do século XVII pela filosofia do inconsciente, e aponta para um
análise do imaginário que ilumina questões que serão tratadas pela
psicanálise – em particular, na perspectiva que elegemos aqui, numa
passagem específica da psicanálise lacaniana. N’ “O espelho” machadiano,
o protagonista ocupa o lugar onde se mostra de maneira flagrante o
sintoma, mas na perspectiva implícita de um autoanalisado que assume
atitude analítica, vertida sobre si mesmo e sobre o grupo, cujos expedientes
imaginários desloca (de forma análoga à da posição do Mais-um no cartel
lacaniano). A crítica do imaginário não se faz pela parábola moral, nem
pela representação de uma saída dignificante da alienação especular
exposta, mas pela elaboração inerente à própria narratividade, fazendo-a
desembocar num ato de suspensão real, que também envolve o leitor.
A verdade é que o jovem Jacobina, que perdeu e reconstituiu
artificialmente a sua imagem ao espelho, não poderia narrar a própria
história, como a narrou o Jacobina maduro, se não tivesse se descolado
dela, em medida significativa, por um ato de autoanálise que está implícito
na narração, e que implica o simbólico como um passo além das ilusões do
imaginário. Jacobina vai além do ponto em que Simão Bacamarte estacou,
o do psiquiatra às portas da autoanálise e da virada psicanalítica, emergindo
na posição curiosa de uma espécie de Bacamarte analisado. Traços sócioculturais brasileiros não deixam de estar presentes nessa “dialética rarefeita
entre não-ser e ser outro” que compõe a sua figura: a oscilação entre o
silêncio evasivo e a truculência da autoridade que não admite réplica,
análoga àquela pendulação da vida brasileira, apontada por Sérgio Buarque
de Holanda em Raízes do Brasil, entre a anomia política e a quartelada: a
farda ou nada.
De maneira análoga, embora por um caminho narrativo diferente, o pai que
inicia o filho no método de cristalização da sua imagem, elevado ao
absurdo, em “Teoria do medalhão”, não poderia dizer tudo aquilo que diz,
explicitando as minúcias de um sintoma psíquico-ideológico a esconder, se
não fosse pela ótica da ironia narrativa que ele recusa como o procedimento
corrosivo máximo a ser evitado (“Somente não deves empregar a ironia,
esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum
grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire,
feição própria dos céticos e desabusados”). Em nenhum lugar, como esse,
Machado explicitou o programa levado a efeito nas obras do período,
evidentemente que através de um salto mortale irônico e elíptico.
Diferentemente de Machado, a narrativa de Guimarães Rosa faz ver no
espelho esvaziado a quase-imagem que figura um renascimento metafísico,
que não é da ordem nem do pensamento abstrato nem do reconhecimento
empírico – em outras palavras, que não se deixa representar, mas que se
apresenta, ainda assim, como a assunção limítrofe do ser no nada em que o
existente vem a se reconhecer como espectral aparição (“o ainda-nemrosto – quase delineado, apenas – mal emergindo, qual uma flor pelágica,
de nascimento abissal...”). A imagem epifânica não deixa de ser
problematizada como enigma e continuado objeto de dúvida, já que
literatura, fique claro, não é religião nem doutrina. Desdobrando aquela
perspectiva dialógica em que um narrador interpela seguidamente um
ouvinte inaudível, à maneira da imensa sessão de análise que é o Grande
sertão: veredas, temos n’ “O espelho” uma espécie de autoanalisandoselvagem que pergunta pelo quem é, e que envolve na sua pergunta o
suposto analista-leitor. Debulhando grãos de sandice a granel, esse sujeito
amalucado, tomado pela ideia fixa de ter de si a impossível visão cabal,
acaba atravessando cabalisticamente o vazio do espelho e perfazendo sem
saber um caminho iniciático desgovernado, que só se faz por obra da graça
– palavra a ser tomada, em Rosa, com a ambivalência da ironia e da
revelação.