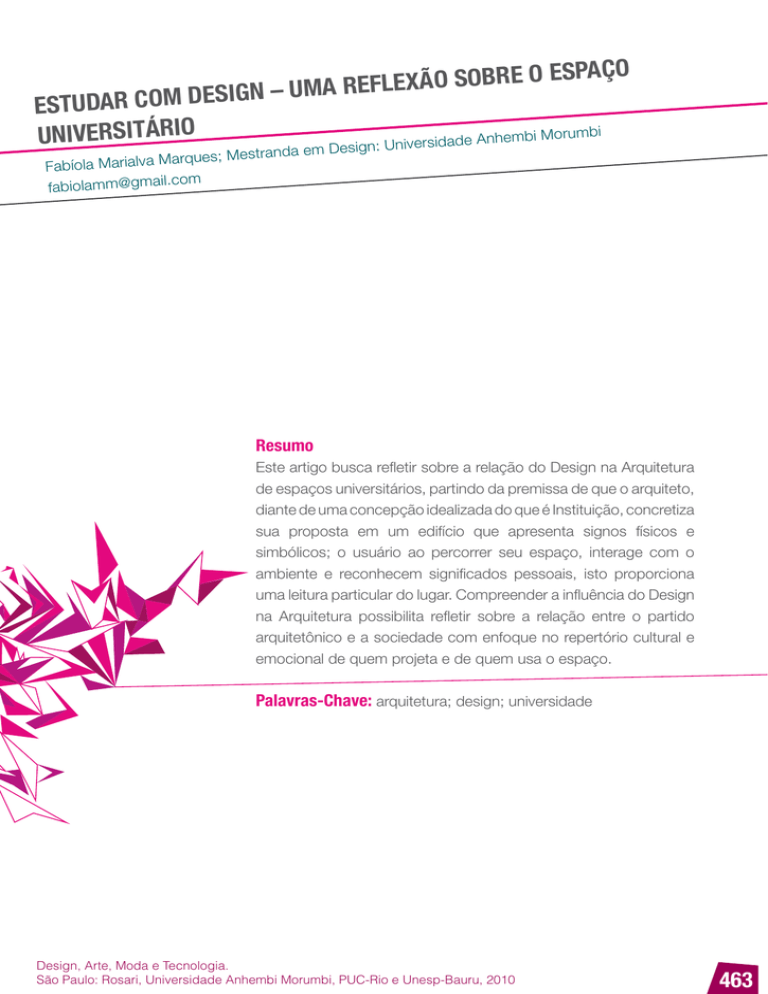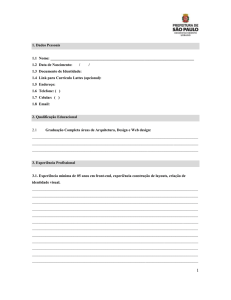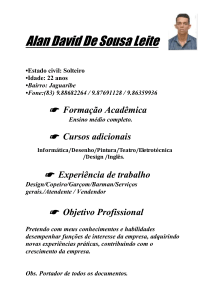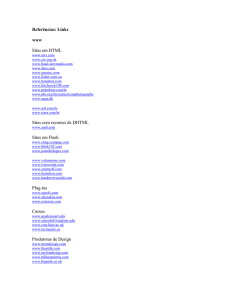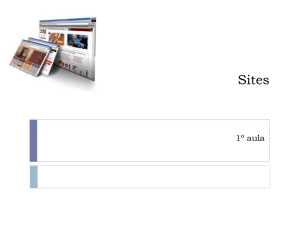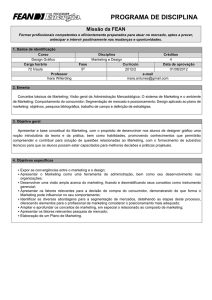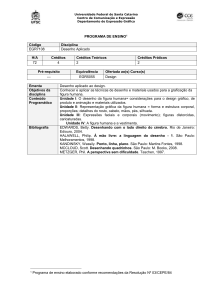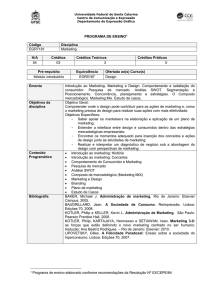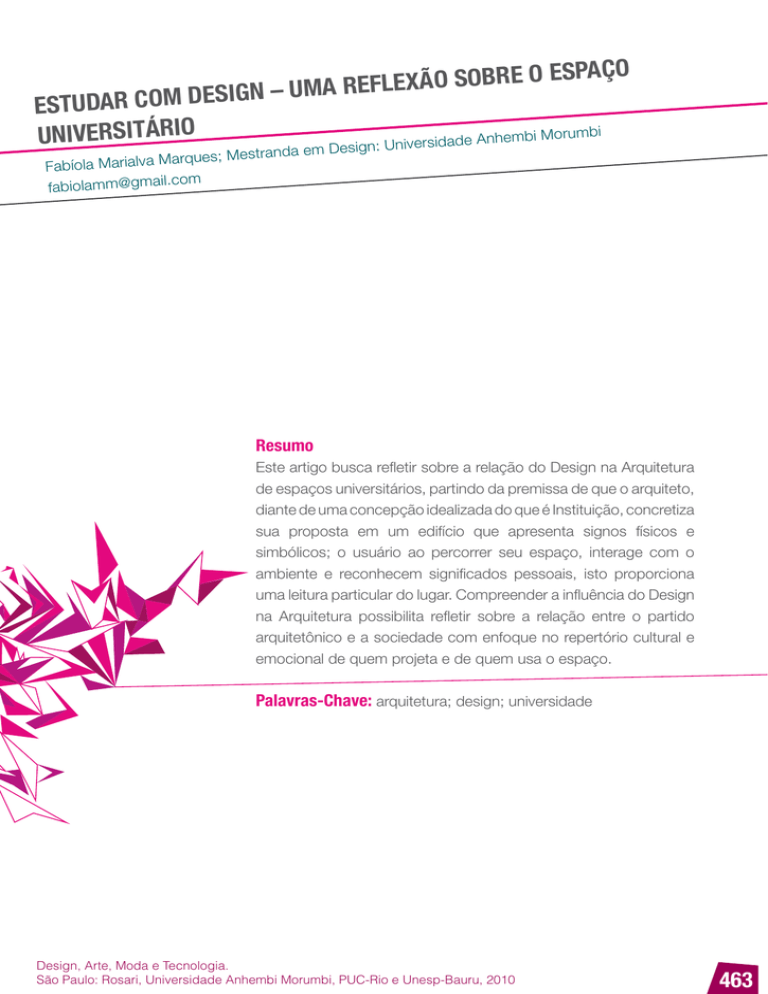
o sobre
ã
x
e
l
f
e
r
a
m
u
–
m Design
Estudar co
universitário
Marqu
Fabíola Marialva
l.com
fabiolamm@gmai
Design: Unive
es; Mestranda em
o espaço
rsidade Anhembi
Morumbi
Resumo
Este artigo busca refletir sobre a relação do Design na Arquitetura
de espaços universitários, partindo da premissa de que o arquiteto,
diante de uma concepção idealizada do que é Instituição, concretiza
sua proposta em um edifício que apresenta signos físicos e
simbólicos; o usuário ao percorrer seu espaço, interage com o
ambiente e reconhecem significados pessoais, isto proporciona
uma leitura particular do lugar. Compreender a influência do Design
na Arquitetura possibilita refletir sobre a relação entre o partido
arquitetônico e a sociedade com enfoque no repertório cultural e
emocional de quem projeta e de quem usa o espaço.
Palavras-Chave: arquitetura; design; universidade
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
463
Estudar com Design – uma reflexão sobre o espaço universitário
O Ensino Superior e a Arquitetura
Em 1 a.C., Vitrúvius escreve uma obra sobre arquitetura, “De Architectura”, para o
então imperador Augusto e fala sobre a importância da educação como verdadeira riqueza
necessária para se governar, através de pensamentos da alma e da inteligência, o governar
seria possível, somente, por aqueles que tiveram pais que ensinaram artesi aos filhos.
Giurgola e Mehta (1994) destacam o pensamento de Kahn sobre a origem da educação
através de encontros e trocas de experiência:
O ensino começou quando um homem, sentado embaixo de uma árvore, se
pôs a discutir, sem saber que era um professor, com jovens que ignoravam
ser estudantes; pensavam simplesmente no que se dizia na companhia de um
homem tão agradável. E desejavam que um dia seus filhos também tivessem
a oportunidade de ouvir um homem igual. Foi assim que nasceu a primeira
escola e nasceu o primeiro pátio de recreio: consequência das aspirações do
homem. (Giurgola e Mehta, 1994, pag. 94-95)
A evolução da educação, provavelmente, se deu a partir da possibilidade de transmissão
de conhecimento. Desde a troca de experiências iniciadas com conversas entre pais e filhos,
passando pela invenção da escrita pelos fenícios, a criação da primeira Escola de Ciências
por Thales, o florescimento da Enciclopédia com Plínio, o questionamento sobre a Educação
Escolástica por Bacon, o surgimento de Academias e Bibliotecas a partir do Humanismo, o
lançamento do primeiro livro impresso por Gutenberg, as primeiras formulações de teorias
para o Ensino até as reformas Educacionais atuais.
Cada um destes fatos históricos proporcionou a construção de espaços que abrigassem
a divulgação do saber, estabelecendo sentido construtivo a partir da cultura predominante do
seu contexto. Em um período de Antiguidade Clássica, o Ensino se dava em ágoras, teatros
e fóruns; na Idade Média em Igrejas; no Renascimento até dos dias de hoje em Academias e
Universidades.
Para Kahn, segundo Giurgola e Mehta (1994), o essencial de um lugar para se aprender
é ter um ambiente apropriado.
A escolha do local apropriado para uma escola estimulará o diretor de um
instituto a sugerir ao arquiteto o que uma escola deveria ser, com o que ele já
definirá um início de programa. (Giurgola e Mehta, 1994, pag. 94-95)
Quando Kahn fala de “início de um programa”, refere-se ao programa de necessidades
que é estabelecido pelo solicitante do projeto arquitetônico, no qual define quais são os
ambientes necessários para a construção do espaço.
Para elaborar um programa de necessidades é preciso, primeiramente, entender o
objetivo do espaço, entender suas exigências formais, funcionais e os estímulos psicológicos e
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
464
Estudar com Design – uma reflexão sobre o espaço universitário
seus significados. Para projetar um espaço de educação é preciso entender qual a sua função,
qual o seu público e as expectativas da Instituição.
A Universidade, o lugar, que segundo Wanderley (1988), é privilegiado para conhecer a
cultura universal e as várias ciências, cria e divulga o saber com a finalidade da Educação com
base no ensino, na pesquisa e extensão.
Lauanda (1987) posiciona-se frente à questão sobre o que é Universidade dizendo que
é preciso voltar-se para o homem tal qual qualquer questão de Filosofia da Educação, isto
porque, acredita que a Universidade apoia-se no caráter livre do conhecimento, bem além das
estruturas políticas da instituição.
Já Minogue (1981), acredita que as universidades são capazes “de criar seu próprio
interesse na busca do conhecimento”, sendo que esta busca pode ser influenciada por outros
tipos de excitação; tais como politica, religião, patriotismo entre outros.
Ter consciência do contexto histórico, econômico e político na qual a instituição se
situa, possibilita o entendimento do seu desenvolvimento e como este pode influenciar o
funcionamento e a política de suas estruturas internas. Contudo não deixa de apresentar sua
função primordial que é produzir e difundir conhecimento através de um sistema simples de
ensino e o aprendizado.
Os agentes usuários das Instituições de Ensino, definidos por Wanderley (1988), são os
professores, alunos e funcionários.
É possível, ainda, incluir outros agentes usuários deste espaço, tais como: familiares
dos alunos e convidados externos (palestrantes, auditores, prestadores de serviços e afins).
Este público, que mesmo pequeno e esporádico, tem grande influência na permanência
dos usuários tradicionais deste lugar de conhecimento. O contato possibilita intercâmbio de
ideias e participações construtivas e reforça a ideia de espaço inclusivo e disseminador de
experiências.
Conhecer o usuário da Universidade proporciona identificar as peculiaridades de projeto,
os fluxos, acessos, demarcações territoriais de público e privado, administrativo e acadêmico,
dimensionamento de áreas, tipologia de partido, prioridades de espaço e expectativas de
usos.
O Ensino Superior no Brasil
Segundo Charles e Verger (1996), as instituições universitárias transformaram-se
profundamente, o que de certa forma possibilita compreender melhor uma parte da herança
intelectual e do funcionamento das sociedades.
• Numa análise feita por Onusic (2009), o Ensino Superior no Brasil apresenta uma
evolução histórica de quatro fases:
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
465
Estudar com Design – uma reflexão sobre o espaço universitário
• Antes de 1930, com predomínio de instituições públicas;
• Entre 1930 a 1964, com a consolidação do ensino privado;
• Entre 1964 a 1980, com a reforma do ensino superior e o predomínio do setor
privado; e
• Entre 1980 a 2002, com o aumento de oferta de vagas do setor privado, o crescimento
de vagas não preenchidas e evasão acadêmica.
Atualmente, das 2.314 IES registradas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), cerca de 90% são privadas (gráfico 1), estando mais
concentrada numa classificação de pequeno porte com até 1.000 alunos (gráfico 2). Podese notar que a característica da Educação Superior no Brasil está calcada em um modelo
privatizado com ininterrupta expansão.
Gráfico 1 - Evolução do Número de instituições de Educação Superior - Brasil - 2000-2009.
Fonte: Censo da Educação Superior / MEC / Inep / Deed
Gráfico 2 - Distribuição do número de IES por porte da IES na Educação Superior segundo
Categoria Administrativa - Graduação Presencial - Brasil - 2009.
Fonte: Censo da Educação Superior / MEC / Inep / Deed
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
466
Estudar com Design – uma reflexão sobre o espaço universitário
Morosini (2005) avalia que a demanda por Educação Superior é responsável pela abertura
da Educação no setor privado, visto que o crescimento da economia do conhecimento, as
mudanças demográficas paralelas as limitações orçamentárias do Estado não conseguem
atender todo o movimento para a educação continuada.
De acordo com Silva Jr e Sguissard (1999), as políticas públicas para a educação
superior brasileira e as reações dos diferentes setores (públicos e privados), promoveram um
reordenamento no espaço social através do fortalecimento de processos mercantilistas, o que
tem acentuado a transformação das identidades das IES particulares.
Este processo pode ser entendido como reflexo da transição do modelo de capitalismo
fordiano para o atual capitalismo pós-moderno vivenciado de forma mundial, contudo não é
foco deste artigo centrar-se nesta questão. O entendimento deste novo contexto, apenas,
sugere, de forma isolada, que num predomínio de IES particulares, que buscam atender a
demanda de mercado, estão cada vez mais modificando sua identidade, profissionalizando as
empresas, racionalizando sua estrutura organizacional interna e buscando atender o seu mais
novo objetivo: o lucro.
Além de transitar pelo entendimento da cultura e sociedade nacional, este contexto
interfere no perfil institucional e, consequentemente, no processo construtivo dos seus espaços
físicos. As IES particulares, numa tentativa de atingir nichos de mercado e diferenciar-se de suas
concorrentes, estabelecem, a partir do seu corpo administrativo, medidas que a individualizem
ou minimizem seus custos como forma de garantir destaque. Desta forma, é comum verificar
instituições sendo amplamente reformadas e instalando materiais de acabamentos luxuosos
como atrativos para alunos de classe A e B, enquanto outras instituições apelam para baixo
investimento em infraestrutura com foco no público de classes inferiores.
O reflexo deste mercantilismo da educação preocupa a Arquitetura, não só na questão
da descaracterização da identidade, mas também na forma como esta política faz com que o
Edifício apresente aspectos de baixa qualidade do espaço físico até a uma apartação social.
Enquanto a escolha e intervenção no tipo de acabamento de um Edifício possam, por
um lado, alterar somente a estética do edifício; por outro, podem indicar uma segregação
de público onde, culturalmente, alguns usuários sintam-se deslocados e excluídos; já a
falta de investimento na construção pode acarretar má qualidade espacial, impossibilitar a
acessibilidade, prejudicando a ergonomia e o conforto ambiental.
Estudar com Design
Pode-se observar, a partir da análise desenvolvida sobre IES que tanto o sistema
educacional, como os espaços de aprendizagem sempre tiveram que solucionar questões
referentes à renovação da preservação do saber e da integração de seus usuários.
Hoje vemos não só Universidade com espaços físicos, mas, também, espaços virtuais
de conhecimento, os chamados ambientes de Educação à Distância (EaD). Dados do INPE
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
467
Estudar com Design – uma reflexão sobre o espaço universitário
indicam um aumento de 30,5% de matrículas no EaD, contra o aumento de 12,5% nas
tradicionais matrículas presenciais.
Para Moran (1994), “Educação a Distância é o processo de ensino-aprendizagem
mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou
temporalmente.” Desta forma o ensino-aprendizagem ocorre a partir de interligações com
tecnologias, principalmente telemáticas, como a internet, além do correio, rádio, televisão,
vídeo, CD-ROM, telefone, fax ou tecnologias semelhantes.
Segundo Meirelles (2008), a partir do século XXI, vive-se um tempo em que as novas
tecnologias atuam a favor da conectividade, potencializando a interatividade, o que facilita
a ampla circulação de informação. Em um contexto tão fluído e instável, verificou-se a
necessidade de reflexões acerca de conceitos de interatividade e convergência através do
Design de Interação. Desta forma, os ambientes educacionais virtuais buscam, nesta área do
Design, uma forma de facilitar a relação entre o homem e a máquina, criando ambientes com
linguagens e profusão das mudanças sociais, culturais e tecnológicas vigentes.
Não muito diferente do ambiente físico, o projeto arquitetônico de uma Universidade
procura resolver um programa de necessidades estabelecido pelas diretrizes do MEC,
evidenciando ambientes de ensino, integração, convivência e desenvolvimento de competências
pelos quais se estabelecem relações de troca de ensino e aprendizagem.
E se um programa atende as necessidades pré-estabelecidas, acompanhando essa
evolução acadêmica, por que é possível encontrar tanta diversidade nos modelos arquitetônicos
das edificações Universitárias?
Para Forty (2009), a diversificação em modelos atende as diferentes categorias de
usos e usuários, correspondendo às noções sobre sociedade e as distinções dentro dela.
Isto porque apresenta uma significação do Design dentro da cultura e da dimensão de sua
influência na vida e mente do usuário.
Para Cardoso (2008), o Design trata-se de uma atividade que gera projetos, no sentido
de planos, esboços ou modelos, fruto de três grandes processos históricos: industrialização,
urbanização e globalização. Todos estes processos buscam organizar de forma harmoniosa e
dinâmica alguns elementos, tais como: pessoas, veículos, máquinas, moradias, lojas, fábricas,
malhas viárias, estados, legislação, códigos, tratados, entre outros. Sendo a industrialização
como o período que impulsionou o surgimento de propostas de fazer uso do design como
agente de transformação.
Já Ferrara (2002), define Design como signo, fenômeno de linguagem que se encontra e
atrita com a arquitetura, a cidade, o desenho industrial, de objeto, gráfico, com a comunicação e
a programação visual; influenciado por sua complexa realidade global como pela multiplicidade
visual da imagem no mundo informatizado. E amplia o conceito escrevendo sobre o design
em espaços, uma realidade fenomênica e epistemológicaii, no qual o elemento de design
apresenta manifestações em forma de signos que permitam a sua legibilidade, passível de
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
468
Estudar com Design – uma reflexão sobre o espaço universitário
leitura e interpretação. Ou seja, elementos projetuais do espaço urbano são observados pelo
usuário, concretizando sua imagem e identificando a sua existência; o que resulta em (re)
conhecimento do espaço.
Compreender o Design e como está relacionado à Arquitetura sugere reflexões sobre
como a arquitetura apresenta elementos de design em sua concepção, principalmente
vinculado ao conceito de signos.
Kahn (2010) exemplifica bem esta relação entre a Arquitetura e o Design, classificando
o Design como um ato circunstancial, sendo o “como”; enquanto a Arquitetura é a Forma,
ou seja, o “o quê”. Sendo na harmonia dos espaços que se satisfaz a atividade humana. Ele
escreve:
“Reflita então sobre o que caracteriza, de forma abstrata, a Casa, uma casa,
lar. A Casa é a característica abstrata de espaços bons para se viver. A Casa é
a forma, deveria estar lá sem corpo ou dimensão, na mente do sonhador. Uma
casa é a interpretação condicional desses espaços. Isso é design. Na minha
opinião, a grandeza do arquiteto depende do seu poder de percepção daquilo
que é Casa, em vez de seu design de uma casa, que é um ato circunstancial.
O Lar é a casa e seus ocupantes. O Lar se torna diferente com cada pessoa
que nele vive. (...) Reflita então a respeito do sentido de escola, uma escola,
instituição. A instituição é a autoridade de onde extraímos suas necessidades
de áreas. Uma escola ou um design específico é o que a instituição espera de
nós. Mas a Escola, o espírito escolar, a essência do desejo de existir, é o que o
arquiteto deveria converter em seu design. E eu digo que ele deve, mesmo que
o design não corresponda ao orçamento. O arquiteto, portanto, se distingue
do mero projetista.” (Kahn, 2010, p. 9-11)
Projetar em arquitetura apresenta, em seus elementos e princípios fundamentais, formas
e maneiras de resolver o espaço. Cabe ao arquiteto conseguir traduzir seu conhecimento
para o edifício, resolvendo seu programa de necessidades, a implantação, definindo seus
acessos, a ocupação, a orientação, seus fluxos, as condicionantes de conforto térmico e
acústico e afim. Explorando o design, o campo projetual apresenta diversidade de soluções,
incorporando valores e manifestações culturais e gerando novas possibilidades de partidos
arquitetônicos.
De acordo com Montaner (2007), “a arquitetura depende de uma série de fatores e
deve responder a uma grande quantidade de solicitações de diversas índoles.” Para responder
as solicitações utilizou-se de paradigmas para se legitimar, através de linguagens metafóricas
que sustentassem suas referências iconológicas de cada período, tais como:
• Na tradição clássica, as construções são feitas a partir de ordens, textos de referências,
arquitetura monumental, justificando miticamente as relações harmônicas com o corpo
e a natureza.
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
469
Estudar com Design – uma reflexão sobre o espaço universitário
• Arquitetura medieval está ligada aos paradigmas do mundo religioso impregnado
de simbologia em cada elemento e espaço, na constante referência de recriação da
cidade de Deus.
• No Ecletismo, a evolução das formas e os novos modelos construtivos são decorrentes
do ideal renovador da máquina.
• O Modernismo, confiante no novo universo da máquina, apresenta-se em duas fases:
a primeira baseada em uma forma racional de projetar com formas simples e caráter
universal, seguindo o ideal de Le Corbusier de que a planta é geradora de tudo; num
segundo momento, uma corrente influenciada pelos existencialismos e pelo auge das
ciências dos homens, com sensibilidade às culturas locais. “A linguagem metafórica da
máquina é substituída pela linguagem metafórica do orgânico.”
• Já no Pós-modernismo, a evolução da arquitetura acompanha o avanço tecnológico,
as novas condicionantes urbanas, as intervenções dos usuários, suas novas exigências
funcionais, entre outros temas. A arquitetura, efetivamente, passa a transmitir informação.
Okamoto (2002), afirma que o homem sempre planejou e construiu ambientes de
modo que pudessem favorecer suas necessidades vivenciais e sociais. E questiona sobre “de
que forma tais ambientes tem influenciado as pessoas em seu comportamento e como se
processaria essa indução direcionada para uma atuação previsível ou desejada pelo arquiteto?”
Para tanto, é preciso visualizar além da arquitetura, além dos elementos de design
contidos nela; é preciso prestar atenção na forma como estes elementos, traduzido em signos
projetuais que representam a forma com que o edifício, relaciona-se com o entorno. É preciso,
também, compreender como os signos produzidos possibilitam uma identificação junto à
paisagem e oferecem uma leitura pelo usuário. O resultado deste processo, consciente e
intencional, estabelece uma produção e interpretação, fruto de repertório e experiência de
quem projeta e de quem usa o espaço.
Segundo Jung (1977) o homem utiliza uma linguagem cheia de símbolos para se
comunicar. Seja ela um termo, nome ou imagem que se familiariza com o cotidiano e suas
conotações especiais, além do significado evidente e convencional que se pode atribuir a este
símbolo.
Estudos realizados pelo PROARQ/FAU/UFRJ sobre valores e significados atribuídos
aos espaços, constataram que quando um usuário entra em contato com um determinado
espaço, recebe impactos iniciais a partir das impressões que ele visualiza e que geram nele
uma percepção; esta é a primeira etapa de um processo de conhecimento do lugar (processo
cognitivo). Nos próximos passos desta percepção imediata, a possibilidade de discriminar
e classificar os signos do ambiente é garantido pelo domínio que o usuário tem do código
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
470
Estudar com Design – uma reflexão sobre o espaço universitário
apresentado, do qual decorre uma percepção mecânica independente das características
contextuais temporais ou espaciais. Em sistemas similares, a percepção desprovida de qualquer
parâmetro codificado, é tensa e profundamente influenciada pelas características espaciais ou
temporais, é, necessariamente, a apreensão do novo como descoberta perceptiva.
A arquitetura, por proporcionar projetos livres e independentes, assume a possibilidade
de gerar novos significados na medida em que é percorrida. No ambiente construído, o usuário
identifica o lugar e tem o poder de transformá-lo. Este espaço, que a princípio é fruto do desejo
do arquiteto, que já percorreu esta trajetória de leitura a interpretação, passa a ser o lugar do
usuário.
A partir da compreensão e reconhecimento do lugar pelo usuário, que faz uma análise
e uso de seus valores impregnados pelos elementos edificados desse espaço, este atribui
o significado que melhor traduz seus anseios inconscientes. Isto porque, ele não observa
somente a função específica do que foi construído, mas também faz a relação dos aspectos
simbólicos do conjunto para com ele.
Assim, um edifício apresenta, em si, forma de se expressar baseado em símbolos
gráficos e elementos representativos do seu conceito arquitetônico. O espaço é entendido não
só pelo que tem de visível, mas da relação com a história cultural, a composição do conjunto
edificado e a forma como quem o desvenda.
Considerações finais
Não se pode negar que para a elaboração de um projeto arquitetônico de IES, o arquiteto
pode modificar o projeto diante de diretrizes, avaliação e aprovação da gestão que administra a
instituição, fazendo, muitas vezes, com que o projeto inicial não seja concretizado. No entanto,
a Instituição deve considerar que, ao solicitar um projeto, existe um olhar proposto para o que
se constrói, pois isso possibilita a compreensão, por meio de uma linguagem simbólica, sobre
o que é o projeto.
Segundo Ferrara (2007), percorrer a construção supõe não só ler os materiais e
competências estruturais existentes, mas também perceber “que a espacialidade cria
uma teoria do espaço enquanto comunicação ideológica da cultura e exige o resgate das
manifestações presentes nas suas constituições históricas.”
Para Okamoto (2002), os arquitetos devem desenvolver projetos que atendam a
permanente necessidade de interação afetiva do homem com o meio ambiente, favorecendo
o crescimento pessoal, a harmonia no relacionamento social e melhorando a qualidade de
vida.
Isto são os elementos de Design na Arquitetura, uma linguagem arquitetônica selecionada
pelo arquiteto com intuito de criar ambientes com formas arquetípicas de construção numa
tentativa de humanizar a arquitetura, a partir da inspiração no lugar, no clima, no programa e
no usuário. Estes elementos, quando bem projetados, sugerem ao usuário um sentido ao que
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
471
Estudar com Design – uma reflexão sobre o espaço universitário
se vivencia. Ao contrário, ambientes que não tiveram dedicação projetual desagradam pela
rigidez e monotonia, impossibilitando que o usuário se aposse deste lugar.
A partir da compreensão do Design na Arquitetura, pode-se refletir em como se pensa
a arquitetura universitária hoje em dia. E em como o espaço universitário tem traduzido a
forma de ensino, a função educadora exercida nos usuários que o vivenciam e experimentam
seu espaço, e se tem sido capaz de transmitir informações, aglutinar pessoas e produzir
sensações que evidencie a identidade da Instituição.
Notas
i Segundo Vitrúvius, a lei ateniense procurava educar através da arte que era exercida através da
aprendizagem da literatura e conhecimento geral de todas as disciplinas, deleitando-se de temas
literários e artísticos, bem como sobre obras em forma de comentários para alimento do espírito e
normas para vida. Tratado de Arquitetura, pag. 290-291.
ii“O design em espaços é, portanto, uma realidade tanto fenomênica como epistemológica. Ou seja,
é flagrado concretamente nas manifestações sígnicas, nas marcas passíveis de serem percebidas e
lidas no espaço, ao mesmo tempo em que as correlações interpretativas desses signos acabam por
gerar um conhecimento do espaço enquanto objeto que tem no design sua dimensão representativa.”
(Ferrara L. D., 2002, p. 7)
Referências
CHARLE, Cristophe; VERGER, Jacques; Fernandes. História das Universidades. (Traduçao E.
Fernandes) São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista , 1996.
CARDOSO, Rafael. Uma introdução à História do Design. - 3a edição São Paulo: Blucher, ,
2008.
FERRARA, Lucrécia. Design em espaços. São Paulo: Ediçoes Rosari,2002.
_________Espaços Comunicantes. São Paulo: Annablume, Grupo ESPACC, 2007.
FORTY, Adrian. Objeto de Desejo – design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac Naify.
2007. 1ª Reimpressão 2009.
GIURGOLA,Romaldo, MEHTA,Jaimini. Louis I. Kahn. (tradução Maria Ermantina Glavão G.
Pereira) São Paulo: Martins Fontes, 1994.
JUNG, Carl G.- O homem e seus símbolos – Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1977
KAHN, Louis. Forma e Design. (Tradução Raquel Peev.) São Paulo: Martins Fontes, 2010.
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
472
Estudar com Design – uma reflexão sobre o espaço universitário
LAUAND, Luiz Jean. O que é uma universidade. São Paulo: Editora Perspectiva S.A., 1987
MINOGUE, Kenneth. O conceito de Universidade. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
1981.
MONTANER, Josep Maria. Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade
do século XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001
OKAMOTO, Jun. Percepção Ambiental e comportamento: visão holística da percepção
ambiental na arquitetura e na comunicação. São Paulo: Mackenzie, 2002.
POLLIO, Vitrúvius. Tratado de arquitetura/Vitrúvio (Tradução, introdução e notas M. Justino
Maciel). São Paulo: Martins Fontes, 2007
SENNETT, Richard. Carne e Pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental (Tradução
Marcos Aarão Reis) Rio de Janeiro: Best Bolso,2008.
SILVA JR, João dos Reis, SGUISSARDI, Valdemar. Novas faces da Educação Superior no
Brasil – Reforma do Estado e mudanças na produção. Bragança Paulista: EDUSF, 1999.
WANDERLEY, Luiz Eduardo W. O que é universidade. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988.
MORAN, José Manuel. O que é Educação a Distancia, Informe CEAD - Centro de Educação a
Distância. SENAI, Rio de Janeiro, ano 1, n.5, out-dezembro de 1994, páginas 1-3. Atualizado
2002.
MOROSINI, Marília. Internacionalização da educação superior: um modelo em construção?
- Modelos Institucionais de Educação Superior: Brasília, 13 e 14 de outubro de 2005 /
Organização: Dilvo Ristoff e Palmira Sevegnani. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006.
MEIRELLES, Junia Cristina Junqueira Parreira. Design, Interação e Convergência - Dissertação
de Mestrado – Universidade Anhembi Morumbi, 2008.
ONUSIC, Luciana Massaro. A qualidade de serviço de ensino superior: o caso de uma instituição
de ensino púbico – Tese de Doutorado – Universidade de São Paulo, 2009.
DUARTE, Cristiane Rose; BRASILEIRO, Alice; CUNHA, Viviane; SIMÕES, Ana Paula. Sóbrio,
organizado e conservador: o escritório é a cara do dono? Comentários sobre valores, símbolos
e significados dos espaços. Texto especial 356 – fev/2002. Disponível em http://www.vitruvius.
com.br/arquitextos/arq000/esp356.asp Acesso em 14.10.2009.
Design, Arte, Moda e Tecnologia.
São Paulo: Rosari, Universidade Anhembi Morumbi, PUC-Rio e Unesp-Bauru, 2010
473