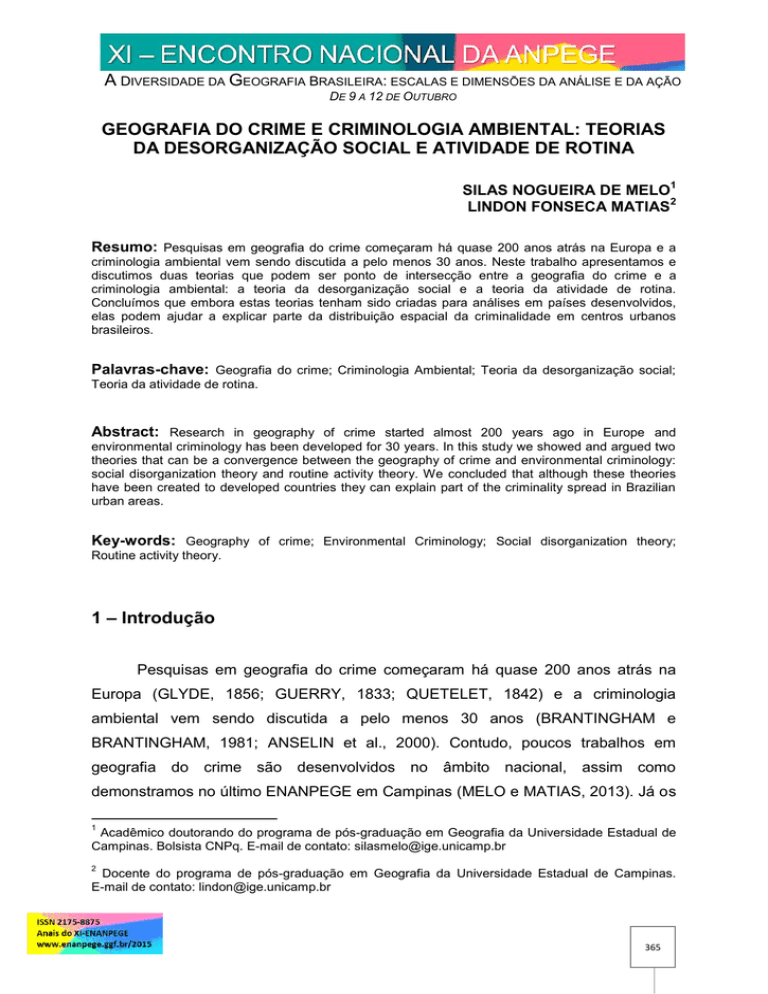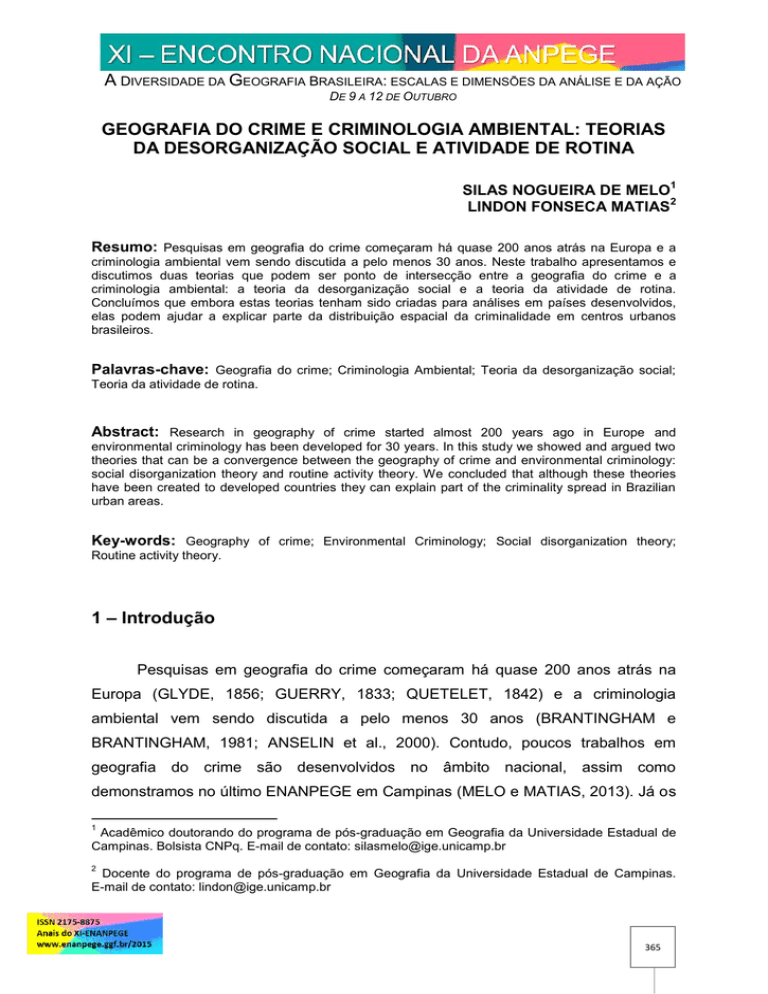
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
GEOGRAFIA DO CRIME E CRIMINOLOGIA AMBIENTAL: TEORIAS
DA DESORGANIZAÇÃO SOCIAL E ATIVIDADE DE ROTINA
SILAS NOGUEIRA DE MELO1
LINDON FONSECA MATIAS2
Resumo: Pesquisas em geografia do crime começaram há quase 200 anos atrás na Europa e a
criminologia ambiental vem sendo discutida a pelo menos 30 anos. Neste trabalho apresentamos e
discutimos duas teorias que podem ser ponto de intersecção entre a geografia do crime e a
criminologia ambiental: a teoria da desorganização social e a teoria da atividade de rotina.
Concluímos que embora estas teorias tenham sido criadas para análises em países desenvolvidos,
elas podem ajudar a explicar parte da distribuição espacial da criminalidade em centros urbanos
brasileiros.
Palavras-chave: Geografia do crime; Criminologia Ambiental; Teoria da desorganização social;
Teoria da atividade de rotina.
Abstract: Research in geography of crime started almost 200 years ago in Europe and
environmental criminology has been developed for 30 years. In this study we showed and argued two
theories that can be a convergence between the geography of crime and environmental criminology:
social disorganization theory and routine activity theory. We concluded that although these theories
have been created to developed countries they can explain part of the criminality spread in Brazilian
urban areas.
Key-words: Geography of crime; Environmental Criminology; Social disorganization theory;
Routine activity theory.
1 – Introdução
Pesquisas em geografia do crime começaram há quase 200 anos atrás na
Europa (GLYDE, 1856; GUERRY, 1833; QUETELET, 1842) e a criminologia
ambiental vem sendo discutida a pelo menos 30 anos (BRANTINGHAM e
BRANTINGHAM, 1981; ANSELIN et al., 2000). Contudo, poucos trabalhos em
geografia do crime são desenvolvidos no âmbito nacional, assim como
demonstramos no último ENANPEGE em Campinas (MELO e MATIAS, 2013). Já os
1
Acadêmico doutorando do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de
Campinas. Bolsista CNPq. E-mail de contato: [email protected]
2
Docente do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Campinas.
E-mail de contato: [email protected]
365
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
estudos em criminologia ambiental são quase inexistentes fora do contexto europeu
e norte-americano.
Assim, neste trabalho de cunho teórico, apresentamos e discutimos duas
teorias que podem ser ponto de intersecção entre a geografia do crime 3 e
criminologia ambiental: a teoria da desorganização social e a teoria da atividade de
rotina. Para ambas as teorias os estudos internacionais utilizam a correlação de
variáveis que podem avaliar a influência dos bairros bem como das rotinas das
pessoas com as ocorrências criminais. Recentes abordagens propõem integrar as
duas teorias com o intuito de melhor interpretar as taxas de criminalidade no espaço,
sobretudo urbano (ANDRESEN, 2006).
A grande pergunta que tentamos responder nesta pesquisa é: estas duas
teorias são adequadas para ajudar no entendimento do componente espacial do
crime nas cidades brasileiras? Além de uma discussão teórica que explica estas
abordagens com mais detalhes, também refletimos de que maneira estas teorias
poderiam servir ao contexto brasileiro e contribuir para o que já temos de produção
intelectual nesta área do conhecimento.
Além desta parte introdutória, este texto está dividido em mais duas partes. A
primeira é a fundamentação teórica, onde apresentamos com maiores detalhes as
teorias de desorganização social e de atividade de rotina. A segunda são as
considerações finais, onde refletimos com base em alguns estudos a possibilidade
de uso dessas teorias para o contexto brasileiro.
2 – Fundamentação Teórica
Antes de adentrar nas teorias é bom justificar que o Brasil tem produzido
trabalhos importantes em geografia do crime, como por exemplo (em ordem
cronológica): Guidugli (1985); Massena (1986); Felix (1989); Francisco Filho (2004);
Melgaço (2005); Batella (2008); e Zanotelli et al. (2011). Contudo, não
3
Não foi o objetivo deste trabalho explorar as implicações políticas e epistemológicas da geografia do
crime. Para mais detalhes sobre esta discussão ver: Harries (1974), Peet (1975), Lowman (1986),
LeBeau e Leitner (2011).
366
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
aprofundaremos os debates lançados por estes pesquisadores porque não
enfatizam as teorias objetivo de nossa empreitada.
2.1- Teoria da Desorganização Social
A teoria da desorganização social foi cunhada por Clifford R. Shaw e Henry D.
McKay (1942) no começo do século XX em uma tentativa da Escola de Chicago
explicar o componente espacial do crime e ainda hoje e uma teoria usada na
sociologia. Em geral, a teoria da desorganização social destaca o papel dos bairros
e sua influência no comportamento criminal.
Contudo, embora o uso disseminado desta teoria, ela só veio a ser testada
décadas mais tarde na Grã-Bretanha através da pesquisa de Sampson e Groves
(1989), que utilizaram um levantamento criminal para medir a presença ou ausência
de organização social. De um modo geral, a teoria da desorganização social se
refere à inabilidade de uma comunidade estruturar e compreender valores em
comum de seus habitantes e preservar um efetivo controle social.
Investigadores que centram suas análises nesta teoria, frequentemente usam
indicadores baseados em área (por exemplo, setores censitários) de mobilidade
residencial, pobreza, famílias separadas, urbanização e heterogeneidade étnica para
correlacionar e predizer o crime. Exemplos desta abordagem em contexto norteamericano podem ser encontrados em Cahill e Mulligan (2003) e Lowenkamp et al.
(2003). Sampson e Groves (1989) implementaram mais três variáveis na estrutura
causal do modelo para analisar vizinhança e taxas de delinquência: redes esparsas
de bom relacionamento local, adolescentes não supervisionados e baixa
participação organizacional (Figura 01).
367
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Figura 01 – Modelo causal da teoria da desorganização social.
Fonte: SAMPSON e GROVES (1989)
2.2- Teoria da Atividade de Rotina
Por outro lado, a teoria da atividade de rotina foi desenvolvida por Lawrence
E. Cohen e Marcus Felson (1979) para explicar o porquê que as taxas de
criminalidade nos Estados Unidos estavam crescendo após a Segunda Guerra
Mundial, ou seja, em uma situação econômica favorável. Esta teoria é uma das mais
importantes da criminologia ambiental em que destaca que o crime só ocorre
mediante a convergência no espaço e no tempo de: vítima, agressor em potencial e
ausência de segurança (Figura 02).
De modo a investigar a teoria da atividade de rotina, pesquisadores norteamericanos comumente usam quatro variáveis para medir alvo adequado: salário
mensal familiar, percentual de residências alugadas, média dos valores das
residências e número de domicílios (CLARKE e FELSON, 1993). A presença de
ofensor em potencial é determinado pelo percentual de homens jovens bem como
taxa de desemprego (ANDRESEN, 2006). E finalmente, para medir a vigilância é
utilizada a densidade populacional dentro de uma unidade espacial (COHEN e
FELSON, 1979).
368
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Ofensor
em
potencial
Alvo
adequado
Ausência
de
vigilância
Figura 02 – Esquema simplificado da teoria da atividade de rotina.
Adaptado de: COHEN e FELSON (1979)
Organização: MELO e MATIAS (2015)
3 – Considerações Finais
A exemplo de trabalhos anteriores, algumas teorias e metodologias utilizadas
em outros contextos serviram para a realidade brasileira, como mostrado em Melo et
al. (2015) no que diz respeito a concentração criminal. De forma mais frequente,
pesquisadores brasileiros têm aplicado a teoria da organização social para explicar a
criminalidade, sobretudo em Minas Gerais. De acordo com Diniz (2005, p. 22), que
pesquisou a relação entre migração, desorganização social e violência urbana no
estado mineiro, "[...] o argumento de que áreas de intensa imigração são favoráveis
à incidência criminal, em virtude de serem marcadas por confrontos de valores
culturais, desorganização social e fraca coesão social merece investigação mais
profunda".
369
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Contudo, a pesquisa de Silva (2014), que aplicou o mesmo modelo lógico de
Sampson e Groves (1989), mas com adaptações de variáveis usando uma pesquisa
de vitimização em Belo Horizonte e regressão de Poisson encontrou que somente a
pobreza apresentou um coeficiente significante com homicídios e que famílias
separadas apresentaram coeficiente significante com o total de crimes4.
Para qualquer uso da teoria da desorganização social em contexto brasileiro é
fundamental
entender
as
especificidades
deste
espaço
urbano
como
as
desigualdades (SANTOS, 1990), crime organizado (ADORNO e SALLA, 2007),
violência policial (DENYER WILLIS, 2014) etc.
Com relação à teoria de atividade de rotina, Ceccato (2005) ao avaliar
homicídios em São Paulo conclui que as variáveis desta teoria são mais apropriadas
para entender o crime na capital paulista do que as variáveis da teoria de
temperatura/agressão5.
Com base nestas poucas referências, concluímos que embora estas teorias
tenham sido criadas para análise em países desenvolvidos, elas podem ajudar a
explicar parte da distribuição espacial da criminalidade em centros urbanos
brasileiros. Contudo, novos estudos devem ser feitos para verificar a aplicabilidade
destas teorias em outros municípios além de Belo Horizonte e São Paulo.
Referências Bibliográficas
ANDERSON, C. A. Temperature and aggression: ubiquitous effects of heat on
occurrence of human violence. Psychological bulletin, 106, 74, 1989.
ADORNO, S., e SALLA, F. Criminalidade organizada nas prisões e os ataques do
PCC. Estudos avançados, 21(61), 7-29, 2007.
4
Outro trabalho da teoria da desorganização social no Brasil foi realizado por Villarreal e Silva (2006).
5
Esta teoria propõe que varáveis térmicas, umidade do ar etc. podem alterar o comportamento
humano e deixando-o mais violento dependendo da situação. Para mais detalhes ver: Anderson
(1989).
370
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
ANDRESEN, M. A. A spatial analysis of crime in Vancouver, British Columbia: a
synthesis
of
social
disorganization
and
routine
activity
theory.
Canadian
Geographer, 50: 487-502, 2006.
ANSELIN, L.; COHEN, J.; COOK, D.; GORR, W. e TITA, G. Spatial analyses of
crime. In Measurement and Analysis of Crime and Justice., ed. D. Duffee, 213 –
262. Washington, DC: National Institute of Justice, 2000.
BATELLA, W. B. Análise espacial dos condicionantes da criminalidade violenta
no Estado de Minas Gerais - 2005: Contribuições da Geografia do Crime. 2008.
142 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.
BRANTINGHAM, P. L., e BRANTINGHAM, P. J. Notes on the geometry of crime. In
Environmental Criminology, ed. P. J. Brantingham e P. L. Brantingham, 27 – 54.
Prospect Heights, IL: Waveland Press, 1981.
CAHILL, M. E., e MULLIGAN, G. F. The determinants of crime in Tucson, Arizona.
Urban Geography, 24: 582−610, 2003.
CECCATO, V. Homicide in São Paulo, Brazil: assessing spatial-temporal and
weather variations. Journal of Environmental Psychology, 25: 307–321, 2005.
CLARKE, R. V., e FELSON, M. Introduction: criminology, routine activity, and rational
choice. In Routine Activity and Rational Choice, ed. R. V. Clarke and M. Felson, 1
– 14. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1993.
COHEN, L. E. e FELSON, M. Social change and crime rate trends: a routine activity
approach. American Sociological Review, 44: 588–608, 1979.
DENYER WILLIS, G. Antagonistic authorities and the civil police in Sao Paulo,
Brazil. Latin American Research Review, 49(1), 3-22, 2014.
371
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
DINIZ, A. M. Migração, desorganização social e violência urbana em Minas
Gerais. Raega-O Espaço Geográfico em Análise, 9: 9-23, 2005.
FELIX, S. A. Geografia do crime: análise da bibliografia da criminalidade numa
perspectiva espacial. 1989. 195 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Instituto de
Geociências e Ciências Exatas, UNESP, Rio Claro, 1989.
FRANCISCO FILHO, L. L. Distribuição espacial da violência em Campinas: uma
análise por geoprocessamento. 2003. 233 f. Tese (Doutorado em Geografia) Instituto de Geografia, UFRJ, Rio de Janeiro, 2004.
GLYDE, J. Localities of crime in Suffolk. Journal of the Statistical Society of
London, 19: 102–106, 1856.
GUERRY, A. M. Essai sur la statistique morale de la France. Paris: Crochard,
1833.
GUIDUGLI, Odeibler S. Crime urbano e geografia aplicada. Geografia, Rio Claro,
vol. 10, n. 19, 1985, p. 231-234.
HARRIES, K. D. The Geography of Crime and Justice. New York, NY: McGrawHill, 1974.
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades, 2011. Disponível em:
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=350950&search=sao
-paulo|campinas. Acessado em 12 de Dezembro, 2014.
LEBEAU, J. L. e LEITNER, M. Introduction: Progress in Research on the Geography
of Crime, The Professional Geographer, 63:2, 161-173, 2011.
372
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
LOWENKAMP, C. T., CULLEN, F. T., e PRATT, T. C. Replicating Sampson and
Groves’s test of social disorganization theory: revisiting a criminological classic.
Journal of Research in Crime and Delinquency, 40: 351 – 73, 2003.
LOWMAN, J. Conceptual issues in the geography of crime: Toward a geography of
social control. Annals of the Association of American Geographers, 76:81–94,
1986.
MASSENA, R. M. R. Distribuição espacial da criminalidade violenta na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro,
v. 48, n.3, 1986, p.285-330.
MELGAÇO, L. M. A Geografia do atrito: dialética espacial e violência em
Campinas-SP. 2005. 142 f. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo,
2005.
MELO, S. N. e MATIAS, L. F. Geografia do Crime e da Violência: análise em artigos
de periódicos nacionais em geografia e anais do ENANPEGE (2007-2012). In: X
ENANPEGE, 2013, Campinas. Geografias, Políticas Públicas e Dinâmicas
Territoriais. Anais... Dourados: UFGD, 5985-5996, 2013.
MELO, S.N. MATIAS, L. F., e ANDRESEN, M. Crime concentrations and similarities
in spatial crime patterns in a Brazilian context. Applied Geography, 62: 314-324,
2015.
PEET, R. The geography of crime: A political critique. The Professional
Geographer, 27:277–280, 1975.
QUETELET, L. A. J. A treatise on man and the development of his faculties.
Edinburgh: W. and R. Chambers, 1842.
373
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
SAMPSON, R. J., e GROVES, W. B. Community structure and crime: testing socialdisorganization theory. American Journal of Sociology, 94: 774-802, 1989.
SANTOS, M. Metrópole corporativa fragmentada. O caso de São Paulo. São
Paulo: Nobel, 1990.
SHAW, C. R., e MCKAY, H. D. Juvenile Delinquency in Urban Areas. Chicago, IL:
University of Chicago Press, 1942.
SILVA, B. F. A. Social disorganization and crime: searching for the determinants of
crime at the community level. Latin American Research Review, 49: 218-230,
2014.
VILLARREAL, A., e SILVA, B. F. Social cohesion, criminal victimization and
perceived risk of crime in Brazilian neighborhoods. Social Forces, 84(3), 1725-1753,
2006.
ZANOTELLI, Claudio L.; BERTOLDE, Adelmo I.; LIRA, Pablo S.; BARROS, Ana
Maria L.; BERGAMACHI, Rodrigo B. Atlas da Criminalidade no Espírito Santo.
São Paulo: Annablume, 2011.
374