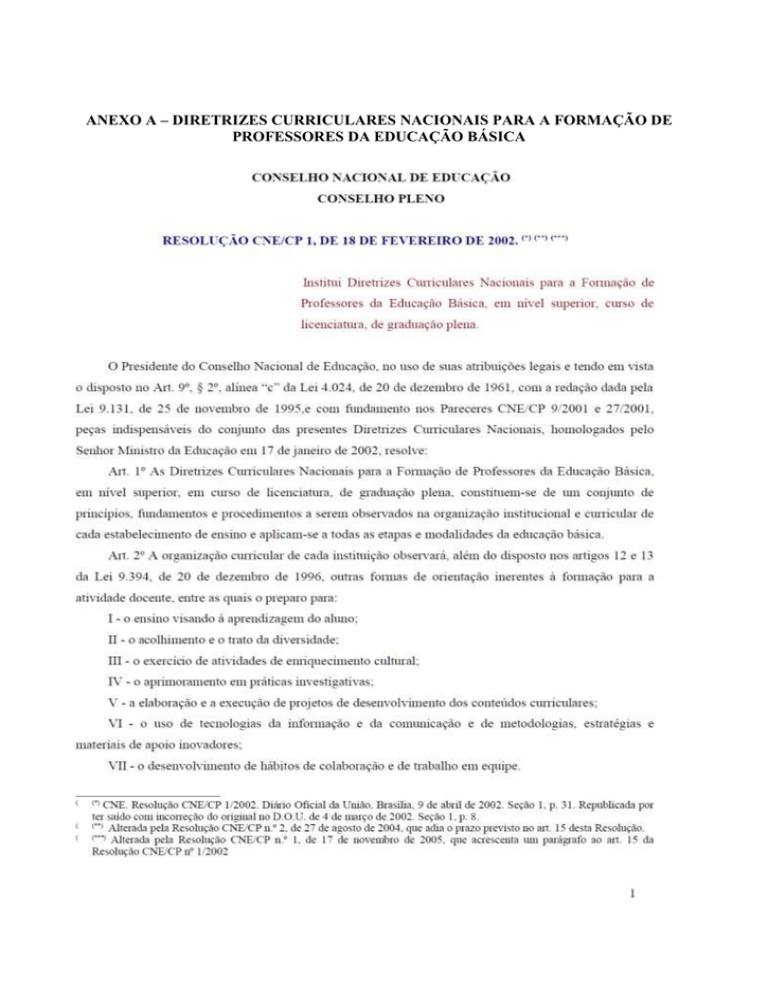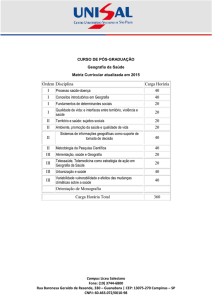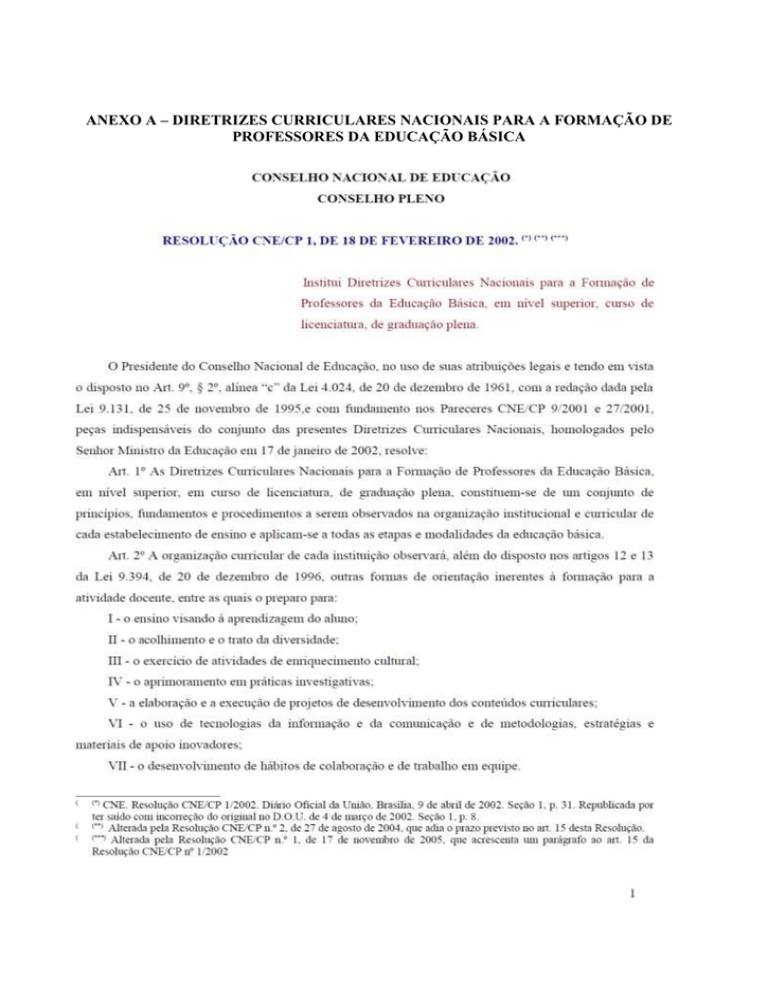
ANEXO A – DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ANEXO B – DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE HISTÓRIA
ANEXO C – DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE GEOGRAFIA
ANEXO D – EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS
ESTUDOS INTEGRATIVOS DA AMAZÔNIA – EIA
Período: 1º
Carga horária: 75 horas-aula
Ementa: Amazônia: conceitos, dimensões e processos que caracterizam a região. Bioma
amazônico. Ecologia, Ecossistemas e povos na Amazônia. Interação homem-ambiente. Serviços
Ambientais da Floresta Amazônica. Formação histórica, econômica e social da Amazônia.
Processos de ocupação territorial e conflitos sociais. Políticas de Desenvolvimento para a
Amazônia.
Bibliografia Básica
1.
BECKER, K. B; STENNER, C. Um futuro para a Amazônia. São Paulo: oficina de Textos,
2008.
2.
Estudos Integrativos da Amazônia (módulo). Santarém: UFOPA. CAPOBIANCO, J. P;
VERÍSSIMO, A.; MOREIRA, A.; SAWYER, D.; SANTOS, I & PINTO,
3.
SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL. Amazônia: a floresta e o futuro – Origens: formação
geológica, surgimento da floresta e a ocupação humana. Edição nº 1. Revista Duetto.
4.
SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL. Amazônia: a floresta e o futuro – Tesouros:
biodiversidade, recursos naturais, minérios e petróleo. Edição nº 2. Revista Duetto.
5.
SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL. Amazônia: a floresta e o futuro – Destinos:
desmatamento ou desenvolvimento sustentável?. Edição nº 3. Revista Duetto.
Bibliografia Complementar
1.
AYRES, J.M. As matas de várzea do Mamirauá: Médio rio Solimões. Belém: Sociedade
Civil de Mamirauá. 123p. 2006.
2.
BATISTA, D. O complexo da Amazônia: análise do processo de desenvolvimento. 2ª Ed.
Manaus: VALER, EDUA e INPA, 2007.
3.
BECKER, B.K. Geopolítica da Amazônia. Estudos Avançados, 19(53): 71-86, 2005
4.
BENCHIMOL, S. Amazônia formação social e cultural. Manaus: Valer, 2009.
5.
FEARNSIDE. Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle. Acta
Amazônica, 36(3): 395 – 400, 2006.
6. FERREIRA, L.V; VENTICINQUE, E.; ALMEIDA, S. O desmatamento na Amazônia e a
importância das áreas protegidas. Estudos Avançados, 19 (53): 157-166, 2005.
7. FORLINE, L.; MURRIETA, R.;VIEIRA, I. (Orgs). Amazônia além dos 500 anos. Museu
Paraense Emílio Goeldi, Belém., 566 pp, 2005
8. LIMA, D.; POZZOBON, J. Amazônia socioambiental. Sustentabilidade ecológica e
diversidade social. Estudos avançados. V 19, n 54. São Paulo. 2005.
9. MIRANDA, E.E. 2007. Quando o Amazonas corria para o Pacífico. 256p. Editora Vozes.
10. MORAN, E.F. A ecologia humana das populações humanas da Amazônia. Vozes,
Petropolis, 1990.
INTERAÇÃO NA BASE REAL
Período: 1º
Carga horária: 45 horas-aula
Ementa: Definição dos projetos e sua discussão junto aos grupos de alunos analisando a realidade
da base física local nas diversas comunidades: leituras e preparação dos temas; abordagens
teóricas e métodos de estudo; elaboração do Trabalho Conclusivo da Formação 1 (TCF1);
comunicação, por meio da exposição de painéis ou comunicações orais referentes aos resultados
da experiência; participação no evento científico; exame das complementaridades entre o
conhecimento científico tradicional e das possibilidades do diálogo dos saberes.
Bibliografia Básica
1.
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico.
Editora Atlas, 10ª Ed. 2010.
2.
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Editora Atlas, 5ª Ed. 2010.
3.
MARCONI, Marina de Andrade; Lakatos, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia
Científica. Editora Atlas, 7ª Ed. 2010.
Bibliografia Complementar
1.
LAMY, Marcelo. Metodologia da pesquisa jurídica: técnicas de investigação,
argumentação e redação. Editora: Elsevier, 2011.
2.
MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. Editora Saraiva. 3ª. Ed.
2008.
3.
RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: Guia Para Eficiência nos Estudos. Editora
Atlas, 6ª Ed. 2006.
4.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. Editora: Cortez, 23ª.
Ed. 2006.
5.
VANTI, Elisa dos Santos. Projetos Interdisciplinares. IESDE Brasil, 2009.
LÓGICA, LINGUAGENS E COMUNICAÇÃO – LCC
Período: 1º
Carga horária: 90 horas-aula
Ementa: Introdução à Semiótica: produção do significado e sentido, linguagem e comunicação.
Introdução à estatística: descritiva e inferencial. Fundamentos das Tecnologias da Informação e da
Comunicação. O uso consciente das tecnologias como recurso democrático de informação e
comunicação. Redes Virtuais Colaborativas. Fundamentos para a gestão e difusão de informações
por meio de softwares livres.
Bibliografia Básica
1.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade e
cultura. V. 1, 10a edição. Tradução: Roneide Venancio Majer. Atualização: Jussara Simões.
São Paulo: Paz e Terra, 2007.
2.
CATANIA, A. Charles. Comportamento, linguagem e cognição. 4a ed. Porto Alegre:
Artmed, 1999 KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e Linguagem. SP: Cortez, 2002.
3.
____________________. Coesão Textual. SP: Contexto, 2005.
4.
CITELLE, Adilson. Aprender e ensinar com textos não escolares. Vol. 3. SP: Cortez, 2002.
5.
LESSIG, Lawrence. Cultura Livre: Como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para
bloquear a cultura e controlar a criatividade. São Paulo: Trama, 2005.
6.
MACHADO, Nilson José. Noções de Cálculo. São Paulo: Spicione, 1988.
7.
PAIVA & FARIA. Roberto & Dóris. Módulo Interdisciplinar: Lógica, Linguagem e
Comunicação. (orgs.). 1ª ed. Santarém: UFOPA, 2010.
8.
PINTO, Á. V. O Conceito de Tecnologia (Vol. I e II) Contraponto, 2005
9.
PRETTO, Nelson De Luca. Escritos sobre Educação. Comunicação e Cultura. Campinas, SP:
Papirus, 2008.
10. PRETTO, Nelson; SILVEIRA, Sérgio Amadeu (orgs.). Além das redes de colaboração:
internet, diversidade cultural e tecnologias do poder . Salvador: EDUFBA, 2008.
11. RANGEL, R. Passado e futuro da era da Informação. Nova Fronteira. 1999
12. RIFKIN, J. A era do acesso. Makron Books, 2001
13. RUGGIERO, M.A.G.; LOPES, V.L.R. Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e
Computacionais. Makron Books, 1996.
14. RUSHKOFF, Douglas. Um jogo chamado futuro. Rio de Janeiro, Revan, 1999.
15. SILVA, Marco. Sala de aula interativa.Rio de Janeiro: Quartet, 2000.
16. SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Exclusão Digital: a miséria na era da informação. São
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.
Bibliografia Complementar
1.
BONILLA, Maria Helena. Escola Aprendente: para além da Sociedade da Informação.
Rio de Janeiro: Quartet, 2005.
2.
DIAS, Paulo. Comunidades de Aprendizagem na Web. INOVAÇÃO, Lisboa, v. 14, n. 3,
2001a. p. 27-44.
3.
GUIMARÃES JR, Mário José Lopes. A cibercultura e o surgimento de novas formas de
sociabilidade. 1997. Disponível em: http://www.cfh.ufsc.br/~guima/ciber.html
4.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.
5.
MORAES, Maria Candida. Informática educativa no Brasil: um pouco de história... Em
Aberto, ano 12, n.57, jan./mar. 1993, p. 17-26.
6.
PICANÇO, Alessandra; LAGO, Andréa, et. al. Conversando sobre interatividade. 2000.
Disponível em http://www.faced.ufba.br/~dept02/sala_interativa/texto_grupo.html
7.
PRETTO, Nelson De Luca; (org.). Globalização & Educação: mercado de trabalho,
tecnologias de comunicação, educação a distância e sociedade planetária. Ijuí: Ed. Unijuí,
1999.
8.
PRETTO, Nelson De Luca. Bibliotecas digitais e Internet: em busca da produção coletiva de
conhecimento. Disponível em ttp://www.ufba.br/%7Epretto/textos/bvs.htm
9.
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Software Livre: a luta pela liberdade do conhecimento.
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.
10. BAGNO, Marcos. Preconceito Lingüístico – o que é como se faz. Loyola. SP.1999.
11. MATTOSO, J. Câmara Jr. Dicionário de Linguística e Gramática. 22a edição.Vozes.Rj.
Petrópolis. 2001.
ORIGEM & EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO - OEC
Período: 1º
Carga Horária: 75 horas-aula
Ementa: Introdução ao conhecimento da filosofia e do desenvolvimento das ciências – em seus
aspectos epistemológicos, teóricos, metodológicos e de lógica formal – e promoção da integração
do conhecimento e da construção interdisciplinar; abordagem sobre o conhecimento empírico e
tradicional; exame das complementaridades entre o conhecimento científico tradicional e das
possibilidades do diálogo dos saberes.
Bibliografia Básica
1.
ABRANTES, Paulo César. A ciência moderna e o método experimental. In: Imagens de
natureza, imagens de ciência. Campinas: Papirus, 1998.
2.
BRABO, Jesus de N. Cardoso. Elementos de epistemologia e história da ciência. In: SOUZA,
Maria de Fátima Matos de; MORAIS, Andrei Santos de (orgs.). Origem e Evolução do
Conhecimento - OEC (livro-módulo). Vol. 1. Santarém: UFOPA, 2012.
3.
DIAS, Elizabeth de Assis. Filosofia da Ciência. In: SOUZA, Maria de Fátima Matos de;
MORAIS, Andrei Santos de (orgs.). Origem e Evolução do Conhecimento - OEC
(livromódulo). Vol. 1. Santarém: UFOPA, 2012.
4.
POPPER, Karl R. O problema da demarcação. In: Textos escolhidos. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2010.
5.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A ecologia dos saberes. In: A gramática do tempo. 2ª ed.
São Paulo, Cortez: 2008.
6.
SOUZA, Maria de Fátima Matos de; MORAIS, Andrei Santos de (orgs.). Origem e Evolução
do Conhecimento - OEC (livro-módulo). Vol. 1. Santarém: UFOPA, 2012.
Bibliografia Complementar
1.
ANDERY, Maria Amália et al. Para compreender a Ciência. 10ª ed. Rio de Janeiro: Espaço
e Tempo/PUC: 2001.
2.
BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo
científico. São Paulo: UNESP, 2004.
3.
CHALMERS, Alan F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993.
4.
DIEGUES, A. C.; ARRUDA, R.S.V.; SILVA, V.C.F.; FIGOLS, F.A.B; ANDRADE, D. Os
saberes tradicionais e a biodiversidade no Brasil. In: DIEGUES, A.C. (Org.). Biodiversidade
e Comunidades Tradicionais no Brasil. Ministério do Meio Ambiente; COBIO/NUPAUN;
Universidade de São Paulo, 2000.
5.
GRANJER, Gilles. A Ciência e as Ciências. São Paulo: Editora UNESP, 1994.
6.
HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
7.
JAPIASSU, Hilton. Introdução ao pensamento epistemológico. 7ª. Ed. Rio de Janeiro: F.
Alves,1992.
8.
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 7ª ed. São Paulo: Perspectiva:
2003.
9.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2007.
10. MORIN, Edgar. Saberes Globais e Saberes Locais: o olhar transdisciplinar. Brasília:
CDS/Universidade de Brasília, 2000.
11. POPPER, Karl Raymund. Conhecimento Objetivo: uma abordagem evolucionária. São
Paulo: EDUSP, 1975.
12. ROSEMBERG, Alex. Introdução à filosofia da ciência. São Paulo: Loyola, 2005.
SEMINÁRIOS INTEGRADORES
Período: 1º
Carga Horária: 40 horas-aula
Ementa: A atmosfera, a Terra e seus ambientes: formações e interações. Clima Global e Local.
Biosfera, Biomas e Biodiversidade Amazônica. Interações Aquático-Florestais e Conservação de
Bacias Hidrográficas. Sociedades e Culturas Amazônicas. Fundamentos de Planejamento e
Gestão. Gestão territorial das cidades. Ética, sociedade e cidadania. Legislação e proteção da
diversidade ambiental e cultural. Educação Saúde e Meio Ambiente. Educação Ambiental.
Bibliografia Básica
1.
ALBERTS, Bruce; BRAY, Dennis; LEWIS, Julian; RAFF, Martin; ROBERTS Keith;
Watson, JAMES D. 1997. Biologia Molecular da Célula. Editora Artes Médicas. 5ª Ed.
Porto Alegre, 2009.
2.
AYOADE, J, O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. 2ª edição.1988.
3.
BATISTELLA, M., MORAN, E.F., ALVES, D.S. Amazônia: Natureza e Sociedade em
Transformação. São Paulo: Edusp, 2008.
4.
LAMEIRÃO, Soraia Valéria de Oliveira Coelho; CARVALHO, Ednéa do Nascimento.
Seminários Integradores. Acquerello, São Paulo, 2012.
Bibliografia Complementar
1.
ALBAGLY, S. Informação para o desenvolvimento sustentável: novas questões para o século
XXI. Ciência da Informação, 1995.
2.
ARAUJO, Ronaldo Lima; Gomes, Socorro. Amazônia: trabalho escravo, conflitos de terra
e reforma agrária. São Paulo: Revista Princípios, 2007.
3.
COFFIN, M. Alterações Climáticas – Registros nas Rochas. Ciência da Terra para a
Sociedade. 2007.
4.
DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta. Editora Companhia das Letras. pg: 59-60. São Paulo,
2007.
5.
OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo sóciohistórico. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1997.
SOCIEDADE, NATUREZA & DESENVOLVIMENTO – SND
Período: 1º
Carga horária: 75 horas-aula
Ementa: Sociedade, cultura, Economia e Política. Estado, relações de poder e desenvolvimento.
Relações sociedade-natureza e a questão ambiental.
Bibliografia Básica
1.
BOBBIO, Norbert. Estado, Governo, Sociedade. São Paulo, SP: Paz e Terra, 1990.
2.
CALVACANTI, Clóvis (Org.). Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas
Públicas. 3ª Edição. São Paulo, SP: Cortez; Recife, PE: Fundação Joaquim Nabuco, 2001.
3.
D’INCÁO, Maria Ângela; SILVEIRA, Isolda Maciel da (Orgs.). A Amazônia e a Crise da
Modernização. Belém, PA: Museu Paraense Emilio Goeldi, 1994.
4.
SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro, RJ:
Garamond, 2002.
5.
VARGAS, João Tristan; FARIA, Dóris Santos (Orgs.). Módulo Interdisciplinar Sociedade,
Natureza e Desenvolvimento. Ciclo de Formação Interdisciplinar – pré-impressos. 1ª ed.
Santarém, Pa: UFOPA, 2010.
6.
VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento Sustentável: o desafio do século XXI. Rio de
Janeiro, RJ: Garamond, 2005.
Bibliografia Complementar
1. ADAMS, C., MURRIETA, R., NEVES, W. (Orgs.). Sociedades Caboclas Amazônicas:
modernidade e invisibilidade. São Paulo,SP: FAPESP, 2006.
2. CANO, Wilson. Introdução à Economia: uma abordagem crítica. São Paulo: Fundação
Editora da UNESP, 1998.
3. CASTRO, Edna (Org). Sociedade, Território e Conflito: BR 163 em questão. Belém,PA:
NAEA, 2008.
4. CAVALCANTI, Clóvis (Org.). Desenvolvimento e Natureza: estudos para uma sociedade
sustentável. 3ª Edição. São Paulo, SP: Cortez; Recife, PE: Fundação Joaquim Nabuco, 2001.
5. COELHO, Maria Celia; MATHIS, Armin. Políticas Públicas e Desenvolvimento Local na
Amazônia: uma agenda de debate. Belém, PA: NAEA/UFPA, 2005.
6. DIEGUES, Antonio Carlos. Etnoconservação: novos rumos para a conservação da
Natureza. São Paulo, Editora Hucitec, 2000.
7. FOLADORI, Guillermo. Limites do desenvolvimento Sustentável. Tradução de Marise
Manoel. Campinas, SP: Ed. Unicamp, 2001.
8. GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem: filosofia da cultura. 1ª. ed., 3ª
impressão, São Paulo: Contexto, 2010.
9. GRUPIONI L (Org.). Índios no Brasil. Brasília, DF: Ministério da Educação e do Desporto,
1994.
10. IANNI, O. A sociedade global. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 2001.
11. LARAIA, R. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2002.
12. LEBRUN, G. O que é poder. São Paulo, SP: Brasiliense, 1984.
13. LÉNA, Philippe; OLIVEIRA, Adélia Engrácia de. Amazônia: a fronteira agrícola 20 anos
depois. Belém: Museo Paraense Emílio Goeldi, 1991.
14. L’ESTOLIE, Benoit de; NEIBURG, Federico; SIGAUD, Lygia (Orgs.). Antropologia,
Impérios e Estados Nacionais. Rio de Janeiro: Relume Dumará: FAPERJ, 2002.
15. LOPES, Alexandre Herculano; CALABRE, Lia (Orgs.). Diversidade cultural brasileira.
Rio de Janeiro, Edições Casa de Rui Barbosa/Ministério da Cultura, 2005.
16. RIVERO, Sérgio; JAIME JR., Frederico. As Amazônias do Século XXI. Belém, PA:
EDUFPA, 2008.
17. SANTOS, Boaventura de Souza. Um Discurso sobre as Ciências. Ed Afrontamento, 2005.
18. SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo, SP: Companhia das Letras,
2000.
19. SORJ, Bernardo. A Democracia Inesperada: cidadania, direitos humanos e desigualdades
sociais. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar Editor, 2004.
20. VEIGA, Jonas Bastos da [et. al.]. Expansão e trajetórias da pecuária na Amazônia: Pará.
Editora Universidade de Brasília, 2004.
21. VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo Autoritário e Campesinato. 1ª Edição. Rio de
Janeiro: Ed. Bertand Brasil: São Paulo: Difel, 1974.
22. VIEIRA, Paulko; MAIMON, Dália. As Ciências Sociais e a Questão Ambiental: rumo à
interdisciplinaridade. Belém, PA: NAEA/UFPA,1993.
GEOGRAFIA HUMANA
Período: 2º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1. Definição da Geografia Humana. Relação Homem/Natureza na Produção Social do
espaço. Significado e objeto geografia humana 2. Conceitos e Categorias: Paisagem, Espaço,
Território, Região e lugar. 3. Espaço, Modernidade, Técnica e Meio Técnico-científicoInformacional.
Bibliografia Básica
1.
BARRIOS, Sônia. A produção do espaço. IN: SOUZA, M. A. de. SANTOS. Milton. (Orgs). A
construção do espaço. São Paulo: Nobel, 1986.
2.
CASTRO, I. E. de.; GOMES, P. C. da C.; CORRÊA, R. L. (Orgs.). Geografia: conceitos e
temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. (capítulos: 1 e 2)
3.
CLAVAL, Paul. As abordagens da geografia cultural. IN: CASTRO, Iná Elias de. COSTA.
Paulo César da CORRÊA. Roberto Lobato. Explorações geográficas. Rio de Janeiro: Editora:
Bertrand. 2006.
4.
CLAVAL, Paul. Geografia Econômica e Economia. GeoTextos, vol. 1, n. 1, p. 11-27, 2005.
5.
DEMANGEON, Albert. Uma definição da geografia humana. IN: CHRISTOFOLETTI,
Antônio (org) Perspectivas da Geografia. São Paulo:Difel, 1982.
6.
GONÇALVES, Sérgio. O MST em Querência do Norte – PR: da luta pela terra à luta na terra.
Maringá, 2004. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Geografia da Universidade Estadual de Maringá.
7.
LA BLACHE, P. Vidal de. Significado e objeto da geografia humana. IN: ______ Princípios
de geografia humana. Coleção marcha da humanidade, edições cosmos. Lisboa, Portugal, 2ª
edição (edição francesa, 1921).
8.
R. J. Johnston. Avaliação. In: ______ Geografia e Geógrafos. Editora: Difel. Estante:
Geografia. Ano: 1986.
9.
SANTOS, M. A Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. SP: HUCITEC, 1996.
(Capítulos: 2 e 10).
10. ______ Metamorfose do espaço habitado. 4 ed. São Paulo: Hucitec, 1996.. ed. São Paulo:
Hucitec, 1998.
11. SMITH, Susan J. Geografia Urbana num Mundo em Mutação. IN: DEREK, Gregory, RON,
Martin, GRAHAM, Smith. Geografia Humana: sociedade, espaço e ciência social. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
Bibliografia Complementar
1.
BARROS, N. C. de. Geografia humana: uma introdução a sua história. Recife: Edufpe,1996.
2.
CARLOS, A. F. A. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1996.
3.
CORRÊA, R. L. Região e organização espacial. 2. ed., São Paulo: Ática, 2003. (Série
Princípios).
4.
______. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
5.
MESQUITA, Z. & BRANDÃO, C. (Orgs.). Territórios do cotidiano: uma introdução a novos
olhares e experiências. Porto Alegre: Edufrs, 2004.
6.
MORAES, A. C. R. de. Geografia: pequena história crítica. 2. ed., São Paulo: Hucitec, 2001.
7.
______. A gênese da geografia moderna. São Paulo: Hucitec, 2002.
8.
MOREIRA, R. O que é geografia. São Paulo: Brasiliense, 1991. (Col. Primeiros Passos).
9.
______. O círculo e a espiral: a crise paradigmática do mundo moderno. Rio de Janeiro: Obra
Aberta, 2000.
10. QUAINI, M. A construção da geografia humana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.
11. SANTOS, M. Por uma geografia nova. 3. ed., São Paulo: Hucitec, 2000.
HISTÓRIA ANTIGA
Período: 2º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Apresentar alguns aspectos do processo de formação dos povos que se organizaram em
torno do mediterrâneo, enfocando principalmente uma genealogia dos povos gregos e romanos,
destacando a dinâmica social, cultural e políticas de tais sociedades.
Bibliografia Básica
1.
DIACOV, V. & COVALEV. História da Antiguidade. Vol 1. São Paulo: Fulgor, 1965.
2.
CARDOSO, Ciro Flamarion S. Sociedades do antigo oriente próximo. São Paulo: Ática,
2007.
3.
DUBY, G e ARIES, Ph. (dir.). História da Vida Privada. Vol. I. Trad. de H. Feist. São Paulo:
Companhia das Letras, 1991, Vol. I.
4.
GOMES, Aguinaldo Rodrigues; NETTO, Miguel Rodrigues de Souza (orgs.). Poéticas do
Desejo. Campo Grande: Editora LIFE, 2010.
5.
VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Difel, 2002.
6.
VIDAL-NAQUET, Pierre. O mundo de Homero. Trad. J. B. Neto. São Paulo: Cia. das Letras,
2002.
Bibliografia Complementar
1.
ANDERSON, P. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Trad. de Beatriz Sidou. São
Paulo: Brasiliense, 1987.
2.
ARISTOTELES. Política. Trad. de L. Vallnadro e G. Bornheim. São Paulo: Nova Cultural,
1991. ("Os Pensadores").
3.
BLOCH, L. Lutas Sociais na Roma Antiga. Trad. de A. D. Lisboa: Europa-América, 1974.
4.
CARCOPINO, J. Roma no Apogeu do Império. Trad. de H. Feist. São Paulo: Companhia das
Letras, 1990.
5.
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: Martin Claret, 2003.
6.
DETIENNE, M. e SISSA, G. Os Deuses Gregos. Trad. Rosa M. Boaventura. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989.
7.
FINLEY, M. I. A Política no Mundo antigo. Trad. de Alvaro Cabral. Rio De Janeiro: Zahar,
1980.
8.
______. Os Gregos Antigos. Trad. Artur Morão. Rio De Janeiro: Edições 70, 1988.
9.
______. Aspectos da antiguidade. Descobertas e Controvérsias. Trad. de Eduardo Saló. Rio
De Janeiro: Edições 70, 1990.
10. GRIMAL, P. A Civilização Romana. Trad. de Isabel St. Aubyn. Rio De Janeiro: Edições 70,
1988.
11. MARCIAL. Epigrames. Paris: Belles Lettres, 1961.
12. PETRÔNIO. Satirycon. Trad. De G. D. Leoni. São Paulo: Atena, 1965.
13. PLATÃO. República. Trad. De L. Vallandro. Rio De Janeiro: Ediouro, s/d.
14. PLÍNIO. O Jovem. Lettres. Paris: Belles Lettres, 1962.
15. SALLES, C. Nos Submundos da Antiguidade. Trad. de Carlos N. Coutinho. São Paulo:
Brasiliense, 1987.
16. SÊNECA. Da tranquilidade da alma. Trad. de Carlos N. Coutinho. São Paulo: Brasiliense,
1987.
HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO
Período: 2º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: A formação histórica do pensamento, do conhecimento e da ciência geográfica. Gênese e
sistematização da geografia moderna. As principais correntes da geografia tradicional:
determinismo e possibilismo geográfico. As propostas da geografia pragmática. A Geografia da
Percepção e do Comportamento. A Geografia radical e crítica. O pensamento complexo no
discurso geográfico.
Bibliografia Básica
1.
ANDRADE, M. C. de. Introdução: A geografia e os geógrafos. In: ______. Caminhos e
descaminhos da Geografia. 2ª edição. Campinas-SP: Papirus, 1993 (p.7-10).
2.
ANDRADE, M. C. de. A geografia e o problema da interdisciplinaridade entre as ciências. In:
______. Caminhos e descaminhos da Geografia. 2ª edição. Campinas-SP: Papirus, 1993
(p.11-24).
3.
CAMARGO, José Carlos Godoy; JUNIOR, Dante Flávio da Costa Reis. A Filosofia (neo)
positivista e a Geografia quantitativa. In: VITTE, Antônio Carlos (org.). Contribuições à
história e a epistemologia da Geografia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (p. 83-99).
4.
CAMARGO, Luís Henrique Ramos de. A Geografia da complexidade: aplicação das teorias
da auto-organização do espaço geográfico. In: VITTE, Antônio Carlos (org.). Contribuições à
história e a epistemologia da Geografia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (p. 127-162).
5.
MORAES, Antônio Carlos Robert. O objeto da Geografia. In: ______. Geografia: pequena
história crítica. 21ª edição. São Paulo: Annablume, 2007. (p. 31-37)
6.
MORAES, Antônio Carlos Robert. O positivismo como fundamento da Geografia tradicional.
In: ______. Geografia: pequena história crítica. 21ª edição. São Paulo: Annablume, 2007. (p.
39-47).
7.
MORAES, Antônio Carlos Robert. Origens e pressupostos da Geografia. In: ______.
Geografia: pequena história crítica. 21ª edição. São Paulo: Annablume, 2007. (p. 49-58)
8.
MORAES, Antônio Carlos Robert. O movimento de renovação da Geografia. In: ______.
Geografia: pequena história crítica. 21ª edição. São Paulo: Annablume, 2007. (p. 103-108).
9.
MORAES, Antônio Carlos Robert. A Geografia pragmática. In: ______. Geografia: pequena
história crítica. 21ª edição. São Paulo: Annablume, 2007. (p. 109-118)
10. MORAES, Antônio Carlos Robert. A Geografia crítica. In: ______. Geografia: pequena
história crítica. 21ª edição. São Paulo: Annablume, 2007. (p. 119-141)
11. MOREIRA, Ruy. Assim se passaram dez anos: a renovação da Geografia no Brasil (19781988). GEOgraphia – Ano. II – No 3 – 2000 (p. 27-49)
12. MOREIRA, Ruy. Política, técnica, meio ambiente e cultura: a reestruturação do mundo
contemporâneo. In: ______. Para onde vai o pensamento geográfico? Por uma epistemologia
crítica. São Paulo: Contexto, 2006 (p. 133-155)
13. MOREIRA, Ruy. De volta ao futuro. In: ______. Para onde vai o pensamento geográfico? Por
uma epistemologia crítica. São Paulo: Contexto, 2006 (p. 179-191).
14. RIQUE, Lenyra. Espaço/tempo: categorias universais na realidade processual de temas
geográfico. In: ______. Do senso comum a geografia científica. São Paulo: Contexto, 2004
(15-20)
15. RIQUE, Lenyra. O senso-comum e a ciência geográfica. In: ______. Do senso comum a
geografia científica. São Paulo: Contexto, 2004 (21-41)
16. RODRIGUES, Auro de Jesus. Geografia Moderna. In: ______. Geografia: Introdução à
Ciência Geográfica. São Paulo: Avercamp, 2008. (p. 57-96).
17. RODRIGUES, Auro de Jesus. Geografia contemporânea. In: ______. Geografia: Introdução à
Ciência Geográfica. São Paulo: Avercamp, 2008. (p. 97-127)
18. SANTOS, Milton. Uma nova interdisciplinaridade. In: ______. Por uma geografia nova: Da
crítica da Geografia a uma geografia crítica. São Paulo: EDUSP, 2004 (p.125-141).
19. SANTOS, Milton. O espaço, um fator?. In: ______. Por uma geografia nova: Da crítica da
Geografia a uma geografia crítica. São Paulo: EDUSP, 2004 (p.165-176).
20. SANTOS, Milton. As noções de totalidade, formação social e a renovação da geografia. In:
______. Por uma geografia nova: Da crítica da Geografia a uma geografia crítica. São Paulo:
EDUSP, 2004 (p.235-247).
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS
Período: 2º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Origens da História na Antiguidade; matrizes teóricas e metodológicas da “Históriaciência” (séculos XVIII e XIX); correntes historiográficas do século XX.
Bibliografia Básica
1.
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
2.
BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a História. Tradução: J. Guinsburg e Tereza Cristina
Silveira da Mota. São Paulo: Perspectiva, 1978.
3. CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Org.). Domínios da história: ensaios de
teoria e metodologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
4.
DOSSE, François. A História em Migalhas: dos Annales à Nova História. São Paulo: Edusc,
2003.
5.
DUBY, Georges. A história continua. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
6.
FEBVRE, Lucien. Combates pela história. Lisboa: Presença, 1977.
7.
FERREIRA, Marieta M.; AMADO, Janaína (Orgs). Usos & abusos da história oral. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.
8.
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido
pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
9. HOBSBAWM, Eric. Sobre história. Tradução Cid Knipel Moreira. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998.
10. Le GOFF, Jacques (Dir.). A história nova. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
11. PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005.
Bibliografia Complementar
1.
BOURDÉ, Guy, MARTIN, Hervé. As escolas históricas. Lisboa: Europa-América, [19??].
2.
GARDNER, Patrick. Teorias da história. 2 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
[19??].
3.
HUNT, Lynn (Org.). A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
4.
LANGLOIS, Charles-Victor & SEIGNOBOS, Charles. Introdução aos estudos históricos. São
Paulo: Renascença, 1946.
5.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Ed. da Unicamp, 2003.
6.
MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã (Feuerbach). São Paulo, Editorial
Grijalbo, 1977.
7.
RAMOS, Francisco Regis Lopes; SILVA FILHO, Antonio Luiz Macedo e (Org.). Cultura e
memória: os usos do passado na escrita da história. Fortaleza: NDC-UFC/Instituto Frei Tito
de Alencar, 2011.
LIBRAS
Período: 2º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Discussão acerca da língua de sinais e suas características enquanto língua natural.
Aspectos gramaticais básicos sobre a língua de sinais. Concepções de educação de surdos:
oralismo, comunicação total e bilinguismo. Decreto nº 5626/05. Noções básicas de comunicação
em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Bibliografia Básica
1.
BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Brasília, 24 de abril de 2002; 181º da
Independência e 114º da República.
2.
_______. Secretaria de Educação Especial. Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005.
(LIBRAS). Brasília, 2005.
3.
GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de
sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
4.
HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua brasileira de
sinais – desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda
Cultural, 2010. Vol.1.
Bibliografia Complementar
1.
HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua brasileira de
sinais – desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda
Cultural, 2010. Vol. 2
2.
HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua brasileira de
sinais – desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda
Cultural, 2010. Vol. 3
3.
LOPES, Maura Corcini. Surdez e Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
4.
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre:
Artmed, 1997.
5.
CARVALHO, Rosita Edler. Removendo barreiras para aprendizagem: educação inclusiva.
Porto Alegre: Mediação, 2000.
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Período: 2º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: A psicologia como estudo científico. A Psicologia aplicada à Educação e seu papel na
formação do professor. As correntes psicológicas que abordam a evolução da Psicologia da
Educação. A contribuição das teorias do desenvolvimento e aprendizagem ao processo ensinoaprendizagem.
Bibliografia Básica
1.
BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de Psicologia do desenvolvimento. 12ª ed. São
Paulo: Ática, 2004.
2.
BOCK, Ana Mercês Bahia, FURTADO. Odair & TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi,
Psicologia – Uma introdução ao estudo de Psicologia. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
3.
GOULART, Íris Barbosa. Psicologia da Educação: Fundamentos teóricos e aplicações a
prática pedagógica. Petrópolis: Vozes, 1987.
4.
_______. Fundamentos Psicológicos da Educação. Belo Horizonte: Lê, 1987.
Bibliografia Complementar
1.
DAVIS, Cláudia e OLIVEIRA, Zilma. Psicologia na Educação. 2ª ed. São Paulo: Cortez,
1993.
2.
FERREIRA. May Guimarães. Psicologia Educacional: Análise Critica. São Paulo: Cortez,
1987.
3.
FALCÃO, Gerson Marinho. Psicologia da Aprendizagem. São Paulo: Mica. 1986.
4.
MACIEL, Ira Maria (org.) Psicologia e Educação: Novos Caminhos para Formação. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna, 2001.
5.
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento, um processo sóciohistórico. 4ª ed. São Paulo: Scipione, 2003.
6.
PATTO, Mª Helena. Introdução à Psicologia Escolar. Rio de Janeiro. Vozes. 1987.
7.
RAPPAPORT, Clara Regina. Teorias do desenvolvimento: conceitos fundamentais. São
Paulo: EPU. 1981.
GEOGRAFIA ECONÔMICA
Período: 3º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1. A geografia econômica: conceito e perspectivas. 2. A gênese das relações econômicas
e sua dimensão espacial: a divisão técnica e social do trabalho e do espaço. 3. A economia política
do espaço: a teoria do valor e a valorização capitalista do espaço. 4. Regimes de acumulação e
estratégias de reestruturação econômica no mundo contemporâneo. 5. A economia-mundo: espaço,
economia e globalização. 6. Teorias e Modelos de Desenvolvimento.
Bibliografia Básica
1.
BENKO, Georges. Parte 1: economias e territórios em mutação. In: ______ Economia, espaço
e globalização: na aurora do século XXI. 2ª edição. São Paulo: HUCITEC, 1999 (p. 19-101)
2.
CORRÊA, Roberto Lobato. Repensando a teoria dos lugares centrais. In: ______ Trajetórias
geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005 (p.15-40)
3.
EGLER, C. A. G. Que fazer com a geografia econômica neste final de século? Mimeo (8 p.).
4.
HARVEY, D. A geografia da acumulação capitalista: uma reconstrução da teoria marxista. In:
______ A produção capitalista do espaço. 2ª edição. São Paulo: Annablume, 2006. (p. 41-73)
5.
KING, Leslie J. Alternativas para uma Geografia positiva. IN: CHRISTOFOLETTI, Antônio
(org) Perspectivas da Geografia. São Paulo:Difel, 1982. (p.269-298).
6.
LIPIETZ, Alan. O compromisso fordista. In: ______ Audácia: uma alternativa para o século
XXI. São Paulo: Nobel, 1991. (p. 27-39)
7.
LIPIETZ, Alan. O fim da idade de ouro. In: ______ Audácia: uma alternativa para o século
XXI. São Paulo: Nobel, 1991. (p. 41-49)
8.
MORAES, A. C. R.; COSTA, W. M. Geografia crítica: a valorização do espaço. São Paulo:
Hucitec, 1984.
9.
QUAINI, Massimo. Das “sociedades naturais à “sociedade histórica”. In: ______ Marxismo e
Geografia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979 (p. 65-124) (Coleção Geografia e Sociedade; v.
1).
Bibliografia Complementar
1.
ANDRADE, M. C. de. Geografia econômica. São Paulo: Atlas, 2003.
2.
CARLOS, A. F. A. Espaço e indústria. São Paulo: Contexto/Edusp, 2002.
3.
CATANI, A. M. O que é capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
4.
CLAVAL, Paul. Geografia Econômica e Economia. GeoTextos. vol. 1, n. 1, p. 11-27, 2005.
5.
DOBB, M. A evolução do capitalismo. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
6.
GALEANO, E. As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
7.
GAMA, A. Uma ruptura epistemológica na geografia: a teoria dos lugares centrais. Revista
Crítica de ciências sociais. Nº 12, p. 41-59, 1983
8.
HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.
9.
______. A produção capitalista do espaço. 2ª edição. São Paulo: Annablume, 2006.
10. HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções-1789-1848. 12. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2000.
11. GREGORY, D.; MARTIN, R.; SMITH, G. Geografia humana: sociedade, espaço e ciência
social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1996.
12. SANTOS, M. et alli. Globalização e espaço latino-americano. S.l., Anablume, 2002.
13. SINGER, P. Curso de introdução à economia política. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
14. WOLKMER, A. C. O terceiro mundo e a nova ordem internacional. São Paulo: Ática, 2002.
GEOGRAFIA FÍSICA
Período: 3º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1.O conceito e a gênese de paisagem. Modelos Anglo-americano e germânico. 2. A
teoria de sistemas e a Geografia Física. Geossistema. Ecodinâmica. 3. Os processos atuais e subatuais e a Geografia do Quaternário. 4. O materialismo histórico e dialético na Geografia Física. 5.
Aplicações da Geografia Física. O estudo dos processos espaciais e temporais naturais nos
diferentes ramos da Geografia Física. 6. O estudo da ação do homem e a Geografia Física
Ambiental.
Bibliografia Básica
1.
GREGORY, K. J. A natureza da Geografia Física. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil,
1992, 367 p.
2.
STRAHLER, A. N. Geografia Física. Barcelona: Omega, 3ª ed., 1997.
3.
TROPPMAIR, Helmut. Geografia Física ou Geografia Ambiental? Modelos de Geografia
Integrada. In: Bol. de Geografia Teorética, vol. 15, n.os 29-30, Rio Claro, 1985, Ageteo.
Bibliografia Complementar
1.
ABREU, Adilson Avansi de. Significado e propriedades do relevo na organização do espaço.
In: Bol. de Geografia Teorética, vol. 15, n.os 29-30, Rio Claro, 1985, Ageteo.
2.
AB’SABER, Aziz Nacib. Potencialidades paisagísticas brasileiras. In: Geomorfologia n.0 55.
São Paulo, 1977, USP/IG.
3.
BERTRAND, Georges. Paisagem e Geografia Física Global. Esboço metodológico. In:
Caderno de Ciências da Terra n.0 13. São Paulo, 1971, USP/IG.
4.
CHRISTOFOLETTI, Antonio. Análise de sistemas em geografia (introdução). São Paulo,
1979, HUCITEC/USP, 106 p.
5.
ORELLANA, Margarida M. Penteado. Os campos de ação da Geografia Física. In: Bol. de
Geografia Teorética, vol. 15, n.os 29-30, Rio Claro, 1985, Ageteo.
6.
SOTCHAVA, V. B. O estudo de geossistemas. In: Métodos em Questão, n.0 16. São Paulo,
1977, USP/IG.
7.
TRICART, Jean. Ecodinâmica. Rio de Janeiro, 1977 SUPREN/IBGE, 97 p.
8.
TUNDISI, José G. O ecossistema como unidade ecológica. In: Inter-facies. Escritos e
documentos, n.0 63, Rio Claro, 1981, IBILCE, UNESP.
GEOGRAFIA POLÍTICA
Período: 3º
Carga Horária: 60 horas
Ementa: 1. A geografia política clássica e a geopolítica. 2. Evolução e renovação da geografia
política; 3. As categorias fundamentais da geografia política: espaço, território, territorialidade e
poder; 4. As relações entre Estado e território. Estado, nações, nacionalismos, regionalismo e
localismos; 5. Crise e reestruturação das instituições políticas; 6. O revigoramento do poder do
Estado, novas tecnologias e o Estado em rede. 7. As organizações supra-estatais e o governo
mundial; 8. Blocos internacionais de poder; 9. Conflitos geopolíticos, excedente e guerra.
10.Etnias, religiões e o conflito civilizatório; 11.Centralização e descentralização da esfera
pública; 12. A (re) divisão e o ordenamento territorial: a perspectiva do Estado e dos diversos
atores sociais; 13. Atores, estratégias, os recursos e o poder: a dimensão geopolítica da apropriação
dos recursos naturais; 14. Democracia e cidadania, política e território no Brasil e na Amazônia.
Bibliografia Básica
1.
CLAVAL, P. Espaço e Poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
2.
COSTA, W. M. Geografia Política e Geopolítica. São Paulo: Edusp, 1992.
3.
__________ . O Estado e as Políticas Territoriais no Brasil. São Paulo: Contexto/Edusp, 2002.
4.
RAFFESTIN, C. Por Uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 2000.
Bibliografia Complementar
1.
BECKER, B. Crise do Estado e a Região: A Estratégia de Descentralização em Questão. Rio
de Janeiro: Ver. Bras. de Geog. IBGE, 1984.
2.
CASTELLS, M. Hacia el Estado Red ? Globalizacion y Instituiciones políticas en la era de la
información, Brasil: Mare, 1998.
3.
__________ . O Poder da Identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
4.
HAESBAERT, R. Blocos Internacionais de Poder. São Paulo: Ed. Contexto, 1991.
5.
HARVEY, D. A Condição Pós-moderna. São Paulo: Loiola, 2000.
6.
IANNI, O. O Estado e o Planejamento Econômico no Brasil, São Paulo: Vozes, 2000.
7.
LECHNER, N. Reforma do Estado e Condução Política. In: Lua. Revista de Cultura e
Política, n. 37. São Paulo: Cedec, 1996.
8.
LÉFEBVRE, H. De L’État. Les Contradictions de L’État Moderne. Paris: Union Génerale
d’Éditions, 2000.
9.
LIPIETZ, A. O Capital e o seu Espaço. São Paulo: Nobel, 2000.
10. MARTIN, A R. Fronteiras e Nações. São Paulo: Ed. Contexto, 1992.
11. MORAES, A C. Contribuições para a gestão da Zona Costeira do Brasil. São Paulo:
Edusp/Hucitec, 1999.
12. MORAES, A C. R.. Coleção Grandes Cientistas Sociais. Ratzel, A.C.R. São Paulo: Ed. Ática,
2002.
13. MORAES, A.R. (Org) Ratzel. In: Fernandes, F. (Coord.) Coleção Grandes Cientistas Sociais.
São Paulo: Ática, 2002.
14. SANTOS, M. et all. Território: Globalização e Fragmentação. São Paulo: Hucitec/Anpur,
1998.
15. VESENTINI, J. W. A Capital da Geopolítica. São Paulo: Ática, 2001.
16. WEFFORT, F. Notas sobre a Crise do Estado. In: Pensamiento Iberoamericano, Madrid: 1991.
HISTÓRIA DA ÁFRICA
Período: 3º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Discussão da historiografia do continente africano e de seu povo, desde a Antiguidade
até o início do processo de colonização europeia (em meados dos séculos XV e XVI), a partir de
diferentes aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e religiosos. Legislação para a
promoção da igualdade racial e o ensino de História africana e afro-brasileira.
Bibliografia Básica
1.
BRASIL, Lei nº. 10.639/2003. BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
2.
OLIC, Nelson Bacic; CANEPA, Beatriz. África: Terra, sociedades e conflitos. São Paulo:
Moderna, 2004.
3.
HAMA, Boubou; KI-ZERBO, J. História Geral da África. Vol. 1. São Paulo, Brasília: Cortez,
Unesco, 2011.
4.
SILVA, Alberto da Costa e. A Enxada e a Lança. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
5.
COSTA, Ricardo da. Curso de Formação em História Afro-brasileira. CD 2, Vitória: Flor &
Cultura/UFES, 2004.
6.
DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais. Uma introdução à história da
África atlântica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
7.
LOVEJOY, Paul. A Escravidão na África: uma história de suas transformações. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
Bibliografia Complementar
1.
HERRMANN, P. A conquista da África. São Paulo: Boa Leitura Editora, 1982.
2.
CARDOSO, C. F. S. Agricultura, escravidão e capitalismo. Rio De Janeiro: Petrópolis, 1982.
3.
OLIVER, Roland. A experiência africana: da pré-história aos dias atuais. Rio de Janeiro:
Zahar, 1994.
4.
HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São
Paulo: Selo Negro, 2005.
5.
SILVA, Alberto da Costa e. Um passeio pela África. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
6.
THORTON, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo Atlântico – 14001800. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
HISTÓRIA MEDIEVAL
Período: 3º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: A Crise do mundo antigo e as ocupações bárbaras. A formação da mentalidade
medieval. Cultura, tempo, amor, sexualidade e religiosidade do homem medieval. História e
historiografia sobre o medievo.
Bibliografia Básica
1.
ARIÉS, Phillipe. História da morte no ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1977.
2.
COURBIN, Alain, COURTINE, Jean-Jacques, VIGARELLO, Georges (orgs.). História do
Corpo. Petrópolis: Vozes, 2008, 3 vol.
3.
DELUMEAU, Jean. O pecado e o medo – a culpabilização do ocidente cristão (séc. XIII a
XVIII). Bauru: EDUSC, 2004, 2 vol.
4.
_________. História do Medo no Ocidente: 1300-1800. São Paulo: Companhia das Letras,
1989.
5.
_________. O Que Sobrou do Paraíso? São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
6.
DUBY, Georges. O Tempo das Catedrais: a arte e a sociedade. 2 ed. Lisboa: Estampa, 1988.
7.
__________. Guerreiros e Camponeses: os primórdios do crescimento europeu do Século VII
ao Século XII. Lisboa: Editorial Estampa, 1980.
8.
__________. Senhores e Camponeses. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
9.
MINOIS, Georges. História do riso e do escárnio. São Paulo: UNESP, 2003.
Bibliografia Complementar
1.
ALEXANDRIAN. História da literatura erótica. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
2.
ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1998.
3.
ARIÉS, Phillipe. & BEJIN, Andrè. Sexualidades ocidentais. São Paulo: Record, 1988.
4.
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de
François Rabelais. São Paulo: HUCITEC, 2013.
5.
DUBY, Georges. Ano 1000, ano 2000. Na Pista de Nossos Medos. São Paulo: Imprensa
Oficial, 1999.
6.
FRANCO JÚNIOR, Hilário. Idade Média: o nascimento do Ocidente. 5ª Ed. São Paulo:
Brasiliense, 1994.
7.
LE GOFF, Jacques. A Civilização do Ocidente Medieval. Lisboa: Editorial Estampa, 1995.
8.
__________. O apogeu da cidade medieval. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
9.
__________. O imaginário medieval. Lisboa: Estampa, 1994.
10. __________. O maravilhoso e o cotidiano no ocidente medieval. Lisboa: Edições 70, 1985.
11. MATTOSO, José. Fragmentos de uma composição medieval. Lisboa: Editorial Estampa,
1993.
12. PINSKY, Jaime. Modo de Produção Feudal. São Paulo/Rio de Janeiro: Global Editora, 1986.
HISTÓRIA MODERNA
Período: 3º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Análise do período de transição do mundo feudal para o mundo capitalista (século XV
ao XVIII). A reforma protestante. As “grandes navegações” e a expansão comercial. O
Renascimento. A Sociedade de Corte e o Antigo Regime.
Bibliografia Básica
1.
DARTON, R. O grande Massacre de Gatos, e Outros episódios de história cultural francesa.
Rio de Janeiro: Graal, 1986.
2.
DAVIS, N. Z. Culturas do povo; Sociedade e cultura no início da França Moderna. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1990.
3.
DELUMEAU, J. O que sobrou do Paraíso? São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
4.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador (vol. 1 e 2). Rio de Janeiro: Zahar, 1993.
5.
ELTON, G.R. A Europa Durante a Reforma, 1517-1559. Lisboa. Editorial Presença, 1982.
6.
HERMANN, J. O sonho da Salvação. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
7.
MAURO, F. Expansão Europeia (1600-1870). São Paulo: EDUSP, 1964.
8.
MICELI, P. O ponto onde estamos: viagens e viajantes na história da expansão e da conquista
(Portugal, séculos XV e XVI). Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1998.
9.
SWEEZY, Paul (org.). A transição do feudalismo para o capitalismo. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1977.
Bibliografia Complementar
1.
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. Lisboa/Porto: Edições Afrontamento,
1982.
2.
ARRUDA, José Jobson de. A Revolução Industrial. São Paulo: Ática, 1989.
3.
BURCKHARDT, Cultura do Renascimento na Itália. Brasília: UNB, 1991.
4.
BURKE, Edmund. Reflexões sobre a Revolução em França. Brasília, UNB, 1978.
5.
DE DECCA, Edgar. O Nascimento das Fábricas. São Paulo: Editora Brasiliense, 1977.
6.
DOB, Maurice. A Evolução do Capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.
7.
ENGELS, F. A Situação da Classe Trabalhadora em Inglaterra. Porto: Afrontamento, 1975.
8.
GARIN, Eugênio. Ciência e Vida no Renascimento italiano. São Paulo: Unesp, 1996.
9.
HELLER, Agnes. O Cotidiano e a História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972.
10. HILL, Christhoper. A Transição do Feudalismo para o Capitalismo. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1978.
11. ________. O eleito de Deus: Oliver Cromwell e a Revolução Inglesa. São Paulo: Companhia
das Letras, 1990.
12. HUIZINGA, J. O Declínio da Idade Média. São Paulo: Verbo-USP, 1988.
13. HUME, David. Escritos sobre Economia. São Paulo: Abril Cultural, 1986.
14. LOCKE, J. Segundo Tratado Sobre o Governo. São Paulo: abril Cultural, 1978.
15. LUTERO e CALVINO. Sobre a Autoridade Secular. São Paulo; Martins Fontes, 1995.
16. MAQUIAVEL, N. O Príncipe e outros escritos políticos. São Paulo: Abril Cultural, 1998.
17. MORUS, T. Utopia. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
18. NOVAES. Adauto. A Descoberta do Homem e do Mundo. São Paulo: Companhia das Letras,
1998.
19. ROSEMBERG, Nathan & BIRDZELL Jr., L. E. A história da riqueza do Ocidente. A
transformação econômica do mundo industrial. Rio de Janeiro: Record, 1986.
20. ROTERDÃ, Erasmo de. Elogio da loucura. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
21. ROUSSEAU,J. J. Do Contrato Social. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
22. SALAMONE, Nino. Causas sociais da Revolução Industrial. Lisboa: Presença, 1978.
23. STONE, Lawrence. Causas da Revolução Inglesa: 1529-1642. Bauru: EDUSC, 2002.
24. TREVELYAN, George Mac Caulay. A Revolução Inglesa. Brasília: UNB, 1982.
25. VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância. São Paulo: Martins Fontes ,1993.
26. WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo, Cia das Letras,
2005.
CARTOGRAFIA
Período: 4º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1.Forma da Terra – geoide, elipsoides e superfícies planas; 2. Histórico e definição da
cartografia – relação com a Geografia, importância, princípios e áreas afins; 3. Planificação do
elipsoide e projeções cartográficas – coordenadas geográficas e outros tipos de coordenadas; 4.
Sistema de projeção UTM e a sistematização cartográfica – o Brasil e a Carta Internacional ao
Milionésimo (CIM); 5. Ângulos Azimutes e rumos do traçado de poligonais – medidas angulares e
lineares, a representação planimétrica em escala; 6. Altimetria e Planimetria – confecção de
plantas topográficas, curvas de nível de perfil topográfico.
Bibliografia Básica
1.
ALMEIDA, R. D. de; PASSINI, E. Y. O espaço geográfico: ensino e representação. São
Paulo: Contexto, 2002.
2.
JOLY, F. A Cartografia. Campinas-SP: Papirus, 2002.
3.
LIBAULT, A. Geocartografia geral. Rio de Janeiro: Científica, 1969.
4.
DUARTE, P. A. Cartografia básica. Florianópolis: Ed. Da UFSC, (?).
Bibliografia Complementar
1.
BASTOS, Zenóbia Pereira da Silva de Moraes. Organização de mapotecas. Rio de Janeiro:
BNG/ Brasilart, 2000. 115 p.
2.
DREYER-EIMBCKE, Osvald. O desenvolvimento da terra. História e histórias da aventura
cartográfica. São Paulo: Melhoramentos/Edusp, 1992.
3.
DUARTE, Paulo Araújo. Cartografia básica. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2002.
4.
__________ . Cartografia temática. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1991.
5.
__________ . Escala. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001.
6.
FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação São Paulo: Edgard Blucher,
1986.
7.
GERARDI, Lúcia Helena de Oliveira et SILVA, Bárbara-Christine Nentwig. Quantificação
em geografia. São Paulo: Difel, 1981.
8.
IBGE, Noções básicas de cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 1999.
9.
MARTINELLI, Marcello. Curso de cartografia temática. São Paulo: Contexto, 2000.
10. OLIVEIRA, Céurio de. Curso de Cartografia moderna. Rio de Janeiro: IBGE, 1968.
11. __________. Dicionário cartográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1980.
DIDÁTICA
Período: 4º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: O papel da Didática na formação e identidade docente. O cotidiano escolar, a ação
docente e o projeto político pedagógico. Tendências da prática escolar. Currículo e conhecimento.
A pesquisa como princípio educativo e formativo. O planejamento e a organização do processo de
ensino-aprendizagem e a avaliação. O contexto da prática pedagógica e a dinâmica da sala de aula.
A vivência e o aperfeiçoamento da didática na sala de aula. A construção de uma proposta
pedagógica para o ensino das disciplinas História e Geografia, nos anos finais do ensino
fundamental e ensino médio.
Bibliografia Básica
1.
ANDRADE, Michelli Eliane. “A educação nos novos cenários econômicos e produtivos”. In:
Revista Pátio. Ano 4, número 13, jun/ago 2012.
2.
BASEGIO, Leandro Jesus & MEDEIROS, Renato da Luz. Fundamentos teóricos e
metodológicos das Ciências Humanas. Curitiba: Ibepex, 2008.
3.
CAMPOS, Casemiro de Medeiros. Saberes docentes e autonomia dos professores. Petrópolis:
Editora Vozes, 2009.
4.
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.). A Geografia na sala de aula. São Paulo: Contexto,
2003.
5.
CORDEIRO, Luciana Peixoto. Didática: Organização do trabalho pedagógico. Curitiba:
Ibepex, 2007.
6.
CRUZ, Gisele Thiel Della. Fundamentos das Ciências Humanas – História. Curitiba: IESDE,
2006.
Bibliografia Complementar
1.
BUSQUETS, Maria Dolors et all. Temas transversais em educação. São Paulo: Ática, 2000.
2.
CANDAU, Vera Maria. Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 2002.
3.
FAZENDA, Ivani. Práticas interdisciplinares na escola. São Paulo: Cortez, 2000.
4.
GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa. São Paulo: Loiola, 2000.
5.
GASPERETTI, M. Computador na educação: guia para o ensino com novas tecnologias. São
Paulo: Esfera, 2001.
6.
HAIDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática Geral. São Paulo: Ática, 2004.
7.
HERNANDEZ, Fernando& VENTURA, Monteserrat. A organização do currículo por
projetos de trabalho – o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artmed, 1998.
8.
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora. Porto Alegre: Educação & Realidade, 2000.
9.
LITWIN. Edith (org). Tecnologia educacional – política, história e propostas. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1997.
10. LUCKESI, C.C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 2004.
11. MASETTO, Marcos. Didática: a aula como centro. São Paulo: FTD, 1994.
12. PARRA, N. Metodologia dos recursos audiovisuais. São Paulo: Saraiva, 1973.
13. PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
14. VASCONCELLOS, C. S. Planejamento – plano de ensino/aprendizagem e projeto educativo.
São Paulo: Liberta.
15. VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Coord.). Repensando a didática. Campinas: Papirus, 2002.
16. VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Técnicas de ensino: Por que não? Campinas: Papirus,
2000.
17. YUS, R. Temas transversais – em busca de uma escola nova. Porto Alegre: Artmed, 1998.
18. ZABALA, A. A prática educativa – como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
GEOGRAFIA REGIONAL
Período: 4º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1. A região como categoria de análise na Geografia. 2. O conceito de região na Geografia
clássica. 3. A região e a renovação conceitual na ciência geográfica. 4. Questionamentos
epistemológicos sobre a natureza dos diversos conceitos de região. 5. A regionalização para fins de
planejamento e ação. 6. A regionalização e a dimensão espacial dos processos histórico-sociais em
diferentes escalas. 7. O atual debate sobre a questão regional. 8. A regionalização do espaço
mundial.
Bibliografia Básica
1.
CORRÊA, R. L. Região e organização espacial. São Paulo: Ática, 2003.
2.
__________ . Região: a tradição geográfica. In: Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1997. p. 183-212.
3.
GOMES, P. C. O conceito de região e sua discussão. In: CASTRO, I. E. et alii (Orgs).
Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: B. Brasil, 2004. p. 49-76.
4.
HAESBAERT, Rogério. Região, diversidade territorial e globalização. Niterói: UFF, 1999.
Bibliografia Complementar
1.
BOURDIEU, Pierre. A identidade e a representação: elementos para uma reflexão crítica
sobre a ideia de região. In: O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p.10732.
2.
ILVEIRA, R. O regionalismo nordestino A questão regional, gênese e evolução. Espaço &
Debates, São Paulo, 1(20):7-25, 1987.
3.
__________. Região e história: questão de método. In: SILVA, Marcos
A. da (Org).
República em migalhas: história regional e local. São Paulo: Marco Zero, 2002. p. 17-42.
4.
LENCIONI, Sandra. Região e geografia. São Paulo: EDUSP, 1999.
5.
OLIVEIRA, F. Elegia para uma re(li)gião: SUDENE, nordeste, planejamento e conflitos de
classe. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
6.
PONTES, B. A contribuição do pensamento geográfico brasileiro à região e à regionalização
vistas como processo, Boletim de Geografia Teorética, 16-17 (31-34):324-27, 1986-1987.
7.
RONCAYOLO, Marcel. Região. In: Enciclopédia Einaudi: região. Porto: Imprensa NacionalCasa da Moeda, 1986. v.8. p. 161-89.
8.
RUA, João et alii. A região. In: Para ensinar geografia. Rio de Janeiro: Acess, 2000. p. 211-46.
9.
SANTOS, M. A região. In: Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e
metodológicos da geografia. São Paulo: Hucitec, 2002.
10. SOUZA, M. A. A explosão do território: falência da região? São Paulo: UGI, 1991.
11. TRINDADE JR., Saint-Clair. C. Região: uma proposta de abordagem política. Belém, 1988.
Monografia (Graduação) – Departamento de Geografia, Universidade Federal do Pará.
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I
Período: 4º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: A conjuntura política, econômica, social e cultural da Europa contemporânea, a partir de
seu contexto linguístico-conceitual. Análise dos processos históricos tanto no plano dos debates de
pensadores e cientistas acerca das categorias de ordenamento dos fenômenos sociais e naturais,
quanto das mudanças políticas e econômicas desenvolvidas após a segunda metade do século
XVIII.
Bibliografia Básica
1.
CASSIRER, Ernst. A filosofia do iluminismo. 3.ed. Campinas: UNICAMP, 1997.
2.
BRESCIANI, Maria Stella M. Londres e Paris no século XIX. O espetáculo da pobreza. São
Paulo: Brasiliense, 1982.
3.
FURET, François (org). O homem romântico. S/l: Editorial Presença, 1995.
4.
HOBSBAWM, E. J. A era do capital: 1848-1875. 2. ed. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1979.
5.
________. A era das revoluções: Europa, 1789-1848. 15ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2001.
6.
KOSELLECK, Reinhart,. Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês.
Rio de Janeiro: EdUERJ: Contraponto, 1999.
7.
LANDES, David S. Prometeu desacorrentado: transformação tecnológica e desenvolvimento
industrial na Europa ocidental, desde 1750 até a nossa época. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1994.
Bibliografia Complementar
1.
BACKHOUSE, Roger. História da economia mundial. São Paulo: Estação Liberdade, 2007.
2.
DARNTON, Robert. Boemia literária e revolução: o submundo das letras no Antigo Regime.
São Paulo: Companhia das letras, 2007.
3.
ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da
aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
4.
ENGLUND, Steven. . Napoleão: uma biografia política. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
5.
GAY, Peter. A experiência burguesa da Rainha Vitória a Freud. São Paulo: Cia das Letras,
1995.
6.
HOBSBAWN, E. J. As origens da revolução industrial. São Paulo: Global, 1979.
7.
MAYER, Arno J. A força da tradição: a persistência do antigo regime (1848-1914). São
Paulo: Companhia das Letras 1987.
8.
MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Cartas persas. São Paulo: Nova Alexandria, 2005.
9.
________. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
10. REMOND, René. O século XIX (1815 – 1914). São Paulo: Editora Cultrix, 1981.
11. ROBESPIERRE, Maximilien de. Discursos e Relatórios na Convenção. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000.
12. SADE, Marquês de. O marido complacente: historietas, contos e exemplos. Porto Alegre:
L&PM, 2002.
13. SOBOUL, Albert. Historia da revolução francesa. - Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1974.
14. TODOROV, Tzvetan. O espírito das luzes. São Paulo: Barcarolla, 2008.
15. VENTURI, Franco. Utopia e reforma no Iluminismo. Bauru: EDUSC, 2003.
16. WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade : na história e na literatura. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011.
17. WOLOCH, Isser. Napoleão e seus colaboradores. Rio de Janeiro: Record, 2008.
HISTÓRIA DA AMÉRICA I
Período: 4º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: A América pré-colombiana. A colonização das Américas no contexto da expansão
europeia. A especificidade do caso espanhol. A historiografia referente às Américas coloniais.
Bibliografia Básica
1.
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina (vol. 1, 2 e 3). São Paulo: EDUSP:
Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 1997.
2.
LAS CASAS, Frei Bartolomé de. O paraíso destruido. Porto Alegre: LP&M, 1985.
3.
BERNAND, Carmen e Serge Gruzinski. História do Novo Mundo. São Paulo: Edusp, 2001.
4.
5.
CORTEZ, Hernan. A conquista do México. Porto Alegre: L&PM, 1986.
6.
ELLIOTT, John H. O Velho Mundo e o Novo, 1492-1650. Lisboa: 1984.
7.
FAVRE, Henri. A civilização inca. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
8.
GENDROP, Paul. A civilização maia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
9.
GRUZINSKI, Serge. O Pensamento Mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
10. ___________. A colonização do Imaginário: sociedades indígenas e ocidentalização no
México espanhol, séculos XVI-XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
11. O’ GORMAN, Edmundo. A invenção da América. São Paulo: Ed. Unesp, 1992.
12. PEREGALLI, Enrique. A América que os europeus encontraram. São Paulo: Editora Atual,
12º ed., 1994.
13. SOUSTELLE, Jacques. A civilização asteca. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
14. TODOROV, Tzvetan. A conquista da América. A questão do outro. São Paulo: Martins
Fontes, 1999.
15. VAINFAS, Ronaldo (org.) América em tempo de conquista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1992.
Bibliografia Complementar
1.
BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. História do Novo Mundo (2): as mestiçagens, São
Paulo: EDUSP, 2006.
2.
BRUIT, Héctor H. Bartolomé de lãs Casas e a simulação dos vencidos. São Paulo:
Iluminuras, 1995.
3.
CARDOSO, Ciro Flamarion. A América Pré-Colombiana. São Paulo: Brasiliense, 1984.
4.
GODINHO, Vitorino Magalhães. Que significa descobrir? In: A descoberta do homem e do
mundo. Adauto Novaes (org.) São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
5.
GREENBLATT, Stephen. Possessões maravilhosas. São Paulo: Edusp, 1996.
6.
LEON-PORTILLA, Miguel. A conquista da América Latina vista pelos indígenas. Petrópolis:
Vozes, 1987.
7.
McLUHAN, Terry C. (comp.). Pés nus sobre a terra sagrada. Porto Alegre: LP&M, 1987.
8.
SCHWARTZ, Stuart&894; LOCKHART, James. A América Latina na época colonial. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
9.
SOUSTELLE, Jacques. Os astecas na véspera da conquista espanhola. São Paulo: Companhia
das Letras, 1990.
10. THORNTON, John. A África e os africanos na formação do mundo Atlântico, 1400-1800.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
HISTÓRIA DO BRASIL COLONIAL
Período: 4º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Projetos de conquista e colonização na América portuguesa. Organização econômica e
relações político-culturais na sociedade colonial brasileira até meados do século XVIII. Religião e
religiosidade no Brasil Colônia.
Bibliografia Básica
1.
COSTA, Emília Viotti. da. Da senzala à colônia. 4 ed. São Paulo: Editora da Unesp, 1998.
2.
DEL PRIORE, Mary. Festas e utopias no Brasil colonial. São Paulo: Brasiliense, 1994.
3.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso. São Paulo: Brasiliense, Publifolha, 2000.
4.
NOVAIS, Fernando A. O Brasil nos quadros do Antigo Sistema Colonial. In: Brasil em
Perspectiva. São Paulo: DIFEL, 1969.
5.
SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz. São Paulo: Companhia das
Letras, 1986.
6.
SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
Bibliografia Complementar
1.
VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
2.
ALENCASTRO, Luiz Felipe. O trato dos viventes. Formação do Brasil no Atlântico sul. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000.
3.
FRAGOSO, João & FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto. Mercado atlântico,
sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro, c. 1790-c.1840. Rio de Janeiro: Sette
Letras, 1998.
4.
FREYRE, Gilberto. Casa- grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da
economia patriarcal. 51.ed. São Paulo: Global, 2011.
5.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 1994.
6.
____________. Raízes do Brasil. 23.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
7.
MONTEIRO, John M. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São
Paulo: Companhia das Letras, 1994.
8.
NOVAIS, Fernando A.; ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). História da vida privada no
Brasil [volume] 1 : cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia
das Letras, 2012.
9.
PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo: Brasiliense,
2010.
DINÂMICA DA TERRA
Período: 5º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1 - As Eras Geológicas. 2. Constituição do Globo Terrestre. Dinâmica crustal-tectônica
de Placas (isostasia e tectonismo). Rochas (formação, classificação e identificação). Intemperismo.
3. Conceitos e princípios básicos da Pedologia. 4. Pedogênese e morfogênese. Origem,
constituição e morfologia dos solos. 5. Solos do Brasil. 6. Natureza e objeto da Geomorfologia. 7.
A importância da Geomorfologia para os estudos da Geografia. 8. Escalas taxonômicas em
Geomorfologia. 9. Grandes unidades morfoestruturais do Brasil. 10. Classificação do relevo
brasileiro. 11. Processos de esculturação, formas e evolução da paisagem.
Bibliografia Básica
1.
CHISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. 2ª edição. São Paulo: Blücher, 1980. 188p.
2. PETRI, S. & FÚLFARO, V.J. 2001. Geologia do Brasil. São Paulo, Edusp. 631 p.
3. TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M. D.; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. (Organizadores).
Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 568p.
Bibliografia Complementar
1.
BIGARELLA, J.J.; BECKER, R.D.; SANTOS, G.F. 1994. Estrutura e origem das paisagens
tropicais e subtropicais. Florianópolis, Editora da UFSC. 425 p.
2. CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de Sistemas Ambientais.
3. GUERRA, Antônio José Teixeira & CUNHA, Sandra Baptista da. Geomorfologia, uma
atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro, 1994, Bertrand Brasil, 458 p.
4. LEINZ, V. Geologia Geral. 2.ed. São Paulo: Nacional, 1963. 474 p.
5. RESENDE, M. ET. AL. Pedologia: base para distinção de ambientes. 5. ed. rev. - Lavras:
Editor UFLA, 2007. 322p. : il.
6. SUGUIO, K. 1998. Dicionário de Geologia Sedimentar e áreas afins. Rio de Janeiro, Ed.
Bertrand Brasil.
HIDROCLIMATOLOGIA
Período: 5º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1 - Conceitos, definições e princípios básicos. Relações com a Meteorologia. A
importância da Climatologia para a Geografia. 2 - Radiação solar na atmosfera. Distribuição e
variação global. Insolação e cobertura do céu. Umidade e precipitação. 3 - Sistemas de circulação
atmosférica. Circulação tropical e subtropical. 4 - Classificação dos climas e regimes climáticos. 5
- Introdução aos estudos de Hidrografia. 6 - O ciclo hidrológico e o balanço hidrológico. 7 - As
características das bacias de drenagens: classificação dos cursos d'água, sistemas de drenagem e
tipos de canais. 8 - O ciclo dos rios. Regimes dos cursos d'água. 9 - Recursos fluviais. 10 - O
ambiente lacustre. 11 - A ação antropogênica no ambiente fluvial. 12 - O ambiente fluvial
amazônico.
Bibliografia Básica
1.
AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. (Tradução de SANTOS, M. J. Z
dos.) 3ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. 332p.
2. CHISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. 2ª edição. São Paulo: Blücher, 1980. 188p.
3. HIRATA, R. Recursos Hídricos. In: TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C M D de.; FAIRCHILD,
T. R. & TAIOLI, F. (Organizadores). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
568p.
4. MARUYAMA, S. Aquecimento global? (Tradução de SUGUIO, K.). São Paulo: Oficina de
Textos, 2009. 125p.
5. KARMANN, I. Ciclo da água, água subterrânea e sua ação geológica. In: TEIXEIRA, W.;
TOLEDO, M. C M D de.; FAIRCHILD, T. R. & TAIOLI, F. (Organizadores). Decifrando a
Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 568p.
6. RICCOMINI, C. GIANNINI, P. C. F. & MANCINI, F. Rios e processos aluviais. In:
TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C M D de.; FAIRCHILD, T. R. & TAIOLI, F. (Organizadores).
Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 568p.
7. SIOLI, H. Amazônia: fundamentos da ecologia da maior região de florestas tropicais.
(Tradução de BECKER, J.). Petrópolis: Vozes, 1985. 72p.
8. TAVARES, A. C. Mudanças climáticas. In: VITTE, A. C. & GUERRA, A. J. T.
(Organizadores). 3ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 282p.
Bibliografia Complementar
1.
BLOOM, A. Superfície da Terra. São Paulo Edgard Blücher, 2002. 182p.
2. CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia fluvial: o canal fluvial. São Paulo: Edgard Blücher,
1981. 313p.
3. GUERRA, Antônio J. T. & CUNHA, S. B da. Geomorfologia, uma atualização de bases e
conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 458p.
4. MENDONÇA, F. & DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia. Noções básicas e climas do
Brasil. 1º edição. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. 2008p.
5.
SUGUIO, K. & BIGARELLA, J. J. Ambientes fluviais. Florianópolis: Editora da UFSC,
1990. 183p.
6.
WALTER, H. Vegetação e zonas climáticas. Tratado de ecologia global. São Paulo, 2001.
HISTÓRIA DA AMAZÔNIA I
Período: 5º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Povos indígenas da Amazônia à época da chegada dos europeus. Primeiros contatos dos
europeus com o mundo natural e os povos indígenas locais. Estruturação e avanço do processo de
colonização. Configurações econômicas, sociais e políticas da Amazônia colonial. Presença do
Tribunal do Santo Ofício na sociedade colonial. O trabalho de índios e negros, antes, durante e
depois das políticas pombalinas. A Independência do Brasil vista do lado de cá: conflitos e
negociações em torno da adesão do Pará. Cabanagem e instituição dos Corpos de Trabalhadores.
Bibliografia Básica
1.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. “Trabalho compulsório na Amazônia: séculos XVIIXVIII”. In: Revista Arrabaldes, ano I, n.2, pp. 101-117, set-dez/1988.
2.
AZEVEDO, João Lúcio de. Os jesuítas no Grão-Pará: suas missões e a colonização. 3ª ed.
Belém: SECULT, 1999.
3.
BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão negra no Grão Pará: séculos XVII – XIX. Belém:
Paka-tatu, 2001.
4.
CARDOSO, Alírio Carvalho. Insubordinados, mas sempre devotos: poder local, acordos e
conflitos no antigo Estado do Maranhão (1607-1653). Dissertação de Mestrado –
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002
5.
CARVALHO JÚNIOR, Almir Diniz. Índios cristãos. A conversão dos gentios na Amazônia
portuguesa (1653-1769). Tese de Doutorado – Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 2005.
6.
CHAMBOULEYRON, Rafael. Povoamento, ocupação e agricultura na Amazônia Colonial
(1640-1706). Belém: Ed. Açaí, Programa de Pós-graduação em História Social da Amazônia
(UFPA), Centro de Memória da Amazônia (UFPA), 2010.
7.
D’AZEVEDO, J. Lucio. Os jesuítas no Grão-Pará: suas missões e a colonização. Belém:
Secult, 1999.
8.
FULLER, Claudia Maria. “Os corpos de trabalhadores: política de controle social no GrãoPará”. In: Revista Estudos Amazônicos. Belém, v.3, n.1, pp. 93-115, 2008.
9.
OLIVEIRA, Maria Olindina Andrade de. Olhares inquisitoriais na Amazônia portuguesa: o
Tribunal do Santo Ofício e o disciplinamento dos costumes (XVII-XIX). Dissertação de
Mestrado – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2010
10. PORRO, Antonio. O povo das águas: ensaios de etno-história amazônica. Rio de Janeiro:
Vozes, 1995.
11. RICCI, Magda. “Cabanos, patriotismo e identidades: outras histórias de uma revolução”. In:
GRINBERG, Keila & SALLES, Ricardo. O Brasil Imperial, volume II; 1831-1870. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, pp. 185-231.
12. SALLES, Vicente. O Negro no Pará sob o regime da Escravidão. Belém: IAP, 2004.
13. UGARTE, Auxiliomar Silva. Sertões de Bárbaros: o mundo natural e as sociedades indígenas
da Amazônia na visão dos cronistas ibéricos (séculos XVI-XVII). Manaus: Editora Valer,
2009.
Bibliografia Complementar
1.
ALONSO, José Luis Ruiz-Peinado & CHAMBOULEYRON, Rafael (orgs.). T(r)ópicos de
História: gente, espaço e tempo na Amazônia (séculos XVII a XXI). Belém: Ed. Açaí,
Programa de Pós-graduação em História Social da Amazônia (UFPA), Centro de Memória da
Amazônia (UFPA), 2010.
2.
ARAÚJO, Renata Malcher de. As Cidades da Amazônia no Século XVIII. Belém, Macapá e
Mazagão. Porto: FAUP, 1998.
3.
CHAMBOULEYRON, Rafael. “Duplicados clamores: queixas e rebeliões na Amazônia
colonial (século XVII)”. In: Projeto História. São Paulo, n.33, pp. 159-178, dez/2006.
4.
CHIAVENATO, J.J. Cabanagem: o povo no poder. São Paulo: Brasiliense, 1984.
5.
COELHO, Geraldo Mártires. Anarquista, Demagogos e Dissidentes: a Imprensa Liberal No
Para de 1822. Belém: CEJUP, 1993.
6.
COELHO, Mauro Cezar. Do sertão para o mar. Um estudo sobre a experiência portuguesa na
América, a partir da Colônia: o caso do Diretório dos Índios (1751-1798). Tese de Doutorado
– Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
7.
DIAS, Manuel Nunes. A Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão (1755-1778). Belém:
UFPA, 1970.
8.
DI PAOLO, Pasquale. Cabanagem, a revolução popular da Amazônia. 3ª ed. Belém: CEJUP,
1986.
9.
GONDIM, Neide. A invenção da Amazônia. São Paulo: Marco Zero, 1994.
10. RAYOL, Domingos Antônio. Motins políticos. 2ª Ed, Belém: Universidade do Federal do
Pará, 1970. 3 vol.
11. SALLES, Vicente. Memorial da cabanagem. Belém: CEJUP, 1986.
12. SILVEIRA, Ítala Bezerra da. Cabanagem: uma luta perdida. Belém: Secult, 1994.
13. SOUZA JUNIOR, José Alves. Constituição ou revolução: os projetos políticos para a
emancipação do Grão-Pará e a atuação política de Filippe Patroni (1820-1823). Dissertação de
Mestrado – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997.
HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL
Período: 5º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Estudo da sociedade brasileira do século XIX: instituições, ideologia, trabalho, política,
economia, cultura e religiosidade através da análise das diferentes abordagens historiográficas,
registros e/ou narrativas históricas.
Bibliografia Básica
1.
CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem: A Elite Política Imperial. Rio de
Janeiro: Campus, 1980.
2.
________. O Teatro de Sombras: A Política Imperial. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, Edições Vértice, 1988.
3.
CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
4.
COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: Momentos Decisivos. São Paulo:
Editorial Grijalbo, 1977.
5.
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX. 2ª ed.
São Paulo: Brasiliense, 1995.
6.
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. A interiorização da metrópole e outros estudos. São Paulo:
Alameda, 2005.
7.
REIS, João José & SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil
escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
8.
REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do Século
XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
9.
SCHWARCZ, Lília Moritz. As barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
10. SLENES, Robert W. Na Senzala uma Flor: esperanças e recordações na formação da família
escrava – Brasil sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
Bibliografia Complementar
1.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. “Vida Privada e Ordem Privada no Império”. In: História da
Vida Privada. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. Vol.2.
2.
AZEVEDO, Célia Maria Marinho. Onda Negra. Medo Branco. O Negro no Imaginário das
Elites no século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
3.
BRITO, João Rodrigues de. A Economia Brasileira no Alvorecer do Século XIX. Salvador:
Livraria Progresso Editora, 1923.
4.
Conrad, Robert. Os últimos anos de escravidão no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilização
Brasileira, 1978.
5.
FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na Sociedade Escravocrata. São Paulo:
Kairós, 1983.
6.
FREITAS, Marcos Cézar de (org). Historiografia Brasileira em Perspectiva. 3ª ed., São Paulo:
Contexto, 2000.
7.
HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org.). História Geral da Civilização Brasileira, Brasil
Monárquico. Tomo II, volumes 3,4, 5, 6, 7. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, ?.
8.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. Rio de Janeiro: ACCES, 1994.
9.
MOREL, Marco. O período das Regências (1831-1840). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
10. NOVAIS, Fernando A.; ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). História da vida privada no
Brasil [volume] 2. Império : a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das
Letras, 2011.
PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA I
Período: 5º
Carga Horária: 100 horas-aula
Ementa: Inserção dos discentes na carreira docente, estando aptos para compreender sua
importância no ser professor, de forma crítica, transpondo os conhecimentos acadêmicos das
categorias de análise geográfica para os conteúdos do ensino básico, capacitados nas práticas
pedagógicas dentro da proposta curricular com metodologias e técnicas apropriadas.
Bibliografia Básica
1.
AZAMBUJA, Leonardo Dirceu de. Metodologias cooperativas para ensinar e aprender
Geografia. In: CALLAI, Helena Copetti Educação geográfica: reflexão e prática. Ijuí: Ed.
Unijuí, 2011. (Coleção Ciências Sociais). (185-210).
2. CASTELLAR, Sônia; VIANA, Jerusa. Um pequeno comentário sobre a avaliação da
aprendizagem. ______. Ensino de Geografia. São Paulo: Cengage Learning, 2010. (Coleção
ideias em ação). (p. 145-161)
3. CASTROGIOVANNI, A.C.; GOULART, Lígia Beatriz. A questão do livro didático em
Geografia: elementos para uma análise. IN: CASTROGIOVANNI, A.C. et al (org.). Geografia
em sala de aula – prática e reflexões. Porto Alegre: Ed. UFGRS, 1999. (129-132).
4. CAVALCANTI, L. S. Ciência, Geografia e Ensino. IN: ______. Geografia, escola e
construção de conhecimentos. Campinas: Papirus, 1998. (15-28).
5. CAVALCANTI, L. S. Proposições metodológicas para a construção de conceitos geográficos
no ensino escolar. IN: ______. Geografia, escola e construção de conhecimentos. Campinas:
Papirus, 1998. (137-166).
6. ______. Bases teórico-metodológicas da Geografia: uma referência para a formação e a
prática de ensino IN: ______. A Geografia escolar e a cidade. Campinas-SP: Papirus, 2008
(Coleção magistério: formação e trabalho pedagógico).
7. CAVALCANTI, Lana de Souza. Conceitos geográficos: meta para a formação e prática
docentes. In: ______ O ensino de Geografia na Escola. Campinas-SP: Papirus, 2012.
8. COUTO, Marcos Antônio Campos. Método dialético na didática da Geografia.
CAVALCANTI, Lana de Souza; BUENO, Miriam Aparecida; SOUZA, Vanilton Camilo de.
Produção do conhecimento e pesquisa no ensino da Geografia. Goiania: Ed. PUC-Goiás,
2011. (27-44)
9. FERNANDES, Bernardo Mancano. O livro paradidático em sala de aula: do planejamento ao
uso. IN: CASTROGIOVANNI, A.C. et al (org.). Geografia em sala de aula – prática e
reflexões. Porto Alegre: Ed. UFGRS, 1999. (149-152).
10. PONTUSCHKA, Níbia Nacib; PAGANELLI, Tamoko Iyda; CACETE, Núria Hanglei. A
interdisciplinaridade e o ensino de Geografia. IN: ______. Para ensinar e aprender Geografia.
São Paulo: Cortez Editora, 2007 (143-170)
11. SCHAFFER, Neiva. O livro didático e o desempenho pedagógico: anotações de apoio a
escolha do livro texto. IN: CASTROGIOVANNI, A.C. et al (org.). Geografia em sala de aula
– prática e reflexões. Porto Alegre: Ed. UFGRS, 1999. (p.133-147).
12. STEFANELLO, Ana Clarissa. Reflexões para a prática docente. In: ______ . Didática e
avaliação no ensino de Geografia. Curitiba: Ed. IBPEX, 2008. (59-77).
13. VESSENTINI, José Willian. Educação e ensino da Geografia: instrumentos de dominação
e/ou de libertação. IN: ______. CARLOS, A. F. A. (org.) A geografia na sala de aula. São
Paulo: Contexto, 1999.
Bibliografia Complementar
1.
ANTUNES, Celso. A sala de aula de Geografia e história: inteligências múltiplas,
aprendizagem significativa e competências no dia a dia - 9ª edição. Campinas-SP: Papirus,
2001 (Coleção Papirus Educação).
2. CALLAI, Helena Copetti. Educação geográfica: reflexão e prática. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011.
(Coleção Ciências Sociais).
3. CARLOS, A. F. A. (org.) A geografia na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1999
4. CASTELLAR, Sônia. (orga.). Educação Geográfica: teorias e práticas docentes. São Paulo:
Contexto, 2007. (Coleção Novas abordagens: GEOUSP – V. 5).
5. ______; VIANA, Jerusa. Ensino de Geografia. São Paulo: Cengage Learning, 2010. (Coleção
ideias em ação).
6. CASTROGIOVANNI, A.C. et al (org.). Geografia em sala de aula – prática e reflexões. Porto
Alegre: Ed. UFGRS, 1999.
7. CASTROGIOVANNI, Antônio. Ensino de Geografia: práticas e textualizações. 7ª edição.
Porto Alegre: Mediação, 2009.
8. CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção de conhecimentos. Campinas: Papirus,
1998.
9. ______. A Geografia escolar e a cidade. Campinas-SP: Papirus, 2008 (Coleção magistério:
formação e trabalho pedagógico).
10. CAVALCANTI, Lana de Souza; BUENO, Miriam Aparecida; SOUZA, Vanilton Camilo de.
Produção do conhecimento e pesquisa no ensino da Geografia. Goiania: Ed. PUC-Goiás,
2011.
11. CAVALCANTI, Lana de Souza. O ensino de Geografia na Escola. Campinas-SP: Papirus,
2012.
12. KIMURA, Shoko. Geografia no ensino básico: questões e propostas. São Paulo: Contexto,
2008.
13. NEVES, Karina Fernanda Travagim Viturino. Os trabalhos de campo no ensino de Geografia:
reflexões sobre a prática docente na educação básica. Ilheus: Editus, 2010.
14. OLIVEIRA, A. U. (Org.). Para onde vai o ensino da geografia ? São Paulo: Contexto, 2002.
15. PASSINI, Elza Yasuko; PASSINI, Romão; MALYSZ, Sandra T. (orgs.). Prática de ensino de
Geografia e estágio supervisionado - 2ª edição. São Paulo: Contexto, 2001.
16. PONTUSCHKA, Níbia Nacib; OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Geografia em
perspectiva: ensino e pesquisa. São Paulo: Contexto, 2002.
17. ______; PAGANELLI, Tamoko Iyda; CACETE, Núria Hanglei. Para ensinar e aprender
Geografia. São Paulo: Cortez Editora, 2007.
18. STEFANELLO, Ana Clarissa. Didática e avaliação no ensino de Geografia. Curitiba: Ed.
IBPEX, 2008.
19. TONINI, Ivaine Maria. Geografia escolar: uma história sobre seus discursos pedagógicos - 2ª
edição. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006.
VESENTINI, J. W. (Org.). Geografia e ensino: textos críticos – 4ª ed. Campinas: Papirus,
20.
1995.
PRÁTICA DE ENSINO EM HISTÓRIA I
Período: 5º
Carga Horária: 100 horas-aula
Ementa: A prática pedagógica, o ensino de História e a formação do professor crítico-reflexivo. A
LDB e o Projeto Político Pedagógico para a Educação Básica. As novas metodologias e
tecnologias apontadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para a área de História.
Temas transversais e o ensino de História.
Bibliografia Básica
1.
BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. 7ª ed. São Paulo: Contexto,
2002.
2.
DAVIES, Nicholas (Org.) Para além dos conteúdos no ensino da História. Niterói: EDUFF,
2000.
3.
FERRO, Marc. A manipulação da História no ensino e nos meios de comunicação. São Paulo:
IBRASA, 1999.
4.
FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de História: experiências,
reflexões e aprendizados. Campinas: Papirus, 2003.
5.
NUNES, Silma do Carmo. Concepções de mundo no ensino de História. Campinas: Papirus,
1996.
Bibliografia Complementar
1.
CERRI, Luis Fernando. Ensino de História e concepções historiográficas. Espaço Plural. Ano
X, nº 20, 1º semestre 2009, p. 149-154.
2.
FELTRAN FILHO, Antonio & VEIGA, Ilma Passos Alencar. Técnicas de Ensino: por que
não? Campinas: Papirus, 1998.
3.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Nº. 9394/96.
4.
LOPES, Eliane Marta Teixeira. Perspectivas Históricas da Educação. São Paulo: Ática, 1986.
5.
MATTOS, Ilmar Rohloff de (Org.). Ler e escrever para contar: documentação, historiografia
e formação do historiador. Rio de Janeiro: Acess, 1998.
6.
NIKITIUK, Sônia L. (org). Repensando o ensino de história. São Paulo: Cortez, 2009.
7.
Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensinos Fundamental e Médio).
8.
SILVA, Marcos Antonio da & FONSECA, Selva Guimarães. Ensino de História hoje:
errâncias, conquistas e perdas. Revista Brasileira de História. São Paulo: v. 31, nº 60, 2010, p.
13-33.
ESTÁGIO DOCENTE EM GEOGRAFIA I
Período: 6º
Carga Horária: 100 horas-aula
Ementa: 1. O ensino fundamental e suas características; 2- as especificidades do ensino de
geografia nos ciclos iniciais que compõe a escola de nível fundamental; 3- o trabalho pedagógico
do (a) professor(a) de geografia na escola de ensino fundamental: estágios de observação
participante e de regência.
Bibliografia Básica
1.
ALVES, N. Trajetórias e redes na formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 1998.
2.
CARVALHO, A. M. P. Prática de ensino - os estágios na formação do professor. 2. ed. São
Paulo: Pioneira, 2003.
3.
CAVALCANTI, L.S. Geografia e práticas de ensino. Goiânia: Alternativa: 2002.
Bibliografia Complementar
1.
ANDRÉ, M. E. D.A. Etnografia da prática escolar. 2. Ed. Campinas: Papirus, 1998
2. BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: apresentação dos temas transversais. Brasília:
MEC/SEF, 1997c.
3. BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997b.
4. BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: segundo e terceiro ciclos: documento
introdutório. Brasília: MEC/SEF, 1997a.
5. CASTROGIOVANNI, A.C. Ensino de geografia – práticas e contextualizações no cotidiano.
Porto Alegre: Mediação, 2000.
6. CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção de conhecimentos. Campinas: Papirus,
1998.
7. COLL, C. et all. Los contenidos en la reforma. Buenos Aires: Edicionnes Santillana, 1996.
8. COSTA, M.W. (org). Escola básica na virada do século – cultura, política e currículo. São
Paulo: Cortez, 1996.
9. GERALDI, C.M.G.; FIORENTINI, D.& PEREIRA, E.M.A. (orgs). Cartografias do trabalho
docente – professor(a)-pesquisador(a). Campinas: Mercado das Letras, 1998.
10. REVISTA TERRA LIVRE - AGB. Prática de ensino em geografia. São Paulo, n.º 08, abril de
1991.
11. SCHÖN, D.A. Educando o profissional reflexivo – um novo design para o ensino e a
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.
12. SILVA, A.M.R. Sobre descontinuidades no ensino da geografia. Passo Fundo: Clio, 2002.
13.
SILVA, R.E.D. O que falta nas aulas de geografia? In: Revista Presença Pedagógica. v.4,
n. 22 – jul/ago, 1998.
ESTÁGIO DOCENTE EM HISTÓRIA I
Período: 6º
Carga Horária: 100 horas-aula
Ementa: Concepções gerais sobre estágio, formação de professores e a relação entre ensino e
pesquisa nos Ensinos Fundamental e Médio. As relações entre os fundamentos da produção
historiográfica e os da história ensinada. Conhecimento historiográfico e saber escolar. As
diferentes fontes e linguagens no ensino de história. Análise de currículos, programas, material
didático, práticas escolares e ações do corpo docente da escola campo.
Bibliografia Básica
1.
ABREU, Marta; SOIHET, Rachel (orgs). Ensino de história: conceitos, temáticas e
metodologias. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
2.
ALVES, N. (org). Formação de Professores: pensar e fazer. São Paulo: Cortez, 1996.
3.
BITTENCOURT, Circe. Ensino de história: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez,
2004.
4.
BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. 7ª ed. São Paulo: Contexto,
2002.
5.
CABRINI, Conceição et al. Ensino de História: revisão urgente. São Paulo: Brasiliense, 2004.
6.
FONSECA, S. G. Caminhos da história ensinada. Campinas: Papirus, 1993.
7.
________. Didática e Prática de ensino de história. Campinas: Papirus, 2003.
8.
NAPOLITANO, Marco. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2005.
Bibliografia Complementar
1.
FERRO, Marc. Cinema e História. São Paulo: Paz e Terra, 2010.
2.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
3.
KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 5ª ed. São
Paulo: Contexto, 2008.
4.
MUNAKATA, Kazumi. “História que os livros didáticos contam, depois que acabou a
ditadura militar no Brasil”. In: Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: Contexto,
2010, pp. 271-298.
5.
NIKITIUK, Sônia L. (org). Repensando o ensino de história. São Paulo: Cortez, 2009.
6.
ROCHA, Helenice Aparecida Bastos; REZNIK, Luís; MAGALHÃES, Marcelo de Souza
(org.). A história na escola: autores, livros e leituras. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2009.
GEOGRAFIA DO BRASIL
Período: 6º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1. A Formação do Território Brasileiro; 2. Do meio natural ao meio técnico-científicoinformacional no Brasil: Os meios naturais, o Brasil arquipélago – a mecanização incompleta, o
meio técnico da circulação mecanizada; 4. A reorganização produtiva do território; 5. As
desigualdades territoriais e as primeiras divisões regionais propostas para o espaço territorial
brasileiro; 6. A divisão regional do IBGE: Origem, caracterização críticas e atualização; 7. A
divisão do Brasil em Domínios morfoclimáticos de Aziz Ab’Saber-: Amazônico, Cerrado,
Caatinga, Mares de morros, Pradarias e Zonas de transição; 8. A regionalização do espaço
brasileiro proposta por Pedro Geiger: as macro-regiões geoeconômicas (Centro-Sul, Nordeste e
Amazônia); 9. A divisão regional do Brasil de Bertha Becker e Cláudio Egler: A core-área e sua
periferia integrada, os domínios tradicionais e a grande fronteira; 10. A difusão do meio técnicocientifico informacional e as diferenciações do território brasileiro - Os quatro Brasis: A região
concentrada (Sudeste e Sul) do Brasil sua estruturação e dinâmica; o Centro-Oeste suas
particularidades; o Nordeste e suas peculiaridades regionais.
Bibliografia Básica
1.
ABREU, Maurício de Almeida. In: CASTRO, Iná Elias; GOMES, Paulo César da Costa;
CORREA, Roberto Lobato (orgs.). Explorações geográficas: percursos no fim do século. 4ª
edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. (p. 197-245).
2. BECKER, Bertha
K. & EGLER, Cláudio
E. G.“A Economia-Mundo e as Regiões
Brasileiras”. In: “Brasil. Uma nova potência Regional na economia-mundo”. Rio de Janeiro,
Bertrand Brasil,1993.
3. _______
“A Emergência do Brasil como Potência Regional na Economia-Mundo”. In:
“Brasil. Uma nova potência Regional na economia-mundo”. Rio de Janeiro, Bertrand
Brasil,2000.
4. _______“O legado da Modernização Conservadora e a Reestruturação do Território”. In:
“Brasil. Uma nova potência Regional na economia-mundo”. Rio de Janeiro, Bertrand
Brasil,2000.
5. CORRÊA, R. L. A Organização Regional do Espaço Brasileiro”. In: “Trajetórias
Geográficas”. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997.
6. DIAS, Leila C. “Redes eletrônicas e novas dinâmicas do território”. In: CASTRO, Iná E.,
GOMES, Paulo César da Costa & LOBATO CORRÊA, Roberto (org.) . “Brasil: Questões
atuais da reorganização do território”. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil,1996.
7. EGLER, Cláudio E. G. “Crise e Dinâmica das Estruturas Produtivas Regionais no Brasil”. In:
CASTRO, Iná E., GOMES, Paulo César da Costa & LOBATO CORRÊA, Roberto (org.) .
“Brasil: Questões atuais da reorganização do território”. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil,1996.
8. GEIGER, Pedro Pinchas. Organização Regional do Brasil. In: Revista Geográfica. Rio de
Janeiro, Tomo XXXIII, nº61, p.25-53, Jul./Dez. de 1964.
9. ______. Esboço preliminar da divisão do Brasil nas chamadas “regiões homogêneas”. In:
Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v.29, nº2, p.59-64, Abr./Jun. de 1967a.
10. ______. Regionalização. In: Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v.31, nº1, p.5-25,
Jan./Mar. 1967c.
11. GUIMARÃES, Fábio M. S. “Divisão Regional do Brasil”. Rio de Janeiro, 3(02), 318-73,
abr/jun,1941.
12. SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. Do meio natural ao meio técnico-científico
informacional. In: O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI.
Rio de
janeiro/São Paulo, Record, 2001. (p. 23-53).
13. ______. As diferenciações no território. In: O Brasil: Território e sociedade no início do
século XXI. Rio de janeiro/São Paulo, Record, 2001. (p. 259-277).
14. SILVA, Simone Afonso da. Regionalizações do espaço brasileiro. Trabalho de Graduação
Individual, 2010.
Bibliografia Complementar
1.
BENAKOUCHE, Tamara. “Redes de Comunicação Eletrônica e Desigualdades Regionais”.
In: GONÇALVES, Maria Flora (org.). “O novo Brasil urbano”. Porto Alegre, Mercado
Aberto,2004.
2. BERNARDES, Júlio Adão . “As Estratégias do Capital no Complexo da Soja”. In: CASTRO,
Iná E., GOMES, Paulo César da Costa & LOBATO CORRÊA, Roberto (org.) . “Brasil:
Questões atuais da reorganização do território”. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil,1996.
3. CARVALHO, Gisélia Lima. Região: a evolução de uma categoria de análise da geografia.
Boletim Goiano de Geografia, Goiais,v. 22, n. 01, jan./jun. de 2002.
4. CASTRO, Iná Elias de. “Seca versus seca. Novos interesses, novos território, novos discursos
no nordeste”. In: CASTRO, Iná E., GOMES, Paulo César da Costa & CORRÊA, Roberto L.
(org.) . “Brasil: Questões atuais da reorganização do território”. Rio de Janeiro, Bertrand
Brasil,1996.
5. _______. “A Organização Regional do Espaço Brasileiro”. In: “Trajetórias Geográficas”. Rio
de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997.
6. HAESBAERT, Rogério. “Gaúchos e baianos no novo nordeste entre a globalização
econômica e a reinvenção das identidades territoriais”. In: CASTRO, Iná E., GOMES, Paulo
César da Costa & LOBATO CORRÊA,
Roberto (org.) . “Brasil: Questões atuais da
reorganização do território”. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil,1996.
7. GOLDENSTEIN, Lea & SEABRA, Manoel. “Divisão Territorial do Trabalho e nova
regionalização”. In: Revista Orientação. São Paulo - USP ,1(1), 21-47,1982.
8. MARTINS, Paulo H. “O Nordeste e a questão regional”. In: SILVA, Marcos A. da. (coord.)
“República em migalhas. História regional e local”. São Paulo, Marco Zero/CNPQ ,1990.
9. MOREIRA, Ruy. A Nova Divisão Territorial do Trabalho e as Tendências de Configuração do
Espaço Brasileiro. In: LIMONAD, Ester; HAESBAERT, Rogério & MOREIRA, Ruy (org.)
Brasil Século XXI: por uma nova regionalização. São Paulo: Max Limonad, 2004.
10. OLIVEIRA, Francisco de. “Elegia para uma re(li)gião. Sudene, Nordeste Planejamento e
conflitos de classes”. 5 ed. Rio de Janeiro, Paz e terra, 2003.
11. SANTOS, Milton & SILVEIRA, Maria Laura. “O Brasil: Território e sociedade no início do
século XXI”. Rio de janeiro/São Paulo, Record, 2001.
12. TRINDADE JR, Saint Clair C. Pensando concepção de Amazonia. In: SILVA, José
Borzacchiello da; LIMA, Luiz Cruz; ELIAS, Denise (Org). Panorama da geografia brasileira
I. São Paulo: Annablume, 2006.
13. VAINER, Carlos B. “Regionalismos: anacronismos ou pós-modernidade”. In: GONÇALVES,
Maria Flora (org.). “O novo Brasil urbano”. Porto Alegre, Mercado Aberto,2004.
14. ZAIDAN FILHO, Michel. “O fim do nordeste & outros mitos”. São Paulo, Cortez, 2001.
(coleção questões da nossa época: v.82).
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA II
Período: 6º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Conjuntura política, econômica, social e cultural da Europa contemporânea (de meados
do século XIX ao final do XX). Temas centrais: Imperialismo; as vanguardas artísticas do século
XX: cubismo, dadaísmo e surrealismo; a Revolução Russa de 1917 e o contexto da Primeira
Guerra Mundial; o Entre Guerras: da Crise da Bolsa de Nova Iorque ao fim da República de
Weimar; a Segunda Guerra Mundial e a questão do Holocausto; Guerra Fria e a ascensão
internacional de Estados Unidos e União Soviética; as independências e os nacionalismos na
URSS e a Nova Ordem Mundial.
Bibliografia Básica
1.
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo, totalitarismo. São
Paulo: Companhia das Letras, 2007.
2.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e holocausto. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998.
3.
EVERDELL, William R. Os primeiros modernos: as origens do pensamento do século XX.
Rio de Janeiro: Record, 2000.
4.
FORRESTER, Viviane. O crime ocidental. São Paulo: UNESP, 2006.
5.
GADDIS, John Lewis. História da Guerra Fria. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
6.
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914 – 1991. São Paulo: Cia das
Letras, 2000.
7.
PARADA, Mauricio (org.). Fascismos – conceitos e experiências. Rio de Janeiro: Mauad,
2008.
8.
REIS FILHO, Daniel Aarão. O século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 3
Vols. 2ª. Edição.
9.
SAID, Edward. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
Bibliografia Complementar
1.
BALAKRISHNAN, Gopal. (org). Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000.
2.
BEEVOR, Antony. A batalha pela Espanha: a guerra civil espanhola: 1936 – 1939. Rio de
Janeiro: Record, 2007. 2ª. Edição.
3.
BERSTEIN, Serge. Los regímenes políticos del siglo XX. Barcelona: Ariel, 2003.
4.
GELADO, Viviana. Poética da transgressão – vanguarda e cultura popular nos anos 20 na
América. São Carlos: EDUFSCAR, 2006.
5.
HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
2ª. Edição, 3ª. Reimpressão.
6.
HUNTINGTON, Samuel P. O choque de civilizações e a recomposição da ordem mundial.
Rio de Janeiro: Objetiva, 1997.
7.
KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – Estudos culturais: identidade e política entre o
moderno e o pós-moderno. Bauru: EDUSC, 2001.
8.
LENHARO, Alcir. Nazismo – o triunfo da vontade. São Paulo: Ática, 1998.
9.
MCMAHON, Robert. La Guerra Fría; una breve introducción. Madri: Alianza Editorial,
2009.
10. POMAR, Wladimir Ventura Torres. A revolução chinesa. São Paulo: UNESP, 2004.
11. POWER, Samantha. Genocídio: a retórica americana em questão. São Paulo: Cia das letras,
2004.
12. REIS FILHO, Daniel Aarão; MORAES, Pedro de. 1968 a paixão de uma utopia. Rio de
Janeiro: FGV, 1998.
13. SARMENTO, Luciana Villela de Moraes; ROCHA, Everardo. Ticket to Ride: as tensões
entre consumo e contracultura nas letras de música dos Beatles. PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, Departamento de Comunicação
Social, 2006.
14. TAIBO, Carlos. Historia de la Unión Soviética: 1917 – 1991. Madri: Alianza Editorial, 2010.
15. ZAKARIA, Fareed. O mundo pós-americano. São Paulo: Cia das Letras, 2008.
HISTÓRIA DO BRASIL REPUBLICANO
Período: 6º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: O ideário republicano e a República Velha no Brasil. Movimentos políticos e culturais
do início do século XX. Revolução de 1930, Getúlio Vargas e o Estado Novo. O populismo de
meados do XX. Golpe de 1964 e a ditadura militar no Brasil: estruturação e resistências.
Movimentos sociais no campo: ligas camponesas e MST. Redemocratização política e abertura
econômica no governo Collor.
Bibliografia Básica
1. BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O Governo João Goulart. As lutas sociais no Brasil 19611964. Rio de Janeiro: UnB/Editora Revan, 2001.
2. CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas. São Paulo: Companhia das Letras,
1990.
3. COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República. São Paulo: Unesp, 1999.
4. FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Orgs.). O Brasil Republicano.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, v. 4.
5. LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. São Paulo: Papirus, 1986.
6. MATOS, Cláudia. Acertei no Milhar: samba e malandragem no temo de Getúlio. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1982.
7. PEREIRA, Leonardo. O Carnaval das Letras. 2ª Ed., Campinas, SP: Editora da Unicamp,
2004.
8. SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena Maria Bousquet; COSTA, Vanda Maria
Ribeiro. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra/FGV, 2000.
9. SKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Getúlio a Castello (1930-64). São Paulo: Companhi das
Letras, 2010.
Bibliografia Complementar
1.
CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi.
São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
2.
CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botiquim. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001.
3.
FERNANDES, Bernardo Mançano; MEDEIROS, Leonilde Servolo de; PAULILO, Maria
Ignez (Org.). Lutas camponesas contemporâneas: condições, dilemas e conquistas, v.1: o
campesinato como sujeito político nas décadas de 1950 a 1980. São Paulo: Editora UNESP;
Brasília, DF: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, 2009.
4.
FREITAS, Marcos Cézar de (org). Historiografia Brasileira em Perspectiva. 3ª ed., São Paulo:
Contexto, 2000.
5.
HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org.). História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil
Republicano. Tomo III, volumes 8, 9, 10 e 11. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006/2007.
6.
LEVINE, Robert M. Pai dos Pobres? O Brasil e a Era Vargas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2001.
7.
LINHARES, Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1990.
8.
NOVAIS, Fernando A.; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). História da vida privada no Brasil
[volume] 4 : contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras,
2012.
9.
NOVAIS, Fernando A.; SEVCENKO, Nicolau (Org.). História da vida privada no Brasil
[volume] 3 : República : da Belle Époque à era do rádio. São Paulo: Companhia das Letras,
2012.
10. RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro. Rio de Janeiro, Record, 2000.
BIOGEOGRAFIA
Período: 7º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1.Conceito e evolução da Biogeografia. 2. Fundamentos históricos e ecológicos da
distribuição geográfica das espécies e de seus fatores determinantes. 3.Especiação e extinção.
4.Flutuações Paleoclimáticas. 5.Teoria dos Refúgios. 5.Fatores abióticos e bióticos que
influenciam na distribuição. 6. Padrões de Distribuição biogeográfica. 7.Os grandes Biomas e os
Biomas brasileiros. 8.Áreas de tensão ecológica. Ecorregiões. Hotspots. Corredores Ecológicos. 9.
Padrões de distribuição da vegetação amazônica: floresta de terra-firme, várzea e manguezal
(abundância, composição e diversidade). 10. A forma de apropriação dos biomas brasileiros.
Bibliografia Básica
1.
MARTINS, Celso. Biogeografia e Ecologia. Ed. Nobel. São Paulo, 1992
2.
PASSOS, Messias. Biogeografia e Paisagem. Presidente Prudente: UNESP, 2003.
3.
TROPPMAIR, Heimut. Biogeografia e Meio Ambiente. Rio Claro, 2003.
4.
AB’SABER, Aziz Nacib. Potencialidades paisagísticas brasileiras. IN: Os Domínios de
natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 159p.
5.
PEREIRA. João Batista; ALMEIDA, Josimar. . Biogeografia e Geomorfologia. In: Guerra e
Cunha. Geomorfologia e meio ambiente. Bertrand Brasil: RJ, 1998. p. 196-246.
Bibliografia Complementar
1.
RIZZINI, Carlos Toledo. Tratado de Fitogeografia do Brasil. Âmbito Cultural Edições. Rio
de Janeiro, 1997.
2. SIOLI, Harald. Amazônia. Fundamentos de Ecologia da maior região de Florestas Tropicais.
Vozes. Petrópolis, 2002.
3. STRAHLER, Artur & STRAHLER, Alan. H. Geografia Física. Barcelona, 2002.
4. WALTER, Heinrich. Vegetação e zonas climáticas. Tratado de Ecologia Global. São Paulo,
2001.
5. TROPPMAIR, Helmut. Geografia Física ou Geografia Ambiental- Modelos de Geografia
Integrada. In: Bol. de Geografia Teorética, vol. 15, n.os 29-30, Rio Claro: Ageteo,1985.
6. AB’SABER, Aziz Nacib. Potencialidades paisagísticas brasileiras. In: Geomorfologia n.0 55.
São Paulo, 1977, USP/IG.
7. BERTRAND, Georges. Paisagem e Geografia Física Global. Esboço metodológico. In:
Caderno de Ciências da Terra n. 13. São Paulo: USP/IG, 1971.
8.
ORELLANA, Margarida M. Penteado. Os campos de ação da Geografia Física. In: Boletim
de Geografia Teorética, vol. 15, n.os 29-30, Rio Claro: Ageteo,1985.
9.
TUNDISI, José G. O ecossistema como unidade ecológica. In: Inter-facies. Escritos e
documentos, n. 63, UNESP Rio Claro: IBILCE, 1981.
ESTÁGIO DOCENTE EM GEOGRAFIA II
Período: 7º
Carga Horária: 100 horas-aula
Ementa: 1- O ensino médio e suas características; 2- a geografia no ensino médio: especificidades
e características; 3- o trabalho pedagógico do (a) educador (a) de geografia na escola de ensino
médio: estágios de observação participante e de regência. Projeto de intervenção pedagógica em
Geografia.
Bibliografia Básica
1.
CASTROGIOVANNI, A.C. Ensino de geografia – práticas e contextualizações no cotidiano.
Porto Alegre: Mediação, 2000.
2.
RUA, J. et alli. Para ensinar geografia - contribuição para o trabalho com 1.º e 2.º graus. Rio
de Janeiro: ACCESS, 2000.
3.
SANTOMÉ, J. T. Globalização e interdisciplinaridade – o currículo integrado. Porto Alegre:
Artmed, 1998.
Bibliografia Complementar
1.
CARVALHO, M.S.(org). Para quem ensina geografia. Londrina: Editora, 1998.
2. PULIDO, M.C. El proyecto educativo – elementos para la construcción colectiva de una
institución de calidad. Santa Fé de Bogotá: Cooperativa Editorial Magistério, 1995.
3. BICUDO, M. A. V. & SILVA JUNIOR, C.A. (orgs). Formação do educador: dever do Estado,
tarefa da universidade. São Paulo: Editora da UNESP, 1996. vol.03
4. CARVALHO, A. M. P. Prática de ensino - os estágios na formação do professor. 2. Ed. São
Paulo: Pioneira, 2003.
5. __________ . (Coord.) A formação do professor e a prática de ensino. São Paulo: Pioneira,
1988.
6. GIESTA, N.C. Cotidiano escolar e formação reflexiva do professor: moda ou valorização do
saber docente? Araraquara: JM editora, 2001.
7.
OLIVEIRA, A. U. (Org.). Para onde vai o ensino da geografia? São Paulo: Contexto, 2002.
8.
PERRENOUD, P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação – perspectivas
sociológicas. Lisboa: Edições Dom Quixote, 2000.
ESTÁGIO DOCENTE EM HISTÓRIA II
Período: 7º
Carga Horária: 100 horas-aula
Ementa: O ensino de história através de projetos de pesquisa/ensino – discussão teórica.
Orientação para elaboração de projetos específicos para aplicação de acordo com a realidade da
escola campo.
Bibliografia Básica
1.
BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. 7ª ed. São Paulo: Contexto,
2002.
2.
FONSECA, S. G. “Ensinar história através de projeto de pesquisa”. In: Presença Pedagógica.
v. 03, n. 18, Nov/dez. p. 49-55.
3.
_________. Didática e Prática de ensino de história. Campinas: Papirus, 2003.
4.
_________. “A pesquisa e a produção de conhecimento em sala de aula”. In: PACHECO,
Ricardo de Aguiar. Ensinar aprendendo: a prática pedagógica do ensino por projetos no
ensino fundamental. PerCursos, Florianópolis, v. 08, n. 02, p. 19-40, jul/dez, 2007.
Bibliografia Complementar
1.
LUDKE, Menga (coord). O professor e a pesquisa. Campinas: Papirus, 2001.
2.
ALVES, Nilda (org.) Formação de professores: pensar e fazer. São Paulo: Cortez, 2006.
3.
KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 5ª ed. São
Paulo: Contexto, 2008.
4.
ROCHA, Helenice Aparecida Bastos; REZNIK, Luís; MAGALHÃES, Marcelo de Souza
(org.). A história na escola: autores, livros e leituras. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2009.
GEOGRAFIA DA AMAZÔNIA
Período: 7º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: A Amazônia como fronteira. 2. O Domínio Amazônico. Os recursos naturais.
potencialidade; 3. As diferentes formas de regionalização da Amazônia.4. Organização do
território dos séculos XVII a XX; 5. O espaço da circulação: do meio natural ao meio técnico
científico-informacional; 6. (Re) organização e Modernização produtiva do espaço amazônico; 7.
As Políticas Territoriais e os grandes projetos; 8. Os vetores do Desenvolvimento Regional; 9. A
apropriação e uso pelos diversos grupos sociais dos Recursos Naturais e suas implicações
ambientais.
Bibliografia Básica
1.
BECKER, Berta K; MIRANDA, Mariana & MACHADO, Lia Osório. Fronteira Amazônica.
Questões sobre a Gestão do Território. Brasília/Rio de Janeiro: UNb/UFRJ, 1990.
2.
__________ . Amazônia. São Paulo: Ática, 2002. (Série Princípios).
3.
CASTRO, Edna Maria R. & MARIN, Rosa E. Acevedo. Estado e Poder Local: dinâmica das
transformações na Amazônia brasileira. In: Pará Desenvolvimento. Belém: IDESP, n&61616;
20/21, 1986-87. p: 09-14.
4.
ESTEVES, Antônio R. A ocupação da Amazônia. São Paulo: Brasiliense, (Col. Tudo é
história), 2000.
Bibliografia Complementar
1.
BECKER, Berta K. Os deserdados da terra. In: Ciência Hoje. Rio de Janeiro, 3(17), Mar/abr,
1985. p: 25-32.
2.
CASTRO, Edna et alli. Industrialização e Grandes projetos. Belém: EDUFPA, 2004.
3.
CASTRO, Iná Elias de et alli. BRASIL: Questões atuais da reorganização do território. R.J.:
Bertrand Brasil, 1996.
4.
CORRÊA, Roberto Lobato. Algumas considerações sobre análise regional. In: RGB. Rio de
Janeiro: IBGE, v. 49, out/dez, 2002. p; 47-52.
5.
COSTA, José Marcelino M. (coord.). Amazônia: Desenvolvimento ou Retrocesso. Belém:
CEJUP, 1992.
6.
EMMI, Marília. A oligarquia do Tocantins e o domínio dos castanhais. Belém:
CFCH/NAEA/UFPA, 1987.
7.
FILHA, Irene Garrido. O Projeto Jari e os capitais estrangeiros na Amazônia. Petrópolis:
Vozes, 1980.
8.
GONDIM, Neide. A invenção da Amazônia. São Paulo: Marco Zero, 1994.
9.
HALL, Anthony L. Amazônia. Desenvolvimento para quem?. São Paulo: Zahar, 1991.
10. IANNI, Octávio. Ditadura do grande capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.
11. LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. Amazônia. Estado - Homem - Natureza. Belém: CEJUP,
1992.
12. MACHADO, Lia Osório. A Amazônia brasileira como exemplo de uma combinação
geoestratégica ecronoestratégica. In: Turbinger Geographise Studien. n. 95, 1987. p: 189-204.
13. __________ . Mitos e realidades da Amazônia brasileira no contexto geopolítico internacional
(1540-1912). Barcelona: Dept&61616; Geografia Humana/Universidade de Madri, 2002.
14. OLIVEIRA, Ariovaldo U. Amazônia. Monopólio, expropriação e conflitos. Campinas:
Papirus, 2002.
15. __________ . Integrar para (não) entregar: políticas públicas e Amazônia. Campinas: Papirus,
2002.
16. __________ . A geografia das lutas no campo. São Paulo: Contexto/EDUSP, 2002.
17. PANDOLFO, Clara. Amazônia Brasileira. Ocupação, desenvolvimento e perspectivas atuais e
futuras. Belém: CEJUP, 1994.
18. PROCÓPIO, Argemiro. Amazônia. Ecologia e degradação social. São Paulo: ALFA-OMEGA,
1992.
19. REIS, Arthur Cézar Ferreira. Limites e demarcações na Amazônia brasileira. Belém:
SECULT, 2000.
20. __________ . A política de Portugal no Valle Amazônico. Belém: SECULT, 2000.
21. __________ . A Amazônia e a cobiça internacional. 4. Ed. Rio de Janeiro: Companhia Editora
Americana, 1972.
22. SILVA, José Graziano da. A modernização dolorosa. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.
23. VALVERDE, Orlando. A devastação da floresta amazônica. In: RGB. v. 52, no 3, jul/set,
2002. p: 11-24.
24. VALVERDE, Orlando & FREITAS, Tácito Lívio R. O problema florestal da Amazônia
brasileira. Petrópolis: Vozes, 1980.
25. VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo autoritário e Campesinato. São Paulo: DIFEL, 1976.
26.
___________. Frentes de expansão e estrutura agrária. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
HISTÓRIA DA AMAZÔNIA II
Período: 7º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Economia da borracha, da segunda metade do século XIX ao início do XX. Políticas de
colonização e outras facetas econômicas da Província do Pará no século XIX. Ideais de civilização
e modernidade em solo amazônico: das cidades da belle-époque à ferrovia Madeira-Mamoré.
Difusão do ideário republicano e do modernismo no Pará. Catolicismo, pajelança e religiões afrobrasileiras. Revolução de 1930 e baratismo. Soldados da borracha. Os “grandes projetos” pensados
para a Amazônia da segunda metade do século XX. Guerrilha do Araguaia. Defesa militar da
Amazônia: questões passadas e presentes.
Bibliografia Básica
1.
CASTRO, Celso (org.). Amazônia e defesa nacional. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
2.
COELHO, Geraldo Mártires. No coração do povo: o monumento à república em Belém
(1891-1897). Belém: Paka-tatu, 2002.
3.
FONTES, Edilza Oliveira. O pão nosso de cada dia. Belém: Paka-Tatu, 2002.
4.
HARDMAN, F. F. Trem Fantasma: A modernidade na selva. São Paulo: Companhia das
Letras, 1988.
5.
OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. “O caboclo e o brabo: notas sobre duas modalidades de
força de trabalho na expansão da fronteira amazônica no século XIX”. In: Encontros com a
civilização brasileira. Rio de Janeiro, v. 11, maio, 1979.
6.
PETIT, Pere. Chão de Promessas. Belém: Paka-Tatu, 2003.
7.
SALLES, Vicente. O Negro no Pará sob o regime da Escravidão. Belém: IAP, 2004.
8.
SANTOS, Roberto. História Econômica da Amazônia (1800-1912). São Paulo: T. A. Queiroz,
1980.
9.
SARGES, Maria de Nazaré. Riquezas produzindo a Belle Époque. Belém: Pakatatu, 2002.
10. WEINSTEIN, Bárbara. A borracha na Amazônia: expansão e decadência (1850-1920). São
Paulo: Hucitec, 1993.
Bibliografia Complementar
1.
BATISTA, Luciana Marinho. Muito além dos seringais: elites, fortunas e hierarquias no
Grão-Pará, c.1850 – c. 1870. (Dissertação) Programa de Pós-Graduação em História Social.
Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2004.
2.
CANCELA, Cristina. Donza. “Famílias de elite: transformação da riqueza e alianças
matrimoniais. Belém 1870-1920”. In: Topoi (Rio de Janeiro) v. 10, 2009, p. 24-38.
3.
DEAN, Warren. A luta pela borracha no Brasil: um estudo de história ecológica. São Paulo:
Nobel, 1989.
4.
DIAS, Edinea Mascarenhas. A ilusão do fausto – Manaus, 1890-1920. Manaus: Editora Valer,
1999.
5.
DRUMMOND, José Augusto; PEREIRA, Mariângela de Araújo. O Amapá nos tempos do
manganês: um estudo sobre o desenvolvimento de um Estado amazônico - 1943-2000. Rio de
Janeiro: Garamond, 2007.
6.
FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. “A tela e o fato: a invenção moderna e a fundação do Brasil
na Amazônia”. In: FORLINE, Louis; MURRIETA, Rui; VIEIRA, Ilma (orgs.). Amazônia
além dos 500 anos. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2005, pp. 151-182.
7.
HÉBETTE, Jean (org.). O Cerco está se fechando: o impacto do grande capital na Amazônia.
Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes/FASE, 1991.
8.
LACERDA. Franciane Gama. Migrantes cearenses no Pará: faces da sobrevivência 18891916. Belém: Açaí, 2010.
9.
NASCIMENTO, Durbens Martins. A Guerrilha do Araguaia: paulistas e militares na
Amazônia. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento
Sustentável do Trópico Úmido, Universidade Federal do Pará, Belém, 2000.
10. SECRETO, Maria Verônica. Soldados da Borracha: trabalhadores entre o Sertão e a
Amazônia no governo Vargas. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007.
GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO
Período: 8°
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1. As teorias demográficas e as concepções clássicas de estudos populacionais: Thomas
R. Malthus e as leis do crescimento populacional, David Ricardo e os rendimentos decrescentes,
Karl Marx, a força de trabalho, o excedente e as contradições do MPC- Modo de Produção
Capitalista e John Stuart Mill e o estado estacionário. 2. Evolução, crescimento e distribuição da
população. 3. Migrações e mobilidade do trabalho: movimentos internacionais, nacionais e
regionais. 4. Crise do trabalho e as novas formas de mobilidade territorial. 5. Transição
demográfica. 6. População, meio ambiente e desenvolvimento. 7. Modo de vida e populações
tradicionais. 8. Fontes de dados demográficos e populacionais: censos, Pnads, cartórios. 9.
Técnicas demográficas. 10. As conferências mundiais sobre população. 11. Transição demográfica
e envelhecimento da população brasileira: repercussões sobre o trabalho e a previdência. 12.
Planejamento familiar no Brasil.
Bibliografia Básica
1. DAMIANI, A. L. População e Geografia. São Paulo: Contexto, 1991. (Col. Caminhos da
Geografia).
2. ROCHA, Maria Isabel Baltar da. Política Demográfica e parlamento. Debates e decisões
sobre o controle da natalidade. Textos NEPO 25 (Núcleo de Estudos de População),
UNICAMP, Campinas, Fevereiro 1993.
3. TORRES, H. População e Meio Ambiente: Debates e Desafios. São Paulo: SENAC, 2000.
Bibliografia Complementar
1. ARAGÓN, L. E. & MOUGEOT, L. Migrações internas na Amazônia: contribuições teóricas e
metodológicas. Belém: UFPA/NAEA/CNPq, 1986. (Cadernos NAEA, nº 8).
2. FONSECA SOBRINHO, D da. Estado e População: Uma história do planejamento familiar
no Brasil. São Paulo: Rosa dos tempos, s.d. (sAraiva)
3. MARTINS, D. & VANALLI, S. Migrantes. São Paulo: Contexto, 1996.
4.
SERRA, Márcia Milena Pivatto. Aspectos Demográficos da Circulação de Crianças no Brasil.
Textos NEPO (Núcleo de Estudos de População), UNICAMP, Campinas;
5.
SINGER, P. Migrações internas: considerações teóricas sobre o seu estudo. In: Economia
política da urbanização. 11. ed., São Paulo: Brasiliense, 2003.
POLÍTICA E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
Período: 8 º
Carga horária: 60 horas-aula
Ementa: O Estado, o direito e a organização da Educação. As políticas educacionais e a legislação
brasileira na Educação Básica. O gestor escolar, as normas e os procedimentos administrativos. A
Legislação e o contexto da Educação infantil, do Ensino Fundamental e Médio.
Bibliografia Básica
1.
LIBÂNEO, José Carlos et. al. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São
Paulo: Cortez, 2003.
2.
AZEVEDO, Janete M. Lins de. A Educação como Política Pública. 3ª ed. Campinas:
Autores Associados, 2004.
3.
OLIVEIRA, Romualdo Portela de (org). Política educacional: impasses e alternativa. 2ª ed.
São Paulo: Cortez, 1998.
Bibliografia Complementar
1.
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. 14 ed. Rio de Janeiro: DP&A,
2003.
2.
_______LDB de 1996.
3.
FREITAG, Bárbara. Escola, estado e sociedade. São Paulo: Centauro, 2005.
4.
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 45ª ed. São Paulo: Paz e Terra,
2005.
5.
NEVES, Lúcia Maria Wanderley. Educação e política no Brasil hoje. 2ª ed. São Paulo:
Cortez, 1999.
PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA II
Período: 8°
Carga horária: 100 horas-aula
Ementa: O ensino de Geografia no Ensino Fundamental: estudo teórico-prático que possibilite
desenvolver atividades que habilitem à prática pedagógica em sala de aula - observação e
planejamento. Escolha dos conteúdos dentro da proposta curricular e do planejamento anual e suas
abordagens. Utilização de técnicas e métodos didáticos. Elaboração do projeto de estágio.
Bibliografia Básica
1. CASTROGIOVANNI, A.C. (org). Ensino de geografia – praticas e textualizações no
cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2000.
2. __________ . et al (orgs). Geografia em sala de aula – prática e reflexões. Porto Alegre:
Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1998.
3. PENTEADO, H. D. Metodologia do ensino da história e geografia. São Paulo: Cortez, 1991.
Bibliografia Complementar:
1.
BOLETIM PAULISTA DE GEOGRAFIA - AGB/SÃO PAULO, São Paulo, n.º 70, 2.º sem
1991.
2.
CAVALCANTI, L. S. Geografia escolar e procedimentos de ensino numa perspectiva sócioconstrutivista. Revista Ciência Geográfica. Bauru – VI, Vol. II – (16): maio/agosto, 2000.
3.
__________ . Geografia, escola e construção de conhecimentos. Campinas: Papirus, 1998.
4.
CADERNO PRUDENTINO DE GEOGRAFIA - AGB/PRESIDENTE PRUDENTE,
Geografia e ensino. Presidente Prudente, n.º 17, julho de 1995.
5.
CARLOS, A.F.A. (org). A geografia na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1999.
6.
CASTRO, I. et alli. Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
7.
CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. 3. Ed. Campinas: Papirus, 1994.
8.
DEIRÓ, M. L. C. As belas mentiras - ideologias subjacentes aos textos didáticos. 11. Ed. São
Paulo: Moraes, s/d.
9.
DEMO, P. Pesquisa - princípios científico e educativo. São Paulo: Cortez/Autores Associados,
2002.
10. FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade - um projeto em parceria. São Paulo: Loyola, 1991.
11. __________ . Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. Campinas: Papirus, 1994.
12. LACOSTE, Y. A geografia - isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas:
Papirus, 2002.
13. MORAES, R. O que é ensinar. São Paulo: EPU, 1986.
14. MOREIRA, R. O círculo e a espiral - a crise paradigmática do mundo moderno. Rio de
Janeiro: Obra Aberta, 2000.
15. __________ . Geografia: teoria e crítica - o saber posto em questão. Petrópolis: Vozes, 1982.
16. __________ . O que é geografia? São Paulo: Brasiliense, 2003
17. MOYSES, L. O desafio de saber ensinar. Campinas: Papirus/EDUFF, 1994.
18. OLIVEIRA, A. U. (Org.). Para onde vai o ensino da geografia- São Paulo: Contexto, 2002.
19. PARRA, N. Metodologia dos recursos audiovisuais. São Paulo: Saraiva, 1973.
20. PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar. São Paulo: T.A. Queiroz, 2000.
21. PONTUSCHKA, N. N. ( Org.). Ousadia no diálogo - interdisciplinaridade na escola pública.
São Paulo: Loyola, 2000.
22. __________ ; OLIVEIRA, A.U. (orgs) Geografia em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2002.
23. RESENDE, M. S. A geografia do aluno trabalhador - caminhos para uma prática de ensino.
São Paulo: Loyola, 2001.
24. REVISTA TERRA LIVRE - AGB. O ensino de geografia em questão e outros temas. São
Paulo, n.º 02, junho de 1987.
25. REVISTA TERRA LIVRE - AGB, Geografia, política e cidadania. São Paulo, n.º 11-12,
agosto de 1993/agosto de 1993.
26. REVISTA DE EDUCAÇÃO - AEC, O currículo para além das grades. Brasília, n.º 97, ano
24, out/dez de 1995.
27. ROCHA, G. O. R. O papel do professor de geografia na formação de uma sociedade crítica.
Revista Ciência Geográfica. Bauru, IV – (10): maio/agosto, 1998.
28. __________ . A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o ensino de geografia.
Revista Ciência Geográfica. Bauru, VI – Vol. II – (16): maio/agosto, 2000.
29. RUA, J. et alli. Para ensinar geografia - contribuição para o trabalho com 1.º e 2.º graus. Rio
de Janeiro: ACCESS, 2000.
30. SANTOS, M. Espaço e sociedade. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 1982.
31. __________ . Espaço e método. 3. Ed. São Paulo: Nobel, 1992.
32. SIMÕES. M. R. Dramatização para o ensino de geografia. Rio de Janeiro: Jobran/Coautor,
2004.
33. VEIGA, I. P. A. (Org.) Técnicas de ensino: por que não? 2. Ed. Campinas: São Paulo, 2000.
34. VESENTINI, J. W. (Org. ) Geografia e ensino - textos críticos. Campinas: Papirus, 2002.
35. __________ . Para uma geografia crítica na escola. São Paulo: Ática, 1992.
36.
VLACH, V. Geografia em debate. Belo Horizonte: Lê, 2002.
PRÁTICA DE ENSINO EM HISTÓRIA II
Período: 8º
Carga horária: 100 horas-aula
Ementa: A História e os desafios da formação docente: a transposição didática dos conteúdos. O
livro didático de História e suas representações. A educação étnico-racial e o ensino de História.
As tecnologias e o fazer histórico na sala de aula. A escola como espaço interdisciplinar: diálogos
entre a História e as demais áreas de conhecimento.
Bibliografia Básica
1.
BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. 7ª ed., São Paulo: Contexto,
2002.
2.
DAVIES, Nicholas (Org.) Para além dos conteúdos no ensino da História. Niterói: EDUFF,
2000.
3.
KARNAL, Leandro (org.) História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 3ª ed. São
Paulo: Contexto, 2005.FONSECA, Dagoberto José. Políticas Públicas e Ações Afirmativas.
São Paulo: Selo Negro, 2009.
4.
FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de História: experiências,
reflexões e aprendizados. Campinas: Papirus, 2003.
5.
LIMA, Maria Nazaré Mota de (Org.). Escola Plural. A diversidade está na sala. 2ª ed., São
Paulo: Cortez; Brasília:UNICEF; Salvador: CEAFRO, 2006.
6.
TEDESCO, Juan Carlos (Org.). Educação e Novas Tecnologias: esperança ou incerteza? São
Paulo: Cortez, Brasília: Unesco, 2004.
Bibliografia Complementar
1.
FERRO, Marc. A manipulação da História no ensino e nos meios de comunicação. São Paulo:
IBRASA, 1999.
2.
MATTOS, Ilmar Rohloff de (Org.). Ler e escrever para contar: documentação, historiografia
e formação do historiador. Rio de Janeiro: Acess, 1998.
3.
NUNES, Silma do Carmo. Concepções de mundo no ensino de História. Campinas: Papirus,
1996.
4.
SANTOS, Gevanilda. Relações raciais e desigualdades no Brasil. São Paulo: Selo Negro,
2009.
5.
VÁRIOS AUTORES. Racismo no Brasil. São Paulo: Peirópolis, ABONG, 2002.
TCC I
Período: 8º
Carga horária: 60 horas-aula
Ementa: Pesquisa como processo. Pesquisa em Ciências humanas. Tipos de pesquisa. Processo
científico de investigação. Noções elementares de coleta de dados. Elaboração do projeto do
Trabalho de Conclusão de Curso.
Bibliografia Básica
1.
BARROS, José D’Assunção. O projeto de pesquisa em História: da escolha do tema ao
quadro teórico. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
2.
CARLOS, Ana Fani. Alessandrini. Novos caminhos da Geografia. São Paulo: Atlas, 1987.
3.
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez, 1991.
4.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1988.
5.
______. Métodos e técnicas de pesquisa social. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 1991.
6.
MINAYO, Maria Cecília de S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 5 ed.
Petrópolis, Vozes, 1996.
Bibliografia Complementar
1.
BRANDÃO, Carlos R. (org.). Pesquisa participante. 5 ed. São Paulo, Cortez, 1992.
2.
DEMO,Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 1987
3.
LAKATOS, Eva. M.; MARCONI, Marina de A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas,
1986.
4.
______. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1990.
5.
______. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1993.
6.
PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2011.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Período: 9º
Carga Horária: 200 horas-aula
Ementa: Atividades de caráter acadêmico, científico, técnico e/ou cultural, desempenhadas no
campo de conhecimento da História, Geografia e Educação, escolhidas a critério do aluno –
respeitando as diretrizes fixadas no Projeto Pedagógico – e acompanhadas pelo Colegiado do
Curso, primando pela interdisciplinaridade e pelo investimento contínuo na articulação entre teoria
e prática.
Bibliografia Básica
Este componente curricular não possui bibliografia básica específica.
Bibliografia Complementar
Este componente curricular não possui bibliografia complementar específica.
GEOGRAFIA RURAL
Período: 9º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1. A Geografia e a questão agrária: os clássicos no mundo e no Brasil. 2. A geografia
agrária: abordagens teórico-metodológicas; 3. O Espaço agrário: a relação homem e natureza e
modos de produção; 4. A questão agrária: revoluções e contra-revoluções. 5.A formação do espaço
Agrário Brasileiro; 6. Apropriação capitalista da terra e a territorialidade camponesa. 6. O espaço
agrário na Amazônia. 7. Produção do espaço agrário e sustentabilidade. 8. O novo mapa agrário do
espaço paraense.
Bibliografia Básica
1. AMIN, Samuel. A questão agrária e o capitalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
2. DINIZ, José A.F. Geografia da Agricultura. São Paulo: DIFEL, 1984.
3. MARIGUELA, Carlos. A Questão Agrária - Textos dos Anos Sessenta. Brasil Debates, Col.
Brasil Estudos, 2. Ed. 1980.
Bibliografia Complementar
1.
AGB (ORG.) Geografia e lutas sociais. São Paulo: Ed. terra Livre, 2002.
2.
ANDRADE, Manuel Correia de. Lutas Camponesas no Nordeste. Série Princípios, São Paulo:
Ática, 2001.
3.
__________ . Terra e Homem no Nordeste. São Paulo: Ed. Ática, 2002.
4.
__________ . Geografia Econômica. São Paulo: Ed. Ática, 2000.
5.
__________ . O nordeste e a questão regional. Série Princípios, São Paulo: Ática, 1996.
6.
__________ . Capítulos de Geografia do Nordeste. Recife: União Geográfica Internacional
Comissão Nacional do Brasil, 2000.
7.
BECKER, Berta O Uso Político do Território: Questões a partir de uma Visão do Terceiro
Mundo. In: Abordagens Políticas da Especialidade, UFRJ, Dept. de Geografia, 1985, p. 01-21.
8.
BLINKHORN, M. A guerra civil espanhola. Ática, Série Princípios, 1994.
9.
CASTRO, E. & HEBETE, J. (Org.). Na Trilha dos Grandes Projetos. Belém: Cadernos 10 do
NAEA, 1988.
10. DERRAU, MAX. Os gêneros de vida, os mecanismos e os sistemas econômicos, In: Tratado
de Geografia Humana, Lisboa, 1954.
11. DEPTº DE ECONOMIA RURAL (Org.) FCA-Botucatu - A Mão-de-Obra volante na
Agricultura. CNPq/UNESP, São Paulo: Livraria e Editora Polis, 1982.
12. ENGELS, Friederich. Barbárie e Civilização. In: Origem da Família, da Propriedade Privada
e do Estado, cap. IX, pp. 213-237.
13. GANCHO, K.V. ( Org.) A posse da terra. São Paulo: Ed. Ática, 2004.
14. GUIMARÃES, Alberto Passos. Da Revolução Agrícola a Revolução Industrial. In: A Crise
Agrária Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979, pp. 25-37.
15. IANNI, Otávio. A Luta pela Terra. Petrópolis: Ed. Vozes, 1981.
16. LA BLACHE, Paul V. Tratado de Geografia Humana, Lisboa: Cosmos, 1954.
17. LEAL, Laurindo (Coord.). Reforma Agrária da Nova República - Contradições a Alternativas.
2. Ed. São Paulo: Cortez/EDC, 2001.
18. LINHARES, Maria Yeda. História da Agricultura Brasileira. Combate e Controvérsias, São
Paulo: Brasiliense, 1981.
19. LOUREIRO, Violeta R. Amazônia, estado homem, natureza. Belém: CEJUP, 1992.
20. MARTINEZ, Paulo. Reforma Agrária - Questão da Terra ou de Gente?. São Paulo: Moderna,
1987.
21. MARTINS, José de Souza. A Militarização da Questão Agrária no Brasil. Petrópolis: Vozes,
2000.
22. MEGALE, Januário Francisco. Geografia Agrária - Objeto e Método. USP, Instituto de
Geografia, Métodos em Questão, 12, São Paulo, 1976.
23. OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A Geografia das Lutas no Campo. 2. Ed. São Paulo:
Contexto, 2002.
24. ___________. Modo Capitalista de Produção e Agricultura. Série Princípios, 2. Ed. São
Paulo: Ática, 1987.
25. ___________. Amazônia, Monopólio, Expropriação e Conflitos. Campinas: Papirus, 2003.
26. ___________. Agricultura Camponesa no Brasil, São Paulo: Ática, 1991.
27. OLIVEIRA, A.E. e LENAP. Amazônia: A Fronteira Agrícola 20 anos depois. Museu Paraense
Emílio Goeldi, 2. Ed. 1992.
28. SILVA, José Graziano. A Modernização Dolorosa. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2000.
29. ___________. Progresso Técnico e Relações de Trabalho na Agricultura. São Paulo: Hucitec,
1981.
30. SOUZA, Carlos Henrique L. de. O processo de territorialização camponesa no sul/sudeste do
Pará, Meio-ambiente e sociedade. In: anais XI Encontro nacional de geografia agrária,
Maringá-PR, 1992.
31. VEIGA, José Eli. O Que é Reforma Agrária. Coleção Primeiros Passos, 11. Ed. São Paulo:
Brasiliense, 2001.
GEOGRAFIA URBANA
Período: 9º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: 1. A noção de cidade e de urbano na geografia. 2. A formação das cidades na perspectiva
histórico-geográfica. 3. Vertentes teórico-metodológicas da análise urbana. 4. Rede urbana e
organização do espaço. 5. A cidade capitalista e sua organização interna: agentes, processos,
valorização e conflitos urbanos. 6. A especificidade da urbanização no Brasil: (re)estruturação da
rede urbana e dinâmicas intra-urbanas. 7. O processo de urbanização na Amazônia: (re)definição
da rede urbana e significado do urbano na fronteira econômica e tecno-ecológica.
Bibliografia Básica
1. CORRÊA, Roberto Lobato. A periodização da rede urbana da Amazônia. Revista Brasileira de
Geografia. Rio de Janeiro, v. 4, n.3, p. 39-68, jul./set. 1987.
2. __________ . A organização urbana. IN: IBGE. Geografia do Brasil: região Norte. Rio de
Janeiro, IBGE, 2002, p.255-71, v. 3.
3. FEITAG, B. Teorias da cidade. Campinas: Papirus, 2006.
4. LEFEBVRE, H. A revolução urbana. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.
5. OLIVEIRA, José Aldemir. Cidades na selva: urbanização das Amazonas. São Paulo, 1994.
Tese (Doutorado) - FFLCH, USP.
6. SPOSITO, M. E. Capitalismo e urbanização. 15ª edição. São Paulo: Contexto, 2010.
7. TOURINHO, Helena. Planejamento urbano em área de fronteira econômica: o caso de
Marabá. Belém, 1991. Dissertação (Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento) NAEA, UFPA.
Bibliografia Complementar
1.
BECKER, Bertha K. Amazônia. São Paulo: Ática, 2002. Cap. 3. (Série Princípios).
2.
CASTRO, Edna
et alii (Orgs). Industrialização e grandes projetos: desorganização e
reorganização do espaço. Belém: Editora da UFPA, 2004. p. 91-120.
3.
COELHO, Maria Célia. Cidades da Amazônia em busca de novas interpretações e de novos
rumos. In: FATHEUR, Thomas et alii (Orgs). Amazônia: estratégias de desenvolvimento
sustentável. Belém: FASE, 1998. p. 47-53.
4.
__________ . A periodização da rede urbana da Amazônia. Revista Brasileira de Geografia,
Rio de Janeiro, v. 4, n.3, p. 39-68, jul./set. 1987.
5.
FATHEUR, Thomas et alii (Orgs). Amazônia: estratégias de desenvolvimento sustentável.
Belém: FASE, 1998. p. 47-53.
6.
FERREIRA, José Freire et alii Rede urbana amazônica: subsídios para uma política de
desenvolvimento regional e urbano. Belém: NAEA/UFPA, 1977. (Cadernos NAEA, 3).
7.
FREIRE, Ana Lucy. Porto Velho: o migrante no espaço novo. São Paulo, 1994. Dissertação
(Mestrado) - FFLCH, USP.
8.
MACHADO, Lia Osório. Sistemas longe do equilíbrio e reestruturação espacial na Amazônia.
In. MAGALHÃES, Sônia Barbosa et alii (Orgs). Energia na Amazônia. Belém: MPEG, 1996.
p. 835-59.
9.
MITSCHEIN, Thomas et alii. Urbanização selvagem e proletarização passiva na Amazônia: o
caso de Belém. Belém: Cejup, 2002.
10. OLIVEIRA, Janete Marília G. C de. Produção e apropriação do espaço urbano: a
verticalização em Belém (PA). São Paulo, 1992. Tese (Doutorado em Geografia Humana) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.
11. RIBEIRO, Miguel Ângelo C. Amazônia: a dinâmica do urbano e a qualidade ambiental. Rio
de Janeiro: IBGE, [1994?]. (mimeo.) RIBEIRO, Miguel Ângelo C. Amazônia: a dinâmica do
urbano e a qualidade ambiental. Rio de Janeiro: IBGE, [1994?]. (mimeo.)
12. RODRIGUES, Edmilson B. Aventura urbana: urbanização, trabalho e meio ambiente em
Belém. Belém: NAEA, 1996.
13. TORRES, Haroldo da Gama. Migração e o migrante de origem urbana na Amazônia In:
LÉNA, Philippe; OLIVEIRA, Adélia. Amazônia: a fronteira agrícola 20 anos depois. Belém:
MPEG, 1991. p. 291-304.
14. TRINDADE JR, Saint-Clair C. A cidade dispersa: os novos espaços de assentamentos em
Belém e a reestruturação metropolitana. São Paulo, 1998. Tese (Doutorado em Geografia
Humana) - FFLCH, USP.
15. __________ . A natureza da urbanização na Amazônia e sua expressão metropolitana. Revista
Humanitas, Belém, v. 16, n.1, 1998.
16. __________ . Assentamentos urbanos e reestruturação metropolitana: o caso de Belém.
Revista Geousp, São Paulo, v. 4, n.1, p. 39-52,1998.
17. __________ . Faces da urbanização na fronteira: a dinâmica metropolitana de Belém no
contexto da urbanização amazônica. Revista Experimental, São Paulo, v. 4, n.1, 1998.
__________ . Produção do espaço e uso do solo urbano em Belém. Belém: NAEA/UFPA,
18.
1997.
HISTÓRIA DA AMÉRICA II
Período: 9°
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: História do continente americano desde o século XIX até a atualidade, enfatizando: os
processos de emancipação escrava e conformação política e territorial dos Estados americanos; o
neocolonialismo nos séculos XIX e XX; o imperialismo e o populismo na América Latina no
século XX; os processos de industrialização; os regimes autoritários; e a resistência operáriocamponesa.
Bibliografia Básica
1.
CARDOSO, Ciro Flamarion & BRIGNOLLI, Héctor Perez. História Econômica da América
Latina. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
2.
DONGHI, Túlio Halperín. História da América Latina. São Paulo: Círculo do Livro, 1982.
3.
FERREIRA, J. O movimento operário norte-americano. São Paulo: Ática, 1995.
4.
FOHLEN, C. América Anglo-saxônica: de 1815: de 1815 à atualidade. São Paulo: Companhia
das Letras, 1995.
5.
FONER, Eric. Nada além da liberdade: a emancipação e seu legado. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1988.
6.
HOBSBAWM, E. J. A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo:
Companhia das Letras, 1997.
7.
LEUCHTENBURG, William E. (org.). O século inacabado: a América desde 1900. Rio de
Janeiro: Zahar, 1976.
8.
PRADO, Maria Lígia Coelho. América Latina no século XIX: tramas, telas e textos. São
Paulo: Edusp/Bauru, Ed. Sagrado Coração, 1999.
9.
TOURAINE, Alan. Palavra e sangue: política e sociedade na América Latina. São
Paulo/Campinas: Trajetória Cultural/Unicamp, 1989.
Bibliografia Complementar
1.
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. São Paulo: Edusp, 2004, volumes 3, 4,
5, 6 e 7.
2.
KARNAL, Leandro. História dos Estados Unidos. São Paulo: Contexto, 2011.
3.
RAMINELI, Ronald & AZEVEDO, Cecília (orgs.). História das Américas: novas
perspectivas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.
4.
ROMERO, José Luis. América Latina: as cidades e as ideias. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,
2009.
5.
PRADO, Maria Ligia. O Populismo na América Latina. São Paulo: Brasiliense, 1981.
HISTÓRIA INDÍGENA
Período: 9º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: História Indígena enquanto campo de estudo. Política e legislação indigenista no Brasil.
Os povos indígenas ao longo da História do Brasil. A temática indígena em sala de aula.
Bibliografia Básica
1.
ALBERT, Bruce & RAMOS, Alcida Rita. Pacificando o branco: cosmologias do contato no
norte-amazônico. São Paulo: Editora Unesp, Imprensa Oficial do Estado, Seleções de textos,
2002.
2.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino. Metamorfoses Indígenas. Identidade e cultura nas
aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003.
3.
AMOROSO, Marta. Crânios e Cachaça: coleções ameríndias e exposições no Século XIX. In:
Revista de História. Departamento de História. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas. Universidade de São Paulo. n. 1 (1950). São Paulo: Humanitas / FFLCH / USP. Nº
154, 1º Semestre/2006, p. 119-150.
4.
BORGES, Paulo Humberto Porto. “Uma Visão Indígena da História”. In: Cadernos CEDES,
19, no. 49, 1999, p. 92-106.
5.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Cultura com Aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify,
2009.
6.
_______ (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; SECULT;
FAPESP, 1992.
7.
LIMA, Antonio Carlos de Souza. “Diversidade Cultural e Política Indigenista no Brasil”. In:
Revista Tellus, n° 3, Campo Grande, Outubro/2002.
8.
LUCIANO, Gersem dos Santos - Baniwa. O índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre
os povos indígenas no Brasil de Hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Continuada: LACED/Museu Nacional, 2006.
9.
MONTEIRO, John Manuel. Tupis, tapuias e historiadores: estudos de história indígena e do
indigenismo. Tese (Livre Docência). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2001.
10. _______. “As ‘Raças’ Indígenas no Pensamento Brasileiro do Império”. In: MAIO, Marco
Chor (Org.). Raça, Ciência e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/CCBB, 1996, p. 1522.
11. OLIVEIRA, João Pacheco e FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. A Presença Indígena na
Formação do Brasil. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006.
12. PORRO, Antônio. O povo das águas. Ensaios de etno-história amazônica. Rio de Janeiro:
Vozes, 1995.
13. RICARDO, Beto & RIBEIRO, Fany (editores gerais). Os povos indígenas no Brasil.
2006/2010. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2011.
14. SILVA, Aracy Lopes da & GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. (Org.) A temática indígena na
escola. Novos Subsídios para Professores de 1º e 2º Graus. Brasília: MEC/MARI e UNESCO,
1995.
15. VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Inconstância da Alma Selvagem e outros ensaios de
antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2002.
Bibliografia Complementar
1.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul.
Séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
2.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na História do Brasil. Rio de Janeiro: FGV,
2010.
3.
ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos Índios: um projeto de civilização no Brasil do
século XVIII. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1997.
4.
CUNHA, Manuela Carneiro da. “Pensar os Índios: Apontamentos sobre José Bonifácio”. In:
Antropologia do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986.
5.
_______ (org.). Legislação Indígena no Século XIX: Uma Compilação: 1808-1889. São
Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, Comissão Pró-Índio de São Paulo, 1992.
6.
FAUSTO, Carlos. Os Índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.
7.
FERNANDES, Joana. Índio – Esse nosso desconhecido. Cuiabá: Editora da UFMT, 1993.
8.
FUNARI, Pedro Paulo; PIÑON, Ana. A temática indígena na escola: subsídios para os
professores. São Paulo: Editora Contexto, 2011.
9.
KERN, Arno Alvarez. “Fronteiras culturais: impactos e contatos na descoberta e na
colonização do Brasil”. Revista da SBPH. Curitiba (18): p. 19-25, 2000.
10. LIMA, Antonio Carlos de Souza. Um Grande Cerco de Paz, Poder de Tutela, Indianidade e
formação do estado no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1995.
11. MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo.
São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
12. _______________. Guia de Fontes para a História Indígena e do Indigenismo em Arquivos
Brasileiros: Acervos das Capitais. 1. ed. São Paulo: Núcleo de Hístória Indígena e do
Indigenismo/Fapesp, 1994.
13. WRIGHT, Robin M. História indígena e do indigenismo no Alto Rio Negro. Campinas, SP:
Mercado de Letras; São Paulo: ISA, 2005.
TCC II
Período: 9º
Carga Horária: 60 horas-aula
Ementa: Métodos e técnicas de pesquisa. Planejamento, organização e desenvolvimento do
trabalho de conclusão de curso (TCC). Elementos formais e metodológicos de pesquisa. Condução
da pesquisa e comunicação dos seus resultados. Normas para Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos.
Bibliografia Básica
1.
ANDRADE, M. M. de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
2.
CARVALHO, M. C. Construindo o Saber: metodologia Científica, Fundamentos e Técnicas.
14. ed., Campinas: Papirus, 2003.
3.
DEMO, P. Introdução à Metodologia da Ciência. 2. ed., São Paulo: Atlas, 2003.
4.
GIL, A. C. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2002.
5.
HUBNER, M. M. Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação de Mestrado
e Doutorado. Pioneira: Mackenzie, 1998.
6.
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A Metodologia do Trabalho Científico. 6. ed., São
Paulo: Atlas, 200l.
7.
__________. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2002.
8.
__________. Pesquisa como princípio educativo. São Paulo: Cortez Editores, 2002.
9.
LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do Saber Eurocentrismo e Ciências Sociais:
Perspectivas Latino-Americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
10. MÁTTAR NETO, J. A. Metodologia Científica na Era da Informática. São Paulo: Saraiva,
2003.
11. MINAYO, M. C. de S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 19. ed.,
Petrópolis: Vozes, 2001.
12. OLIVEIRA, Lívia de. Estudo metodológico e cognitivo do mapa. São Paulo: USP, 1978.
13. PASSINI, Elza Y. Alfabetização cartográfica. Belo Horizonte: Lê, 1994.
14. SANTOS, M. Espaço & Método. São Paulo: Nobel, 1992.
Bibliografia Complementar
1.
BRANDÃO, G. A Crise dos Paradigmas e a Educação. São Paulo: Cortez, 1994.
2.
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez Editores, 2000.
3.
CRUZ, C. & RIBEIRO, U. Metodologia Científica: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Axel
Books do Brasil, 2003.
4.
DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 2002.
5.
INÁCIO FILHO, G. A monografia no Curso de Graduação. Uberlândia: Edufu, 1992.
6.
JAPIASSU, H. Introdução ao pensamento epistemológico. 5. ed. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 2002.
7.
OLIVEIRA, M. A. de. Ética e práxis histórica. São Paulo: Ática, 2004.
8.
PÁDUA, E. M. de. Metodologia da Pesquisa: abordagem teórico-prática. 9. ed., Campinas:
Papirus 2003.
9.
RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 2001.
10. RUIZ, J. A. Metodologia Científica: Guia para Eficiência nos estudos. 5. ed., São Paulo:
Atlas, 2003.
11. SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 22. ed., São Paulo: Cortez, 2002.
ANEXO E - DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS POR NÚCLEO
NÚCLEO
DISCIPLINAS
CH
Origem e Evolução do Conhecimento – OEC
75
Sociedade, Natureza e Desenvolvimento – SND
75
Formação Interdisciplinar
Estudos Integrativos da Amazônia – EIA
75
(400)
Lógica, Linguagens e Comunicação - LLC
90
Seminários Integradores - SINT
40
Interação na Base Real – IBR
45
LIBRAS
60
Formação Pedagógica
Psicologia da Educação
60
(240)
Didática
60
Política e legislação Educacional
60
História Antiga
60
Introdução aos Estudos Históricos
60
História da África
60
História Medieval
60
História Moderna
60
História Contemporânea I
60
Formação Específica em
História da América I
60
História
História do Brasil Colonial
60
(900)
História da Amazônia I
60
História do Brasil Imperial
60
História Contemporânea II
60
História do Brasil Republicano
60
História da Amazônia II
60
História da América II
60
História Indígena
60
Geografia Humana
60
(Carga Horária)
Formação Específica em
Geografia
História do Pensamento Geográfico
60
(900)
Geografia Econômica
60
Geografia Física
60
Geografia Política
60
Cartografia
60
Geografia Regional
60
Dinâmica da Terra
60
Hidroclimatologia
60
Geografia do Brasil
60
Biogeografia
60
Geografia da Amazônia
60
Geografia da População
60
Geografia Rural
60
Geografia Urbana
60
Prática de Ensino em Geografia I
100
Práticas de Ensino
Prática de Ensino em História I
100
(400)
Prática de Ensino em Geografia II
100
Prática de Ensino em História II
100
Estágio Docente em Geografia I
100
Estágios Docentes
Estágio Docente em História I
100
(400)
Estágio Docente em Geografia II
100
Estágio Docente em História II
100
Trabalho de Conclusão de Curso
TCC I
60
(120)
TCC II
60
Atividades Complementares
(200)
Atividades Complementares
200
TOTAL
3.560
ANEXO F – DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS POR PERÍODO CURRICULAR
Período I
CH
Prática
Teoria
Estudos Integrativos da Amazônia – EIA
75
Interação na Base Real – IBR
45
Lógica, Linguagens e Comunicação – LLC
90
90
Origem e Evolução do Conhecimento - OEC
75
75
Seminários Integradores – SINT
40
40
Sociedade, Natureza e Desenvolvimento – SND
75
75
Total
400
45
355
Período II
CH
Prática
Teoria
Geografia Humana
60
12
48
História Antiga
60
12
48
História do Pensamento Geográfico
60
12
48
Introdução aos Estudos Históricos
60
12
48
LIBRAS
60
12
48
Psicologia da Educação
60
12
48
Total
360
72
288
Período III
CH
Prática
Teoria
Geografia Econômica
60
12
48
Geografia Física
60
12
48
Geografia Política
60
12
48
História da África
60
12
48
História Medieval
60
12
48
História Moderna
60
12
48
Total
360
72
288
Período IV
CH
Prática
Teoria
Cartografia
60
12
48
Didática
60
12
48
Geografia Regional
60
12
48
75
45
História Contemporânea I
60
12
48
História da América I
60
12
48
História do Brasil Colonial
60
12
48
Total
360
72
288
Período V
CH
Prática
Teoria
Dinâmica da Terra
60
12
48
Hidroclimatologia
60
12
48
História da Amazônia I
60
12
48
História do Brasil Imperial
60
12
48
Prática de Ensino em Geografia I
100
50
50
Prática de Ensino em História I
100
50
50
Total
440
148
292
Período VI
CH
Prática
Teoria
Estágio Docente em Geografia I
100
50
50
Estágio Docente em História I
100
50
50
Geografia do Brasil
60
12
48
História Contemporânea II
60
12
48
História do Brasil Republicano
60
12
48
Total
380
136
244
Período VII
CH
Prática
Teoria
Biogeografia
60
12
48
Estágio Docente em Geografia II
100
50
50
Estágio Docente em História II
100
50
50
Geografia da Amazônia
60
12
48
História da Amazônia II
60
12
48
Total
380
136
244
Período VIII
CH
Prática
Teoria
Geografia da População
60
12
48
Política e Legislação Educacional
60
12
48
Prática de Ensino em Geografia II
100
50
50
Prática de Ensino em História II
100
50
50
TCC I
60
12
48
Total
380
136
244
Período IX
CH
Prática
Teoria
Atividades Complementares
200
Geografia Rural
60
12
48
Geografia Urbana
60
12
48
História da América II
60
12
48
História Indígena
60
12
48
TCC II
60
12
48
Total
500
60
440
200
Obs: A proporção de carga-horária de teoria e prática de cada disciplina pode ser modificada,
dependendo do professor que assume cada disciplina.
ANEXO G - DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DOS CURSOS DE LICENCIATURA
ANEXO H – NORMATIZAÇÃO PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES –
ICED/UFOPA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 12 DE SETEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre as atividades complementares dos
estudantes do Instituto de Ciências da Educação da
Universidade Federal do Oeste do Pará-UFOPA.
A DIRETORA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO, da Universidade Federal do Oeste do
Pará (UFOPA), no uso das suas atribuições conferidas pela Portaria nº 129, de 03 de fevereiro de
2012, e considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais de Graduação, resolve expedir a
presente Instrução Normativa.
Art.1º As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam, por
avaliação, o reconhecimento de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do aluno,
inclusive adquiridos fora do ambiente acadêmico.
Art.2º Conforme a Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, as atividades
complementares constituem-se como requisitos obrigatórios para a integralização curricular,
sendo 200 horas para as licenciaturas que compõem o Instituto de Ciências da Educação.
Parágrafo único: A Resolução CNE/CP 01, de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes
Curriculares do Curso de Pedagogia, determina 100 horas da sua carga horária para as atividades
complementares.
Art.3º Os programas nomearão uma comissão especialmente para receber, avaliar e relatar as
atividades complementares deferidas para fins de integralização do curso.
Art.4º As atividades complementares estão definidas como atividades tais como:
I – Participação em eventos;
II – Atuação em Núcleos temáticos;
III – Atividades de extensão;
IV – Estágios Extracurriculares
V – Atividades de iniciação científica e de pesquisa;
VI – Publicação de trabalhos;
VII – Participação em órgãos colegiados;
VIII – Monitoria;
IX – Componentes curriculares do curso ou de outro curso não obrigatórios;
X – Outras atividades a critério do colegiado previstas no projeto pedagógico do curso.
Art.5º O colegiado ou a comissão instituída por este deverá definir máximo e mínimo para cada
atividade constante no artigo 4º.
Parágrafo único. As atividades complementares não podem ser creditadas a apenas um item do
artigo 4º.
Art.6º Os documentos para o computo das atividades complementares serão estabelecidos e
recebidos pela comissão avaliadora instituída pelo programa.
Art.7º Os documentos que comprovem a realização de atividades complementares são de
responsabilidade do discente.
Art.8º A comissão definida pelo programa poderá estabelecer ao seu critério um calendário que
para a realização de suas atividades, considerando o calendário acadêmico.
Art.9º O computo total de atividades complementares deve ser encaminhado para a gestão
acadêmica no mesmo período de lançamento de notas da turma formanda, em forma de
relatório final constando o nome dos alunos que cumpriram a carga horária mínima estabelecida.
Parágrafo único. O não cumprimento do exposto no artigo implicará na não integralização do
discente ao curso.
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de cada Programa.
Art. 11. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém, 12 de setembro de 2013.
SOLANGE HELENA XIMENES ROCHA
Diretora do Instituto de Ciências da Educação da UFOPA
ANEXO I – NORMATIZAÇÃO PARA ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA UFOPA
ANEXO J – NORMATIZAÇÃO PARA ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO –
ICED/UFOPA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 12 DE SETEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre o estágio curricular obrigatório dos
estudantes do Instituto de Ciências da Educação da
Universidade Federal do Oeste do Pará-UFOPA.
A DIRETORA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO, da Universidade Federal do Oeste do
Pará (UFOPA), no uso das suas atribuições conferidas pela Portaria nº 129, de 03 de fevereiro de
2012, e considerando a Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, e a Instrução
Normativa/UFOPA nº 006, de 10 novembro de 2010, resolve expedir a presente Instrução
Normativa.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. A presente Instrução Normativa fixa diretrizes e normas básicas para o funcionamento
do estágio curricular obrigatório dos cursos de Graduação do Instituto de Ciências da Educação
da Universidade Federal do Oeste do Pará, em conformidade com a Lei n.º 11.788, de 25 de
setembro de 2008, e com a Instrução Normativa/UFOPA nº 006 de 10 novembro de 2010.
CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ESTÁGIO
Art. 2º. O estágio na UFOPA, por força da legislação vigente, é ato educativo escolar
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho
produtivo dos discentes.
Parágrafo único. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o
itinerário formativo do discente.
Art. 3º. São objetivos do estágio curricular na UFOPA:
I - a aprendizagem de competências próprias da atividade profissional por meio de
contextualização dos conteúdos curriculares e desenvolvimento de atividades específicas ou
associadas à área de formação do estagiário, objetivando o preparo do educando para a vida
cidadã e para o trabalho;
II - possibilitar a ampliação de conhecimentos teóricos aos discentes em situações reais de
trabalho;
III - proporcionar aos discentes o desenvolvimento de habilidades práticas e o aperfeiçoamento
técnico-cultural e científico, por intermédio de atividades relacionadas a sua área de formação;
IV - desenvolver habilidades e comportamentos adequados ao relacionamento sócioprofissional.
Art. 4º. O estágio classifica-se em obrigatório e não-obrigatório, conforme determinação das
diretrizes curriculares da área de ensino e do projeto pedagógico do curso.
§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é
requisito para aprovação, para a integralização curricular e para a obtenção de diploma.
§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida carga
horária regular e obrigatória.
§ 3º O estágio não-obrigatório poderá ser admitido como atividade curricular, conforme estiver
previsto no projeto pedagógico do curso.
CAPÍTULO III
DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Artigo 5º. A duração do Estágio Supervisionado obedece a legislação do Conselho Nacional de
Educação por meio da Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, que instituiu Diretrizes
Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior,
tornando obrigatória uma carga horária de não menos de 400 h (quatrocentas horas) em curso
de graduação de licenciatura plena.
Parágrafo Único – Não se aplica ao artigo anterior o Curso de Pedagogia que de acordo com a
Resolução CNE/CP 1, de 15 de maio 2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, o curso terá 300 (trezentas) horas dedicadas ao
Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto
pedagógico da instituição.
CAPÍTULO IV
DO NÚCLEO DE ESTÁGIO
Art. 6º. O Núcleo de Estágio do ICED será integrado por todos os professores que supervisionam
os estágios nas licenciaturas e administrada por um Coordenador.
Parágrafo único: Ao coordenador do Núcleo de Estágio será atribuída a carga horária de 20
horas.
Art. 7°. Compete ao Núcleo de Estágio:
I.
Acompanhar o desenvolvimento dos estágios curriculares no Projeto Pedagógico dos cursos da
Universidade.
II.
Colaborar para a realização dos convênios de cooperação entre UFOPA e 5ª URE, SEMED e
escolas privadas e instituições não escolares;
III.
Prestar informações estatísticas referentes ao número de discentes estagiários locais,
com
IV.
carga horária e outros dados relativos aos estágios curriculares.
Providenciar seguro de acidentes pessoais em favor do estudante, junto ao órgão
competente da Universidade.
V.
Acompanhar a realização dos estágios através dos cronogramas, planejamentos e
relatórios;
VI.
Manter uma listagem atualizada com endereços das escolas e/ou instituições da rede
pública e particular;
VII.
VIII.
Providenciar materiais de apoio à organização dos estágios;
Resolver problemas decorrentes da realização dos estágios;
IX.
Promover a integração pedagógica entre os Cursos de Licenciatura.
X.
Avaliar o desenvolvimento dos estágios Curriculares no âmbito do Instituto e da
Universidade.
XI.
Incentivar a produção científica – de professores das escolas e acadêmicos do curso através de registro das situações vivenciadas nos estágios supervisionados.
XII.
Criar um espaço de discussão com os gestores e professores das escolas da educação
básica para discutir e avaliar a atuação dos estagiários e o estágio como prática
educativa.
XIII.
Mapear as necessidades das instituições receptoras com vistas a promover uma
intervenção direcionada à resolução dessas problemáticas;
XIV.
Promover discussões com acadêmicos para estudar, socializar e discutir as situações
encontradas no estágio;
XV.
Realizar um encontro anual e/ou semestral dos estágios curriculares do Instituto.
CAPÍTULO V
DA COORDENAÇÃO DE CURSO/PROGRAMAS
Art.8 º. Cabe a coordenação de cursos:
I.
Colaborar nas atividades desenvolvidas pelo coordenador de estágio, observando se
as mesmas estão de acordo com as normas da instituição, bem como, sugerir
mudanças para o melhor andamento das atividades de estágio.
II.
Fornecer informações no que se refere às atualizações no Projeto Pedagógico do
Curso;
III.
Repassar semestralmente as ofertas das disciplinas de Estágio para o Núcleo de
Estágio;
IV.
Orientar os docentes e discentes na realização dos estágios Curriculares do Curso;
V.
Desenvolver um trabalho integrado com os professores de estágio e com o Núcleo de
Estágio.
CAPÍTULO VI
DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE ESTÁGIO
Art. 9º. Entende-se por professor orientador de estágio, o docente lotado como professor da
disciplina de Estágio em determinado curso.
Art. 10. São atribuições dos professores orientadores de estágio:
I. Planejar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades planejadas para o estágio.
II. Registrar a frequência dos discentes estagiários.
III. Cumprir a carga horária diária estabelecida para o estágio curricular Obrigatório.
IV. Apresentar sugestões de melhoria do desenvolvimento do estágio curricular Obrigatório
V. Observar as normas e rotinas das instituições em que o estágio for desenvolvido.
VI. Orientar e supervisionar a execução das tarefas no plano de trabalho para o estágio.
VII. Orientar o discente estagiário quanto a sua atuação.
VIII. Fornecer subsídios teórico-práticos e bibliográficos contribuindo para aprendizagem do
educando.
IX. Avaliar o desempenho do discente estagiário e informá-lo continuamente sobre o mesmo de
acordo com o definido no projeto pedagógico do curso.
CAPÍTULO VII
DO ESTÁGIO
Art. 11. O campo de estágio deverá estar localizado no município de Santarém, somente
admitindo-se a sua realização em outros municípios em situações de excepcional interesse
acadêmico e mediante o referendo do conjunto de professores orientadores de Núcleo de
Estágio.
Art. 12. O/A aluno/a poderá solicitar redução da carga horária de estágio como prevê a
Resolução do CNE/CP nº 2, 19/02/2002 até o máximo de 200 (duzentas horas).
Parágrafo 1º - O estudante que já está em sala de aula, atuando comprovadamente como
professor e/ou gestor na rede oficial de ensino, poderá desenvolver um projeto especial
orientado pelo docente orientador de estágio.
§1º. A solicitação deverá ser encaminhada no semestre anterior à realização do estágio, ou no
máximo
até
o
término
da
segunda
semana
letiva
do
semestre
em
curso.
§2º. Para o encaminhamento do pedido o/a aluno/a deverá apresentar documentação que
comprove o exercício da docência concomitante ao período do estágio, no momento da
solicitação.
§3º O exercício da docência deverá ser coincidente o nível e modalidade de ensino com a
etapa/nível do estágio pretendido. Somente serão apreciados os pedidos que atenderem as três
condições mencionadas.
Parágrafo 2º - O estudante deverá fazer independente da sua condição de professor em
exercício, a sua matrícula nas disciplinas que compõem o Estágio Supervisionado de acordo com
a matriz curricular do curso.
CAPÍTULO VIII
DOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS
Art. 13. São obrigações do estagiário:
I - cumprir o horário previsto para o estágio;
II - conhecer e respeitar as normas administrativas da escola e/ou da instituição onde se realizará
o estágio;
III - responsabilizar-se pelo material que lhe for confiado durante o estágio;
IV - coletar dados e informações sobre a escola e a instituição onde irá atuar;
V - assistir ao número de aulas previstas no cronograma e/ou plano de ensino;
VI - apresentar ao professor orientador o plano de atividades a serem desenvolvidas durante o
estágio conforme orientado;
VII - articular-se com o profissional responsável direto pela supervisão do estágio na unidade
escolar/instituição, sistema escolar e extra-escolar, acordando horários, locais e as atividades
que serão desenvolvidas;
VIII
-
ministrar
aulas
e
as
atividades
que
lhe
forem
atribuídas;
IX - apresentar o resultado da avaliação das atividades realizadas durante o período de estágio
para o professor da turma e/ou responsável;
X - participar ativamente da vida da escola durante o período de estágio;
XI - comparecer aos encontros destinados à orientação individual e/ou em equipe.
XII - comportar-se dentro da ética e moral relativa à sua profissão, respeitando os profissionais
da educação que atuam na escola;
XIII - manter sigilo quanto a informações confidenciais que por ventura lhe forem feitas e
observações em relação à instituição, durante o estágio;
XIV - apresentar o relatório de estágio no prazo previsto;
CAPÍTULO IX
AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
Art 14. A avaliação da aprendizagem na UFOPA tem como objetivos:
I – a aprendizagem dos discentes;
II – aquisição conceitual, teórica e prática dos conteúdos programáticos ministrados durante os
períodos letivos;
III – incentivar o hábito e a prática diuturna de trabalho no processo ensino-aprendizagem;
Art.15. Os instrumentos avaliativos deverão ser elaborados pelos professores orientadores com
a orientação do Núcleo de estágio, seguindo as diretrizes curriculares, projeto pedagógico de
cada curso e a Resolução nº 09 de 16 de março de 2012, que regulamenta a estrutura e o
percurso acadêmico da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA.
Art. 16. O controle da frequência às aulas, atribuição e lançamento de notas é de
responsabilidade do(s) docente(s) responsável(is) pela atividade curricular
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17. O estudante deverá concluir o estágio no prazo máximo de conclusão do curso
previsto no projeto pedagógico do respectivo curso.
Art. 18. Nos termos da legislação vigente, o estágio, não cria vínculo empregatício.
Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Estágio e coordenação de programas
Art. 20. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém, 12 de setembro de 2013.
SOLANGE HELENA XIMENES ROCHA
Diretora do Instituto de Ciências da Educação da UFOPA
ANEXO K – ESTRUTURA E PERCURSO ACADÊMICO DA UFOPA
ANEXO L – NORMAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ICED/UFOPA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 12 DE SETEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre as normas do Trabalho de Conclusão de
Curso dos estudantes do Instituto de Ciências da
Educação da Universidade Federal do Oeste do ParáUFOPA.
A DIRETORA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO, da Universidade Federal do Oeste do
Pará (UFOPA), no uso das suas atribuições conferidas pela Portaria nº 129, de 03 de fevereiro de
2012, resolve expedir a presente Instrução Normativa.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A presente Instrução Normativa tem por finalidade normatizar as atividades
relacionadas aos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos Cursos do Instituto de Ciências da
Educação, bem como estabelecer normas para a sua elaboração e apresentação.
Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade curricular obrigatória nos
cursos de Licenciatura, componente do projeto pedagógico do curso, com o fim de sistematizar o
conhecimento de natureza científica, artística ou tecnológica, por meio de estudo de um
determinado tema.
Art. 3º - O TCC será realizado em um dos campos do conhecimento do curso, a partir de proposta
do discente e da concordância do seu orientador, com o aval da coordenação do programa.
Parágrafo único - O TCC deve ser elaborado individualmente, salvo casos devidamente
justificados e aceitos pela Coordenação do Programa.
Art. 4º - O TCC constitui-se de uma atividade que poderá ser desenvolvida em dois semestres ou
ainda em único semestre, considerando o que está previsto no projeto pedagógico do curso.
Art. 5º - O TCC será defendido em sessão pública, perante banca examinadora constituída de, no
mínimo, dois membros, sendo um deles, obrigatoriamente, o orientador, que presidirá a sessão.
§ 1º - A sessão pública será organizada pelo programa e realizada durante o período letivo,
considerando os prazos estabelecidos no calendário acadêmico oficial.
§ 2º - A composição da banca examinadora deverá ser proposta pelo orientador, de acordo com
a temática do TCC, em acordo com o discente.
§ 3º - O Conselho da Unidade ou Subunidade poderá credenciar membros externos à subunidade
acadêmica, ou mesmo à Instituição, caso necessário, para fins de composição de banca.
Art. 6º - O TCC será orientado por docente da Universidade Federal do Oeste do Pará
devidamente credenciado pelo Colegiado do Curso e vinculado à área temática do trabalho,
indicado, sempre que possível, pelo próprio discente.
Parágrafo único - A critério do Colegiado do Curso, poderá ser aceita orientação do TCC por
profissional externo à instituição, desde que seja co-orientado por docente vinculado ao curso.
Art. 7º - O trabalho deve ser apresentado antes da conclusão de curso, sob pena de reprovação
na disciplina e posterior rematrícula na mesma.
Art. 8º - A versão final do TCC deverá ser entregue à gestão acadêmica do ICED em formato
eletrônico (CD) e um exemplar impresso para fins de arquivo no prazo de dez dias a contar da
defesa do trabalho.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 9º - São partes diretamente envolvidas no desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC):
I – Coordenador(a) do Programa;
II – Coordenador(a) do Trabalho de Conclusão de Curso;
III – Professores Orientadores;
IV – Alunos Matriculados na(s) disciplina(s) do TCC;
V – Gestão Acadêmica.
Seção I – DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
Art. 10º - Compete a coordenação do programa:
I - Indicar o(a) professor(a) responsável pelo TCC, denominado(a) Coordenador(a) do Trabalho de
Conclusão de Curso, que se encarregará pelas ações do processo ensino-aprendizagem do
Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito do curso;
II - Homologar, em consonância com a previsão do(a) coordenador(a) do TCC, a confirmação dos
Professores Orientadores;
III - Estabelecer, em consonância com o(a) Professor(a) Coordenador(a) do TCC e colegiado do
curso, normas e instruções complementares no âmbito do seu curso.
Seção II – DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 11 - Compete ao(a) Coordenador(a) do Trabalho de Conclusão de Curso a gestão dos
procedimentos de acompanhamento e de avaliação do TCC definidos por este Regulamento,
especialmente, as seguintes atribuições:
I - Apoiar a Coordenação do Programa no desenvolvimento das atividades relativas ao TCC;
II - Elaborar o calendário das atividades relativas ao TCC em cada semestre letivo, bem como
organizar as datas e os horários para a realização das defesas do TCC e efetuar a reserva de sala e
de equipamento áudio-visual para a realização das mesmas;
III - Sugerir ou indicar orientadores, quando solicitado pelos alunos;
IV – Divulgar a relação dos alunos orientandos com seu respectivo professor orientador;
V - Realizar o lançamento da Nota Final do TCC atribuída pela banca examinadora no Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) no prazo estabelecido pelo acadêmico;
VI - Encaminhar à Gestão Acadêmica do ICED os exemplares finais do TCC, com as alterações
sugeridas pela banca, nas versões impressa e eletrônica.
Seção III – DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Art. 12 - Compete ao(a) professor(a) orientador(a) orientar o aluno, sobretudo quanto ao
conteúdo e a forma do TCC, especialmente, as seguintes atribuições:
I - Orientar os discentes na elaboração do TCC em todas as suas fases, do projeto de pesquisa até
a defesa e entrega da versão final do trabalho;
II - Acompanhar as atividades do aluno durante o desenvolvimento do TCC por meio das reuniões
periódicas estabelecidas através de um cronograma de orientação;
III - Indicar formalmente a composição dos membros da banca, bem como presidir a banca
examinadora durante a defesa do TCC;
IV – Repassar à Coordenação de TCC a Nota final do estudante em forma de relatório, parecer,
ata ou documento similar.
Seção IV – DO(A) ACADÊMICO(A)
Art. 13 - Compete aos alunos da disciplina do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):
I - Requerer a sua matrícula no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA)
nos períodos estabelecidos no calendário acadêmico da instituição;
II - Participar das reuniões periódicas de orientação com o(a) Professor(a) Orientador(a) do TCC;
III - Seguir as recomendações do(a) Professor(a) Orientador(a) do TCC;
VI - Cumprir os prazos estabelecidos para a entrega do trabalho de conclusão de acordo com o
calendário acadêmico oficial e com os prazos estabelecidos pelo orientador;
V - Entregar à Coordenação do TCC o trabalho final corrigido de acordo com as recomendações
da banca examinadora nas versões impressa e eletrônica;
Seção V – DA GESTÃO ACADÊMICA
Art. 14 - Compete à gestão acadêmica o acompanhamento das atividades relacionadas ao
Trabalho de Conclusão de Curso bem como zelar pelo cumprimento da mesma, especialmente,
as seguintes atribuições:
I – Orientação aos discentes no que se refere à matrícula no componente TCC;
II – Receber a versão do TCC e encaminhar para a Biblioteca da instituição.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15. O não cumprimento das normas estabelecidas poderá implicar na integralização
curricular do estudante.
Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de TCC e coordenação de programa.
Art. 17. A presente instrução terá vigência após aprovação pelo Conselho do Instituto de Ciências
da Educação.
Santarém, 12 de setembro de 2013
SOLANGE HELENA XIMENES ROCHA
Diretora do Instituto de Ciências da Educação da UFOPA
ANEXO M – EXTRATO DE ADESÃO DA UFOPA AO PARFOR
ANEXO N – PORTARIA DE CRIAÇÃO DOS CURSOS DO PARFOR
ANEXO O – PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO
ANEXO P – PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DO ANTIGO NDE DO CURSO
ANEXO Q – PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DO NOVO NDE DO CURSO