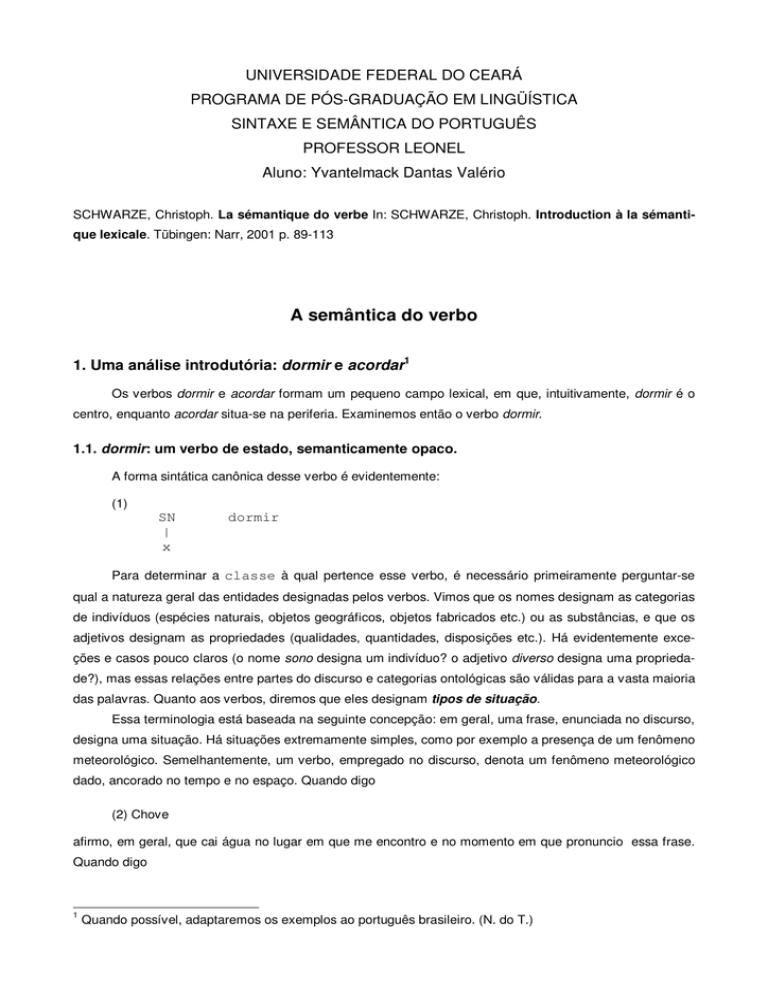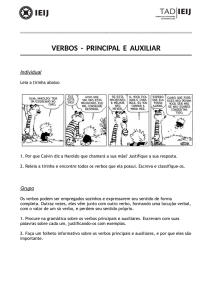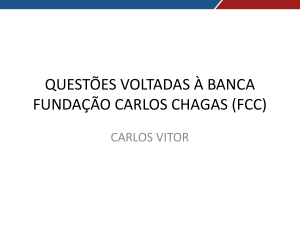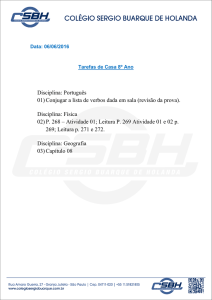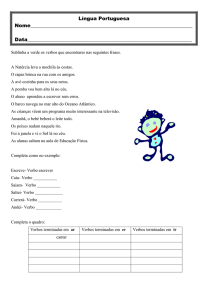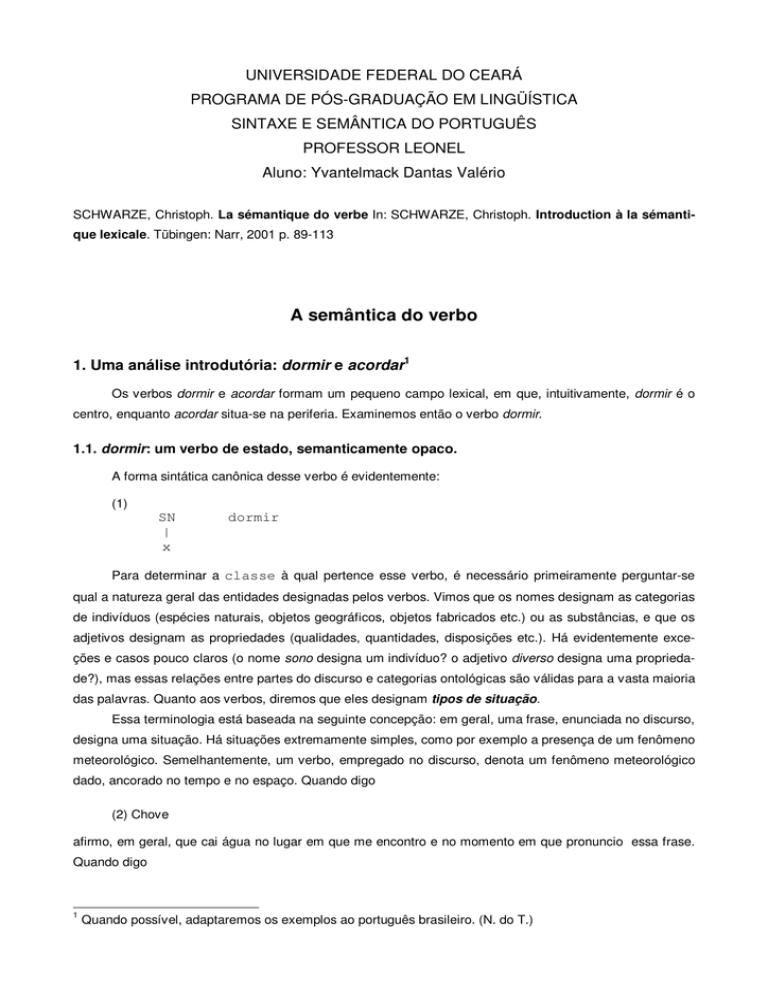
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA
SINTAXE E SEMÂNTICA DO PORTUGUÊS
PROFESSOR LEONEL
Aluno: Yvantelmack Dantas Valério
SCHWARZE, Christoph. La sémantique do verbe In: SCHWARZE, Christoph. Introduction à la sémantique lexicale. Tübingen: Narr, 2001 p. 89-113
A semântica do verbo
1. Uma análise introdutória: dormir e acordar1
Os verbos dormir e acordar formam um pequeno campo lexical, em que, intuitivamente, dormir é o
centro, enquanto acordar situa-se na periferia. Examinemos então o verbo dormir.
1.1. dormir: um verbo de estado, semanticamente opaco.
A forma sintática canônica desse verbo é evidentemente:
(1)
SN
|
x
dormir
Para determinar a classe à qual pertence esse verbo, é necessário primeiramente perguntar-se
qual a natureza geral das entidades designadas pelos verbos. Vimos que os nomes designam as categorias
de indivíduos (espécies naturais, objetos geográficos, objetos fabricados etc.) ou as substâncias, e que os
adjetivos designam as propriedades (qualidades, quantidades, disposições etc.). Há evidentemente exceções e casos pouco claros (o nome sono designa um indivíduo? o adjetivo diverso designa uma propriedade?), mas essas relações entre partes do discurso e categorias ontológicas são válidas para a vasta maioria
das palavras. Quanto aos verbos, diremos que eles designam tipos de situação.
Essa terminologia está baseada na seguinte concepção: em geral, uma frase, enunciada no discurso,
designa uma situação. Há situações extremamente simples, como por exemplo a presença de um fenômeno
meteorológico. Semelhantemente, um verbo, empregado no discurso, denota um fenômeno meteorológico
dado, ancorado no tempo e no espaço. Quando digo
(2) Chove
afirmo, em geral, que cai água no lugar em que me encontro e no momento em que pronuncio essa frase.
Quando digo
1
Quando possível, adaptaremos os exemplos ao português brasileiro. (N. do T.)
2
(3) Graniza
afirmo a existência, no lugar e no momento em que falo, de um fenômeno meteorológico de outra natureza:
caem pedras de gelo. Ora, os verbos são capazes de exprimir esse tipo de diferença. Notemos que os verbos, no nível lexical, não comportam ancoragem temporal ou espacial: não há verbo cujo sentido seja ‘chove aqui e agora’, mas ao contrário, a ancoragem não é fixada no nível lexical, uma vez que podemos dizer,
empregando os mesmos verbos:
(4) Amanhã, choverá durante todo o dia.
(5) Granizou sobre os vinhedos.
Ora, a maior parte das situações são mais complexas que essas definidas pelos fenômenos meteorológicos. Elas têm em particular que os indivíduos e substâncias participam de maneira constitutiva. Assim,
as situações designadas pelo verbo dormir não podem existir sem que haja um ser animado que se encontre em estado de sono. Na definição de uma situação, há que se distinguir entre o tipo da situação e seus
participantes constitutivos. Em uma frase como
(6) O gato dorme
O verbo dorme designa o tipo da situação que ocorre, e o sintagma nominal o gato designa o participante constitutivo.
Qual é então a classe a que pertence o verbo dormir? É simplesmente situação? Veremos a
partir de agora que temos interesse em fazer distinções mais específicas; isso porque dissemos que dormir
designa um estado. Em nossa notação canônica escreveremos então, no que concerne a dormir, que o valor do atributo classe é estado.
Empregaremos este termo com o seguinte sentido:
Um estado é uma situação
não controlada por um agente e sem evolução interna.
Essa definição não é plenamente compreensível no estado atual de nossa discussão, mas ela contém os elementos que têm por função distinguir os estados de outras classes que nós introduziremos a seguir.
Quanto à descrição semântica de dormir, nós não podemos dizer, neste ponto da discussão, mais do
que isto:
(7) dormir
SN
dormir
|
x
dormir
(x)
classe = estado
2
O verbo granizar é meio esquisito, mas está registrado no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa; em
português usamos comumente cair granizo ou chover granizo, preferi manter o verbo granizar por questões
puramente sintáticas. (N. do T.)
Mas como definir este estado? Vejamos o que fazem os dicionários. O PL parece querer eximir-se
do trabalho dizendo que dormir significa ”estar em estado de sono”, mas ele aceita o desafio de explicar o
nome sono. Veja o que ele diz:
(8) Estado de uma pessoa onde a vigilância se acha suspensa de modo imediatamente reversível.
O PR adota o mesmo procedimento, mas ele é mais explícito, e certamente mais instrutivo, quando
se dispõe a definir o significado de sono:
(9) Estado fisiologicamente normal e periódico caracterizado essencialmente pela suspensão da vigilância, pelo relaxamento muscular, pela diminuição da circulação e pela atividade onírica.
Mas é esta definição que concerne à nossa faculdade de linguagem? Reportemo-nos a distinção que
introduzimos, em nossa discussão sobre a polissemia, entre as estruturas semânticas propriamente ditas e
nossos conhecimentos não-lingüísticos, organizados na estrutura conceitual. Esta distinção nos permite supor que nossa concepção de sono se encontra definida, de uma maneira ou de outra, no nível conceitual, o
que nos dispensa de dar esta definição ao nível semântico propriamente dito. Nós podemos então tratar
dormir da mesma maneira que nós havíamos feito com os adjetivos de cor: dormir é inanalisável ( ou: opaco) no nível semântico; seu significado lexical consiste em um tipo de acesso ao conceito de sono.
1.2. acordar: tipos de situação e papéis
O acordar se distingue de dormir de muitas maneiras. De um lado, sua forma sintática padrão é diferente: há dois sintagmas nominais, SN1 e SN2. Esta complexidade sintática tem uma contrapartida no nível
semântico: acordar tem dois argumentos.
Uma segunda diferença: acordar não designa um estado. Com efeito, o tipo de situação à qual este
verbo se reporta tem uma evolução interna: ela comporta uma mudança. Essa mudança compreende dois
estados: um estado de início e um de resultado. Esses dois estados são caracterizados por se reportarem
ao mesmo tipo de situação, ‘dormir’, e eles têm o mesmo participante constitutivo. O estado de início é caracterizado positivamente (A dorme), enquanto o estado de resultado é caracterizado de forma negativa (A
não dorme).
Chamaremos ação a classe à qual acordar pertence. Eis a definição:
Uma ação é uma situação controlada por um agente e que tem
uma evolução interna.
Esta evolução interna pode ser, como é o caso aqui, uma mudança de estado psicológico, mas também uma mudança de estado material (por exemplo abrir) ou mental (por exemplo descobrir), uma mudança
de quantidade (por exemplo aumentar), de posse (por exemplo dar) ou de lugar (por exemplo transportar)
etc.
Aproveitamos a ocasião para introduzir um terceiro tipo verbal: de atividade. São exemplos desse tipo verbal verbos como dançar, falar, correr etc. Eis sua definição:
Uma atividade é uma situação controlada por um agente, mas que não
possui uma evolução interna.
Teremos assim uma taxinomia dos tipos de situação que pode ser representada pela figura 1:
situação
estado
atividade
ação
dormir (x)
dançar (x)
acordar (x, y)
Fig. 1: Uma taxinomia dos tipos de situação
Um pouco de história
Essa tipologia semântica do verbo cai na denominação de Aktionsart, termo alemão que se traduz
em português por modo de ação, modalidade de ação ou ordem de processo e que nós chamamos tipos de situação, para prevenir eventuais mal-entendidos. A problemática dos tipos de situação tem constituído numerosos trabalhos, sobretudo no contexto dos tempos do verbo e dos advérbios de tempo.
O sistema de tipos de situação mais conhecido é o de Vendler (1967). Vendler distingue quatro aspectos, a saber: os estados (states), as atividades (activities), as realizações (em curso) (accomplishments)
e realizações (terminadas) (achievements). Em vez de explicar essas noções em detalhes, limitar-nos-emos
a citar os exemplos de Vendler:
(10) 3
states
activities
acomplishments
achievements
A knows B, A owns B, A is sick
A is pushing a cart, A is running
A is running a mile, A is writing a letter
A reaches the summit, A wins the race
Para ver de perto a evolução ulterior da teoria dos tipos de situação, ver François (1985).
Mas voltemos a nossa análise do verbo acordar. Estabelecemos os pontos seguintes:
como valor do atributo classe esse verbo terá ação.
as situações designadas por esse verbo comportam uma mudança de estado.
esse verbo tem dois argumentos
Os papéis
Mas isso não é tudo. Devemos igualmente dar conta do fato de que o primeiro argumento de acordar
é o autor da mudança de estado e que o segundo argumento sofre essa mudança. Esse gênero de informação lexical se chama estrutura de papéis: os participantes constitutivos dos diferentes tipos de situação determinam as regras. Eis a definição de papel.
Um papel é a maneira pela qual um participante constitutivo participa
da situação
3
A conhece B, A tem B, A está doente
A está empurrando uma carroça. A está correndo.
A está correndo uma milha. A está escrevendo uma carta.
A alcança o topo. A vence a corrida.
Em princípio, os papéis podem ser definidos em níveis de abstração variáveis. Assim, em uma situação do tipo A vende B, A é o vendedor, mas também o agente. Procura-se, em geral, definir os papéis no
nível de abstração mais elevado, porém que permita predizer, em uma larga medida, a realização sintática
dos argumentos. Veja a frase (11), onde o primeiro argumento de acordar é o sujeito e o segundo o objeto
direto da frase:
(11) O bebê acorda seus pais de madrugada.
Ora, esta realização sintática é perfeitamente predizível: quando um verbo tem dois argumentos, x e
y, e quando x está no papel de agente e y no de tema (para a explicação desses termos, ver abaixo), se x é
sujeito e y objeto direto, percebe-se que a frase está na voz ativa. Há toda uma teoria, chamada teoria da ligação, (ing. linking theory), que visa definir esse gênero de relação entre a estrutura argumental e as relações gramaticais; ver, por exemplo, os trabalhos reunidos em But/Geuder (1998).
Quanto a nossa análise semântica, nós exprimiremos as estrutura dos papéis mediante um atributo
papel, que tem por valores os termos agente, paciente e tema.
Podemos caracterizar os três papéis como se segue:
O agente é aquele que cria e controla a situação. Ele é constitutivo das ações e
das atividades.
O paciente é aquele que se submete à situação ou dela se beneficia, sem criála ou controlá-la. Ele é constitutivo de uma subclasse das ações.
O tema participa da situação de maneira não específica. Ele é constitutivo dos
estados e das ações.
Vejamos alguns exemplos para ilustrar essas noções, veja as frases (12) e (13):
(12) Jean empurra a bicicleta.
Esta frase designa uma situação, na qual se distinguem dois participantes constitutivos, Jean e bicicleta. Jean está no papel de agente, enquanto bicicleta está no papel de tema: cf. a fig. 2.
situação
agente
tema
Fig. 2: Jean empurra a bicicleta.
4
(13) Um ladrão furta a bicicleta de Jean.
4
Na tradução desse exemplo surge uma ambigüidade difícil de resolver: de Jean é objeto indireto ou adjunto adnominal. No texto original o elemento é tomado como objeto indireto, semanticamente falando Jean
desempenha o papel de paciente. (N. do T.)
Aqui, nós temos uma situação de tipo diferente; a que o verbo furtar exprime. Quanto à estrutura de
papéis, nós temos um agente (o ladrão), um paciente (Jean) e um tema (bicicleta); cf. a fig. 3
situação
agente
paciente
tema
Fig. 3: Um ladrão furta a bicicleta de Jean.
Um pouco mais de história
A noção de estrutura de papéis remonta a duas origens independentes, todas duas localizadas no
domínio da sintaxe do verbo: a teoria dos actantes de Tesnière (1959) e a gramática de casos de Fillmore
(1968). Historicamente anterior, sem ser precursor de Fillmore, Tesnière postulou que existe, entre o verbo
e os sintagmas nominais que gravitam em torno dele, uma relação estrutural, a de dependência, e funções,
que ele chama actantes. Os actantes são em número de três (Tesnière 1959: 104s).
o primeiro actante, semanticamente <<aquele que faz a ação>>
o segundo actante <<aquele que sofre a ação>>
o terceiro actante <<aquele que se beneficia ou se prejudica com a ação>>
Fillmore propôs uma sintaxe fundada nos “casos profundos” (deep cases) Ele distingue seis casos;
citaremos literalmente as definições de (Fillmore 1968: 24s):
Agentive, the case of the typically animate perceived instigator of the action identified by the
verb.
Instrumental, the case of the inanimate force or object causally involved in the action or state
identified by the verb.
Dative, the case of the animate being affected by the state or action identified by the verb.
Factitive, the case of the object or being resulting from the action or state identified by the
verb.
Locative, the case which identifies the location or spatial orientation of the state or action
identified by the verb.
Objective, the semantically most neutral case, ...things which are affected by the state or action identified by the verb.
As duas concepções, que, malgrado suas diferenças, são variantes da mesma idéia, tiveram um sucesso enorme: a de Tesnière (1959) é a base da gramática dita de dependência (all. Dependenzgrammatik),
teoria que tem desempenhado um papel importante, notadamente na Alemanha, pelo menos ente os germanistas e romanistas. A teoria dos casos de Fillmore (1968) tem sofrido numerosas modificações. No que
concerne tanto ao nome caso (ou papel) quanto ao seu estatuto gramatical. Sobre a designação de papéis
temáticos (theta-roles), ela foi incorporada a diversos modelos da sintaxe gerativa. De outro lado, o conceito
de papel é de uma importância central em muitos modelos “cognitivos” do léxico; cf. Jackendoff (1985), Croft
(1998). Nos trabalhos mais recentes sobre a interface entre a estrutura lexical e a forma sintática, é muitas
vezes difícil de reconhecer suas origens mais distantes. Mas a idéia segundo a qual a informação conceitual
codificada no léxico determina, ao menos parcialmente, a estrutura sintática, está mais viva que nunca.
Vamos agora reunir todos os elementos necessários para formular a entrada lexical do verbo adormecer, como segue:
(14) adormecer
SN1
|
x
adormecer
classe =
ARG1 =
ARG2 =
resultado =
estado1 =
estado2 =
adormecer
(ARG1, ARG2)
ação
x
papel =
y
papel =
mudança
não dormir
dormir
SN2
|
y
agente
tema
(estado1, estado2)
(y)
(y)
O verbo acordar se distingue do verbo adormecer unicamente pelo fato de que a seqüência dos estados subjacentes à transformação expressa pelo verbo se acha invertida. Nós podemos então imediatamente formular a análise semântica desse verbo, assim:
(15) acordar
SN1
|
x
acordar
classe =
ARG1 =
ARG2 =
resultado =
estado1 =
estado2 =
acordar
(ARG1, ARG2)
ação
x
papel =
y
papel =
mudança
dormir
não dormir
SN2
|
y
agente
tema
(estado1, estado2)
(y)
(y)
Fig. 4: Agente, tema e mudança de estado.
1.3. pegar no sono5 e acordar-se6: ação versus processo
5
Em francês o verbo endormir (adormecer) pode ser empregado pronominalmente, em português não existe essa possibilidade, no entanto dispomos de um verbo usado de forma semelhante: pegar no sono, com
o sentido de “adormecer”. Adormeci às duas da manhã. É claro que a correspondência não é perfeita, mas
para efeitos de entendimento da teoria apresentada talvez seja suficiente. (N. do T.)
Os verbos deitar e acordar aparecem às vezes sob a forma pronominal que, para uma outra visão, é
o equivalente dos verbos al. einschlafen e aufwachen. Isso levanta a questão de saber como a voz pronominal se distingue, do ponto de vista semântico, da construção transitiva normal. A resposta se encontra ainda no nível dos modos da ação: enquanto que adormecer e acordar designam tipos de ação, pegar no sono e acordar-se designam processos. Definiremos esse modo de ação da seguinte maneira:
Um processo é uma situação ancorada no espaço e no tempo, não
controlada por um agente, mas que tem uma evolução interna.
Um processo se distingue então de uma ação e de uma atividade pela ausência de um agente (e por
conseguinte, de um segundo argumento) e de um estado pela presença de uma transformação interna.
Completemos então nossa taxinomia das situações introduzindo a categoria de processo (fig. 5)
situação
estado
processo
atividade
ação
dormir (x)
pegar no sono (x)
dançar (x)
acordar (x, y)
Fig. 5: Uma taxinomia mais completa dos tipos de situação
Resumamos assim, sob a forma de matriz, as definições dos tipos de situação (fig. 6)
modos de ação
estado
processo
atividade
ação
papéis
tema
tema
agente
agente & tema
agente & paciente
agente & tema & paciente
evolução interna
+
+
exemplos
A dorme
A aumenta
A dança
A abre um pote
A esbofeteia B
A rouba B de C
Fig. 6: Os tipos de situação
Vejamos agora as representações semânticas de nossos dois verbos, na voz pronominal:
(16) pegar no sono
SN1
|
x
pegar no sono
classe =
ARG1 =
6
pegar no sono
(ARG)
processo
x
Problema semelhante ocorre com o verbo acordar. A Gramática Normativa condena o uso desse verbo
como pronominal (ninguém pode acordar a si mesmo), no entanto o vulgo utiliza muito expressões do tipo
“Me acordei cedo hoje”, além disso o verbo está registrado no dicionário Aurélio e no Houaiss. É a esse uso
que faremos referência nessa tradução. (N. do T.)
papel = tema
resultado = mudança
(estado1, estado2)
estado1 = não dormir
(x)
estado2 = dormir
(x)
(17) acordar-se
SN1
|
x
acordar-se
classe =
ARG1 =
acordar-se
(ARG1)
processo
x
papel =
resultado = mudança
estado1 = dormir
estado2 = não dormir
tema
(estado1, estado2)
(x)
(x)
Fig. 7: Uma mudança de estado sem agente.
Acrescentemos que não é necessário que (16) e (17) figurem no léxico do português, uma vez que se
pode derivá-los dos verbos de ação correspondentes, dormir e acordar. A derivação deve então suprimir um
argumento desses verbos: o agente.
Exercícios recomendados
Reagrupar os verbos seguintes segundo seu grau de semelhança (muitas soluções são possíveis):
dar, proibir, obter, mandar, deixar, receber.
Em que se assemelham e em que se distinguem esses verbos?
2. Os verbos de três argumentos
Os dois exercícios que precederam concernem à análise de dois pequenos grupos de verbos. O primeiro é constituído dos verbos dar, receber e conseguir; esses verbos se distinguem daqueles que vimos
analisando pelo fato de possuírem três argumentos. O segundo grupo, que compreende os verbos mandar,
deixar e proibir, tem de particular o fato de que um dos argumentos não é um indivíduo, mas um tipo de ação.
2.1. dar, receber e conseguir
A semântica de dar e de receber assemelha-se muito à de dormir e acordar. Esses verbos designam
ações que envolvem uma mudança que consiste na transição de um estado dado a outro. As diferenças residem:
na natureza dos estados (são estados de posse do tipo A tem B)
no número de argumentos.
Os verbos dar e receber se distinguem entre si pela distribuição dos papéis, como o demonstra (18) e
(19):
(18) dar
SN1
|
x
dar
dar (ARG1, ARG2, ARG3)
classe = ação
ARG1 = x
papel =
ARG2 = y
papel =
ARG3 = z
papel =
resultado = mudança
estado1 = ter
estado2 = ter
SN2
|
y
a SN3
|
z
agente
tema
paciente
(estado1, estado2)
(x,y)
(z,y)
(19) receber
SN1
receber
|
x
receber (ARG1, ARG2, ARG3)
classe = ação
ARG1 = x
papel =
ARG2 = y
papel =
ARG3 = z
papel =
resultado = mudança
estado1 = ter
estado2 = ter
SN2
|
y
paciente
tema
agente
(estado1, estado2)
(z,y)
(x,y)
de SN3
|
z
Fig. 8: Paciente e agente
Chama-se conversão a relação que existe entre dar e receber, isto é, o fato de que dois verbos designam o mesmo tipo de situação, associando de maneira inversa os papéis às funções gramaticais. Um outro exemplo de conversão é constituído pelos verbos preceder e seguir
Quanto a conseguir, seu sentido é mais próximo ainda do de receber: o que distingue esses dois
verbos é uma simples nuance, se bem que se possa traduzi-los em alemão pelo mesmo verbo bekommen;
cf. (20) e (21):
(20) a. Eu recebi uma carta
b. Ich habe einen Brief bekommen
(21) a. Eu consegui uma bolsa
b. Ich habe ein Stipendium bekommen
Quando conseguir não pode ser traduzido por bekommen, é porque há razões de ordem sintática:
conseguir tem uma segunda forma sintática canônica, que o al. bekommen , diferentemente de erreichen,
não tem (22). Ele é usado ainda em uma estrutura argumental onde um dos argumentos pode ser uma proposição:
(22) a. Eu consegui que me deixassem sair
b. Ich habe {*bekommen, erreicht}, dass man mich abreisen lässt
Em que consiste então a diferença entre receber e conseguir? Vejamos como os dicionários definem
esses dois verbos:
(23) PL:
receber Entrar em possessão do que é dado, ofertado, transmitido, enviado.
conseguir fazer com que concordem (aquilo que se deseja)
PR:
receber entrar em possessão de (qqc) por algo enviado, dado ou comprado etc.
conseguir fazer com que concordem, ou que lhe dêem (aquilo que se quer ter)
A diferença parece residir no papel assumido pelo sujeito: o sujeito de receber é um paciente puro e
simples, o sujeito de conseguir parece ser paciente e agente de uma vez. Com efeito, as definições
reproduzidas em (23) contêm os verbos concordar e dar, em relação aos quais o indivíduo dado como sujeito de conseguir é um paciente. Mas, por outro lado, o verbo concordar figura na expressão causativa fazer com que concordem, cujo sujeito é evidentemente um agente. A análise de nossos exemplos confirma
o que sugerem os dicionários: em (21b), é necessário que eu tenha disputado a bolsa, e em (22a) eu devo
ter interposto qualquer recurso visando à autorização de partir. Parece então não haver um, mas dois agentes, o que faz com que lhe dêem alguma coisa e aquele que dá.
Ora, essa situação não é caótica como parece. É suficiente, com efeito, dar conta de que o verbo
conseguir tem de particular que seu sentido engloba em si um outro predicado, a saber causar, cujos
argumentos, como o próprio predicado, não têm expressão explícita. Eis como se podem representar os fatos complexos
(24) conseguir
SN1
conseguir
|
x
conseguir (ARG1, ARG2, ARG3)
classe = ação
x
ARG1 =
papel =
ARG2 =
y
papel =
ARG3 =
z
papel =
resultado = mudança
estado1 = ter
estado2 = ter
causar (ARG4, ARG5)
ARG4 = ARG1
papel =
ARG5 = mudança
SN2
|
y
de SN3
|
z
paciente
tema
agente
(estado1, estado2)
(z,y)
(x,y)
agente
(estado1, estado2)
Essa representação é extremamente longa e complicada, razão suficiente para colocá-la em dúvida.
Mesmo que ela não seja falsa, ela tem o defeito de ser redundante. Se compararmos essa representação
com a de dar (18), veremos que ela a contém, é necessário apenas o predicado dar. Ora, posto que concebemos o léxico como um conjunto de representações que têm entre si relações múltiplas, como a de herança, podemos simplificar (24) acrescentando-lhe o predicado dar, e indicando que a mudança de estado
é causada por uma ação da parte daquele que se beneficia da mudança de estado; o predicado conse-
guir herda seus outros componentes semânticos do predicado dar, definido alhures, mais facilmente. Vejamos então essa representação mais simplificada.
SN1
|
x
conseguir
classe =
causar
ARG4 =
conseguir
(ARG1, ARG2, ARG3)
ação
(ARG4, dar (ARG3, ARG2, ARG1))
ARG1
papel = agente
SN2 de SN3
|
|
y
z
Fig. 9: Acúmulo de papéis
2.2. mandar, deixar e proibir
Os verbos mandar, deixar e proibir se distinguem de todos os outros verbos que vimos estudando até
aqui pelo fato de um de seus argumentos não ser um objeto, mas um tipo de situação. Contrariamente ao
caso de conseguir, que incorpora um predicado de ação específico, a saber dar, o tipo de situação que ele
tem por argumento não é especificado no nível lexical, e por conseguinte deve aparecer como constituinte
do nível sintático. Efetivamente, esses três verbos regem ora um sintagma nominal no infinitivo ora uma oração subordinada introduzida por que. Aqui discutiremos o primeiro desses casos. As formas sintáticas canônicas terão então a seguinte forma:
(26) SN1 V a SN2 de SVinf 7
Do ponto de vista sintático, o infinitivo deve ter um sujeito, que não tem uma realização à parte. Ora,
cada um de nossos três verbos estipula que o sujeito invisível é idêntico ao objeto da frase anterior, ou seja,
o SN2. Chama-se controle esse tipo de relação entre o sujeito de um infinitivo regido por um verbo e outra
função gramatical regida pelo mesmo verbo. Em uma frase como (27), há controle do objeto direto, em (28),
temos um caso de controle do sujeito; em uma frase como (29), o sujeito do infinitivo não é controlado:
(27) Ele me proibiu de informar a vocês.
(28) Ele me prometeu me ajudar.
(29) É impossível distinguir quem ou o quê.
Uma outra propriedade partilhada por nossos três verbos é o fato de que eles conferem uma modalidade à proposição designada pelo infinitivo.
Então, como se distinguem esses verbos entre si? As diferenças são duas. De um lado, nossos três
verbos especificam de maneira diferente a modalidade que mencionamos: com mandar e proibir, essa modalidade é de necessidade, com deixar, é de possibilidade.
A segunda diferença consiste na presença de uma negação implícita em um dos três verbos: proibir,
contrariamente a mandar e a deixar, contém uma negação. Essa negação implícita recai sobre o infinitivo, o
que tem por conseqüência a seguinte equivalência:
7
Em português esses três verbos apresentam regências diferentes, desse modo a preposição indicada na
representação sintática sofrerá alteração conforme o verbo. (N. do T.)
(30) O médico me proibiu de fazer esporte = O médico me mandou não fazer esporte.
Antes de formularmos as representações semânticas, resta discutir o problema dos papéis. Se mandar, deixar e proibir designam ações, então seus sujeitos desempenham evidentemente o papel de agen-
te. O indivíduo designado pelo SN2 recebe a ação, está, portanto, desempenhando o papel de paciente. Mas o que dizer do infinitivo? Pode-se, em princípio, atribuir-lhe o papel de tema, mas pode-se também pensar que os infinitivos não devem ser caracterizados por papel algum. Sem entrar no debate da alternativa, escolhemos a segunda possibilidade, ou seja, em nossa representação, o equivalente do infinitivo
não comportará o atributo papel.
Eis então a representação semântica de nossos três verbos.
(31) mandar
SN1
mandar
SN2 SVinf
|
|
|
x
y
p
mandar (ARG1, ARG2, ARG3)
classe = ação
ARG1= x
papel = agente
ARG2= y
papel = paciente
ARG3= p
ação = p
ARG4 = ARG2
papel = agente
resultado = modalidade
necessidade = p
Surpreenderá talvez o fato de o quarto argumento (ARG4) não estar associado a nenhum predicado.
Com efeito, a proposição p, que não é especificada no nível lexical, deve conter um predicado do qual
ARG4 é argumento. Renunciando a tornar explícita essa exigência, nós nos satisfaremos em fazer alusão à
disposição tipográfica, faremos o mesmo na representação que segue:
(32) deixar
SN1
deixar
SN2 SVinf
|
|
|
x
y
p
deixar (ARG1, ARG2, ARG3)
classe = ação
ARG1= x
papel = agente
ARG2= y
papel = paciente
ARG3= p
ação = p
ARG4 = ARG2
papel = agente
resultado = modalidade
possibilidade = p
(33) proibir
SN1
proibir
SN2 de SVinf
|
|
|
x
y
p
proibir (ARG1, ARG2, ARG3)
classe = ação
ARG1= x
papel = agente
ARG2= y
papel = paciente
ARG3= p
ação = p
ARG4 = ARG2
papel = agente
resultado = modalidade
necessidade = ¬p
Essas representações pedem um segundo comentário: é correto especificar a proposição que funciona como objeto dos verbos especificados como sendo de ação? Na seção III. 1.1, dissemos que dor-
mir pertence à classe dos estados; essas análises nos levam a concluir que uma expressão como mandar alguém dormir é semanticamente incorreta, o que é evidentemente falso. É preciso então determinar a
classe dessa proposição de maneira mais liberal, por exemplo, como um estado? Mesmo assim, encontraremos problemas: mandar alguém se casar não seria uma expressão semanticamente correta. O dilema
se resolve quando se prevê na semântica lexical um princípio de acomodação: quando uma mãe manda
seus filhos dormirem, na realidade ela os está mandado prepararem-se para dormir. Pode-se, então, empregar um predicado de estado como um predicado de ação, quando, entre o estado nomeado e a ação realmente designada, há uma relação de causa e efeito. Será necessário evidentemente deixar claros os detalhes desse princípio de acomodação: ele não permite de modo algum dizer qualquer coisa.
3. O verbo francês em uma perspectiva comparativa e tipológica.
Quem aprendeu uma língua estrangeira sabe que, do ponto de vista comparativo, não é suficiente
conhecer as simples equivalências lexicais. Assim o alemão kommen equivale na maioria dos contextos,
mas não sempre, ao francês venir (vir); cf. por exemplo:
(34) a. Nach einer Stunde kamen sie an einen Fluss
b. Em aproximadamente uma hora, eles {?vêm, chegam} a um rio.
(35) a. Diese Kisten kommen in den Keller
b. Essas caixas {*vêm, vão} para a adega.
Os significados lexicais dos dois verbos não equivalem senão parcialmente: o significado dêitico do
português vir ‘mover-se para o lugar onde se encontra o locutor’ é mais nítido que no alemão kommen. Em
outros casos, há um tipo de bifurcação: para traduzir pedir em alemão, é necessário sempre decidir entre
bitten e fragen. Chama-se contrastes esse gênero de diferenças comparativas.
3.1. Um contraste alemão-português
Os contrastes que mencionamos, por importantes que sejam do ponto de vista prático, são de um interesse menor do ponto de vista da semântica lexical, uma vez que eles não marcam uma propriedade mais
geral. Em uma perspectiva puramente sincrônica, eles ocorrem ao azar.
Mas há também contrastes sistemáticos entre o português e o alemão, e justamente esses contrastes se situam no nível dos verbos. O primeiro a descobri-los foi Malblanc (1944). Ele observa que os verbos
de movimento, tais como entrar, sair etc., têm múltiplas traduções: fahren, betreten, stürmen etc.: cf.
(36) a. O carro entrou na fazenda.
b. Das auto fuhr in den Hof
(37) a. Os turistas entram na cripta.
b. Die Touristen betraten die Krypta
(38) a. O touro entra na arena.
b. Der Stier stürmte in die Arena.
Do que se conclui que o francês é mais “abstrato” que o alemão, e ele explica isso por uma pretensa
diferença na evolução intelectual das duas línguas, análoga à dos humanos: o alemão, língua jovem, seria
ainda presa aos dados sensíveis, enquanto que o francês, língua velha, teria atingido um alto grau de abstração, sinal da maturidade intelectual.
3.2. Uma tipologia geral dos verbos de movimento
Mas a verdade importante desse gênero de observação não tem sido posta em relevo a não ser pelo
lingüista americano L. Talmy (Talmy 1975, 1985). Analisando a maneira pela qual diferentes línguas organizam a descrição de mudanças de lugar, ele propôs um esquema conceitual segundo o qual cada mudança
de lugar é constituída pelos seguintes elementos:
um deslocamento (motion)
um objeto deslocado (figure) um objeto que realiza ou sofre um movimento
um centro (ground), um lugar ou um objeto em relação ao qual o movimento é definido
uma trajetória (path) uma linha virtual sobre a qual se efetua o movimento
e uma maneira (manner) como movimento se realiza
Duas idéias constituem o essencial do pensamento de Talmy. A primeira diz respeito à relação entre
os elementos conceituais da mudança de lugar e as categorias sintáticas, em particular o verbo. Segundo
sua terminologia, as línguas “lexicalizam” esses conceitos associando-os às categorias sintáticas. Ora, a lexicalização pode se fazer segundo muitos esquemas (lexicalization patterns). Assim os significados do verbo entrar repousa sobre o esquema “trajetória - verbo”, ao passo que o verbo andar representa o esquema
“maneira - verbo”.
A segunda idéia é a de que uma língua dada pode preferir um dos esquemas de lexicalização e que,
por tanto, é possível estabelecer uma tipologia com base nos esquemas de lexicalização. Ele estabelece
então uma tipologia fundada nas categorias lexicais em que esses conceitos espaciais são lexicalizados.
Ele distingue três tipos de línguas: as línguas “de maneira” (manner languages), as línguas “de trajetória”
(path languages) e um terceiro tipo, as línguas “de objeto movimentado” (figure languages) que não nos interessam no presente contexto.
Ora, as línguas “de maneira” lexicalizam a maneira pelo verbo, a trajetória é expressa pelo que Talmy
chama de satélites, ou seja, os advérbios, os sintagmas preposicionais ou os afixos. A língua que ele escolhe como exemplo é o inglês, mas o alemão é uma outra língua do mesmo tipo; cf. (39). A língua escolhida
por Talmy como ilustração é o espanhol, mas o francês (e o português) apresenta o mesmo tipo.
(39) a. português
entrar
a cavalo
verbo
satélite
TRAJETÓRIA
MANEIRA
b. alemão
hinen
reiten
satélite
verbo
TRAJETÓRIA
MANEIRA
(40) a. Ele entrou subindo no balcão
b. Er kam über den Balkon hereigeklettrt
É necessário esclarecer que o português também possui verbos que indicam a maneira do movimento, tais como dançar, galopar, andar, navegar, trotar. Mas, diferente de seus equivalentes alemães e ingleses, esses verbos, com raras exceções (por exemplo glisser) não podem reger um sintagma indicando o lugar de chegada; em uma frase como (41), no parque não designa o lugar de destino do deslocamento, mas
o espaço no qual o deslocamento é produzido:
(41) Ela anda no parque.
3.2.1. Uma generalização
Os tipos lexicais estabelecidos por Talmy não estão restritos aos verbos de movimento. Encontramse contrastes sistemáticos comparáveis em outros domínios conceituais, como por exemplo os verbos que
indicam pôr em funcionamento (42) e seus contrários (43).
(42)
alemão
português
das Radio anschalten
abrir o posto
den Wasserhahn aufdrehen
abrir o torneira
ein Feuer anzünden
acender um fósforo
die Scheinwerfer anstellen
acender os faróis
(43)
alemão
português
das Radio ausschalten
fechar o posto
den Wasserhahn zudrehen
fechar o torneira
ein Feuer ausmachen
apagar um fósforo
die Scheinwerfer abschalten
apagar os faróis
Nesses exemplos, a mudança de estado é expressa em alemão por satélites (an, auf, aus, zu,
ab),enquanto que em português, são os verbos que a exprimem (abrir, acender, fechar, apagar). O verbo
alemão, assim como os verbos de movimento, exprimem a maneira (schalten, drehen, züden, stellen, bem
como machen que é aqui um tipo de verbo de maneira como os outros).
Encontra-se o mesmo contraste em verbos que designam a ação de fazer desaparecer alguma coisa;
cf. por exemplo:
(44)
alemão
português
den Schmutz abreiben
encobrir a sujeira
das Etikett abkratzen
encobrir o rótulo
das Sägemehl wegfegen
encobrir a serragem
Nesses exemplos, o alemão designa ainda a mudança de estado pelos satélites (ab, weg), o português pelo verbo (encobrir), e a maneira, expressa pelo verbo alemão, não tem expressão em português.
Lembrando que os verbos de maneira, em português, podem igualmente servir de tradução para os
verbos de maneira em alemão; mas a trajetória não pode ser especificada no mesmo sintagma verbal (Ehrig
1991):
(45)
alemão
português
den Schmutz abreiben
esfregar a sujeira
das Etikett abkratzen
esfregar o rótulo
das Sägemehl wegfegen
esfregar a serragem
Para formular de maneira explícita a generalização em questão, pode-se recorrer à noção de mudança de estado ou de situação: pode-se analisar os deslocamentos como sendo mudanças de situação local,
a ação de ligar ou desligar os aparelhos, as máquinas etc. como mudança entre atividade e não-atividade, e
a ação de encobrir (e de fixar) um objeto como estados de adesão ou de presença. Mas esta generalização
ainda não está pronta.
Para encerrar esse capítulo consagrado à semântica do verbo, relembremos que os verbos podem
ser de uma complexidade semântica considerável, como, por exemplo, a possibilidade que têm de reger elementos que são equivalentes a frase (infinitivos, orações subordinadas), de incorporar outros verbos, de
especificar modalidades e de introduzir negações implícitas.
4. Sobre a estrutura global do léxico verbal
Dar uma visão do conjunto do léxico verbal de uma língua como o francês seria uma tarefa árdua que
nós não poderíamos cumprir aqui. Limitemo-nos então a dizer isso: assim como os nomes e adjetivos, os
verbos podem ser agrupados segundo dois pontos de vista: o ponto de vista cognitivo ou conceitual, e o
ponto de vista semântico propriamente dito. Uma categorização baseado nas categorias conceituais gerais
distinguiria entre os verbos de movimento (ir, vir, chegar...) de transferência (dar, receber...) de percepção (ver, ouvir, entender..) de comunicação (dizer, falar, mandar...) e os verbos epistêmicos (saber,
crer...) Uma classificação fundada nos tipos semânticos distinguiria os verbos segundo o número de argumentos, segundo o tipo de situação que eles designam (verbos de estado, de ação etc); distinguiria os verbos negativos (proibir, ignorar...), os verbos modais (poder, dever...), os verbos dêiticos (ir, vir...) e outros.
Assinalemos que as duas classificações não são independentes uma da outra. Assim, os verbos de
transmissão são normalmente de três lugares, os verbos epistêmicos têm normalmente um argumento de
tipo proposicional etc. Certos semanticistas, como Jackendoff (1985), acreditam mesmo que a estrutura lexical é idêntica à estrutura conceitual. Mas os contrastes que existem entre as línguas faladas por comunidades culturalmente assemelhadas não são compatíveis com tal identificação, a menos que se queira afirmar que falar línguas diferentes é viver em sistemas cognitivos diferentes. E o que dizer dos bilíngües? dispõem de dois sistemas conceituais diferentes? Uma teoria semântica segundo a qual o significado lexical
baseia-se no sistema conceitual, embora não seja inteiramente determinado por ele, permite evitar dilemas
desse gênero.
!
"
$
#
%
!
&
%
'