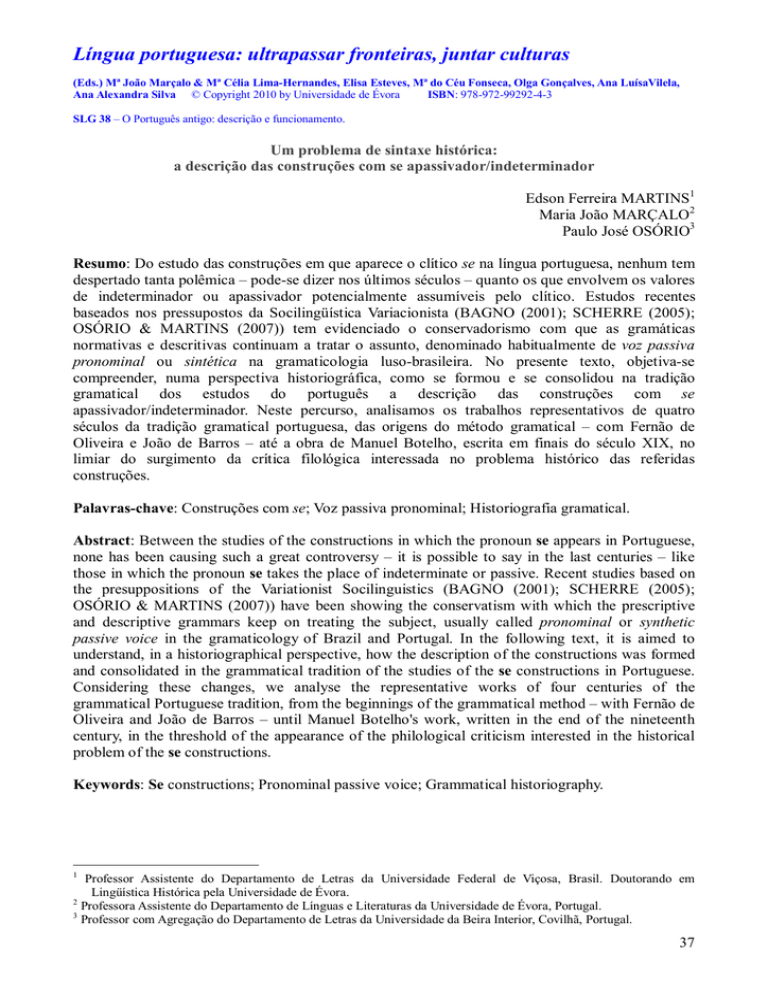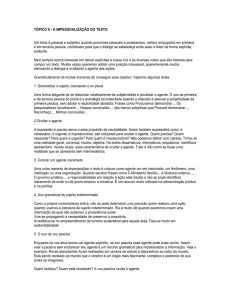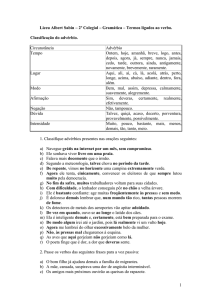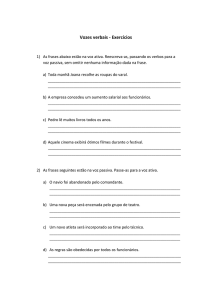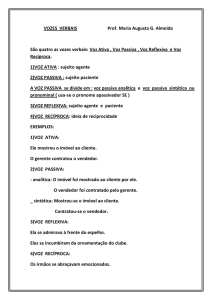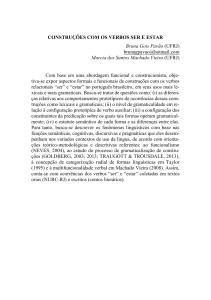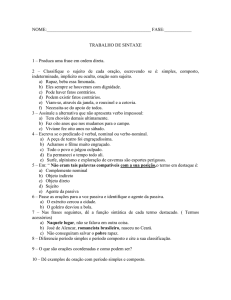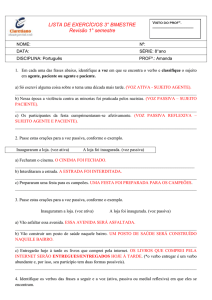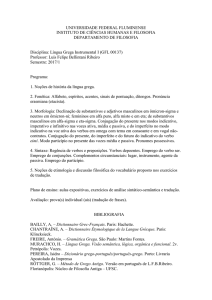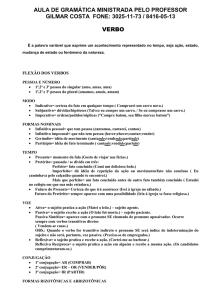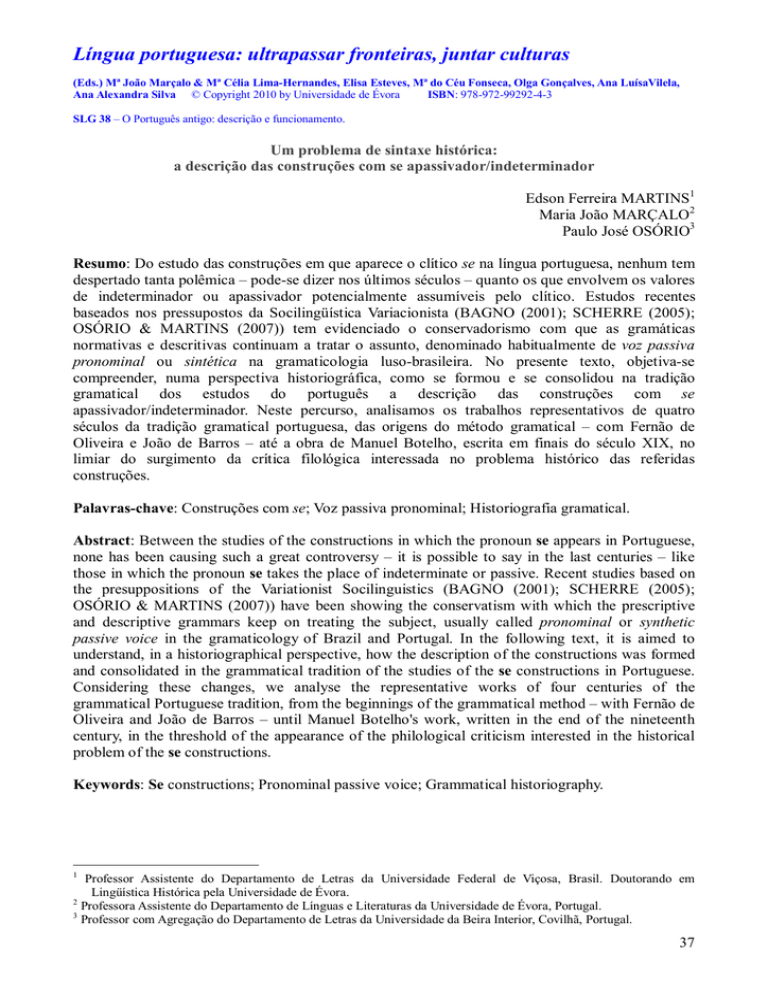
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
Um problema de sintaxe histórica:
a descrição das construções com se apassivador/indeterminador
Edson Ferreira MARTINS1
Maria João MARÇALO2
Paulo José OSÓRIO3
Resumo: Do estudo das construções em que aparece o clítico se na língua portuguesa, nenhum tem
despertado tanta polêmica – pode-se dizer nos últimos séculos – quanto os que envolvem os valores
de indeterminador ou apassivador potencialmente assumíveis pelo clítico. Estudos recentes
baseados nos pressupostos da Socilingüística Variacionista (BAGNO (2001); SCHERRE (2005);
OSÓRIO & MARTINS (2007)) tem evidenciado o conservadorismo com que as gramáticas
normativas e descritivas continuam a tratar o assunto, denominado habitualmente de voz passiva
pronominal ou sintética na gramaticologia luso-brasileira. No presente texto, objetiva-se
compreender, numa perspectiva historiográfica, como se formou e se consolidou na tradição
gramatical dos estudos do português a descrição das construções com se
apassivador/indeterminador. Neste percurso, analisamos os trabalhos representativos de quatro
séculos da tradição gramatical portuguesa, das origens do método gramatical – com Fernão de
Oliveira e João de Barros – até a obra de Manuel Botelho, escrita em finais do século XIX, no
limiar do surgimento da crítica filológica interessada no problema histórico das referidas
construções.
Palavras-chave: Construções com se; Voz passiva pronominal; Historiografia gramatical.
Abstract: Between the studies of the constructions in which the pronoun se appears in Portuguese,
none has been causing such a great controversy – it is possible to say in the last centuries – like
those in which the pronoun se takes the place of indeterminate or passive. Recent studies based on
the presuppositions of the Variationist Socilinguistics (BAGNO (2001); SCHERRE (2005);
OSÓRIO & MARTINS (2007)) have been showing the conservatism with which the prescriptive
and descriptive grammars keep on treating the subject, usually called pronominal or synthetic
passive voice in the gramaticology of Brazil and Portugal. In the following text, it is aimed to
understand, in a historiographical perspective, how the description of the constructions was formed
and consolidated in the grammatical tradition of the studies of the se constructions in Portuguese.
Considering these changes, we analyse the representative works of four centuries of the
grammatical Portuguese tradition, from the beginnings of the grammatical method – with Fernão de
Oliveira and João de Barros – until Manuel Botelho's work, written in the end of the nineteenth
century, in the threshold of the appearance of the philological criticism interested in the historical
problem of the se constructions.
Keywords: Se constructions; Pronominal passive voice; Grammatical historiography.
1
Professor Assistente do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa, Brasil. Doutorando em
Lingüística Histórica pela Universidade de Évora.
2
Professora Assistente do Departamento de Línguas e Literaturas da Universidade de Évora, Portugal.
3
Professor com Agregação do Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal.
37
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
1. Introdução
O estudo das construções com se em português já se tornou um tema clássico em nossos
estudos sintáticos, constituindo-se inclusive como um assunto bastante polêmico, seja na esfera do
debate gramatical, seja no terreno das investigações lingüísticas. Nos últimos anos, graças
sobretudo a trabalhos filiados à sociolingüística variacionista brasileira (BAGNO (2001);
SCHERRE (2005); OSÓRIO & MARTINS (2007)), tem sido posto em evidência o
conservadorismo e a ortodoxia com que a tradição gramatical brasileira continua a descrever o
funcionamento das construções com se, em que o clítico assume valor de indeterminador ou
apassivador. Tal proble (meta)lingüístico, que se relaciona diretamente à postulação – por parte das
gramáticas normativas e descritivas – da existência de uma voz passiva pronominal ou sintética em
português, tem merecido, entretanto, pouca atenção dos estudiosos numa perspectiva
historiográfica, que vise compreender como se constituiu, em termos de uma tradição gramatical, a
doutrina da “passiva pronominal” na gramaticologia portuguesa e, mesmo, dentro dos limites da
tradição gramatical brasileira.
Neste texto, analisando a produção de gramáticas portuguesas desde os primeiros textos do
gênero – no século XVI – até a segunda metade do século XIX, esboçamos uma reconstrução do
pensamento gramatical português dedicado ao tema das referidas construções com se4. A
delimitação deste percurso historiográfico recaindo em finais do Novecentos não é arbitrária, mas
antes motivada pelo momento em que entra em cena a Filologia Portuguesa. Neste sentido, a partir
dos trabalhos de Adolfo Coelho (1870), José Maria Rodrigues (1914) e, sobretudo, de Said Ali
(1908), os estudos filológicos modificariam consideravelmente a forma de se pensar o
funcionamento das construções com se, pondo em xeque a opinião até então inconteste dos
4
O presente texto constitui-se como parte de um capítulo mais abrangente de minha tese de doutoramento, em que o
percurso historiográfico trilhado se estende consideravelmente, para além do apresentado aqui, abrangendo também
os trabalhos oriundos da filologia, as gramáticas históricas do português, a tradição gramatical brasileira, a
continuação dos textos da tradição gramatical portuguesa feita no século XX, bem como os trabalhos de lingüística
histórica que, sob enfoques teóricos diversos, tematizam as construções com se.
38
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
gramáticos portugueses acerca da dita voz passiva pronominal.
2. A tradição gramatical portuguesa - de Fernão de Oliveira a Manuel Botelho
Nos primeiros momentos da gramaticologia lusitana, um traço recorrente na abordagem das
categorias lingüísticas feita pelos gramáticos portugueses é o enfoque predominantemente
morfológico da descrição, em detrimento da sintaxe ou da semântica. Este centramento na
morfologia é o reflexo direto do saber gramatical produzido na Antiguidade, sobretudo pela vertente
grega. Por meio de sucessivas tentativas de classificação lexical, desde os diálogos platônicos até a
gramática de Dionísio Trácio (NEVES, 1987), o pensamento grego engendrou e cristalizou o estudo
das unidades constituintes da frase separadas por classes, o que se definiu como a teoria das “partes
do discurso”.
Herdeiros da tradição gramatical greco-latina, os autores das primeiras gramáticas da língua
portuguesa buscarão descrever as construções com se quando tratam da categoria de voz, partindo,
assim, dos verbos como classe de palavra “autônoma”. Esta perspectiva fortemente morfológica das
primeiras gramáticas é importante de ser assinalada, na medida em que orienta a descrição
lingüística a partir dos itens lexicais isolados, sem se preocupar em chegar a unidades combinatórias
maiores. Como conseqüência, os planos das relações sintáticas e/ou semânticas acabam por ser
subordinados ao morfológico (o que, no caso específico do estudo das construções com se,
conforme se verá, trará dificuldades ao autores para explicarem a correlação entre a morfologia e a
semântica destes enunciados em particular).
No período histórico que compreende o português arcaico, ou, dito de outra forma, das
origens da língua até as primeiras décadas do século XVI, não há registro de produção de
gramáticas em Portugal. A tradição gramatical portuguesa inicia-se, de fato, na primeira metade do
século XVI, adotando uma perspectiva de descrição didático-normativa do modelo de língua
39
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
sincrônica usado à epoca, e impulsionada pelo ideal renascentista de defesa da língua vernacular
frente ao latim.
Nascida com a vocação de uma gramática sincrônica, no momento em que escrevem os
fundadores da disciplina gramatical portuguesa não havia a preocupação com a elaboração de uma
descrição sistemática da história da língua. Este fato metodológico permite compreender que a
evolução pela qual já tinha passado o português em todo o período arcaico, via de regra, não era
levada em consideração, dado o caráter de precedência da descrição sincrônica desejado numa
época em que, para os autores de gramática, “as línguas vulgares ou vernaculares (embora se lhes
reconheça como marca indubitável de prestígio a filiação latina) apresentam-se [...] como línguas
sem passado” (BUESCU, 1978: 16).
A Gramática da Linguagem Portuguesa, escrita por Fernão de Oliveira (1536), nas
modestas palavras do autor menos uma gramática stricto sensu que uma “primeira anotação da
Língua Portuguesa”, não faz qualquer menção à voz passiva ou às construções com o clítico se. Tal
silêncio não é de espantar em Oliveira, que dedica boa parte de sua obra à descrição fonética,
acrescida de alguma reflexão sobre problemas morfológicos, e que termina com uma brevíssima
referência – no penúltimo capítulo do livro – à sintaxe, componente lingüístico a que, diz Oliveira,
“os gramáticos chamam construição”.
Poucos anos depois, caberá a João de Barros (1539-1540), por sua vez, mencionar pela
primeira vez as construções com se. Com efeito, ao tratar da classe dos verbos, e valendo-se das
categorias existentes na gramática latina, o autor objetiva propor uma tipologia verbal em
português, de acordo com os “gêneros” em que eles se dividem:
Género, em o vérbo, é ûa natureza espeçiál que tem uns e não tem outros, pela quál conheçemos serem uns
autivos, outros passivos e outros neutros – nos quáes géneros repártem os Latinos os seus, e em outros
dous, a que chamam comuns e depoentes. Nós, destes çinquo géneros temos sòmente dous: autivos e
neutros5 (BARROS, 1540: 325).
5
Sobre o significado destes termos, comparados à metalinguagem mais contemporânea, é esclarecedor o comentário
de um gramático novecentista: “Aos verbos transitivos chamam alguns grammaticos verbos activos, e aos verbos
40
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
Utilizando um critério formal, Barros nega a existência em português de verbos passivos.
Reconhece, entretanto, a possibilidade de que os verbos ativos possam ser convertidos “ao módo
passivo”. A compreensão deste passo da Gramática de João de Barros depende novamente da
gramática latina, uma vez que, ao descrever a gramática do português o autor, via de regra, não
perde de vista nem o latim como paradigma de língua, nem a gramaticologia latina como horizonte
de retrospecção científico (AUROUX, 1992). Ora, em latim, nos tempos do subsistema verbal do
infectum, os verbos recebem as desinências número-pessoais { -r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur },
marcas morfossintáticas específicas de formação da voz passiva, em oposição às da voz ativa { -o/m, -s, -t, -mus, -tis, -nt }. No latim, portanto, não há dúvidas de que existem formas passivas que
são expressas sinteticamente, ou seja, por meio de um único sintagma. Tendo como modelo
lingüístico o latim, e a sua forma de expressão sintética da voz passiva, Barros conclui:
E porque nam temos vérbos da vóz passiva, soprimos este defeito per rodeo (como os Latinos fázem nos
tempos [em] que lhes faléçe a vóz passiva), com este vérbo, sou, e um partiçípio do tempo passádo,
dizendo: Eu sou amádo dos hómens e Deos é glorificádo de mi (BARROS, 1540: 327).
O que se pode entender do comentário é que Barros reconhece a construção ser + particípio
passado, isto é, a passiva participial, como possibilidade de manifestação da passividade na
língua. Ao lado dessa construção, o autor admite que o português possua um outro tipo de voz
passiva, expressa com recurso aos verbos denominados por ele de impessoais, tipo de verbo
definido pelo gramático como o que “se conjuga pelas terçeiras pessoas do número singular e não
tem primeira nem segunda pessoa” (id., ib.: 327). Segundo o autor, no português quinhentista, era
comum o uso de certos verbos na terceira pessoa do singular junto com o clítico se, como em frases
do tipo:
(1) No paço se pragueja fòrtemente.
Chama a atenção o fato de que, na sincronia atual, não parece haver passividade na análise
intransitivos neutros” (CALDAS AULETE, 1864: 35).
41
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
da construção, haja vista que até mesmo os compêndios mais tradicionais classificam-na como frase
de verbo intransitivo. Seria diferente o caso no estágio da língua em que escreve o autor? Eis um
tipo de limitação de saber a que o estudioso do passado da língua não tem como penetrar, por faltar
o depoimento do falante. Seja como for, em João de Barros, e pela primeira vez na gramaticologia
portuguesa, temos esboçadas duas possibilidades de expressão para as construções passivas:
(i) de um lado, a passiva participial, formada por ser + particípio passado;
(ii) e de outro, a passiva impessoal, uma voz passiva formada com verbos impessoais +
o clítico se.
Na segunda década do século XVII, Amaro de Roboredo (1619: 13) apresenta uma
classificação diferentemente da de Barros, entendendo que o português tem dois tipos de verbos,
ativos e passivos: “O Verbo, ou he Activo ou Passivo”. Embora admita num passo a existência de
“verbos passivos”, mais adiante o autor nega que exista em português as “vozes passivas”, no que
parece querer se referir à ausência das formas passivas, como já fizera Barros. Seja como for, sua
argumentação é, de certo modo, um pouco confusa, como se vê pela passagem abaixo. A
exemplificação é em latim, não em português, embora Roboredo queira descrever a “oração
passiva” desta língua, e não daquela:
Na [língua] Portuguesa, não ha mais voz Passiva, que o Participio, e Gerundio em, Do. O Verbo activo tem
actividade, a qual termina em o Accusativo; como Amo literas: este Accusativo (quando a oração se faz per
Passiva) se porá em Nominativo do mesmo número, com o qual Nominativo se contenta o Passivo, como
Literae Amantur (ROBOREDO, 1619: 13).
O filólogo e gramático português seiscentista segue na esteria de Barros, ao observar que a
“falta” de passivas na língua é suprida ora pela perífrase ser + particípio, ora pelas construções com
se. Da observação da sintaxe destas últimas, nota-se que Roboredo também parece defender a
existência de uma passiva impessoal:
Alem disso para supprirmos esta falta, & nterpretarmos [sic] os tempos de outras linguas, usamos hum
rodeio de terceiras pessoas passivas feito de activas & do Accusativo, Se, como movia Se, movera Se, elle
se movesse, mova Se &c. Por este rodeio se significa, ou o mesmo agente do verbo, que redobra sobre si, ou
outro em commum, & confuso, que responde aos Impessoais dos Grammaticos; como affirmava se que
42
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
vinheis a esta cidade (id., ib.: 32-33)
No século XVIII, a publicação da gramática de Reis Lobato – o gramático “oficial” da época
pombalina –, confirma que a distinção entre verbos ativos e passivos vai se tornando tradicional na
gramaticologia portuguesa. Uma novidade na descrição do autor é que, compreendendo a análise de
passividade a partir do sentido, e não da forma, Reis Lobato trata a perífrase (p. ex., “foi ferido”)
como uma unidade gramatical, como se tratasse de um verbo só:
Os Grammaticos dividem o verbo em varias especies. As principaes são: Activo, e Passivo. Verbo Passivo
(...) he aquele que affirma paixão, isto he, que alguem padece a acção, que outro obra. E desta paixão, que
significa, toma o nome, como quando digo: Paulo foi ferido por Pedro, onde o verbo foi ferido he passivo,
por affirmar que Paulo padeceo a acção, ou ferimento, que Pedro lhe fez (LOBATO, 1771: 55-56)
Note-se também que o autor, em momento algum, cita a existência da passiva com se em sua
obra. Um pouco mais adiante, termina a exposição do tema:
O verbo Ser, a que chamão substantivo, por affirmar a substancia, ou o ser do sujeito, que lhe exerce a
significação, he auxiliar, porque dos seus tempos, modos e pessoas se fórma toda a voz passiva de qualquer
verbo activo, pospondo-se-lhe o participio passivo do mesmo verbo. E com este circumloquio se supre a
falta que tem (a mesma se encontra nas outras linguas vulgares) a lingua Portuguesa de verbos passivos (id.,
ib.: 61-62).
Na tradição das Gramáticas Filosóficas em língua portuguesa, como exemplificam os
trabalhos de Bernardo Bacellar (1783), Jerônimo Barbosa (1807, 1822) e Francisco Constâncio
(18556), existem também menções às contruções com se.
Em Bernardo Bacellar, mais precisamente no capítulo em que trata “das castas d'acções, ou
verbos, que há”, dentre os tipos de verbos que elenca, o autor estabelece uma distinção entre dois
tipos de verbos passivos, mostrando que a precedência do morfológico sobre o sintático ainda é a
norma descritiva:
Ha (...) Verbo passivo reciprocado ; i. e. Os Turcos matavão-se á espada pellos Portugueses. (...)
Há Verbo Passivo Simples; e. g. Deos he amado por Pedro (BACELLAR, 1783: 102).
A distinção proposta por Bacellar entre os dois tipos de verbos passivos acabou não
6
Quanto aos interesses investigativos da presente Tese, registre-se que o autor apenas que o verbo passivo “he voz
dos verbos que são susceptíveis d'ella, e não verbo distincto”, não muito aclarando sobre o funcionamento dos
constituintes oracionais das construções passivas.
43
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
formando tradição, não tendo sido acolhida por seus sucessores. Chama a atenção, entretanto, um
dado lingüístico registrado na citação: a presença do agente da passiva no exemplo dado para o
enunciado com “passivo reciprocado”. Ainda que se trate, em princípio, de um dado artificial, isto é,
de um uso criado artificialmente, é significativo que o gramático defenda a possibilidade de
preenchimento do lugar sintático do agente da passiva em passivas de se. Mais que isso, a presença
do agente da passiva “libera” o sintagma (os turcos) de ter de ser o agente da frase. Desse modo,
Bacellar demonstra que este preenchimento sintático, se não era usual para os falantes em geral,
pelo menos era admitido no nível da descrição gramatical para um autor de gramáticas que escreve
no final do século XVIII7.
Merece destaque também em Bacellar um outro aspecto da análise das construções com se.
Em João de Barros e Amaro de Roboredo, como se viu, apresenta-se a proposta da existência de
uma passiva impessoal com recurso ao clítico se, diante de verbos intransitivos. Até esse momento,
no entanto, tais construções não tinham sido descritas como passivéis de flexão em número, sendo
referidas por Barros (1540: 327) como enunciados cuja característica básica é a de serem compostos
de um verbo que “se conjuga pelas terçeiras pessoas do número singular e não tem primeira nem
segunda pessoa”. Esta situação se modifica na Grammatica Philosophica, de Bacellar, cujas
palavras sugerem uma interpretação passiva das construções com se, mas agora diante de verbos
transitivos. Desse modo, amplia-se aqui, na tradição gramatical portuguesa, as propostas de
descrição dos tipos de frases passivas:
He de advertir que alguns confundem os verbos reciprocos com os passivos, e encyclicos. Os destas
orações: Dizem que se enthesoura dinheiro: Chorem-se os peccados: Justo he que se prendão os ladrões: Os
Turcos matavam-se á espada pellos Portugueses; por não haver agente que faça, e recolha em si a acção;
mas são verbos passivos por serem equivalentes de: he enthesourado : sejão chorados, prezos, mórtos
(BACELLAR, 1783: 58).
Embora Bacellar não faça uma descrição pormenorizada dos constituintes da frase, pode-se
7
Para uma avaliação da possível influência do agente da passiva no processo de mudança lingüística que atinge as
construções com se em português, veja-se Naro (1976) e Nunes (1991).
44
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
depreender a partir da citação a intuição do autor rumo a uma conceituação do clítico como
apassivador, do sintagma como sujeito, e, mais importante, da construção como uma passiva
pronominal (ou passiva de se).
Em Jerônimo Barbosa, a primeira referência da voz passiva se encontra na sua obra As duas
linguas, ou Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza, comparada com a Latina, para
ambas se aprenderem ao mesmo tempo. Inspirado no projeto da Gramática Filosófica, endossando a
tese de que “a Grammatica he huma sciencia universal” (BARBOSA, 1807: v), o autor busca
comparar a maneira de se formar a voz passiva em latim à do português. Mais do que aproveitar
uma metalinguagem científica comum, seu objetivo é apontar as semelhanças estruturais, ou “os
principios geraes” em que se expressam as sintaxes latina e portuguesa. Para atingi-lo com mais
eficiência, privilegiando os fatos gramaticais universalizantes e descartando os que indicam
variabilidade, o autor se atém apenas às formas do perfectum latino, deixando de lado as formas
sintéticas oriundas dos tempos do infectum, exemplos que são, sabidamente, estas últimas de
diferenças estruturais entre as duas línguas.
Sua exposição mais completa sobre o assunto, entretanto, aparece na sua Grammatica
philosofica, cuja primeira edição é de 1822. A observação de que o característico sintetismo das
línguas clássicas ao exprimirem a voz passiva não encontra contrapartida em português – uma
recorrência entre os fundadores da gramática lusitana –, continua vigente para Jerônimo Barbosa,
segundo o qual o verbo (em português) não tem:
linguagem simples para a voz passiva, como tem para a activa. Assim, não se póde dizer que [a língua
portuguesa] tem verbos passivos, como tinham os gregos e romanos, que expressavam esta voz com as
mesmas linguagens simples da activa, dando-lhes só differentes características e terminações: como de τιω,
eu honro, faziam τιωμαι, eu sou honrado; de αμο eu amo, faziam αμορ, eu sou amado (BARBOSA, 1871:
178).
Barbosa, ancorando-se nos dizeres de João de Barros, faz a ressalva de que, se a língua
portuguesa não tem verbos passivos, “nem por isso deixa de ter a voz passiva”. O autor reconhece a
possibilidade de formação da voz passiva: (i) pela perífrase ser ou estar + particípio; (ii) pelo
45
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
recurso às construções com se. Vejamos o texto original:
Além d'esta voz passiva ordinária e geral, feita do verbo substantivo e seus auxiliares com os participios
perfeitos passivos, ha outro modo particular mais breve de formar a voz passiva das terceiras pessoas,
principalmente quando os sujeitos das linguagens são coisas inanimadas, que é ajuntar o reciproco se ás
terceiras pessoas, tanto do singular como do plural do verbo adjectivo, d'este modo: n'este paiz estima-se a
virtude, e premêa-se o merecimento. Isto entende-se muito bem. Quando as guerras são justas, applaudemse as victorias; onde estima-se, premêa-se, entende-se, applaudem-se, estão em logar de é estimada, é
premiada, é entendido, são applaudidas (BARBOSA, 1871: 179, negritos meus).
Se pensarmos no exemplo com que, algumas décadas antes, Bacellar intuíra a existência da
passiva pronominal, temos de admitir, em contrapartida, que com Jerônimo Barbosa a descrição da
correlação entre as duas frases entendidas como passivas aparece formulada com maior clareza. É
verdade que não temos ainda um nome para a construção. Note-se que ela é definida por Barbosa
sempre em termos de contraste com o saber gramatical já estabelecido na tradição, isto é, a passiva
participial. Talvez por isso, a nova construção venha denominada modesta e sugestivamente de
outra. Diante de “estima-se a virtude”, existe “um outro modo particular” de se dizer o fato (“é
estimada” [a virtude]), sendo, inclusive, “mais breve” este novo modo de exprimir o pensamento.
Mas as reflexões de Jerônimo Barbosa não páram por aí. O autor aponta a relação de
concordância estabelecida entre o sintagma (admitido como sujeito) e o verbo; classifica o clítico de
recíproco; aponta a preferência desta passiva “mais breve” sobre a participial, dependendo do tipo
semântico de sujeito; e propõe a existência da relação de sinonímia entre as duas passivas, a passiva
participial e a passiva de se (proposta de análise lógico-semântica que, como se apontou, já tinha
sido referendada por Bacellar; diga-se de passagem, para se reconstituir historicamente como se
desenvolveu na gramaticologia de língua portuguesa o estatuto teórico das construções com se dito
apassivador ou indeterminador, é bastante significativo que a idéia da relação sinonímica entre as
duas “passivas” tenha sido engendrada no seio de uma gramática de formação filosófica).
Quanto à observação do autor sobre o tipo semântico do sintagma que realiza o sujeito
sintático, observe-se o recurso à modalização de sua fala, em que está presente o modificador
“principalmente”. Se não podemos saber, ao certo, como reagiam os falantes da época quanto à
46
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
(não) passividade da frase, Barbosa implicitamente nos dá o testemunho, mesmo num nível teórico,
da dificuldade por parte do gramático de manter a classificação de passiva para a construção em
frases com sujeitos animados. Algumas páginas adiante, ao tratar da voz média, Barbosa volta a
opinar sobre esta “dificuldade” descritiva, para a qual sugere, inclusive, um paleativo. Comparando
a sintaxe do grego à do português, em cujas línguas a voz média servia “não só para fazer reflectir a
acção sobre o agente, mas também em sentido passivo”, Barbosa adverte o usuário do português
para a necessidade, em certas construções, de um redobro pronominal que visasse desfazer
ambigüidades:
Como as terceiras pessoas d'estes verbos médios se tomam a cada passo em sentido passivo, para tirar o
equivoco, e mostrar que são reflexas, se faz muitas vezes preciso ajuntar ao pronome se, caso ou
complemento objectivo, o caso terminativo do mesmo pronome com a preposição dizendo: a si mesmos,
etc. Por exemplo: este homem reputa-se sabio, estes homens chamam-se sábios, póde ter dois sentidos, um
passivo em logar de é reputado, são chamados; e outro activo reflexo em logar de este homem reputa-se
sabio a si mesmo, estes homens chamam-se sábios a si mesmos; e para tirar o equivoco necessitam d'esta
addição (BARBOSA, 1871: 184).
Após concluir que, em português, os verbos reflexivos, quando usados na terceira pessoa,
têm sentido passivo, o autor acrescenta:
Algumas vezes mesmo, bem que mais raras, [os nossos verbos reflexos] tem a dita significação passiva,
ainda quando o sujeito é nome de pessoas como: no juizo de Deus até um ladrão se salva, no juizo, [sic] dos
homens S. João Baptista se condemna” (id., ib., negritos meus).
Em Francisco Ferreira (1819: 31-33), que precede em três anos a primeira edição de
Barbosa, há pouco que notar quanto ao tema aqui investigado. O autor inova um ponto em relação a
seus predecessores, ao reconhecer a categoria de voz como um dos “accidentes do verbo”, ao lado
de outras modificações típicas da classe dos verbos tradicionalmente apontadas pelos gramáticos
(como tempo, modo, número, etc). Para ele, voz é sinônimo de forma ou de “certas terminações,
que exprimem huma significação Activa, ou Passiva”. A necessidade da presença de mais de um
vocábulo na formação da passiva em português é novamente reafirmada por Ferreira, que aponta
para o fato de que as terminações passivas não podem exprimir-se em português, “por não
podermos dizello em huma só palavra como os latinos”. Seu olhar gramatical, contudo, permanece
47
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
demasiadamente morfológico, e os aspectos sintáticos quase não são discutidos pelo autor, que nada
mais diz sobre passivas ou passividade.
Na segunda metade do século XIX, o posicionamento dos gramáticos portugueses quanto à
postulação das passivas de se é oscilante. De um lado, temos o trabalho de Bento José de Oliveira
(1862), autor de uma gramática secundária “compilada dos nossos melhores autores”, conforme
esclarece o autor no prefácio. Bento de Oliveira (1862: 39) aceita a postulação da passiva de se.
Para ele, porém, se a construção é passiva, o clítico tem valor de indefinido, e não apassivador: “As
terceiras pessoas da activa também se podem apassivar junctando-se-lhes o pronome indefinido se,
quando este não se refira ao subjeito”. Doutra parte, contemporâneo de Bento de Oliveira, Júlio
Caldas Aulete observa um curioso silêncio sobre o assunto na sua Grammatica Nacional (1864).
Obra destinada ao uso escolar, como a de Oliveira, publicada com um lisongeiro parecer favorável
de Antonio Feliciano de Castilho, nela o autor trata didaticamente de todas as categorias verbais
(modo, tempo, número e pessoa), as denominanas “terminações dos verbos”. Entretanto, nada
menciona Caldas Aulete sobre a categora de voz, nem sobre as construções com se.
Uma terceira via é aquela adotada por Teófilo Braga (1876), que só admite a existência da
passiva participial. Passados doze anos do surgimento do trabalho de Caldas Aulete (1864), o autor
publica a sua Grammatica Portugueza Elementar, na qual opta por tratar do tema passividade na
subseção dedicada aos “verbos passivos”. Não há na obra qualquer referência à passiva pronominal,
um indício de que Teófilo Braga não endossasse a análise de passiva para as construções com se.
Comportamento idêntico assumem Epifânio Dias (1882) e Manuel Botelho (1887), cujas obras
defendem apenas a existência da passiva formada pela perífrase auxiliar + particípio.
3. Conclusão
Num balanço do saber gramatical produzido entre 1536 e 1870 pelos estudos gramaticais de
48
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
viés normativo e sincrônico, pode-se dizer que as gramáticas portuguesas produzidas entre o século
XVI e o século XIX – exemplificadas neste trabalho por meio dos trabalhos de Fernão de Oliveira
(1536), João de Barros (1540), Amaro de Roboredo (1619), Reis Lobato (1771), Bernardo Bacellar
(1783), Francisco Ferreira (1819), Jerônimo Barbosa (1807, 1822), Francisco Constâncio (1855),
Bento de Oliveira (1862), Caldas Aulete (1864), Teófilo Braga (1876), Epifânio Dias (1882) e
Manuel Botelho (1887) – optam, via de regra, por tratar das construções com se, quando o fazem,
por meio da descrição do tópico vozes verbais. Quanto às chamadas passiva de se, os autores
divergem na forma de abordá-la: Barros e Roboredo distinguem um tipo de passiva impessoal,
formada pelo clítico se usado junto a verbos impessoais; Bacellar e Barbosa, por sua vez, tecem
comentários descritivos favoráveis à postulação de que as construções com se sejam passivas,
referindo-se (i) ao caráter obrigatório da concordância entre o sintagma e o verbo; (ii) e à
correspondência semântica da passiva de se com a passiva participial como “prova” da passividade
das primeiras; estes dois argumentos, usados sobretudo por Barbosa, serão repetidos à exaustão
tanto na gramaticologia lusitana quanto na brasileira posteriores.
Entretanto – é importante insistir nisto – não aparece, ainda, nestes quatro séculos da
gramaticologia portuguesa, uma denominação metalingüística específica para a classificação da dita
voz passiva em que comparece o clítico. Se, desde Barros, os gramáticos convergem na aceitação e
na descrição da passiva participial; se alguns deles mencionam ainda a existência de uma passiva
impessoal; o único a esboçar uma classificação das passivas de se, ainda que sem uma precisão
terminológica, é Jerônimo Barbosa, que divide as passivas em dois tipos: uma, “ordinária e geral”
(a participial); outra, formada de “modo particular e mais breve” (a passiva de se).
Ao findar o século XIX, os trabalhos oriundos da nascente tradição gramatical brasileira,
bem como o impacto dos trabalhos advindos da Gramática Histórico-Comparativa e da Filologia
irão estabelecer as bases científicas para a formação de uma querela em torno da análise das
49
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
construções com se dito apassivador ou indeterminador no domínio do português. Os trabalhos de
cariz filológico, ao dar relevância a aspectos diacrônicos com base, sobretudo, na genealogia das
línguas, além de lançar novas luzes sobre as possibilidades explicativas da sintaxe destas
construções dentro do cenário da Lingüística, terminarão por influenciar, em maior ou menor grau,
o enfoque do tema nas gramáticas produzidas, a partir de então, nos dois lados lusófonos do
Atlântico.
4. Referências Bibliográficas
AUROUX, Sylvain. A Revolução Tecnológica da Gramatização. Campinas: Editora da Unicamp,
1992.
BACELLAR, B. L. M. Grammatica Philosofica, e Orthographia Racional da Lingua Portugueza.
Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1783.
BAGNO, M. Pseudopassiva “sintética” ou Pseudopassiva “pronominal”. In Dramática da língua
portuguesa. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2001, pp. 219- 250.
BARBOSA, J. S. As duas linguas, ou grammatica philosophica da lingua portugueza, comparada
com a latina, para ambas se aprenderem ao mesmo tempo. Coimbra: Real Impressão da
Universidade, 1807.
____. Grammatica philosophica da lingua portugueza ou principios da grammatica geral
applicados á nossa linguagem. 5ª ed. Lisboa: Typ. da Academia Real das sciencias, 1871[1822].
BARROS, J. de. Gramática da Língua Portuguesa: Cartinha, Gramática, Diálogo em Louvor da
Nossa Linguagem e Diálogo da Viciosa Vergonha. Reprodução facsimilada, leitura, introdução e
notas por Maria leonor Carvalhão Buescu. Lisboa: Faculdade de Letras, 1971.
BOTELHO, M. Grammatica Portugueza Elementar. Lisboa: Imprensa Nacional, 1887.
BRAGA, T. Grammatica Portugueza Elementar. Porto: Livraria Portugueza e Estrangeira, 1876.
BUESCU, M. L. C. Gramáticos portugueses do século XVI. Venda Nova – Amadora: MECInstituto de Cultura portuguesa, 1978.
CALDAS AULETE, J. Grammatica Nacional. Lisboa: Typographia Franco-portugueza, 1864.
COELHO, F. A. Theoria da conjugação em latim e portuguez. Lisboa: Typographia Universal,
1870.
50
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas
(Eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela,
Ana Alexandra Silva © Copyright 2010 by Universidade de Évora
ISBN: 978-972-99292-4-3
SLG 38 – O Português antigo: descrição e funcionamento.
CONSTÂNCIO, F. S. Grammatica analytica da lingua portugueza. Paris: J. P. Aillaud, 1855.
DIAS, A. E. Grammatica Portugueza Elementar. 5ª ed. revista. Lisboa: Typographia da Empreza
Litteraria Luso-Brazileira, 1882.
FERREIRA, F. S. Elementos de grammatica portugueza. Lisboa: Impressão Regia, 1819.
LOBATO, A. J. R. Arte da Grammatica Portugueza. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1771. ( 1ª
edição de 1770).
MONTEIRO, J. L. A questão do se. In Pronomes Pessoais: subsídios para uma gramática do
português do Brasil. Fortaleza: Edições UFC, 1994, pp. 103-110.
NARO, A. J. The genesis of the reflexive impersonal in Brazilian Portuguese: a study in
syntactic change as a surface phenomenon. IN: Language 52.4.
NEVES, M. H. M. A vertente grega da gramática tradicional. São Paulo: Hucitec, 1987.
NUNES, J. M. O famigerado se: uma análise sincrônica e diacrônica das construções com se
apassivador e indeterminador. Campinas: Unicamp, 1990. (Dissertação de mestrado).
OLIVEIRA, B. J. Nova Grammatica Portugueza. Coimbra: Livraria de J. Augusto Orcel, 1862.
OLIVEIRA, F. de. Gramática da Linguagem Portuguesa. Introdução, leitura actualizada e notas por
Maria Leonor Carvalhão Buescu. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1975.
OSÓRIO, P. J. & MARTINS, E. F. A sintaxe das construções com se no português do Brasil.
Lisboa: Zaina Editora, 2007.
ROBOREDO, A. de. Methodo grammatical para todas as linguas; edição de Marina A. Kossarik.
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002 (Reprodução fac-similada da edição de Lisboa:
Pedro Craesbeck, 1619).
RODRIGUES, J. M. Sobre um dos usos do pronome se: as frases do tipo vê-se sinais. In Boletim da
Segunda Classe, vol. II, da Academia de Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914, pp. 3-14.
SAID ALI, M. O pronome Se. In: Dificuldades da Língua Portuguesa. 6ª ed. Rio de Janeiro,
Acadêmica, 1966[1908], pp. 89-101.
SCHERRE, M. M. P. Doa-se lindos filhotes de poodle: variação lingüística, mídia e preconceito.
São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
51