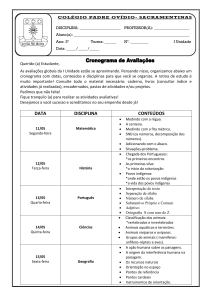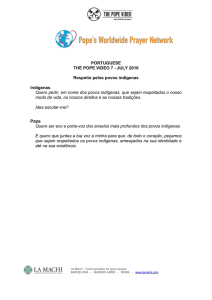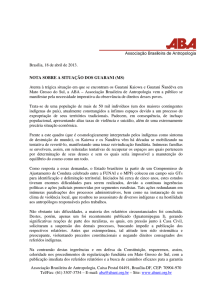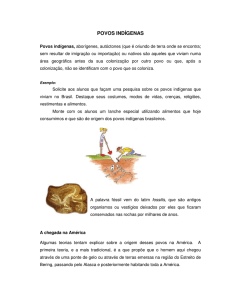1
O papel do psicólogo no processo de escuta
de crianças e adolescentes: uma contribuição da antropologia
Vanessa Caldeira1
Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao Conselho Federal de
Psicologia pelo convite e pela oportunidade de diálogo.
Sou antropóloga e trabalho com a questão indígena desde 1997. Contudo, minha
atuação numa interface com a psicologia adveio apenas nos últimos três anos, quando
iniciei um trabalho na Casa de Apoio à Saúde do Índio de São Paulo (Casai SP),
unidade vinculada à Funasa, Ministério da Saúde.
A Casai SP atende indígenas provenientes de todo o território nacional para
tratamentos considerados de alta complexidade. Nessa instituição, sou uma das
profissionais integrantes da equipe multidisciplinar responsável pelo Programa
Tamoromu – programa que tem como objetivo potencializar a estrutura de acolhimento
da instituição e auxiliar no tratamento e recuperação do bem-estar dos pacientes
indígenas.
A equipe é formada por uma psicóloga, uma pedagoga e uma arte-educadora, além de
um profissional da antropologia. Dentre várias atividades desenvolvidas pela equipe,
gostaria de destacar aqui duas delas: os acompanhamentos de caso e as reuniões
ampliadas para discussões de casos. Nestas atividades em especial, entendo que a
atuação interdisciplinar, multiprofissional, multisetorial, multi institucional e multicultural
(características já citadas por profissionais no evento do RJ e por Beth) tem sido
realizada.
Os acompanhamentos de caso configuram-se em uma escuta cuidadosa aos
indígenas pacientes ou acompanhantes realizada pelas profissionais que compõem a
equipe. Alguns casos demandam maior atenção e a partir desta escuta, a equipe
pensa, na maioria das vezes, conjuntamente com a chefia da Casai SP e com a
equipe de enfermagem como podem ser tomados alguns encaminhamentos junto à
instituição ou junto ao indígena (e familiar). Os acompanhamentos têm se configurado
em um espaço importante para a construção de sentidos para aquilo que é vivenciado
ao longo do tratamento. A partir de uma escuta cuidadosa, como denominamos, há
uma busca pelo respeito à singularidade étnica e pelo estabelecimento de relações
entre a vivência e as formas de tratamento da situação da doença, num lugar outro
que não o da aldeia ou da comunidade de origem (Tamoromu, Relatório de Atividades
IV, 2009).
Através de conversas em oficinas temáticas, ou de conversas no leito, ou nos
ambientes de convivência da Casai, ou ainda na nossa sala de trabalho, elaboramos
formas de atuação. Não hora marcada para essas conversas acontecerem. As
demandas são variadas e o entendimento sobre o trabalho com esses pacientes e
acompanhantes é construída no cotidiano. Muitas vezes, é no encaminhamento de um
1
Antropóloga, mestre em Ciências Sociais pela PUC/SP, profissional da Casa de Apoio à Saúde do Índio
de São Paulo (Casai SP), unidade da Funasa, Ministério da Saúde.
2
pedido de como usar o telefone, de como ir ao banco, questões simples do dia-a-dia
para nós, possibilitam uma “porta de entrada” para a construção de relações de
confiança – aspecto fundamental para o trabalho, posto que atuamos com uma
população extremamente desconfiada. Investir nesse na escuta significa investir na
quebra de resistências de uma relação historicamente constituída.
Os acompanhamentos de caso implicam em conversas com os indígenas sobre o
tratamento, sobre como tem sido estar na Casai, etc. Mas também implicam em
conversas com a equipe de enfermagem ou com a equipe do Ambulatório do Índio da
Unifesp, entidade parceira no atendimento aos indígenas na cidade de SP, sobre o
quadro clínico e uma análise interdisciplinar de alguns casos.
As reuniões ampliadas foram outro importante espaço criado para pensar situações
vividas por alguns pacientes. O diferencial nessa atividade é a inserção de
representantes de instituições parceiras, familiares e ou representantes da
comunidade indígena da qual o paciente faz parte, o próprio paciente, e equipes que
atuam na região de origem do paciente. Ou seja, através do encontro dos principais
atores envolvidos no tratamento do paciente e o próprio é que são pensados os casos
e tomadas decisões. O objetivo é construir caminhos em que o tratamento faça sentido
para o paciente e que o modo de olhar o problema (ou mesmo a solução) não seja
privilégio de apenas um desses atores, normalmente, o da equipe médica, mas do
grupo envolvido.
Nesse contexto de trabalho, as discussões de casos com Joana Garfunkel, psicóloga
e minha colega de equipe, tornaram-se reveladoras. Através desse diálogo, foi
possível ampliar visões, reflexões e elaborar novas questões. Como profissional que
atuou principalmente com questões políticas, temas pertencentes à arena pública e
bandeira comum a um grupo étnico ou mesmo ao próprio “movimento indígena”, como
demarcação de terras e reconhecimento étnico oficial; perguntas como: o que é
sofrimento psíquico, individual? O que é sofrimento para um indígena de um
determinado povo? Quais são as angustias desse indivíduo? Como é vivido o amor, o
casamento, a traição? - nunca fizeram parte do meu olhar antropológico. Questões
como essa, da esfera doméstica, do universo individual, das emoções não
compuseram meu campo de trabalho até chegar à Casai - um lugar onde indígenas,
pessoas com problemas de saúde graves, oriundas das diversas regiões do país,
permanecem em uma situação de crise específica por um tempo indeterminado em
uma cidade estranha, a maior da América Latina. Acolher esse público, ouvi-lo,
conhecê-lo, entendê-lo, em sua individualidade e em seu contexto étnico é nossa
função e nosso desafio.
Em um dos colóquios do GT Povos Indígenas do CRP SP, em 2008, Joana
apresentou uma questão importante e que talvez poucos psicólogos tenham condições
de formulá-la devido a pouca experiência de diálogo entre os profissionais dessa área
e os povos indígenas: conversar ajuda? Uma pergunta que pode ser recebida com
surpresa, posto que a conversa é o modo por excelência de atuação da psicologia.
Contudo, além de a meu ver a pergunta proceder, ela é reveladora de uma postura –
uma real postura de escuta, de um desejo de conhecer o outro; e ao conhecê-lo, não
temer questionar a si mesmo.
3
Segundo a antropóloga Clarice Cohn, a antropologia dedica-se a entender o ponto de
vista daqueles sobre quem e com quem fala; dedica-se a entender um fenômeno em
seu contexto social. Assim sendo, a antropologia relativiza o que comumente pode ser
entendido como natural ou universal. Ela dá lugar a um fenômeno social.
Nesse sentido, qual poderia ser a contribuição da antropologia para os psicólogos em
processos de escuta de crianças e adolescentes? Colegas da área têm produzido
importantes reflexões teóricas a respeito: Clarice Cohn, Rita Segato, Angela Nunes
são algumas. Não pretendo aqui ocupar esse lugar, pois não sou especialista do tema.
O que me proponho é compartilhar algumas reflexões a partir da experiência de
trabalho na Casai e do diálogo com a psicologia a partir daí.
Isto posto, gostaria de apresentar algumas questões, ressalvando o fato de a
antropologia apenas recentemente ter se debruçado sobre o tema da criança e a
psicologia se constituir na disciplina que há muito se dedica ao assunto.
A primeira das questões, já enunciada acima, é:
1) Conversar ajuda? Pergunta elaborada por Joana e por ela mesma
respondida: o trabalho na Casai tem demonstrado que sim, apesar das
diferentes formas de estar, ser e viver; apesar da vasta diversidade étnica
que compõe o nosso país, para muitos indígenas, sim, conversar ajuda.
Sobre realizar atendimentos psicológicos aos indígenas na Casai SP,
Joana comentou no evento no CRP/SP, em novembro de 2008: “quais são
os meus instrumentos de trabalho nesses atendimentos [aos indígenas], no
meio desse caos que é vivido ali na Casai? Primeiro é a escuta, é ouvir, é a
partir dessa pergunta “Como você está?”, “O que você está vivendo aqui?”,
“O que é ficar aqui na Casai esse tempo?”. É abrir, e muito, o meu ouvido
para tentar captar de onde essa pessoa está partindo, de onde ela vem,
qual que é o ponto de partida, a partir do que ela está pensando e
construindo sentidos? Isso eu não faço sozinha. É isso que também me dá
um chão pra trabalhar nessa diversidade, nesse estranhamento, porque eu
vou vivendo um estranhamento radical em cada atendimento. Isso é vivido
no consultório também, mas eu sinto que na Casai é vivido na sua
radicalidade, porque muitas vezes a gente não compartilha nem mesmo a
língua. Então, como se dá esse diálogo? Já é a primeira pergunta. Eu
acabo tendo um chão para trabalhar com isso. Esse chão é a equipe
interdisciplinar e principalmente as conversas com a Vanessa. É essa
interface da Psicologia com a Antropologia, que nos possibilita construir
hipóteses sobre o que aquela pessoa vem vivendo ali na Casai”. Enquanto
disciplinas que possuem em comum a valorização da prática da escuta;
enquanto disciplinas que direcionam o sujeito a reconhecer a existência do
outro; que convocam a alteridade; direcionando o sujeito a apropriar-se de
sua própria história; ambas se constituem pela valorização da subjetividade
e pela atuação contrária à universalização do sujeito. Se uma atua no
âmbito do indivíduo e a outra no campo das coletividades, o trabalho na
Casai SP tem apontado para um feliz e profícuo encontro entre essas duas
áreas do conhecimento em uma atuação junto aos povos indígenas.
2) O que é ser criança? Essa é a pergunta primeira que a antropologia traz
para si ao discutir o tema. O que é ser criança para uma determinada
sociedade? Qual o lugar que ela ocupa em dada sociedade? Para o povo
indígena Xikrin, se é criança até se gerar uma criança. Para alguns outros
povos, se é criança (menina) até a primeira menstruação (menarca),
4
quando a então mulher pode se casar. Ser criança, portanto, não é uma
categoria universal, igualmente concebida e vivida em todas as sociedades;
ela é uma construção social. Ser adolescente é outra categoria rara de
observar nas populações indígenas. Comumente, através dos ritos de
passagem, crianças transformam-se em adultos, ainda que jovens adultos.
Tal questão nos leva a uma outra tão importante quanto: a imagem da
criança para nossa sociedade. Segundo Cohn, é necessário escaparmos
da imagem da criança como um ‘adulto em miniatura’, seres incompletos,
seres que sabem menos que o adulto, seres ‘receptáculos’ da cultura e
portanto passivos em um processo de aprendizado de como ser adulto.
Essa imagem (negativa) compromete, segundo a antropologia, a
capacidade de se comunicar efetivamente com a criança. Segundo Cohn, a
criança, como sujeito social, não entende menos as coisas, ela apenas
explicita o que os adultos sabem, mas não expressam. Elas são sujeitos
ativos e atuantes na vida social. Se a sociedade, o modo de viver do grupo,
seu sistema simbólico apresenta possibilidades de relações sociais, a
criança atua ao consolidar ou não algumas delas. Por exemplo: “os Xikrin
têm um sistema de parentesco classificatório que faz com que várias
pessoas, de acordo com sua posição genealógica, sejam enquadradas em
um mesmo tipo de categoria de parentesco. Assim, para dar apenas um
exemplo, os Xikrin estendem aos irmãos (homens) do pai o uso do termo
equivalente a pai; às irmãs (mulheres) da mãe o uso do termo equivalente a
‘mãe’. Isso não quer dizer que eles confundam os papéis e muito menos
que não saibam quem de fato os concebeu – quer dizer que eles
classificam do mesmo modo o pai e seus irmãos. De fato, a todos a que
chama ‘pai’ a criança deverá reservar um tipo de tratamento considerado
adequado a essa relação, o que os torna, aparentemente, indistintos. Mas
será que todos os irmãos do pai de uma criança serão tidos por ela como
se fossem pais e portanto terão a mesma importância em sua vida? Não
necessariamente...”(Cohn, 2005: 28-9)2
Para surpresa de muitos, o nosso sistema de parentesco não é o único
existente. A antropologia, através de suas pesquisas desde o início do
século XX, classificou três principais e diferentes sistemas: iroquês,
havaiano e omaha. Essa informação nos possibilita concluir que a noção de
família nuclear, família extensa, “casamentos ideais”, incesto, não são
dados, mas construídos socialmente, bem como a noção de criança. Olhar
para os povos indígenas a partir das nossas referências sociais pode então
comprometer a escuta a estes sujeitos de direito. Muitas vezes, não é
possível aplicar nossos valores, lógica simbólica num diálogo com esses
povos. Assim, torna-se fundamental uma escuta radicalizada como afirmou
Joana, ou uma escuta cuidadosa como definimos em nosso trabalho na
Casai, no sentido de nos despirmos para de fato buscar entender de qual
lugar social, cultural, histórico essas pessoas estão falando.
3) Universalidade dos direitos humanos X relativismo das culturas:
apenas a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o
Brasil reconheceu aos povos indígenas o estranho direito de serem
2
COHN, Clarice. Antropologia da Criança. Ed. Jorge Zahar: Rio de Janeiro; 2005.
5
“índios”. De acordo com o artigo 231, “são reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
Contudo, tem sido comum a opinião de que o reconhecimento a tal direito
deva vir acompanhado da seguinte ressalva: desde que não se choquem
ou neguem os princípios universais dos direitos humanos. No intuito de
formular uma estratégia para superação de tal oposição, a antropóloga Rita
Segato cita o jurista e antropólogo Boaventura de Souza Santos e defende
a possibilidade de se construir uma versão multicultural dos direitos
humanos. “A idéia, em síntese, é a de que todas as culturas são, em
alguma medida, incompletas e o diálogo entre elas pode avançar
precisamente a partir dessa incompletude, desenvolvendo a consciência de
suas imperfeições” (Segato; 2006: 218)3 Segundo ela, para Boaventura de
Souza Santos, “pode-se construir gradativamente um ‘multiculturalismo
progressista’, com base em uma conversação transcultural, pela qual cada
povo esteja disposto a se expor ao olhar do outro, um olhar que lhe mostre
as debilidades de suas concepções e lhe aponte as carências de seu
sistema de valores “(Segato; 2006: 219).
No Brasil, a dicotomia entre a universalidade dos direitos humanos e o
relativismo das culturas tem sido vivida na polêmica questão da prática do
infanticídio por alguns povos indígenas. Segundo João Pacheco de
Oliveira, presidente da Comissão de Assuntos Indígenas da Associação
Brasileira de Antropologia, o debate acerca do Projeto de Lei 1057/2007
não se configura como “uma campanha pró-vida, mas como uma tentativa
de criminalização das coletividades indígenas, colocando-as na condição
permanente de réus e propondo um inquérito para averiguação de seu grau
de
barbárie”
(ver
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/nota_infanti
cidio.pdf ). Segundo ele, tal projeto de lei coloca o país na contramão da
história ao admitir a criminalização de povos indígenas ao invés de buscar
a proteção de seus espaços próprios e de suas escolhas, os quais, é claro,
são também sensíveis e permeáveis ao diálogo intercultural, mas não à
prepotência e ao autoritarismo (neocolonial). Para João Pacheco, qualquer
política pública de intervenção ou mediação nestes contextos precisará ser
elaborada em conjunto com as populações afetadas. Ao Estado Social de
Direito cabe proteger essas populações para que elas possam existir
enquanto coletividades culturalmente distintas e não sob a condição de se
assemelharem mecanicamente a nossa. João Pacheco ainda contribui com
algumas questões: se o Estado decide por intervir de forma arbitrária no
modo de viver dessas sociedades, como ele o faria? Quais são os dados
numéricos confiáveis sobre tal prática? Qual conhecimento o Estado dispõe
para resolver problemas de coletividades que operam com outros marcos
culturais, se não tem conseguido resolver problemas referentes às suas
crianças? Como o Estado fiscalizaria tal prática? Por que substituir a mãe,
3
SEGATO, Rita Laura. Antropologia e Direitos Humanos: alteridade e ética no movimento de expansão
dos direitos universais. Mana 12 (1). Rio de Janeiro; 2006.
6
o pai, os avós, as autoridades locais, por uma regulação externa e
arbitrária? Tal intervenção pode resolver problemas de consciência de
alguns, mas cria outros: arraiga o preconceito e a postura autoritária; nega
a escuta e a alteridade.
4) Identidade étnica - indígenas no século XXI: por fim, gostaria de chamar
a atenção para um diferente contexto: o referente aos indígenas que não
possuem “cara de índio”.
O processo ou fenômeno conhecido como “etnogênese” – proliferação de
grupos anunciando-se como indígenas no Brasil, sobretudo na região
Nordeste, a partir da década de 1980 – provocou uma forte e especial
reação da opinião pública e governo. As demandas identitárias desses
povos, até então subsumidos, foram recebidas com suspeição e
descrédito. Distantes da imagem estereotipada de “índio” como ser
primitivo, eles sofrem ainda a discriminação por não serem aquilo que os
outros gostariam que eles fossem.
Em uma palestra organizada pelo Cedefes durante a Semana dos Povos
Indígenas em Contagem/MG, no ano de 1997, tive a oportunidade de ouvir
o indígena boliviano Carlos Intimpampa falar a respeito dessa questão.
Segundo ele, quando os europeus chegaram à América, encontraram
diferentes povos com diferentes hábitos e crenças. Mediante o violento
processo colonizador, disseram que esses outros hábitos e crenças não
eram “certos” e que era necessário que os indígenas falassem o seu
idioma, rezassem para o seu Deus, comessem o seu tipo de comida,
usassem o seu tipo de vestimenta. Após cinco séculos de imposição,
indígenas usam camiseta, falam português, comem alimentos
industrializados. No entanto, não é mais isso que se deseja dos povos
indígenas. Deseja-se que eles retornem àquele modelo e imagem de cinco
séculos atrás. Segundo Carlos Intimpampa, o ponto crucial dessa
discussão é: os povos indígenas não podem ser aquilo que os grupos
dominantes querem que eles sejam. Eles precisam assumir a condução e
o rumo de sua história. Eles não podem permanecer eternamente sendo
aquilo que outros querem que eles sejam em nome da manutenção de
uma ordem, de um status quo.
Nossos contemporâneos, os mais de 220 povos indígenas no Brasil,
caracterizam a diversidade étnica de nosso país. Eles não apenas
sobreviveram à violência e massacres, mas também ao domínio físico e
cultural, à política integracionista, ao mito do “bom selvagem”, à ideologia
da raça pura.
Na busca por garantir o direito de permanecerem em suas terras, com
atendimento digno à saúde, uma educação escolar diferenciada, os povos
indígenas reivindicam direitos especiais. Ocupando espaços que vão além
das aldeias, eles lutam para dizer o que querem e o que pensam e
“mostram sua cara” na busca por conduzir o rumo de sua história. Através
de representações sociais que fogem ao estereótipo do índio presente no
imaginário popular, eles tentam garantir aquilo que historicamente lhes foi
(e ainda parece ser) negado: o direito de ser o que são.
A proliferação de identidades indígenas no país (povos que não eram
reconhecidos como indígenas ou que foram considerados extintos pela
historiografia oficial) não é um caso de “índios falsos”, que forjam
identidades apenas para ter acesso a direitos. Essa seria uma maneira
rasa e cômoda de tentar compreender tal questão. Seria mais apropriado
tentarmos ouvir e entender esses povos para então nos comportarmos
como se os conhecêssemos. A “invenção” de identidades não se
caracteriza por um processo fortuito. Ela ocorre sempre ‘a partir de’, com
7
base ‘em’. Através do par memória-direitos (e não necessariamente culturaproteção) (Arruti; 1997: 13), coletividades elaboram seu passado. Através
da “descoberta” de direitos, de um processo de conscientização, elas
“olham” para o passado, percebem o presente e projetam o futuro. Assim,
elas lutam contra a imagem senso comum de “índio”, o discurso retrógrado
da autenticidade cultural, e buscam sair da condição histórica de exclusão
e submissão. Na memória de cada grupo étnico, de cada grupo social, fica
o que significa. No caso dos povos indígenas contemporâneos, fica o
passado de uma descendência de um povo originário dessas terras.
Através dessa memória, desse passado, os povos indígenas percebem o
presente e projetam seu futuro.
Estas são as questões que gostaria de apresentar e que espero, possam
contribuir para a importante contextualização da cultura no processo de escuta de
crianças indígenas ou de crianças pertencentes a qualquer outra comunidade
tradicional, salvo as especificidades de cada uma. Obrigado.