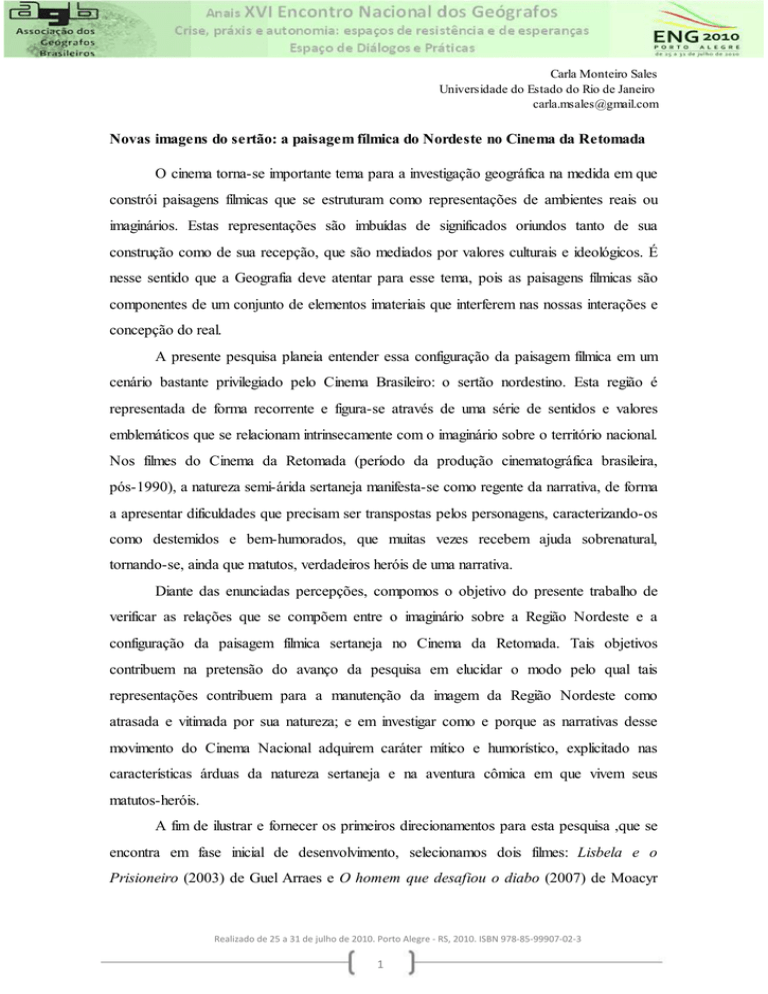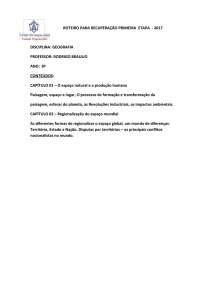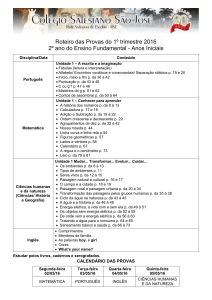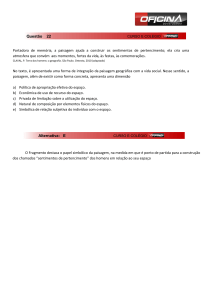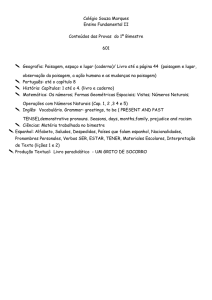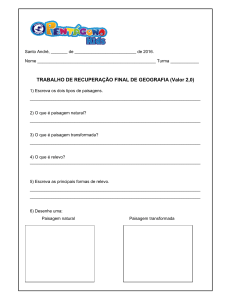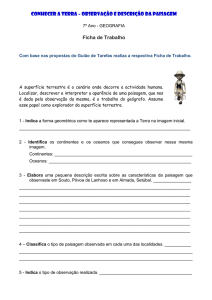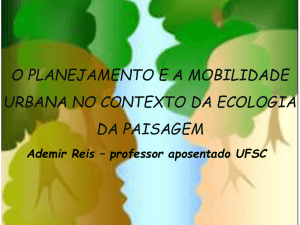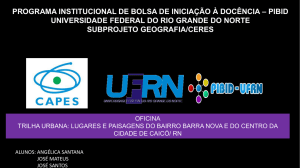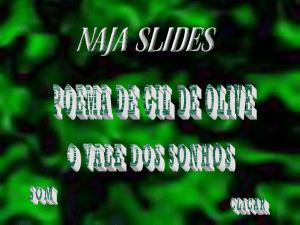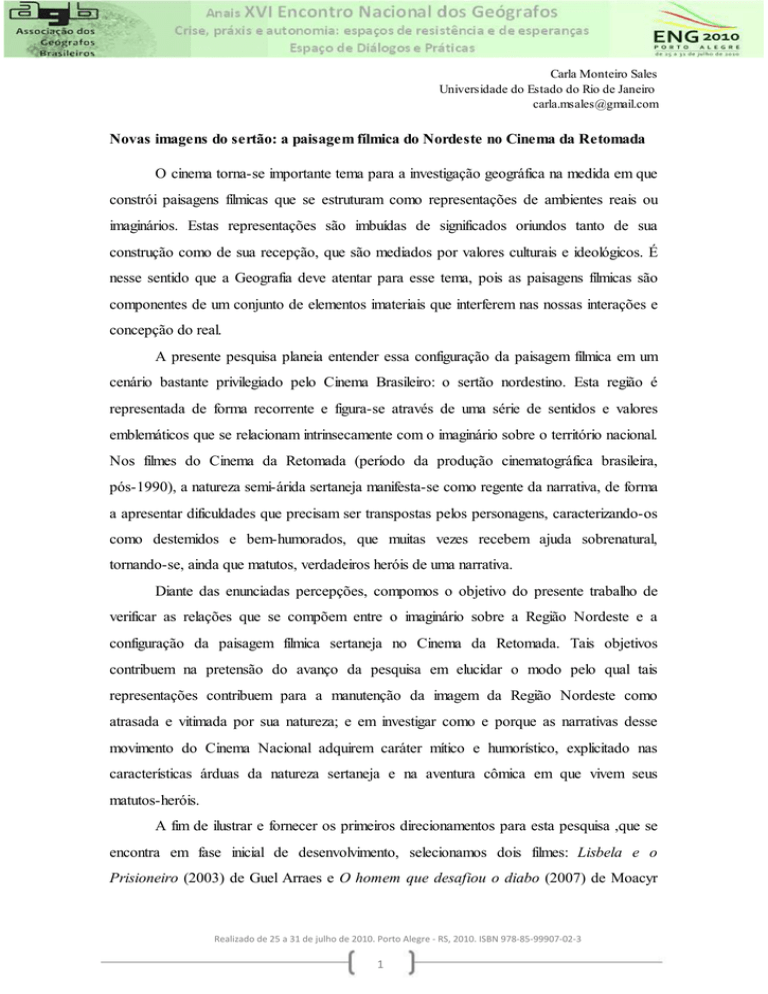
Carla Monteiro Sales
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
[email protected]
Novas imagens do sertão: a paisagem fílmica do Nordeste no Cinema da Retomada
O cinema torna-se importante tema para a investigação geográfica na medida em que
constrói paisagens fílmicas que se estruturam como representações de ambientes reais ou
imaginários. Estas representações são imbuídas de significados oriundos tanto de sua
construção como de sua recepção, que são mediados por valores culturais e ideológicos. É
nesse sentido que a Geografia deve atentar para esse tema, pois as paisagens fílmicas são
componentes de um conjunto de elementos imateriais que interferem nas nossas interações e
concepção do real.
A presente pesquisa planeia entender essa configuração da paisagem fílmica em um
cenário bastante privilegiado pelo Cinema Brasileiro: o sertão nordestino. Esta região é
representada de forma recorrente e figura-se através de uma série de sentidos e valores
emblemáticos que se relacionam intrinsecamente com o imaginário sobre o território nacional.
Nos filmes do Cinema da Retomada (período da produção cinematográfica brasileira,
pós-1990), a natureza semi-árida sertaneja manifesta-se como regente da narrativa, de forma
a apresentar dificuldades que precisam ser transpostas pelos personagens, caracterizando-os
como destemidos e bem-humorados, que muitas vezes recebem ajuda sobrenatural,
tornando-se, ainda que matutos, verdadeiros heróis de uma narrativa.
Diante das enunciadas percepções, compomos o objetivo do presente trabalho de
verificar as relações que se compõem entre o imaginário sobre a Região Nordeste e a
configuração da paisagem fílmica sertaneja no Cinema da Retomada. Tais objetivos
contribuem na pretensão do avanço da pesquisa em elucidar o modo pelo qual tais
representações contribuem para a manutenção da imagem da Região Nordeste como
atrasada e vitimada por sua natureza; e em investigar como e porque as narrativas desse
movimento do Cinema Nacional adquirem caráter mítico e humorístico, explicitado nas
características árduas da natureza sertaneja e na aventura cômica em que vivem seus
matutos-heróis.
A fim de ilustrar e fornecer os primeiros direcionamentos para esta pesquisa ,que se
encontra em fase inicial de desenvolvimento, selecionamos dois filmes: Lisbela e o
Prisioneiro (2003) de Guel Arraes e O homem que desafiou o diabo (2007) de Moacyr
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3
1
Goes. Ambos os filmes oferecem narrativas humorísticas alocadas no sertão nordestino, cujo
personagem principal é um corajoso matuto que segue sua liberdade para transpor a
imensidão daquela paisagem.
As próximas sessões do presente texto apresentarão discussões acerca da construção
da paisagem fílmica, e de como essas construções, no contexto do Cinema da Retomada,
favorecem a manutenção de um imaginário social sobre a Região Nordeste, expondo assim,
os resultados obtidos ao longo do presente estágio da pesquisa.
A PAISAGEM DA 7ª ARTE
A paisagem apresenta-se em diversas perspectivas: natural, cultural, física ou
imaginária, mas antes de tudo, deve ser entendida como um constructo visual (HOPKINS,
2008). Isso significa dizer que, além da sua compreensão material, a paisagem também é
entendida como um modo de visão, uma imagem cultural em meio pictórico de representar e
estruturar o entorno. Nesse sentido, Cosgrove (2004) nos resume:
“A paisagem sempre esteve intimamente ligada, na geografia humana, à cultura,
à idéia de formas visíveis sobre a superfície da terra e à sua composição. A
paisagem, de fato, é uma ‘maneira de ver’, uma maneira de compor e
harmonizar o mundo externo em uma ‘cena’, em uma unidade visual”
(Cosgrove, 2004, p.98)
Tais percepções, calcadas na compreensão de uma vertente imaterial na interpretação
e descrição da paisagem, ganham impulso no contexto da Geografia Cultural Renovada,
movimento da década de 1970, onde figura-se uma preocupação com a imaterialidade, com
o simbólico da cultura. Nesse sentido, a análise da paisagem será possível também, em suas
diversas formas representativas, como a pintura, a literatura, teatro, fotografia e o cinema. É
nesse sentido, como aponta Azevedo (2006, p.62), que pode-se identificar um “movimento
de redimensionamento do cinema como objeto de estudo geográfico, prendia-se com a
necessidade de compreender o papel da cultura nos modos de perceber e organizar o
espaço.”(Azevedo, 2006, p.62)
Essa perspectiva nos fornece bases metodológicas para orientação do presente
estudo, no sentido de compreender a leitura e significação da paisagem no contexto
cinematográfico em que nos aportamos. A análise cinematográfica, mesclando elementos
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3
2
fílmicos, etapas de narrativa, críticas de cinema, características de direção e outros fatores,
também torna-se elemento fundamental para prosseguir com a proposta de pesquisa.
Acreditamos que a associação desses dois procedimentos (entendimentos sobre paisagem
fílmica e analise cinematográfica) nos fornece apoio adequado para sanar nossos objetivos.
A tradição geográfica de estudo e interpretação da paisagem se relaciona com os
modos de manipulação desta por meio de técnicas cinemáticas que produzem imagens de
lugares. Tais representações extravasam a simples ilustração nas telas para interferirem
diretamente no real através de uma relação em que o representado provém e retroalimenta o
que é imaginado sobre determinados espaços. O papel da paisagem para a pesquisa
cinemática é resumida por Lukinbeal (2005, p. 3, tradução da autora) como uma noção que
pode “fornecer sentido para o evento cinemático e posições narrativas com escalas
particulares e contexto histórico”.
Faz-se claro, nesse sentido, que a relevância do estudo do Cinema pela Geografia
ocorre pelas intervenções culturais e ideológicas que permeiam a construção e recepção de
paisagens cinemáticas. Estas, ao contrário do que possa parecer a um olhar despretensioso,
não são representações neutras, são moldadas e impregnadas de sentidos, que podem ser
legitimados, contestados, feitos e ocultados (HOPKINS, 2009). Realizador e público tem
papel equivalente nesse imbuir de significado, e desse processo depende o sucesso do
desenrolar da narrativa. Assim:
“um desafio de importância premente é a conceitualização da comunicação do
cinema em termos das estruturas sociais que guiam e são guiadas por aqueles
que realizam filmes e pelo público, em uma interdependência complexa,
dinâmica e simbiótica” (AITKEN, 2009, P.38)
Muito tem se discutido sobre a dificuldade de desassociar o que é visto no real e no
representado pela arte cinematográfica, pois sua associação de imagem e som simultâneos
torna mais significativo seu foro de verdade. Metz (1972, p. 20) destaca o movimento como
uma importante característica nessa percepção, descrevendo seu funcionamento:
“o movimento dá aos objetos uma ‘corporalidade’ e uma autonomia que sua
efígie imóvel lhes subtrai, destaca-os da superfície plana a que estavam
confinados, possibilita-lhes desprender-se melhor de um ‘fundo’, como ‘figuras’;
livre do seu suporte, o objeto se ‘substancializa’; o movimento traz o relevo e o
relevo traz a vida” (METZ, 1972, p.20)
De modo semelhante, a paisagem age sobre essa associação de semelhança do real
ao fazer alusão a um espaço concreto, ainda que a locação do filme inexista, será relacionada
ou relativa a alguma outra. As representações têm um contexto inicial, uma referência, nem
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3
3
que seja modificada, pois “o familiar será sempre o ponto de partida para a representação do
desconhecido” (Gombrich, 1986, p. 72). Portanto, a paisagem cinemática contribui na
narrativa fornecendo uma das vertentes da complementaridade espaço-temporal que favorece
a sua noção de continuidade, e é freqüentemente pensado visando assegurar o realismo do
ambiente representado. Segundo Lukinbeal (2005), explorar a paisagem como um texto, ou
seja, ler suas formas visuais em associação à um contexto, é a metáfora pela qual podemos
identificar os significados na interseção entre narrativa do filme e geografia.
O significado da paisagem fílmica é fornecido pela locação, sendo necessário que
estes
“sejam questionados em relação à maneira como se apresentam e são
manipulados no filme. De grande importância também é compreender o modo
como certas locações fazem sentido ao concederem significado particular a
determinados espaços, personagens ou eventos” (COSTA, 2005, p.63)
A referência que um espaço cinemático faz ao concreto ocorre, então, pela mediação
de um imaginário geográfico coletivo. Em outras palavras, as imagens previas, sejam
concretas ou de outras representações, auxiliam na reconstrução e identificação dos espaços
em tela. Tal imaginário pode ser contestado ou reforçado em uma produção cinematográfica,
auxiliando assim na receptividade da narrativa.
Desse modo, a escolha da locação deve associar-se aos imperativos e intenções da
produção. A idéia transmitida pela narrativa adquire respaldo diante do imaginário social
sobre o espaço em que se aloca. No mesmo sentido, Azevedo (2006, p.70-71) nos expõe
que:
“esta manipulação da componente espacial operada pelo cinema implica
normalmente a exploração de representações culturais de natureza e de lugar,
que não poucas vezes subvertem aspectos cruciais do próprio lugar, por forma a
reforçar construções estereotipadas de determinada paisagem cultural.”
Assim, a aproximação do cinema com o real não ocorre pela busca de um retrato
fidedigno de uma determinada paisagem, mas pela identificação desta com o imaginário. É
nesse sentido que pretendemos discutir a paisagem sertaneja no cinema nacional: associando
como essa paisagem rege a narrativa e fornece sentido de ser para os personagens
característicos; como também discutindo de que modo esses elementos auxiliaram na
manutenção desse imaginário social sobre a Região Nordeste.
NOVAS NARRATIVAS DO SERTÃO
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3
4
O sertão nordestino foi palco de diversas representações artísticas em diferentes
momentos de sua produção, cada qual contribuindo em noções estereotipadas sobre o
Sertão, muitas vezes repetidas como espaço mítico, regido por sua natureza semi-árida, que
revigoram nossas prévias visões de atraso e miséria da região.
“De desertão [nome que possivelmente originou o termo sertão] esta paisagem vai
se transformar em um espaço amontoado de mitos, símbolos, ícones, referencias,
citações, memórias, marcas e marcos que o engendrarão como este espaço
superlativo e ao mesmo tempo como motivo de nossa pequenez, de nosso
subdesenvolvimento, de nosso abatimento, de nossa memória, e ignorância”
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2003, p.6)
Assim, sendo o sertão nordestino palco de toda essa diversidade temática, o cinema
encontra um proveitoso cenário para alocar suas mais diversas narrativas. No presente
trabalho que analisa a perspectiva representativa do Cinema da Retomada, percebemos que
os filmes exploram os mitos e fábulas das histórias nordestinas, minimizando o cunho social e
denunciativo para aflorar a vertente de entretenimento e que fornecem o sentido de ser da
narrativa humorística e de seus personagens matutos e heróicos, destarte contrasta com as
representações do período do Cinema Novo (1960-1970) que alocavam narrativas nesses
espaços degradados para embasar criticas e denuncias de cunho social.
O Cinema da Retomada é um movimento do cinema nacional, que emerge nos anos
1990, após o período de longa interrupção da produção, causado principalmente pelo
fechamento da Embrafilme. Esse movimento pode ser assim, resumidamente caracterizado:
“Os filmes da ‘retomada’, mesmo quando têm como cenário de seus roteiros
ambientes socialmente degradados, especialmente o sertão ou a favela,
desenvolvem uma narrativa melodramática. O enfoque recai sobre dramas
individuais, os aspectos sociais mais amplos são obliterados ou colocados em
plano secundário. (...) as mazelas e contradições da sociedade brasileira servem
apenas de moldura, não são discutidas.” (LEITE, 2005, P.130)
É nesse sentido que emergem novas narrativas no contexto do Cinema da Retomada.
Seu enfoque que valoriza os mitos e fábulas sertanejas, faz da sua natureza semi-árida algo a
ser superado, o enredo é fantasioso, regido pela esperança, seus personagens são matutos
cada vez mais caricatos, heróis daquele povo, e que cruzam em seu caminho com outros
personagens tão caricatos quanto: o fazendeiro bondoso, o cangaceiro matador, as ‘quengas’
bonitas, o boi brabo, o coronel da cidade, entre tantos outros.
A fim de elucidar e verificar um certo padrão na representação do sertão pelo Cinema
da Retomada com seus matutos-herois, o quadro abaixo evidencia alguns elementos da
narrativa fílmica:
Lisbela e o Prisioneiro (2003)
O Homem que desafiou o diabo
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3
5
(2007)
Diretor
Guel Arraes
Moacyr Goes
Personagem
Leléu (Selton Mello)
José Araujo ou Ojuara
principal
(Marcos Palmeira)
Início
Caminhonete de Leléu chegando à mais
José Araújo chegando de ônibus em
uma pequena cidade do sertão
uma pequena cidade do sertão
Locações/
Pequenas cidades no meio da
Pequenas cidades e amplas tomadas
Paisagens mais
imensidão sertaneja e estradas
evidenciando imensidão deserta de
exploradas
rodeadas por plantações.
chão batido, vegetação semi-árida e sol
forte, tornando a paisagem amarelada.
Atos de coragem
Agarra boi feroz com as mãos; duela
Laça o boi mais feroz da região; luta
do personagem
com o cangaceiro matador; enfrenta a
com o diabo; desafia o valentão do
principal
prisão pelo tenente da cidade
bordel; desafia a mãe de Pantanha
Personagens
O cangaceiro matador (Frederico
A ‘quenga’ mais bonita (Genifer /
secundários
Evandro/ Marco Nanini); o Tenente
Fernanda Paes Leme); a mulher
característicos do
atrapalhado (Ten. Guedes de
devoradora de homens (mãe de
nordeste
Nogueira/André Matos); a fatal mulher
Pantanha/Flávia Alessandra); o turco
do cangaceiro (Inaura/Virginia
“mão-de-vaca”(Turco/ Renato
Cavendish); o jovem descolado da
Consorte); o maior coronel da região
cidade grande (Douglas/ Bruno Garcia)
(Coronel Ruzivelte/Sérgio Mamberti);
Leléu e Lisbela viajando pelo sertão na
Ojuara cavalgando sem rumo pelos
caminhonete de Leléu, ao fundo a
sertões, ao fundo paisagens amareladas
paisagem de plantações nordestinas.
da seca.
Final
O imaginário mítico sobre essa região e as peculiares do Cinema da Retomada
contribuem para formulação das características desses dos filmes expostos que muitas vezes
se assemelham. Por mais que não encaremos como reais as histórias fantasiosas que esses
filmes nos expõe, elas só ocorrem devido a miséria, à natureza semi-árida, e outros elementos
típicos nordestino, e estes sim são associados em nossas imagens imaginativas sobre a região
sertaneja.
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3
6
Desse modo, tais representações irão contribuir para a preservação desses conteúdos
valorativos da natureza semi-árida para muito além das circunstâncias para as quais foram
elaborados, que remetem a um discurso de unidade regional e de necessidade de assistência
pelos órgãos superiores. Marco dessas noções foi a criação da Inspetoria de Obras Contra
as Secas, em 21 de outubro de 1909. Assim, as razões desse discurso sobre a seca remetem
a complexos fatores históricos e geográficos que moldaram esse sistema de atores sociais
regionais, articulados com o processo de construção de uma identidade e organização de seus
interesses (Castro, 2001, p. 105).
Não nos cabe no presente trabalho debater os conteúdos políticos relacionados à
manutenção do discurso da seca, mas sim perceber a contribuição da vertente simbólica no
enraizamento e progressão desse discurso. Vertente essa presente na paisagem cinemática do
sertão nordestino, que
“como toda a paisagem, a ‘paisagem nordestina’ é uma criação narrativa, uma
criação da e na linguagem, é espaço que se conta mais do que se vê, é espaço
que se monta mais do que se crê, é um espaço que se sente mais do que se
pensa, é um conjunto de signos que se articulam em torno de uma
imagem-força” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2003, p. 7)
Destarte, torna-se claro que a paisagem sertaneja no Cinema Nacional da Retomada
é elemento auxiliador da manutenção de um imaginário social sobre o Nordeste. Através de
suas narrativas míticas e humorísticas, ainda que fantasiosas, remontam a um cenário de atraso
e calejo de uma natureza semi-árida. Esta, ao mesmo tempo em que é matriz dessas
narrativas, coloca-se como marca ao relacionar-se intimamente com seus personagens e
eventos (BERQUE, 2004)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto, temos que as paisagens são construções pictóricas, no
sentido de terem uma representatividade do entorno, mas orientadas por valores culturais,
interesses sociais, éticas e estéticas. Essa percepção reflete-se na paisagem cinemática sobre
o sertão nordestino, uma vez que utilizam e fortalecem geografias imaginativas, que
extravasam o trabalho individual de algumas mentes, em outras palavras, são tanto sociais
quanto individuais (DRIVER, 2005)
A contribuição gerada pelo Cinema da Retomada traz novas perspectivas em
consonância com as características desse movimento: é valorizado o cunho fabuloso e mítico
das historias sertanejas, ou seja, as narrativas sobre o sertão são novas, mas o imaginário à
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3
7
cerca do nordeste remete a outros tempos históricos e outros momentos das representações
artísticas.
BIBLIOGRAFIA
AITKEN, S.C. Re-apresentando o lugar Pastiche. In: CORRÊA, R.L. e ROSENDAHL,Z.
(orgs) Cinema, música e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009.
ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. Nordeste: uma paisagem que dói nos olhos e nas
mentes. São Paulo: Editora do SESC/São Paulo, 2003 (Cordel).
AZEVEDO, A. F. de. Geografia e Cinema. In: SARMENTO, J. , AZEVEDO, A. F. de,
PIMENTA, J. R. (orgs) Ensaios de Geografia Cultural. Porto: Livraria Editora
Figueirinhas, 2006.
BERQUE, A. Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da problemática para uma
geografia cultural. In: CORRÊA, R. L. e ROSENDAHL, Z. (orgs). Paisagem, tempo e
cultura. 2º ed. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2004
CASTRO, I. E. de. Natureza, imaginário e a reinvenção do Nordeste. In: ROSENDAHL, Z.
e CORRÊA, R.L. (orgs). Paisagem, imaginário e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001.
COSGROVE, D. A Geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens
humanas. In: CORRÊA, R. L. e ROSENDAHL, Z. (orgs). Paisagem, tempo e cultura. 2º
ed. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2004
COSTA, M. H. B. V. Geografia Cultural e Cinema: práticas, teorias e métodos. In:
ROSENDAHL, Z. e CORRÊA, R. L. (org.) Geografia: temas sobre cultura e espaço. Rio
de Janeiro: EdUERJ, 2005.
DRIVER, F. Imaginative Geographies . In: Cloke, P., P. Crang and M. Goodwin (eds.).
Introducing Human Geographies. 2nd Ed . Hodder, 2005.
GOMBRICH, E. H. Verdade e Estereótipo. In: GOMBRICH, E. H. Arte e Ilusão: um
estudo da psicológica da representação pictórica. São Paulo: Martins Fontes, 1986.
HOPKINS, J. Um mapeamento de lugares cinemáticos: ícones, ideologia e o poder da
representação enganosa. In: CORRÊA, R.L. e ROSENDAHL,Z. (orgs) Cinema, música e
espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009.
LEITE, S. F. Cinema Brasileiro: das origens à retomada. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2005.
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3
8
LUKINBEAL, C. Cinematic Landscapes. In: Journal of Cultural Geography 23(1),
3-22Winter, 2005.
METZ, C. Abordagens Fenomenológicas do Filme. In: METZ, C. A significação do
Cinema. Tradução: Jean- Claude Bernardet. São Paulo: Perspectiva: 1972.
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3
9