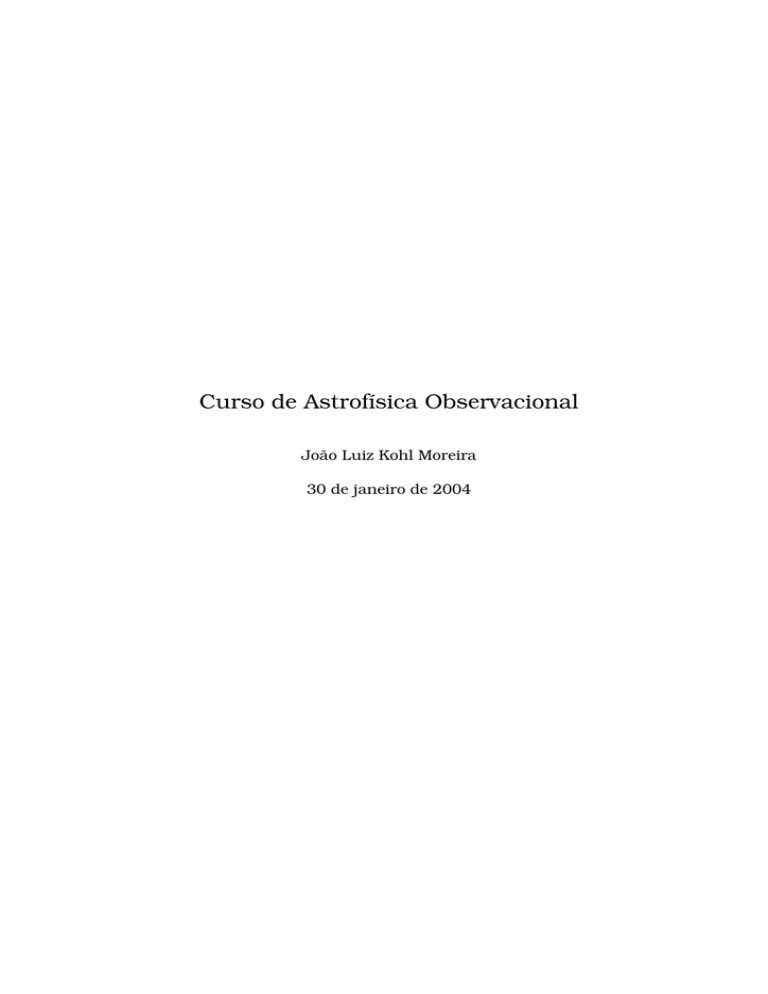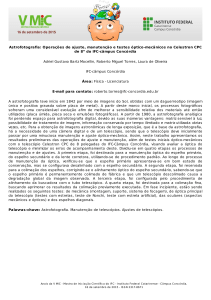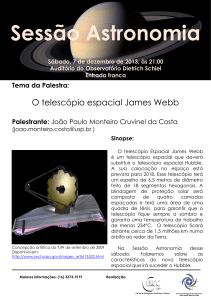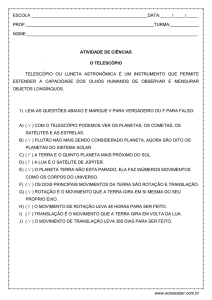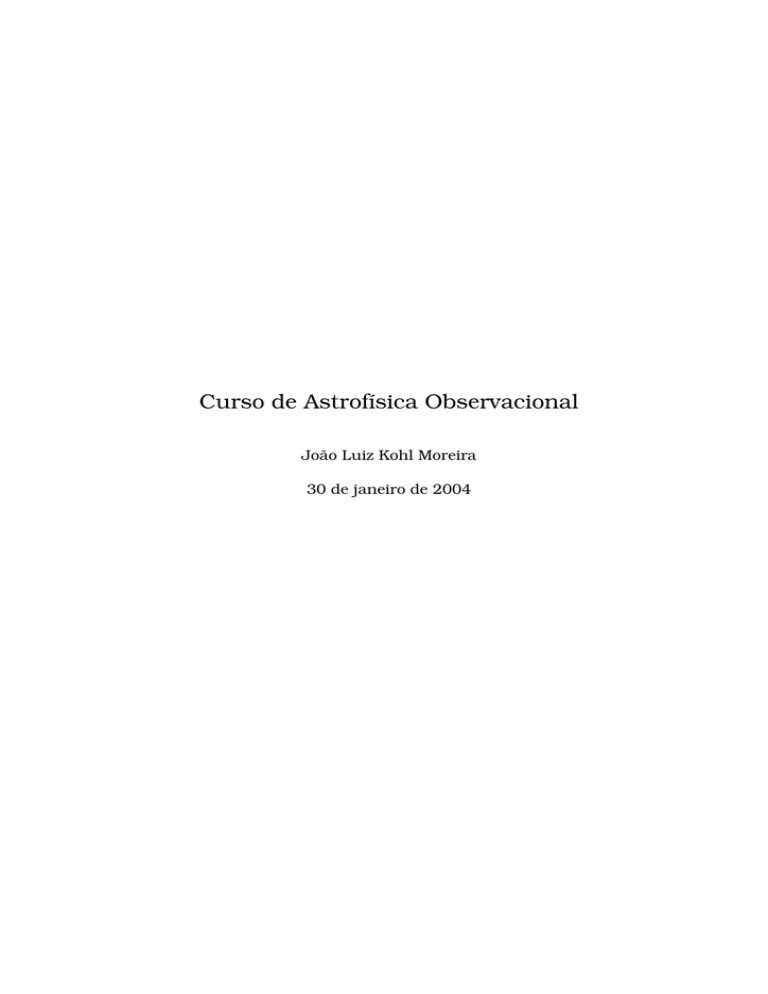
Curso de Astrofísica Observacional
João Luiz Kohl Moreira
30 de janeiro de 2004
Prefácio
Filme: “O Santo Graal” do grupo inglês Monty Python. Cena: uma das últimas. Ação:
Rei Arthur e seus cavaleiros alcançam uma ponte diante da qual um ancião se coloca.
“Alto lá”, diz o velho. “Eu sou o guardião dessa ponte acima do vale do inferno. Para
cruzá-la cada um deve responder a uma pergunta minha. Se acertar poderá passar, do
contrário será sugado até o quinto dos infernos”. Diante disso, cada um do séquito do
rei vai passando ou vai sendo condenado respondendo certo ou errado as perguntas,
às vezes absurdas, às vezes infames do velho1 . Lancelot foi sugado porque titubeou
em responder qual era sua cor preferida. Outro cavaleiro não sabia a altura exata do
monte Everest, e assim por diante.
Na vez do rei Arthur, o velho repete a ladainha e pergunta: “Qual é a velocidade de
cruzeiro da andorinha?”, ao que o rei retruca com: “A andorinha africana ou européia?”.
O ancião, surpreendido pela questão, responde: “Ora! Isso eu não sei!” E zum! O
próprio guardião da ponte é sugado pelo inferno.
O cavaleiro que acompanha o rei Arthur (e se vê livre de seu desafio pois o velho
tinha se ido) pergunta, curioso: “Como Vossa Alteza sabia que existem dois tipos de
andorinha?”. O rei responde, fleumaticamente:
- São coisas que um rei deve saber.
Astrônomo não é rei. Pelo menos, não necessariamente. É dito que o imperador D.
Pedro II era um amante da astronomia. E que o Observatório Nacional, antes, Imperial
Observatório, teve seus dias de glória sob o seu reinado. Sob a república, o que só se
tenta é acabar com ele, o Observatório. De início, por conta da imagem que ele tinha
ligada com o antigo regime. Hoje, sabe-se lá por que...
Voltando ao assunto, se astrônomo não é rei, ele, mesmo assim, carrega o “sacrifício
do cargo”, como o rei. E dele cobram-se as coisas que um astrônomo observacional deve
saber. Algumas dessas coisas, eu tento ensinar nesse curso. É claro que o que vou
expor aqui não é exaustivo. O que um observacional deve saber é muito mais do que se
pode encontrar nessas páginas. O tempo e a limitação de papel determinam o que deve
ser ensinado nesse curso. É o mínimo necessário, o minimum minimorum.
Mesmo assim, quando o leitor, no futuro, em discussão científica com alguém, tiver, na ponta da língua, a magnitude limite de um telescópio ou a resolução em comprimento de onda de um dado espectrógrafo e for questionado sobre esse seu saber,
poderá assumir a fleuma e declarar:
-São coisas que um observacional deve saber.
................................................................................................
Esse curso é dividido em três partes definidas pelas regiões do espectro eletromagnético.
Cada região dessas determina diferentes técnicas observacionais, motivo pelo qual as
partes foram separadas. No entanto, isso não significa que a leitura de cada uma das
partes seja independente. Muitos conceitos definidos em uma parte são aproveitados
em outras, de forma que, a sequência com que as partes são apresentadas representa
a sugestão de roteiro para o leitor seguir. As partes se nomeiam:
1 Essa
cena, obviamente, se inspira na polícia de fronteira do aeroporto de Heathrow, em Londres, onde o
infeliz estrangeiro, para obter a autorização de ingresso em solo inglês, é obrigado a responder as perguntas
mais estapafúrdias que se pode imaginar.
i
ii
1. Domínio óptico: onde são discutidos conceitos e técnicas observacionais correntes
nas faixas do ultravioleta (remoto e próximo), visível e infravermelho próximo;
2. Domínio do rádio: onde são apresentadas as técnicas observacionais desde o infravermelho distante até as faixas mais remotas do rádio e, finalmente,
3. Domínio das altas energias: onde são passadas as técnicas de detecção de radiação de alta energia, desde o neutrino até o raio X, passando pelos raios cósmicos
e raios gama.
Para que o curso não se apresente enfadonho e monotônico, procuro acrescentar,
quando couber, histórias e anedotas que circulam nos observatórios que conheci. Afinal, contos do folclore astronômico também são coisas que um observacional deve saber.
.............................................................................................
Softwares de Apoio
O astrônomo moderno não pode prescindir de instrumentos computacionais. Um físico teórico brasileiro, na época lotado no Observatório Nacional, teria comentado que
os astrônomos “não saem da frente do computador”. “Quando eles fazem ciência?”
teria perguntado o indignado pesquisador. Dentro de nossa área, já pude detectar
sérias preocupações de alguns professores de que estaríamos formando gerações de
“bons usuários” de pacotes computacionais, deixando entrever que os novos astrônomos apresentam deficiências de formação. Independente da motivação que levou esses
professores deixarem transparecer suas inquietações, creio que iniciativas pedagógicas, como essa que ora apresento nesse manuscrito, devem ser incentivadas no sentido
de tentar preencher as lacunas que tanto incomodam os professores mais experientes.
Mas não se deve deixar de “treinar” os estudantes nos bons softwares de apoio. Mais do
que fazer, é preciso fazer direito, de forma normalizada, de maneira que os resultados
sejam facilmente comparados e testados, e isso só é possível utilizando-se as ferramentas consagradas pela comunidade. Fazer direito é ter conhecimento de todas as etapas
que as caixas pretas dos softwares de apoio executam. Somente assim o aluno terá a
formação ideal. Por essa razão não posso omitir, aqui, a apresentação da informática
corrente na astronomia. Eu diria que essa nossa ciência é privilegiada pois servindo-se
apenas dos pacotes de domínio público pode-se cumprir todas as etapas do tratamento
de dados. Por isso, sinto-me a vontade em apresentar os softwares sem me preocupar
com royalties e outros procedimentos legais comuns nos pacotes comerciais. Todos os
softwares tratados aqui funcionam sob a plataforma UNIX-X11.
Podemos dividir os softwares de apoio em dois tipos: aqueles que auxiliam a preparação das observações e aqueles que apoiam o tratamento e análise dessas observações.
Nesse último tipo encontramos dois pacotes: o MIDAS (Munich Image Data Analysis
System) e o IRAF (Image Reduction and Analysis Facility). O MIDAS foi desenvolvido e
é mantido pelo ESO (European Southern Observatory) sediado em Munique, Alemanha,
enquanto que o IRAF foi desenvolvido e é mantido pelo NOAO (National Optical Astronomical Observatories), Arizona, EUA. Cada um tem vantagens e desvantagens. O mais
utilizado no Brasil, por enquanto, é o IRAF sobretudo depois que o LNA (Laboratório
Nacional de Astrofísica) resolveu desenvolver todas os pacotes de aquisição de dados
sob esse software. O MIDAS é utilizado por aqueles que obtém seus dados no telescópio de 1.52m do ESO, no Chile, na fase de pré-redução. Contudo, tão logo os dados são
pré-reduzidos a imensa maioria dos usuários transferem-nos para o IRAF para a obtenção dos dados finais. Essa prática é levada não só por hábito como também porque
esse último pacote oferece mais ferramentas.
iii
Entre os softwares de apoio à preparação de observações, o mais completo é o
XEphem, possível de ser adquirido no site do IRAF-NOAO http://iraf.noao.edu.
Com o XEphem gera-se mapas do céu na escala que se deseja, lista-se posição, nascer
e ocaso do sol e da lua, as fases da lua, efemérides dos planetas, além de permitir
previsão de ocultações, movimentos de asteroides, planetas e satélites, além de permitir a captura de imagens do HTScI e ESO, facilitando enormemente a preparação de
observações.
Esses softwares serão citados no desenvolvimento dos temas e comentários serão
feitos com respeito a algunas facilidades desses pacotes. Não se pretende dar um curso
de treinamento dessas ferramentas. Espera-se que cada um dedique-se por conta própria iniciar e treinar a manipulação das rotinas desses pacotes ou que se treine em sala
de aula. Não é possível ensinar nada em informática sem treinamento imediato.
.............................................................................................
Trigonometria Esférica
Não é concebível um observacional sem um mínimo de conhecimento de trigonometria
esférica, sistemas de medida de tempo, enfim, o básico de astronomia fundamental.
Todos esses conceitos não serão ensinados aqui. Admite-se que o leitor já conheça
o essencial da matéria. Para aqueles que querem recordar ou aprender o que será
necessário nesse curso, recomendo o clássico Astronomie Générale de A. Danjon ([3])
ou, se quiser um texto em português, o excelente resumo de R. Boscko no antigo Curso
de Astronomia do IAG-USP.
iv
Agradecimentos
A Pierre Bourget pelas dicas e discussões a respeito dos assuntos relacionados à óptica
e também por ter oferecido uma extensa bibliografia a respeito.
v
vi
Sumário
I Domínio Óptico
1
1 Teoria do Telescópio
1.1 Introdução à Óptica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Lei de Snell-Descartes . . . . . . . . . . . . .
1.1.2 Reflexão Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3 Simetria de Revolução e Eixo Óptico . . . .
1.1.4 Caminho Óptico . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.5 Conjugação Óptica, Objetos e Imagens . . .
1.1.6 Traçado de Raios . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.7 Aproximação de 1a. Ordem . . . . . . . . . .
1.1.8 Convenções . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.9 Superfícies côncavas e convexas . . . . . . .
1.1.10Aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.11Potência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.12Características Ópticas . . . . . . . . . . . .
1.1.13Características dos Raios de Luz . . . . . . .
1.1.14Sistemas Ópticos Compostos . . . . . . . . .
1.2 Domínio Não Paraxial . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Princípio de Huyghens . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Polarização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1 Bi-refringência . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Transmissibilidade e Refletividade . . . . . . . . . .
1.6 Reflexão múltipla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Lunetas e Telescópios . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8 Escala de Imagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9 Difração de Fraunhofer . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.1 Poder de Resolução . . . . . . . . . . . . . .
1.10 Tipos de Dispositivos Ópticos Astronômicos . . . .
1.10.1Telescópios a Dois Espelhos . . . . . . . . .
1.10.2Câmara Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11 Oculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12 Retículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.13 Dispositivos Ópticos Auxiliares . . . . . . . . . . .
1.13.1Câmaras auxiliares . . . . . . . . . . . . . .
1.13.2Semi-espelhos ou Beam Splitters . . . . . . .
1.14 Óptica Ativa e Óptica Adaptativa . . . . . . . . . .
1.15 Características Observacionais . . . . . . . . . . .
1.15.1Fator de Aproximação ou Aumento Angular
1.15.2Fator de Concentração de Luz . . . . . . . .
1.15.3Magnitude Limite . . . . . . . . . . . . . . . .
1.15.4Velocidade da Objetiva . . . . . . . . . . . . .
1.15.5Campo do Telescópio e Campo de Visão . .
vii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
3
4
5
5
5
6
6
7
7
9
9
9
10
11
11
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
20
23
24
24
25
25
26
27
28
28
28
29
29
29
SUMÁRIO
viii
1.15.6Buscadora . . . . . . .
1.15.7Offset Guider . . . . .
1.16 Tipos de Montagem . . . . .
1.16.1Montagem Equatorial
1.16.2Montagem Azimutal .
1.16.3Montagem Meridiana
1.16.4Montagem Zenital . .
1.17 Domos e Cúpulas . . . . . .
1.18 Exercícios . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
30
30
30
33
34
35
35
37
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Locais
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
39
39
39
39
40
40
40
41
41
42
42
43
3 Atmosfera e Condições Observacionais
3.1 Refração . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Massa de Ar e Espalhamento . . . . .
3.3 Turbulência . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Brilho do Céu . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
45
45
45
45
4 Fotometria
4.1 Unidades Fotométricas . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Filtros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Filtros de Banda Larga (Broad Band) . .
4.2.2 Filtros de Banda Estreita (Narrow Band)
4.3 Fotometria Fotográfica . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Fotômetros Fotoelétricos . . . . . . . . . . . . .
4.5 Detetores CCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1 Fotometria Relativa . . . . . . . . . . . .
4.5.2 Análise de Objetos Extensos . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
47
50
50
50
50
50
50
50
50
.
.
.
.
.
51
51
51
51
51
51
6 Roteiro Observacional
6.1 Descrição de um Observatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Surveys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
53
2 Astronomia Fundamental
2.1 Equador . . . . . . . . . .
2.2 Eclíptica . . . . . . . . . .
2.3 Equinócio . . . . . . . . .
2.4 Coordenadas Equatoriais
2.5 Coordenadas Eclípticas .
2.6 Coordenadas Geográficas
2.7 Tempo Sideral . . . . . .
2.8 Ângulo Horário . . . . . .
2.9 Precessão . . . . . . . . .
2.10 Coordenadas Galáticas .
2.11 Catálogos . . . . . . . . .
2.12 Exercícios . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 Espectroscopia e Espectrofotometria
5.1 Redes de Difração . . . . . . . . . . . .
5.2 Calibração em Comprimento de Onda
5.3 Calibração em Fluxo . . . . . . . . . . .
5.4 Índices Fotométricos . . . . . . . . . . .
5.5 Largura Equivalente . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SUMÁRIO
A Resposta aos exercícios
A.1 Teoria do Telescópio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2 Astronomia Fundamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ix
57
57
57
x
SUMÁRIO
Lista de Figuras
1.1 Ilustração da lei da refração de Snell-Descartes. . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Prisma dianteiro da Astrolábio A. Danjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Imagem real (esquerda) e virtual (direita). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Superfície cartesiana para a reflexão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Superfície convexa (esquerda) e côncava (direita). . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Características de um dispositivo óptico no domínio paraxial. . . . . . . .
1.7 Raio principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8 Vignetting por excesso de campo objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9 Exemplo de cáustica para o foco de uma lente simples. . . . . . . . . . . .
1.10 Distorção “barril” (esquerda) e “rede de pesca” (direita) . . . . . . . . . . .
1.11 Prisma de Wollaston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12 Diagrama clássico de um telescópio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.13 Escala de imagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.14 Painel das configurações de um telescópio a 2 espelhos. Inspirado em [1,
Benevides (1974)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.15 Câmara Schmidt. A orientação da luz é de cima para baixo. . . . . . . . .
1.16 Câmaras auxilires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.17 Exemplo de beam-splitter. A superfície inferior do prisma é semi-espelhado
de forma a refletir parte da luz e deixar passar a outra parte. . . . . . . .
1.18 Montagem equatorial tipo “ Garfo”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.19 Montagem inglesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.20 Montagem alemã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.21 Telescópio SOAR: exemplo de montagem azimutal. . . . . . . . . . . . . .
1.22 Domo em forma de cúpula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.23 Domo conversível, em forma de “casa”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.24 Esquerda: cúpula do telescópio de 2m do Pic-du-Midi. Direita: esquema
da solução da equação do movimento da cúpula por trigonometria esférica.
4
4
5
6
7
9
10
11
12
14
16
17
18
4.1 Geometria da radiância (luminância).
49
xi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
25
27
31
32
33
34
35
36
36
xii
LISTA DE FIGURAS
Lista de Tabelas
1.1 Formas possíveis de uma lente fina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xiii
8
Parte I
Domínio Óptico
1
Capítulo 1
Teoria do Telescópio
1.1 Introdução à Óptica
A óptica é a área da ciência dedicada aos efeitos da luz. Existe a óptica geométrica,
também conhecida por óptica linear, e a óptica física, também óptica não-linear. Vamos
nos restringir, aqui, à óptica geométrica e, além disso, descreveremos, brevemente, os
fenômenos da difração.
1.1.1 Lei de Snell-Descartes
A lei de Snell-Descartes, ou lei da refração, é a lei que governa todos os fenômenos
da óptica geométrica. Foi enunciada independente e concomitantemente em 1620 pelo
astrônomo e matemático flamengo Snell Van Royen (Villebrordus Snellius) e pelo filósofo, matemático e físico francês René Descartes ([6, Koogan & Houhaiss (1993)]).
Enunciado: Sejam dois meios transparentes separados por uma superfície refratora
(Figura 1.1). Um raio incide sobre essa superfície e atravessa-a prosseguindo pelo
outro meio. Seja i o ângulo que o raio faz com a normal à superfície no ponto de
incidência e seja r o ângulo que o raio refratado faz com a normal dessa superfíce.
A lei da refração estabelece que:
1. Os raios incidente e refratado e a normal à superfície pertencem ao mesmo plano;
2. Os ângulos i e r obedecem à relação:
ni sin i = nr sin r
(1.1)
onde ni e nr são, respectivamente, os índices de refração dos meios do raio incidente e do raio refratado. Esses índices possuem valores empíricos, onde, por
definição o índice de refração do vácuo é 1.
A teoria eletromagnética da luz mostra que se n é o índice de refração em um meio,
então: n = c/v, onde v é a velocidade da luz no meio e c é a velocidade da luz no vácuo
([4, Klein (1970)]).
Lei da reflexão
A lei da reflexão, historicamente, tem um enunciado independente feito por Arquimedes:
os raios incidente e refletido estão no mesmo plano, são opostos em relação à normal à
superfície e os ângulos que eles formam com essa normal possuem módulos iguais.
Matematicamente, no entanto, a reflexão pode ser tratada como um caso particular
da lei da refração inpondo-se nr = −ni .
3
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
4
raio incidente
i
Meio do raio
incidente
Índice de
refração: n i
r
Superfície refratora
raio refratado
Meio do raio
refratado
Índice de refração: n r
Figura 1.1: Ilustração da lei da refração de Snell-Descartes.
Figura 1.2: Prisma dianteiro da Astrolábio A. Danjon.
1.1.2 Reflexão Total
O valor típico do índice de refração n é perto da unidade e superior a ela (a maior
velocidade possível da luz é no vácuo). Como conseqüên,cia da lei de Snell-Descartes,
existe um valor máximo para o ângulo de incidência, quando a luz vem de um meio mais
refringente para um outro menos refringente. Se o ângulo de incidência ultrapassar o
valor arcsin(1/n) a equação 1.1 perde sentido: não existe valor de r, tal que sin r > 1.
Na prática, o que acontece é uma reflexão (pode-se demonstrar esse efeito). Tudo
se passa como se a superfície fosse espelhada. Desse efeito aproveita-se o Astrolábio
A. Danjon, cujos exemplares estão instalados no campus do Observatório Nacional,
Rio de Janeiro, RJ e no Observatório Abraão de Moraes, em Valinhos, SP. Diante de
sua objetiva é colocado um prisma cujo objetivo é gerar duas imagens opostas de um
mesmo objeto (Figura 1.2). A objetiva é mantida alinhada horizontalmente. O mesmo
se passa com o prisma cujo ângulo do vértice pode ser de 45◦ ou 60◦ . Parte da luz
da estrela refrata-se na face superior do prisma para refletir a face inferior e seguir
horizontalmente em direção à objetiva. Outra parte da luz, reflete-se numa superfície
espelhada horizontal postada abaixo do prisma, refrata-se na face inferior de prisma e
reflete-se na face superior, seguindo o mesmo caminho que a primeira parte da luz.
1.1. INTRODUÇÃO À ÓPTICA
5
Imagem
real
Imagem
virtual
Figura 1.3: Imagem real (esquerda) e virtual (direita).
1.1.3 Simetria de Revolução e Eixo Óptico
A quase totalidade dos dispositivos ópticos possue simetria de revolução, isto é, simetria cilíndrica. Dado um eixo, chamado eixo óptico, todos os fenômenos se passam
independentes da orientação em torno desse eixo.
Uma superfície com simetria de revolução é considerada alinhada ao eixo óptico se
o seu eixo for paralelo ao eixo óptico.
É possível estabelecer uma simetria de revolução aos dispositivos ópticos graças à lei
da refração (reflexão) que determina que o raio incidente e o refratado (refletido) estão
no mesmo plano com a normal.
Como consequência da simetria de revolução, pode-se ilustrar os dispositivos ópticos
em apenas duas dimensões. Portanto, as ilustrações no plano do papel, como as que
são apresentadas aqui, não perdem em generalidade.
1.1.4 Caminho Óptico
A definição de caminho óptico é:
∆l ≡
Z
B
(raio)A
c
ds =
v
Z
B
nds
(1.2)
(raio)A
onde as integrais são integrais de caminho e percorrem o caminho do raio, sendo c e v
a velocidade da luz no vácuo e no meio, n, o índice de refração do meio e ds, o módulo
do elemento da linha no caminho definido pelo raio. Essa definição trata de variações
contínuas no índice de refração.
Na prática, o que existe são variações discretas de índices de refração, de maneira
que a integral acima se reduz a somatórios. Em suma, o caminho óptico representa
o espaço total percorrido por um raio de luz, ponderado pelos índices de refração dos
meios que esse raio cruza.
1.1.5 Conjugação Óptica, Objetos e Imagens
Existem dois tipos de conjugação óptica: a real e a virtual. Uma imagem é considerada
real quando ela é formada pelos raios convergentes advindos do objeto. Uma imagem
é considerada virtual, quando ela só pode ser determinada pelo prolongamento dos
raios divergentes advindos de uma refração ou reflexão em uma superfície. A Figura
1.3 ilustra uma imagem real e uma imagem virtual.
O princípio de Fermat ([4, Klein (1970)]) estabelece que dois pontos são considerados
opticamente conjugados se todos os caminhos ópticos dos raios de luz que unen os
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
6
B
A
C
P
1
P
2
Figura 1.4: Superfície cartesiana para a reflexão.
dois pontos são iguais. Como consequência dessa definição, surge um lugar geométrico
chamado superfícies cartesianas. Consideremos que entre dois pontos conjugados os
raios sejam submetidos a apenas uma refração ou reflexão.
Tomemos o caso da reflexão. Sejam os pontos P1 e P2 (Figura 1.4). O caminho óptico
é: P1 A + AP2 deve ser igual ao caminho óptico P1 B + BP2 , e assim, sucessivamente.
Geometricamente, essa propriedade vem a ser a “propriedade focal da elipse” ([2,
Bronstein & Semendiaev (1973)]), portanto, no plano do papel, os pontos conjugados
P1 e P2 definem uma elipse com focos nesses pontos. Como estamos tratando de
simetria cilíndrica, a superfície cartesiana definida é um elipsóide de revolução. No caso
particular em que P2 estiver no infinito, a superfície cartesiana será um parabolóide de
revolução. No caso em que P2 for um ponto virtual (imagem atrás da superfície refletora)
a superfície cartesiana será um hiperbolóide de revolução.
No caso da refração, pode-se provar que os pontos conjugados definirão elipsóides
de revolução com características que dependem dos índices de refração dos meios e
da posição relativa dos pontos, salvo no caso em que P2 está no infinito, quando a
superfície cartesiana será um hiperbolóide de revolução.
As superfícies cartesianas não possuem interesse na prática porque são capazes
de conjugar apenas dois pontos. O que precisamos, na realidade, são conjugações de
campos, isto é, de objetos extensos. Nesse aspecto, pode-se mostrar que as superfícies
cartesianas estão longe do ideal. Contudo, no caso particular de objetos no infinito, os
parabolóides de revolução tem bastante interesse. Uma aplicação imediata são as antenas receptoras, tanto de objetos astronômicos, quanto de satélites de comunicação.
Como veremos adiante, os espelhos parabólicos podem ser aproveitados na astronomia
óptica, desde que sejam introduzidos mais elementos ópticos que permitam a observação de campos extensos no céu.
1.1.6 Traçado de Raios
O traçado de raios é a representação geométrica dos raios atravessando as superfícies
refratoras ou defletindo em superfícies refletoras. Geralmente essa representação se
dá no plano do papel. Alguns raios representativos do sistema são escolhidos e seu
caminho óptico desenhado.
1.1.7 Aproximação de 1a. Ordem
Se quisermos examinar objetos extensos com auxílio de dispositivos ópticos, verificamos que não existe sistema que conjugue cada ponto do objeto exatamente em sua
imagem. Porém, sob certas condições, pode-se estudar os sistemas ópticos a partir de
1.1. INTRODUÇÃO À ÓPTICA
7
Figura 1.5: Superfície convexa (esquerda) e côncava (direita).
algumas aproximações. Em particular, podemos estudar um sistema em que as curvaturas das superfícies refratoras e/ou refletoras sejam pequenas. Esse é o domínio
da chamada óptica de 1a. ordem ou óptica paraxial. Dentro dessa condição, existem
características peculiares. Essas características foram estudadas originalmente por F.
Gauss e por isso esse domínio também é conhecido por Óptica Gaussiana ou Óptica
de Gauss.
1.1.8 Convenções
São adotadas algumas convenções no que se refere à representação dos traçados de
raios dentro do domínio da óptica paraxial. Algumas dessas convenções são listadas a
seguir.
1. Os raios são traçados no plano do papel, salvo menção em contrário;
2. Os raios são traçados com “setas”, indicando sua direção;
3. Adota-se a direção positiva como sendo aquela em que a luz vem da esquerda e
vai para a direita;
4. O eixo óptico não pode ser defletido, de forma que, no traçado de raios, a reflexão
é tratada como um caso particular de refração.
1.1.9 Superfícies côncavas e convexas
Geometricamente, a definição de uma superfície convexa é aquela que qualquer segmento de reta cujos extremos estão no interior dessa superfície jamais cruzará as fronteiras dessa superfície. Inversamente, superfície côncava é aquela em que é possível,
em pelo menos um caso, cruzar os limites da superfície. A Figura 1.5 ilustra uma
superfície convexa e côncava.
Por analogia, definimos as diferentes formas de uma lente ou espelho de acordo
com essas definições. No caso da lente, cada face é determinada pelo tipo de superfície.
Assim, uma lente é definida por uma composição de duas superfícies, cada uma descrevendo o seu tipo. Veja a Tabela 1.1 para detalhes. O mesmo se passa para superfícies
espelhadas. Se a parte espelhada (voltada para o objeto) pertencer a um corpo convexo,
diz-se que o espelho é convexo. Igualmente para o espelho côncavo. Finalmente existe a
superfície plana. Assim como existe o espelho plano, existem as lentes plano-convexa,
etc.
8
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
Lentes
convexa-convexa
plano-convexa
convexa-plana
convexa-côncava
plano-côncava
côncava-plana
côncava-convexa
côncava-côncava
Tabela 1.1: Formas possíveis de uma lente fina.
1.1. INTRODUÇÃO À ÓPTICA
Espaço objeto
Planos principais
H
Objeto
9
H’
Foco
imagem Imagem
Foco
objeto
Pupila de
entrada
Espaço imagem
Pontos
nodais
Pupila de
saída
Figura 1.6: Características de um dispositivo óptico no domínio paraxial.
1.1.10 Aumento
Um dispositivo óptico tem por objetivo transportar imagens ou propiciar um aumento
ou diminuição de um objeto. Aumento é definido como sendo a razão entre a extensão de uma imagem e a extensão do objeto conjugado. O aumento linear é razão das
extensões lineares e o aumento angular é a razão das extensões medidas em ângulos.
1.1.11 Potência
Esse termo é normalmente consagrado para lentes ou suas combinações. Define-se
potência de uma lente, simples ou composta, como sendo o inverso da distância focal
dada em metros:
1
P=
F [m]
e sua unidade é definida como dioptria. A óptica fisiológica costuma dar à potência a
unidade de graus.
1.1.12 Características Ópticas
Define-se alguns pontos característicos de um dispositivo óptico no domínio da óptica
paraxial (Figura 1.6). Eis alguns deles:
Espaço objeto: Região em que os objetos se encontram;
Espaço imagem: Região onde são formadas as imagens;
Pupila de entrada: Orifício por onde passa a luz no espaço objeto;
Pupila de saída: Conjugado da pupila de entrada;
Focos: São pontos no eixo óptico em que conjugam seus pares no infinito. O foco
objeto conjuga uma imagem no infinito e o foco imagem é conjugado de um objeto
no infinito;
Planos focais: São planos perpendiculares ao eixo óptico posicionados nos focos do
dispositivo óptico;
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
10
##"#
"#"#"
H
H’
##"#"
Raio principal
"#"#"
##"#"
"#"#"
#"##"
Raio principal
#""#"#
!!!! ""
Pupila de
entrada
Pupila de
saída
Figura 1.7: Raio principal
Planos principais: São planos perpendiculares ao eixo óptico posicionados de tal forma
que o aumento linear é unitário. Existe o plano principal objeto, posicionado no
espaço objeto e o plano principal imagem.
Pontos nodais:: São pontos conjugados no eixo óptico em que o aumento angular é
unitário. Como no caso dos planos principais, existe o ponto nodal objeto e o
ponto nodal imagem. Quando os índices de refração dos meios no espaço objeto
e imagem são iguais, os pontos nodais coincidem com a intersecção dos planos
principais com o eixo óptico.
Distância focal: Usualmente é a distância entre o foco imagem e o plano principal
imagem.
Veja uma ilustração dessas características na Figura 1.6. A distância focal para uma
lente fina (espessura nula) no domínio paraxial é:
1
1
1
= (n − 1)( − )
Fl
r1
r2
onde n é o índice de refração do vidro e r1 e r2 os raios de curvatura nos vértices das
superfícies refratoras (no ponto de cruzamento com o eixo óptico). Já a distância focal
de um espelho é:
2
1
=− .
Fe
r
O sinal negativo nesse último caso procede porque o espelho côncavo necessariamente
terá o centro de curvatura a esquerda da superfície, o que, de acordo com as regras de
notação, fará com que r tenha sinal negativo. Assim, o valor final de Fe será positivo
para espelhos côncavos.
Raio Principal: é aquele que sai do objeto e encontra o centro da pupila de entrada,
isto é, o ponto em que o eixo óptico cruza a pupila de entrada. Seu caminho é tal
que vai sair do sistema óptico a partir do centro da pupila de saída (Figura 1.7).
1.1.13 Características dos Raios de Luz
Razão Focal: Também conhecido como número Focal, ou o seu inverso, abertura. Indica a abertura do feixe de raios na saída, isto é, no espaço imagem com o objeto
colocado no infinito. Normalmente é obtido pela divisão da distância focal pelo diâmetro da pupila de entrada. Usualmente é chamado de número “f”. Esse número
1.2. DOMÍNIO NÃO PARAXIAL
PE
11
Anteparo
PS
Figura 1.8: Vignetting por excesso de campo objeto.
é adotado como característica de qualquer dispositivo óptico. Em máquinas fotográficas, as objetivas possuem abertura máxima, por exemplo, “f/3.5” e “fecha-se”
a objetiva a “f/8” ou “’f/5.6”, etc. O ângulo de abertura θ do feixe é obtido de
θ = 2 arctan
1
2n
(1.3)
onde n é a razão focal do telescópio.
Vignetting: Também chamado “olho de gato”. A pupila de entrada determina os caminhos que os raios podem ter num dado dispositivo óptico. Se, por inadvertência
ou propositalmente, uma família de raios encontra algum anteparo em seu caminho antes de formar a imagem dá-se o que se chama vignetting. Essa condição
geralmente produz iluminação desigual do campo imagem. A Figura 1.8 ilustra
um dos tipos de vignetting.
Lente de campo: Lente colocada sobre o plano imagem, geralmente intermediário, para
corrigir problemas de vignetting.
1.1.14 Sistemas Ópticos Compostos
Freqüentemente tipos semelhantes ou não de dispositivos ópticos são combinados de
maneira a produzir os resultados desejados pelos projetistas. Assim, lentes são combinadas de maneira a promover a impressão de ampliação ou aproximação do objeto, ou
mesmo diminuição ou distanciamento de um objeto. Outras vezes, o interesse é simplesmente transportar a imagem de um ponto a outro. Não raro, interpõe-se dispersores
em espectros da luz, constituindo, na astronomia a base da espectroscopia.
Particularmente, a combinação de lentes dispostas umas próximas das outras, tem
por objetivo produzir o efeito de uma só, se fosse possível construir uma só lente capaz de conjugar um campo em outro com o mesmo resultado da combinação. Essas
combinações são chamadas de “multipletos” e esse nome assume a particularidade de
“monopleto”, “dubleto” ou “tripleto” conforme a composição seja constituida de uma,
duas ou três lentes.
A teoria dos caminhos ópticos dá conta dessa combinação produzindo expressões
para a determinação das características ópticas do sistema como um todo, em função
das características dos elementos individuais e das distâncias entre eles.
1.2 Domínio Não Paraxial
Os dispositivos ópticos necessários às necessidades modernas exigem um tratamento
mais refinado que aquele da óptica paraxial. É necessário introduzir ordens de aproximação numérica superiores. Por decorrência do traçado de raios as ordens relevantes
12
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
Figura 1.9: Exemplo de cáustica para o foco de uma lente simples.
para o tratamento são impares: 3a. ordem, 5a. ordem, etc. A introdução desses termos
ao tratamento fazem aparecer “manchas” nas imagens, onde se devia esperar objetos
pontuais. Por isso os termos de ordens superiores são chamados de aberrações geométricas, ou simplesmente aberrações. São as aberrações de 3a. ordem, 5a. ordem,
etc.
Atualmente os projetos dos dispositivos ópticos contam com poderosos softwares
que auxiliam o projetista no seu trabalho, fornecendo elementos para que o projeto
seja bem sucedido. Um dos programas mais famosos é o Code V (pronuncia-se “code
five”). Seu preço atinge a cifra de milhares de dólares e o preço da manutenção da
licença de ordem semelhante. A preocupação com a segurança do software é tanta que,
mensalmente, nos laboratórios onde está instalado, um técnico do fabricante autoriza
o seu uso para o período.
Visando a compreensão do comportamento das aberrações, vamos discutir brevemente as aberrações de 3a. ordem, suas componentes e suas dependências. Os termos
das aberrações de 3a. ordem para lentes são chamados Somas de Seidel e são:
Aberração esférica: Decorre do fato das superfícies da lente serem esféricas. Nos extremos das lentes vê-se que há uma variação da espessura dessas, como decorrência da curvatura da superfície. Isso faz com que, em cada ponto, exista um foco
diferente para a lente (Figura 1.9). A região do espaço formada pelos pontos imagens, distribuidos longitudinalmente, como decorrência da aberração esférica é
demarcada pela chamada superfície cáustica (ver Figura 1.9). A principal dependência da aberração esférica nos dispositivos ópticos é com a abertura da pupila
ao cubo e com as curvaturas dos elementos tanto de lentes quanto de espelhos,
também ao cubo. Bem menor é a dependência com as distâncias entre os elementos do dispositivo. Por isso, visto que pouco se pode fazer com as curvaturas, uma
vez que os elementos do dispositivo óptico foram manufaturados, a solução é “fechar” o diafragma da pupila de entrada para que a mancha da aberração esférica
seja menor.
Coma: É chamada assim porque sua aparência no plano focal aproxima-se de uma
“vírgula” (coma em inglês). A imagem de um objeto pontual gera uma coma em
que o “vértice” está apontado para o centro de campo e a “cauda” no lado oposto,
como um pequeno “cometa” apontando para um “sol” no centro do campo. A
imagem de um campo de estrelas no plano focal, de um dispositivo gerando coma
é de pequenos “cometas” voltados para o centro do campo. A coma é decorrente
do fato dos raios não serem paralelos ao eixo óptico. Aqueles que chegam na
1.2. DOMÍNIO NÃO PARAXIAL
13
parte inferior da pupila vão percorrer um caminho óptico diferente daqueles que
chegam na parte superior. A coma tem dependência quadrática com a abertura
da pupila de entrada e linear com a distância do objeto do eixo óptico. É nula no
centro do campo. Sua dependência com a posição relativa dos elementos ópticos
do dispositivo é maior do que a da aberração esférica, de forma que é válido se
fazer pequenos deslocamentos relativos entre as lentes e espelhos do dispositivo
óptico para melhorar a imagem com respeito a essa aberração. “Fechar” um pouco
o diafragma da pupila de entrada e limitar o campo perto do centro são boas
medidas para dispositivos sem correção da coma.
Astigmatismo e curvatura do campo: Para as lentes essas aberrações também são
conhecidas por Somas de Petzval. A curvatura de campo é a propriedade dos
sistemas ópticos em que a superfície de melhor foco não é um plano, mas uma
coroa de esfera. Nas lentes, é dependente da soma das curvaturas dos elementos.
Possui dependência linear com a abertura da pupila e quadrática com a distância
do objeto ao eixo óptico. O astigmatismo é a única aberração que quebra a simetria de revolução dos dispositivos. O astigmatismo é decorrente do fato de os raios
que entram no dispositivo longitudinalmente percorrem caminhos ópticos diferentes daqueles que penetram o sistema transversalmente, produzindo um efeito de
“cilíndrico”. O plano definido pelos raios que se dispõem na vertical é chamado
plano tangencial enquanto que o plano definido pelos raios que se dispõem na
horizontal é chamdo plano sagital. Muitos ópticos propõem a utilização de lentes
cilíndricas para corrigir esse efeito, no entanto, tal medida, que retira o caráter
simétrico por revolução do sistema, limita sobremaneira a versatilidade do dispositivo.
Distorção: Essa aberração é a menos incômoda para a astronomia. Sua consequência
é meramente deslocar o objeto da posição esperada, sem introduzir qualquer defeito de imagem. Possui dependência única com a distância paraxial do objeto ao
cubo. É fortemente dependente da posição relativo dos elementos ópticos. Pode
ser de dois tipos: o “barril” e a “rede de pesca”1 . Esses nomes decorrem da aparências das imagens de um retículo quadriculado (Figura 1.10). No caso da distorção
do tipo “barril” esse é devido o fato do coeficiente da distorção ser negativo. Assim
a posição dos pontos nos extremos do campo é mais próxima do centro do que
se esperava ser, fazendo com que o retículo seja curvado “para dentro”. No caso
da “rede de pesca” o efeito é o oposto, fazendo com que a imagem do retículo seja
curvada “para fora”. A distorção produzida por dispositivos ópticos (sobretudo por
telescópios) é frequentemente ignorada pelos astrônomos. Contudo, quando se
trata de calibrar as imagens em posição, a distorção é importante, introduzindo
termos de terceira ordem na posição dos objetos. No entanto, os astrômetras costumam calibrar as posições em função de polinômios de segundo grau, o que é
insuficiente para tais propósitos.
Cromatismo: Até aqui vimos as aberrações decorrentes de radiações monocromáticas.
Na prática devemos lidar com objetos irradiando em todas as frequências da luz.
O cromatismo decorre não só da variação de propriedades refratoras dos vidros
ópticos utilizados em um dado dispositivo como também advém do fato que as
lentes, em cada ponto apresenta o que se chama “efeito prismático” pois uma
lente pode ser concebida como o empilhamento de infinitos prismas de ângulo
de vértice diferentes. Portanto, o cromatismo é acrescido pelo efeito prisma das
1 A literatura inglesa no assunto consagrou os nomes barrel e pincushion. A tradução de pincushion para
“agullheiro” não parece boa. Rigorosamente pincushion é aquela pequena peça que as costureiras e alfaites
utilizam afixada no antebraço onde espetam e retiram os alfinetes e agulhas, de acordo com suas necessidades.
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
14
Figura 1.10: Distorção “barril” (esquerda) e “rede de pesca” (direita)
lentes. Os dispositivos ópticos em que o efeito do cromatismo é corrigido são
conhecidos como “dispositivos acromáticos”.
Uma vez conhecidos os diferentes termos das aberrações, podemos verificar que os
projetos de construção de todos os tipos de dispositivos ópticos dependem de cálculos
de forma a que essas aberrações sejam reduzidas ao mínimo possível. Nesse ponto é que
se lança mão de softwares dos quais o “Code V” é o mais completo. Além de promover
cálculos interativos, e de outras facilidades, o “Code V” faz um estudo da sensibilidade
do sistema a cada curvatura dos elementos ópticos para que, na confecção, os técnicos
possam saber quais elementos são “críticos”.
Não é possível projetar-se dispositivos completamente corrigidos de todas as aberrações. De acordo com sua aplicação, “sacrifica-se” algumas qualidades em prol de
outras. Na astronomia, é de especial interesse os chamados dispositivos aplanáticos
que apresentam a aberração esférica e a coma corrigidas, mas que sua curvatura de
campo e astimatismo são consideráveis. A limitação das observações para pequenas regiões do céu ajudam a minimizar os efeitos dessas últimas aberrações, graças às suas
dependências com o quadrado do campo.
Considerando que a aberração esférica em lentes decorre da variação da espessura
dessas entre seu centro e extremidade, Augustin Fresnell, físico francês, desenvolveu
no final do século XVIII uma lente que levou o seu nome. Essa lente encontrou grande
utilidade nos antigos faróis marinhos. Hoje sua aplicação restringe-se aos projetores
de transparências. Fresnell talhou o vidro de forma que, em diferentes alturas a partir
do centro, a curvatura era retomada partindo da mesma espessura. Fresnell esperava,
com isso, reduzir a aberração esférica, o que conseguiu. No entanto, no caso de óptica
de precisão, essa técnica de construção introduz um termo muito mais difícil de corrigir
pois é descontínuo.
1.3 Princípio de Huyghens
A radiação eletromagnética possui caráter ondulatório e por isso está sujeita ao chamado Princípio de Huygens, qual seja:
“Uma onda se propaga no espaço de forma que cada ponto do espaço se
comporta como se ele fosse uma fonte individual dessa onda”.
A idéia é simples. Uma vez que a onda se propaga por um meio, implicitamente
estabelece-se que esse é meio é constituido de pontos que interagem com a onda sendo
propagada. Esse ponto é excitado e, de certa forma, passa a vibrar com o mesmo modo
de vibração da onda, independente de seus pontos vizinhos. Se pudermos isolar esse
1.4. POLARIZAÇÃO
15
ponto, veremos que ele se comporta exatamente como sendo ele a fonte de uma onda
das mesmas características.
Uma frente de onda observada, portanto, pode ser interpretada como a soma de
todas as frentes de onda geradas pelos pontos por onde essa onda passou. A frente
de onda resultante será determinda pela geometria dos pontos geradores de frentes de
onda sob a mesma fase. Uma frente de onda plana é a composição das frentes de onda
de todos os pontos planares alinhados na mesma fase. Uma frente de onda esférica,
será a resultante dos pontos na mesma fase alinhados segundo uma esfera concêntrica,
etc.
Esse princípio será importante quando examinarmos propriedades da óptica física
em telescópios e redes de difração (ver 1.9 e 5.1).
1.4 Polarização
A radiação eletromagnética, como é sabido, é composta de uma onda elétrica que gera
uma onda magnética perpendicular a essa, e vice-versa. No entanto, as equações de
Maxwell não impõe qualquer vínculo sobre em que direção se encontram a onda elétrica
ou magnética. Isso significa que não há direção privilegiada para a onda eletromagnética vibrar no espaço. Em conseqüência, o que temos é que, se nada modifica esse
estado, encontra-se a onda vibrando em todas as direções. Quando isso ocorre, diz-se
que a luz não é polarizada. Quando a luz atravessa certos meios ou reflete-se em certos
materiais, é frequente verificar-se que ela foi sujeita a vibrar sob certas condições. A
mais radical dela é que a onda (representada pelo seu componente elétrico) vibre em
apenas um dado plano, ao que chamamos polarização linear. É dada outra condição
em que esse plano vai girando conforme a onda avança. Essa condição é chamada polarização circular. Outras vezes encontra-se esse plano balançando de um lado para
o outro, o que configura a polarização elíptica. A polarização da luz, apesar de possuir enorme riqueza de informação, não tem muita popularidade entre os astrônomos
observacionais. Sua presença aporta dados dos meios que a luz atravessou, seja por
plasma ou outras regiões das atmosferas estelares e meios interestelares. A explicação
para esse desinteresse, talvez seja a enorme dificuldade de modelar os meios segundo
suas propriedades polarizadoras. Contudo, essa área talvez seja uma brecha por onde
possamos investigar aspectos ainda não estudados completamente na área da física
estelar.
1.4.1 Bi-refringência
Esse é um fenômeno presente sobretudo em cristais transparentes. Um raio de luz
incidente não sofre apenas uma refração, mas, além da ordinária, uma outra refração
adicional chamada “extraordinária”. A característica principal da bi-refringência é o
caráter polarizado dos raios extraordinários. Geralmente a intensidade dos raios extraordinários é bem inferior à dos raios ordinários. Há casos em que a intensidade dos
raios se equivalem e mesmo que os extraordinários superam à dos raios ordinários.
Entre os muitos exemplos de aplicação desse fenômeno, temos o chamado “prisma
de Wollaston”, usado no astrolábio A. Danjon. Sua função é permitir unir as duas imagens da estrela antes delas se cruzarem no ponto habitual e mantê-las unidas por um
curto período de tempo de forma a tranformar um evento instantâneo em um experimento prolongado onde pode-se fazer uma estatística no tempo. O primsa de Wollaston
se caracteriza por gerar uma bi-refringência de intensidades equivalentes para os raios
incidentes (Figura 1.11). Aproveita-se apenas, os raios “Sb” e “Ia”, como os mostrados
na figura. Ajusta-se a posição longitudinal do prisma de forma a fazer com que as
imagens da estrelas se superponham. Em seguida, movimenta-se longitudinalmente
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
16
Raio Superior S
Prisma de Wollaston
Sa
Sb
Ia
Ib
Raio Inferior I
Figura 1.11: Prisma de Wollaston.
o prisma de maneira a manter os raios dispostos de tal forma que a superposição se
prolongue por um certo período de tempo. Os raios “Sa” e “Ib” são inutilizados.
1.5 Transmissibilidade e Refletividade
Quando existe pelo menos um espelho no sistema óptico que antecede a formação da
imagem, é preciso considerar o índice de reflexão, ou refletividade. Trata-se da razão
entre a intensidade de radiação que incide no espelho e a que é, efetivamente refletida:
σR =
Ir
.
Ii
Quando, por outro lado, existe pelo menos uma lente ou lâmina refratora (filtro, por
exemplo), devemos ter em conta o seu índice de transmissão, ou transmissibilidade.
É a razão entre a intensidade de radiação incidente no vidro e a que é refratada 2 :
σT =
Ir
.
Ii
Além desses parâmetros ainda existe o índice de polarização da radiação resultante.
Como, na astrofísica, as medidas são feitas, via de regra, relativamente a padrões,
utilizando-se os mesmos dispositivos, esses parâmetros não têm interesse. Tais números são importantes quando somos obrigados a tirar medidas de nossos padrões com
outros dispositivos e no momento de discutir a concepção de novos equipamentos.
A razão entre a luz resultante e a incidente para um sistema telescópio + dispositivos
ópticos intermediários é obtida de forma multiplicativa desses parâmetros:
Σ=
N
Y
σi
i=1
onde σi são os índices de transmissão e/ou reflexão presentes no sistema como um
todo.
1.6 Reflexão múltipla
Esse é um efeito geralmente indesejável dos dispositivos baseados na refração. É sabido, da teoria eletromagnética, que a refração nunca é pura, isto é, sempre que uma
onda encontrar uma superfície separando meios diferentes, a onda, em parte, cruzará
a superfície passando para o outro meio, caracterizando a refração e outra parte sofrerá
2 Aqui, tanto na refletividade e transmissibilidade, é considerada a radiação resultante “ útil” , isto é, a que
é, efetivamente, aproveitada para coletar os dados.
1.7. LUNETAS E TELESCÓPIOS
17
Objetiva
Foco imagem da objetiva
Foco objeto da ocular
Ocular
fo
fe
Pupila de
saída
Pupila de
entrada
Figura 1.12: Diagrama clássico de um telescópio.
uma reflexão. No caso de meios transparentes, o grosso da luz sofrerá a refração. Contudo, sempre, uma pequena parte da luz refletirá. Esse fenômeno chama-se reflexão
secundária.
Se o objeto observado for muito brilhante, a reflexão secundária, multi-refletida nas
diferentes interfaces refratoras podem gerar imagens secundárias, definidas, impropriamente, como artefatos. O termo, com conotação diferente em português, ganha
um novo significado em português através de um anglicismo: artifact em inglês tem o
significado de algo indesejado, produzido pela mão do homem. Já em português, seu
significado original é o de armamento ou dispositivo usando explosivos.
1.7 Lunetas e Telescópios
Um instrumento de observação astronômica é, geralmente, provido de dois dispositivos
ópticos: a objetiva que é o que se apresenta ao objeto para fazê-lo conjugar em seu
foco; e a ocular dedicado a auxiliar o olho humano a focalizar a imagem gerada pela
objetiva.
Classicamente, lunetas são instrumentos de observação de objetos na terra, sendo
úteis como auxílio a vigílias e observação de alvos militares. Por outro lado, os telescópios seriam exclusivamente dedicados à observação de objetos celestes. Na própria
astronomia, no entanto, usou-se consagrar o termo “lunetas” para os dispositivos providos de objetivas a lentes e “telescópio” para objetivas a espelhos. A Figura 1.12 ilustra
os principais elementos das lunetas ou telescópios. É frequente, também, referir-se aos
instrumentos dotados de objetiva a lentes como “telescópio refrator” ou simplesmente,
“refrator”. Em oposição, temos o “telescópio refletor” ou, simplesmente “refletor” para
aqueles dotados de objetiva a espelho.
O esquema óptico da Figura 1.12 é válido tanto para lunetas a lentes quanto para
telescópios a espelhos pois ele guarda características comuns a ambos os tipos. O que
vem a seguir, salvo menção em contrário, serve para todos os tipos de telescópios.
1.8 Escala de Imagem
A escala de imagem de um telescópio é o ângulo, no céu, que corresponde a uma
unidade de distância linear no plano imagem do telescópio. A Figura 1.13 mostra como
a escala de imagem se relaciona com ângulos. Em geral a escala de imagem (outras
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
18
Pupila
e
f
1mm
Plano imagem
Figura 1.13: Escala de imagem.
vezes chamada escala de placa) é medida em arcseg/mm. Logo, a escala de imagem de
um telescópio se determina calculando:
tan e00 =
1
f (mm)
Como f geralmente é dado em metros e e é considerado um valor pequeno, temos a
aproximação:
206.2
e=
[arcseg/mm]
f
1.9 Difração de Fraunhofer
A difração de Fraunhofer acontece quanto a frente de onda da luz passa por um orifício
circular que contém um dispositivo óptico com o foco f positivo (formação de imagem
real). Seja (x, y) um ponto da pupila de entrada de um telescópio, e A(x, y), a distribuição de amplitude do vetor de Poynting nessa pupila. Pode-se demonstrar que a
distribuição a(p, q) resultante no plano focal será a sua transformada de Fourier ([7,
Reboul (1979)]).
a(p, q) = F(A(x, y))
Em coordenadas polares, no plano imagem, supondo que o dispositivo óptico seja livre
de aberração geométrica, a amplitude resultante pode ser escrita como:
a(ρ, θ) = πR2
2J1 (Z0 )
Z0
sendo R o raio da pupila de entrada, ρ e θ são as coordenadas no plano imagem e J1 a
função de Bessel de 1a ordem. A variável Z0 é
Z0 =
2πR
ρ
λf
sendo λ o comprimento de onda da radiação monocromática. Resolvendo a equação
para a primeira raiz da função de Bessel, obtemos que o raio da mancha central no
plano imagem é:
1.22λf
r=
D
onde D = 2R, o diâmetro da pupila de entrada. Note que esse raio da mancha central
pode ser colocado em termos da abertura ou número focal.
r = 1.22λn
1.10. TIPOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS ASTRONÔMICOS
19
onde n é a abertura. Se um telescópio possui f /10, então esse raio terá o valor r f /10 =
12.2λ.
Interessante é saber, referindo-se à escala da imagem, o quanto esse raio significa
em segundos de arco:
λ
r00 = 0.25
(1.4)
D
aqui, λ é dado em µm e D, em metros.
O valor do raio da mancha de difração determina o raio mínimo do poder de resolução do telescópio, pois dois objetos distantes entre si de uma distância inferior a essa
tornam-se indistingüíveis no plano imagem do telescópio. No domínio óptico é perfeitamente digerível usarmos uma luneta de 10cm para obersvarmos o céu, visto que o
comprimento de onda típico do visível é 5500Å=0.55µm, então r 00 = 1.4arcseg. Sendo o
poder de resolução do olho humano da ordem de 1arcmin, imagem parecerá excelente
para um observador.
No domínio do rádio, no entanto, o valor do raio mínimo da difração em segundos é
crítico. Uma antena parabólica de diâmetro de 1m, por exemplo, na faixa de 21cm, vai
produzir uma mancha de difração de 14.5 graus de raio! Para obtermos uma imagem
de 1arcmin de raio seria necessário uma antena de 875 metros de diâmetro (Arecibo
possui 300 metros). Essa é a razão para a técnica de “Linhas de Longa Base” adotados
nos rádios telescópios de todo o mundo, pois faz-se necessário usar a interferometria a
nosso favor diante dessa desvantagem geométrica.
1.9.1 Poder de Resolução
Imaginemos que dois objetos estejam a uma distância correspondente a 2r obtido de
1.4. Se a distância entre esses dois objetos for menor, o equipamento não terá condições
teóricas de distinguir esses dois objetos. Portanto a distância D = 2r = 0.5 00 λ/D é
chamado poder de resolução do telescópio.
1.10 Tipos de Dispositivos Ópticos Astronômicos
Os dispositivos ópticos na astronomia podem ser classificados em três tipos:
1. Lunetas, ou refratores: são os primeiros tipos de dispositivos usados para a observação do céu utilizando as leis da óptica. Famosa é a “Luneta de Galileu” com
a qual o matemático e astrônomo veneziano descobriu os satélites de Júpiter. As
chamadas “grandes lunetas” tiveram seu período de sucesso no início do século.
Um bom exemplo é a “Luneta Cook 46cm, f/13” instalada no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro. Em Yerkes, EUA, encontramos um refrator com “102 cm,
f/18.9”([3, Danjon, 1952]). Geralmente as objetivas são compostas de dubletos ou
tripletos acromáticos e aplanáticos;
2. Telescópios, ou refletores: atualmente os sistemas a espelhos dominam a cena
dos grandes telescópios. São várias as razões de porque essa configuração ganhou a preferência dos astrônomos do século XX. A primeira decorre do grande
avanço das técnicas de espelhamento, que dependem, basicamente, da confiança
que se deposita nas câmaras a vácuo. A segunda vem do avanço na ciência da
combinação de espelhos e na capacidade de corrigir as aberrações a partir dessa
combinação. Abaixo, em 1.10.1 vamos nos dedicar mais atentamente à técnica
de telescópios a dois espelhos. Finalmente, modernas técnicas combinando mecânica fina, técnicas de deformação de materiais e informática, têm trazido enormes
avanços na capacidade de gerar-se imagens com excelente qualidade. Mais a
frente, em 1.14 vamos discutir os detalhes dessa questão;
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
20
3. Telescópios híbridos combinam a inclusão de objetiva a lentes, geralmente dubletos, com o fim de corrigir a coma do sistema como um todo, combinando com um
espelho primário, geralmente parabólico. Essa combinação permite a cobertura de
uma faixa muito grande do céu, desde que a superfície coletora tenha a curvatura
adequada à curvatura do campo resultante da combinação. Esse é o caso das chamadas Câmaras Schmidt (ver em 1.10.2), especialmente úteis nos programas do
tipo survey, que vamos discutir mais adiante (6.2). A grande vantagem da câmara
Schmidt, além do grande campo, é o pequeno valor da abertura (geralmente f/2).
Isso implica em um aumento muito grande da velocidade de exposição, como veremos em 4.1, permitindo um grande número de poses por noite, o que é apropriado
para os surveys.
1.10.1 Telescópios a Dois Espelhos
Telescópios a dois espelhos são a formação mais frequente nos dias de hoje. Para
descrevê-los vamos usar aqui a notação adotada por P. Benevides Soares ([1, Benevides
(1974)] em sua tese de livre docência. Ao adotar sua notação, o Prof. Benevides Soares
teve condições de unificar a descrição de todas as formas com que a configuração a dois
espelhos possíveis. Vamos a ela.
Adota-se a distância focal do conjunto como referência de comprimentos. Seu valor
é:
1
2
2
4e
=− +
+
F
r1
r2
r1 r2
onde r1 e r2 são os raios de curvatura (no cruzamento com o eixo óptico) dos espelhos
primário e secundário, respectivamente, e e é a distância entre eles. Tomando a relação ω = φ1 /φ2 , dos diâmetros dos espelhos, o parâmetro ω é chamado de obstrução,
porque representa o fator linear do espelho primário que não será iluminado quando
de uma incidência normal dos raios. Define-se, também, um parâmetro m, chamado
aumento do secundário que é o aumento que o espelho secundário conjuga a imagem
intermediária formada pelo secundário. Em termos dessas três variáveis definimos as
características físicas do telescópio a dois espelhos:
r1 = −
2F
m
2ωF
m−1
F
e = (1 − ω)
m
r2 = −
além de:
1−ω
m
onde λF vem a ser a distância atrás do espelho primário em que a imagem se forma.
Partindo-se desses parâmetros, constrói-se um gráfico ω × e onde podemos desenhar
um painel de todas as configurações possíveis (Figura 1.14). Algumas configurações
não oferecem interesse para a astronomia. Outras são objetos de nossa atenção. O
primeiro ponto a destacar, nesse painel, é a linha para o m = 1, em outras palavras, o
secundário seria um espelho plano. Trata-se do assim chamado telescópio de Newton
ou newtoniano, em homenagem a seu inventor. Por isso a linha reta de m = 1 é
denotado com a letra N. Vemos a reta definida por λ = 0. Essas retas, além das retas
ω = 0 e m = 0, dividem o gráfico em regiões que determinam a configuração de um
telescópio a dois espelhos. As parte do gráfico caracterizada por λ < 0 é aquela em
que a imagem final forma-se “a frente” do espelho primário. Essa região fica “abaixo”
da reta λ = 0. Em outras palavras, a imagem final se coloca entre o secundário e o
λ=ω−
-0.5
-1
&&&
'& '& '&
%$ %$ %$ %$ %$ %$
1
C
0.5
S
0
0
0.5
G
GF GF GF GF GF GF F
IH IH
HH
210 102 2
. . 32 . 32 . 32 . .
./ /. /. /. /. .
/////
D D A@ CB D @A CB D A@ D D
>? ?> ?>
DE ED ED ED ED D
EEEEE
=< =< =< =< =<
NNN
ON ON ON
MM
LKJM LKJM
LL
NNN
ON ON ON
M
LKJM KJ
L
+* +* *+ +* +* +*
)( )( )(
-, -, -,
1.5
N
1
98 ;: 89 ;: 98
7654 7654 7654 7654 7654 7654 6547
obstrucao
Obstrução
0
m=0
1.5
1.10. TIPOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS ASTRONÔMICOS
λ=
21
Figura 1.14: Painel das configurações de um telescópio a 2 espelhos. Inspirado em [1,
Benevides (1974)].
2
m=
1
2
Espaçamento
espacamento
22
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
primário. A região “acima” dessa reta é aquela em que a imagem forma-se atrás do
espelho primário. Por outro lado, a região em que m > 1 é aquela que fica “abaixo” da
reta m = 1, enquanto que a região em que m < 1 é a que fica “acima” dessa reta. No
pequeno triângulo determinado por 0 < e < 0.5, λ > 0 e m > 1, temos a configuração de
Cassegrain, que veremos abaixo. Em toda a região caracterizada por m < 1 e λ < 0 temos
o chamado telescópio gregoriano, em homenagem a seu inventor, um matemático inglês
chamado Gregory. Seus trabalhos não passaram dos projetos, contudo, a homenagem
fica pela sua idéia. A região definida pelo triângulo ω > 0, m > 1 e λ < 0 é chamada
configuração de Schwarzschild pelos seus estudos dedicados a ela entre 1905 e 1906.
A configuração “Cassegrain”, caracterizada por λ > 0, m > 1, e 0 < ω < 1. Contemporâneo de Newton, como Gregory, Cassegrain criou essa configuração sem saber
direito quais seriam suas vantagens e desvantagens sobre outras configurações. Com o
tempo, as três configurações foram convivendo e, graças às modernas teorias ópticas,
sabe-se exatamente as vantagens e desvantagens delas. É frequente, nos observatórios,
encontrarmos grandes telescópios capazes de serem convertidos em um e outro tipo,
sobretudo entre a configuração newtoniana e a de Cassegrain. O telescópios de 5m
do Monte Palomar é um exemplo. O telescópio newtoniano se presta muito bem para
espectroscopia de baixa resolução de objetos fracos, graças a sua baixa razão focal.
Observemos a relação e/F = (1 − ω)/m. Em qualquer caso essa relação determina
a extensão do tubo do telescópio. Para a configuração Cassegrain, em que ω é positivo
e sempre inferior à unidade, enquanto que m é sempre superior a 1, essa relação será
sempre inferior à unidade. Tipicamente ω se situa entre 0.25 e 0.35, enquanto que m
fica entre 2 e 3. De forma que a extensão do tubo de um telescópio Cassegrain fica
entre 22% a 38% da distância focal nominal. Essa propriedade não é a mesma em
outras configurações. Em particular a configuração newtoniana possui um tubo entre
65% e 75% da distância focal e a gregoriana podendo chegar a mínimo de 43%. Embora
o valor seja sugestivo, não podemos esquecer que esse telescópio exige que coloquemos
os equipamentos de detecção no interior do tubo.
Entre as vantagens da configuração Cassegrain, temos:
1. A imagem fica “atrás” do primário, facilitando a instalação de instrumentos e detetores acoplados ao telescópio;
2. É um equipamento compacto pois o comprimento do tubo é bem menor do que a
distância focal nominal;
3. É facilmente conversível para focos newtoniano e Coudé (ver abaixo);
4. A característica de dois espelhos com curvatura introduz mais parâmetros livres
para procurarmos corrigir as aberrações.
Um caso particular do telescópio Cassegrain é o chamado telescópio Ritchey-Chrétien,
em homenagem a seus inventores, que desenvolveram no Observatório do Monte Wilson uma configuração composta de dois espelhos hiperbolóides, o primário, côncavo e
o secundário, convexo, cujas características combinadas produziam um sistema perfeitamente aplanático. Tais telescópios tiveram uma grande popularidade nos anos 1970
e 1980, sendo o telescópio 1.60m do LNA, em Itajubá, MG, um exemplar. Corretores a
lente podem ser desenvolvidos para permitir obervações de grandes campos no céu em
campos planos. Outro telescópio desenhado especialmente para a espectroscopia, caracterizado por ser, também, do tipo Ritchey-Chrétien é o SOAR, de 4.2m de diâmetro.
Telescópios conversíveis entre newtoniano e Cassegrain possuem o espelho primário
em forma de parabolóide com o secundário em forte excentricidade pelo hiperbolóide.
Novamente, corretores a lentes devem ser introduzidos em um e outro caso para observação de grandes campos.
1.10. TIPOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS ASTRONÔMICOS
23
Objetiva
Foco
PQPQRQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RQPRQP RPRP
PQRQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RQP RP
Espelho esférico
Figura 1.15: Câmara Schmidt. A orientação da luz é de cima para baixo.
Existe, ainda, o telescópio newtoniano conversível para Cassegrain. O exemplo clássico é o telescópio de 5m do Monte Palomar. Se o primário é um parabolóide, o secundário terá de ser fortemente asférico, em formato de hiperbolóide para que seja corrigida
a coma. Um corretor de campo, como no caso da configuração Ritchey-Chrétien, é
necessário para corrigir a curvatura de campo e o astigmatismo.
A configuração gregoriana encontra aplicações sobretudo como equipamente auxiliar
em rádios telescópios. A configuração de Schwarzchild, por enquanto, é uma discussão
teórica.
Finalmente, encontramos a configuração do foco Coudé. Normalmente os telescópios, independente da configuração, seja ela newtoniana ou de Cassegrain, possuem
conversibilidade para esse foco. Sua razão focal é de ∼f/30 o que faz com que seja
particularmente útil em espectroscopia de alta resolução. A qualidade óptica da imagem, no entanto, deixa a desejar, conquanto que a razão focal está longe de ser ideal a
aplicações fotométricas, de forma que não há notícia de fotometria feita nesse foco. A
conversão para o foco Coudé é feita através da inclusão de um espelho terciário. Sua
inclinação é de 90◦ e joga o feixe de luz, geralmente, na direção do eixo de sustentação
do telescópio, de maneira que se possa levar a luz pelo interior dos tubos da montagem
do telescópio até uma câmara disposta no plano focal.
1.10.2 Câmara Schmidt
A câmara Schmidt é concebida especialmente para campanhas de survey (vasculhamento). Possui, como primeiro elemento óptico uma lente na pupila de entrada seguida
de um espelho côncavo. Esse sistema permite a correção satisfatória de todas as aberrações salvo a curvatura do campo e uma pequena distorção. Por isso, essa câmara se
presta a observações de grandes campos desde que o detector, geralmente uma placa
fotográfica, seja retorcido de maneira a se adequar à curvatura no foco, enquanto que
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
24
a distorção é facilmente corrigida através de polinômios astrométricos.
As características ópticas da câmara Schmidt geralmente são:
1. Lente objetiva, tripleto acromático de potência nula ou muito pequena, introduzindo aberrações opostas àquelas que irão ser introduzidas pelo espelho esférico.
O diâmetro da lente é, via de regra, de 1,5 m;
2. Espelho esférico, distância focal de 3m, f/2 e diâmetro de cerca de 2.5m. Dessa
forma, garante-se exposição plena do campo total de 10◦ sem vignetting;
3. Campo a 3m na frente do espelho, curvo de aproximadamente 6m de raio, até 10◦
de campo total.
A dimensão linear do campo ultrapassa os 30cm. Isso coloca um problema para a
disposição de filtros fotométricos cujos diâmetros deverão ultrapassar em até 30% esse
valor para garantir a exposição total do campo sem vignetting.
Os custos de aquisição e manutenção desses equipamentos são altos, tendo em vista
a restrição do espectro de aplicações. Por essa razão, a câmara Schimdt é adquirida
por observatórios que se dispõem a manter serviços de survey permanente. Entre esses
observatórios destacam-se o do Monte Palomar no hemisfério norte e o do ESO em La
Silla, Chile.
1.11 Oculares
As oculares são dispositivos desenhados para adaptar a vista humana à imagem formada no plano focal da objetiva. Apesar de diminuta, as oculares exigem um razoável
esforço de cálculo dos projetistas. Sua função é conjugar a imagem gerada pela objetiva
no infinito pois essa é a condição de melhor acomodação do olho. Uma outra característica decorre do tamanho típico do olho humano: 6mm. Como consequência as oculares
têm, via de regra, 6mm de diâmetro.
Por se tratar de um sistema de lentes compostas, usa-se definir a potência de uma
ocular (ver 1.1.11). Se a distância focal de uma ocular é dada em mm, a potência de
uma ocular é dada como:
1000
Pocu =
focu [mm]
Uma ocular de 25mm de distância focal possui, portanto, 40 dioptrias de potência.
1.12 Retículos
Os retículos são destinados a auxiliar o astrônomo observacional a cumprir uma tarefa,
via de regra, de definição de posição de objetos astronômicos. Há duas formas de um
retículo se apresentar, ambas utilizam uma lâmina de vidro fina disposta verticalmente
ao eixo óptico, na altura do foco do telescópio.
A primeira forma é através de ranhuras desenhadas na lâmina de vidro com o auxílio
de uma frezadeira, de maneira a dar impressão ao observador de se tratar de “riscos”
dispostos em cruz.
A segunda forma é mais precisa. Trata-se da deposição de um fio muito fino no
lugar das ranhuras na lâmina. O fio mais utilizado é o da teia de aranha. Não faz muito
tempo, tais retículos eram fabricados no Observatório Nacional, com o auxílio de um
pequeno dispositivo. Uma aranha “viúva negra”3 era aprisionada nesse dispositivo de
forma a permitir que o operador provocasse a glândula produtora do fio da teia, que
3A
raça da aranha é contestada. No entanto prefiro mantê-la por fidelidade à história como me foi contada.
1.13. DISPOSITIVOS ÓPTICOS AUXILIARES
25
c) câmara planetária
a) corretor
Pupila de saída
b) redutor
d) lente Fabry
Figura 1.16: Câmaras auxilires.
era recolhido em um pequeno carretel, para imediatamente ser aproveitado na deposição sobre a lâmina de vidro. Tais retículos eram destinados à observação de estrelas
binárias visuais, programa levado pelo astrônomo Ronaldo R. de Freitas Mourão. A
aposentadoria do técnico que fabricava o retículo, na falta de quem lhe substituisse,
condenou o projeto observacional e inutilizou o dispositivo de colheita da teia (não se
sabe do paradeiro da aranha).
1.13 Dispositivos Ópticos Auxiliares
Na maioria dos casos é necessário introduzir-se dispositivos ópticos, geralmente próximo ao plano focal do telescópio, cujo objetivo é adaptar as características ópticas às
necessidades observacionais. Vamos estudar, aqui, os casos mais freqüentes.
1.13.1 Câmaras auxiliares
Corretores, Redutores e Condensadores
Esses são dispositivos ópticos introduzidos a cerca de 30cm antes do plano focal do
telescópio. São, essencialmente, sistemas de tipos equivalentes, salvo pela modificação da razão focal final do telescópio. Por se apresentarem como espécies de “caixas
pretas”, pois são construidos por empresas especializadas, geralmente esses sistemas
são apelidados de câmaras. As câmaras são concebidas especialmente para cada telescópio. Não é possível, em tese, utilizar uma câmara em um telescópio que não seja
aquele para o qual ela foi construida. Deve-se considerar também que existe um limite
de validade em função do comprimento de onda utilizado. O mais prudente é consultar
o manual do fabricante para saber os limites de tais sistemas.
Primeiramente temos câmaras corretoras (Figura 1.16a). Em princípio esses sistemas possuem focos no infinito. Em outras palavras, o aumento desses sistemas é muito
próximo do unitário. São concebidos para corrigir seja a curvatura de campo e astigmatismo dos sistemas aplanáticos, seja para, além disso, corrigir a coma em telescópios
newtonianos ou Cassegrain. A maior parte de seus componentes ópticos visa corrigir
as próprias aberrações geométricas e cromáticas. Deve-se levar em consideração que
tais sistemas absorvem a luz, mesmo que muito pouco.
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
26
Em seguida, temos o redutor, cujo objetivo é ampliar a abertura do telescópio (Figura 1.16b). Para que atinge seu objetivo o conjunto deve ter aumento entre 0 e 1. Se
a fazão focal de um telescópio é f/10 um aumento de 0.5 do redutor fará com que esse
número focal passe a ser f/5. Apesar da figura mostrar um tripleto, esses sistemas,
geralmente, necessitam muitos mais componentes e por isso são bastante sensíveis à
questão da absorção da luz, polarização e limites de validade em função do comprimento de onda. Apesar de ser possível encontrar alguns observatórios dotados desses
sistemas, tais dispositivos não são muito requisitados.
Temos, enfim, a câmara planetária que, como seu nome diz, tem sua aplicação
mais freqüente na observação de planetas e seus satélites (Figura 1.16c). Seu aumento
é superior ao unitário para que o sistema atinja o seu objetivo. Um aumento 2 fará
dobrar a razão focal do telescópio. É muito utilizada, além ser muito mais fácil de
projetar e construir do que as câmaras descritas anteriormente.
Lentes Fabry e transferidores
Temos aqui sistemas que se posicionam atrás do plano focal do telescópio. Um sistema
bastante popular, sobretudo nas décadas de 50, 60 e 70 é a chamada lente Fabry
(Figura 1.16d) em homenagem a seu criador o físico francês Charles Fabry (1867-1945).
Seu objetivo é levar a imagem pupila de saída até uma posição, onde geralmente se
coloca a superfície receptora do fotômetro fotoelétrico4 de forma a garantir iluminação
a mais uniforme possível dessa superfície. O aumento de tais lentes, pela geometria
de construção (ver Figura 1.16d) são negativos, isto é, invertem a posição original no
campo conjugado.
Uma lente semelhante, desde que concebida para esse fim, também serve como
sistema transferidor que leva o plano imagem para outra posição. Seu aumento é, em
princípio, -1, mas pode variar, o que faz dele uma função semelhante a um redutor focal
ou uma câmara planetária, dependendo se seu valor absoluto é inferior ou superior à
unidade.
Uma outra forma de transferir o plano imagem é a utilização de fibras ópticas. Sua
atuação, contudo, se dá para exíguas regiões do campo, por exemplo, imagens de estrelas ou cores de galáxias. Utiliza-se, geralmente, vários chicotes de fibras ópticas,
escolhendo-se criteriosamente posições no campo. A utilidade de tais expedientes é,
especialmente, aplicação em equipamentos de espectroscopia5 . Tais fibras também
trabalham dentro de limites em comprimento de onda. Também possuem limites para
abertura do feixe de luz ou uma abertura ideal. Dependendo do caso é preciso acrescentar uma câmara planetária ou redutor para que a abertura do feixe de luz seja
adequada para tais dispositivos.
1.13.2 Semi-espelhos ou Beam Splitters
Um dispositivo auxiliar útil são as ditas superfícies semi-espelhadas ou beam-splitters.
Sua função é de dividir a luz, via de regra a metade dela reflete-se na superfície e a
outra metade a cruza de forma a seguir caminho como se essa superfície não existisse.
Raramente esses dispositivos dividem a luz em proporções desiguais e mais raro ainda,
não a faz sem absorver parte da luz incidente.
A despeito de perda de qualidade da informação, seja em enfraquecer sobremaneira
a intensidade da luz, seja em introduzir polarização, dependendo da aplicação, esses
dispositivos podem ser muito úteis à observação, principalmente quando o objeto em
foco deve ser acompanhado na ocular enquanto sua luz é coletada. Parte da luz proveniente do objeto cruzaria o beam splitter alcançando a superfície coletora e outra parte,
4 Ver
5 Ver
em 4.4.
no Capítulo 5.
1.14. ÓPTICA ATIVA E ÓPTICA ADAPTATIVA
27
Figura 1.17: Exemplo de beam-splitter. A superfície inferior do prisma é semi-espelhado
de forma a refletir parte da luz e deixar passar a outra parte.
refletida, seria levada ao foco de uma ocular (Figura 1.17).
1.14 Óptica Ativa e Óptica Adaptativa
Três fatores cooperaram para o desenvolvimento dessas duas tecnologias:
1. Computadores mais velozes e com mais capacidade de memória;
2. Técnicas de controle, realimentação e robótica;
3. Ciência dos materiais.
A óptica ativa é um desenvolvimento de interesse inical dos próprios astrônomos, sendo
os astrônomos os primeiros a tomarem a iniciativa enquanto que a óptica adaptativa foi
adotada para fins militares pelos americanos ([9, Strom, 1991]). Atualmente, as duas
tecnologias estão integradas e, praticamente, se confundem.
O objetivo da óptica ativa é o de suprimir todas as imperfeições da imagem decorrentes não somente das aberrações usuais como de todas as distorções do caminho do raio
devido às torções e tensões dos espelhos em função de seus pesos e posicionamento
para apontar os objetos. Sendo os espelhos cada vez maiores, é de se esperar que
as imperfeições de sua geometria apareçam de forma mais opulenta. Para corrigí-las,
desenvolveu-se técnicas de correção através de deformações no espelho secundário que
as minimizam. Essa é a razão do nome “óptica ativa”, pois a óptica do instrumento se
ajusta de forma ativa no sentido de otimizar a imagem final.
A óptica adaptativa é destinada a corrigir os efeitos que a turbulência da atmosfera
provoca na imagem, isto é o seeing (ver 3.3). Inicialmente a idéia foi a de construir
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
28
espelhos primários compostos por um certo número de “células” de, tipicamente, 10cm
de diâmetro cuja função era a de acompanhar o movimento errático dos feixes de luz
devido à turbulência. Essa técnica limitava o diâmetro do conjunto dada a quantidade
bestial de conexões, motores independentes e equações a serem resolvidas no computador ou computadores.
Ambas as técnicas baseiam-se na observação de uma estrela de “prova” como entrada para a solução final. Atualmente elas foram integradas em uma só e a técnica de
deformação dos espelhos primários e secundários já não apresenta dificuldade. Hoje,
no lugar dos pesadíssimos espelhos supostos rígidos, encontramos enormes peças perfeitamente deformáveis e de uma leveza surpreendente.
A óptica ativa-adaptativa é usada nos telescópios da projeto “Gemini”. Contudo,
a estrela de “prova” é “virtual”. Um feixe de raio laser é projetado na direção onde
se está obervando. A emissão é na frequência fundamental do sódio, encontrado na
estratosfera, o que faz com que um ponto passe a brilhar no céu. A vantagem dessa
técnica é a dispensa dos incômodos mecanismos de posicionamento do sistema com
respeito à estrela de prova além de eliminar o problema introduzido pelo “offset-guider”
durante as tentativas deste em corrigir o posicionamento e movimento do telescópio.
1.15 Características Observacionais
1.15.1 Fator de Aproximação ou Aumento Angular
Aumento angular é a relação entre o ângulo do raio principal na pupila de saída da
ocular e o ângulo do raio principal na pupila de entrada da objetiva. O traçado de raios
permite demonstrar que o aumento angular G pode ser colocado em função da relação
entre as distâncias focais da objetiva e da ocular:
G=
Fobj
focu
quando se trata de observar um objeto na terra, o aumento angular traduz-se na aparente “aproximação” desse objeto. Diz-se, então, do fator de aproximação, valor constando nas embalagens dos telescópios amadores como também em binóculos6 . Note
que quanto menor a distância focal da ocular mais aproximação ela permitirá. Esse
fato pode ser entendido segundo a definição de potência da ocular (ver em 1.1.11).
Quanto maior a potência, menor será a distância focal do dispositivo.
1.15.2 Fator de Concentração de Luz
Olhando-se para a Figura 1.12 vemos que os raios que chegaram na objetiva do telescópio se concentraram na saída da ocular. Houve, digamos, um aumento na densidade
de raios. Na prática isso significa que a quantidade de fótons que chega na superfície
definida pela objetiva é a mesma na saída da ocular, o que quer dizer que houve um
considerável aumento na densidade de fótons chegando ao olho humano.
Partindo do fato que a ocular possui 6mm de diâmetro (ver 1.11), definimos fator de
concentração de luz de um telescópio a relação:
C=
D
d
2
= 27.8 × 103 D2
(1.5)
onde D é o diâmetro do telescópio dado em metros, e d = 6mm, o diâmetro da ocular.
6 Binóculos,
em última análise, vêm a ser lunetas mecanicamente conectadas.
1.15. CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONAIS
29
1.15.3 Magnitude Limite
Considerando-se que o limite do olho humano é de magnitudes não superiores a 6.5,
define-se magnitude limite de um telescópio aquela que o olho humano consegue alcansar com sua ajuda. Sabemos que o fluxo mínimo que o olho pode perceber será
dividido por C, definido pela fórmula 1.5. Portanto a magnitude limite será adicionada
de:
∆m = 2.5 log 27.8 × 103 D2 ∼ 11.1 + 5 log D − µC
onde µC representa o termo, em magnitude, devido a absorções internas da luz devido
o telescópio. Atribui-se a esse termo um valor típico de 0.5m . Assim, a magnitude limite
terá a forma:
Mlim = 17.1 + 5 log D
(1.6)
Sendo D, o diâmetro do telescópio, dado em metros. Note que a magnitude limite não
depende nem da distância focal e nem do número focal.
1.15.4 Velocidade da Objetiva
A abertura da objetiva, isto é, a combinação entre o diâmetro da pupila de entrada e
a distância focal da objetiva, definem um cone cujo vértice está localizado na imagem.
A abertura desse cone define um ângulo sólido. Independente do valor particular do
diâmetro da pupila ou a distância focal, esse ângulo sólido depende tão somente da
relação entre esses dois valores. Por isso, o quadrado do número focal do telescópio
define a velocidade da objetiva pois vai determinar o tempo de exposição de um objeto,
como veremos no capítulo dedicado à fotometria (4).
1.15.5 Campo do Telescópio e Campo de Visão
Existem várias limitações para o campo de um telescópio e o campo de visão do conjunto
telescópio + ocular. Aqui, definimos o campo máximo teórico. Aquele que não possível
ampliar independente de qualquer outro fator. Esse limite é determinado pelo campo
máximo possível sem que os raios de luz sofram vignetting. Cada configuração definirá
esse limite. Os telescópios de configuração Ritchey-Chrétien são construidos de forma
a permitir um campo total, sem vignetting, de cerca de 1◦ (o secundário é um pouco
maior que o determinado pela obstrução teórica).
Os telescópios operam, contudo, com uma certa margem de vignetting, sobretudo
aqueles telescópios a grandes campos, como é o caso da câmara Schmidt, pois, na maioria das vezes, é impossível projetar-se sistemas ópticos livres de tal efeito. O que se
vê nas imagens, nesses casos, é uma diminuição sistemática do brilho dos objetos a
medida que se afasta do centro do campo. A solução para isso é promover uma correção fotométrica desse efeito, gerando-se uma função de calibração fotométrica que é
dependente da distância ao centro do campo. A esse procedimento chamamos correção
de vignetting.
Nos casos de outros sistemas de telescópio, as soluções para se evitar o vignetting
são encontradas em função de cada fabricante. No caso do refrator, por exemplo, a
campo será limitado pelo diâmetro do tubo, combinado com os limites ópticos da ocular
ou eventuais dispositivos ópticos necessários à observação.
1.15.6 Buscadora
Todo telescópio profissional possui uma “buscadora”. Trata-se, na maioria dos casos,
de uma luneta, afixada rigidamente ao telescópio principal, caracterizada por possuir
um campo de visão superior a este. O objetivo da buscadora é auxiliar a procura
30
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
do objeto de interesse. Um retículo colocado no foco da ocular permite o observador
orientar-se no sentido de centrar o objeto de interesse no campo do telescópio principal.
Modernamente, através de dispositivos de apontamento de última geração, o auxílio
da buscadora é cada vez menos necessário ao astrônomo. No entanto, a engenharia
dos observatórios, nos procedimentos de calibração e centragem destes, se serve constantemente da buscadora.
1.15.7 Offset Guider
Escolhe-se uma estrela dentro do campo do telescópio, mas fora do campo de interesse (razão do nome offset) que se chamará estrela guia. Um pequeno espelho plano,
◦
disposto em 45 com respeito ao plano focal desvia os raios de luz dessa estrela para
um sistema composto de um CCD acoplado a um dispositivo que vai controlar o motor
de acompanhamento em ascenção reta como também corrigir a posição em declinação
para que o campo de interesse permaneça fixo durante a observação. De acordo com o
movimento da imagem da estrela guia, o dispositivo vai corrigir a posição e o movimento
do telescópio. Vemos que trata-se de um processo de realimentação ou feedback: correções ao movimento do telescópio são feitas em função do resultado que esse próprio
movimento impinge ao sistema.
Os grandes telescópios modernos possuem sofisticados sistemas de offset guider.
Vale notar a diferença entre a estrela guia que se presta para a correção da posição e
movimento do telescópio e a estrela de prova, visto em 1.14, cujo objetivo é corrigir a
óptica do telescópio dos defeitos de imagem decorrentes das flexões do telescópio e da
turbulência atmosférica.
1.16 Tipos de Montagem
Os telescópios devem ser colocados em suportes para serem úteis à observação. Dois
problemas são cruciais, sobretudo para os telescópios modernos de grande porte: o
problema do acompanhamento do movimento diurno, frequentemente referido como,
simplesmente, acompanhamento diurno; e o problema do sistema de contra-peso e
correções de flexões. Na astronomia, um problema não pode ser desconectado do outro.
Esses problemas, são tratados, portanto, unificadamente como problema da montagem.
Classicamente, existem quatro soluções universais para o problema, duas com aplicação na astrofísica: a montagem equatorial e a montagem azimutal; e duas direcionada
especificamente para a astrometria: a montagem meridiana e a montagem zenital. Cada
uma, com suas variantes possuem vantagens e limitações intrinsecas. O determinante
na escolha da montagem e variantes vem da tecnologia empregada na construção do
telescópio e, principalmente, o destino que se quer dar a este. Ambas as montagens
astrofísicas necessitam que sejam dispostos dois eixos de rotação para dar ao telescópio todo o grau de liberdade necessário para se apontar o objeto de interesse. A seguir,
vamos discutir as duas soluções.
1.16.1 Montagem Equatorial
Possui dois eixos de rotação. O primeiro é fixo e é paralelo à direção definida pelo
eixo de rotação da terra. Chama-se eixo da ascenção reta pois a rotação em torno dele
permite ajustar a posição em ascenção reta. Um mecanismo de movimento em torno
desse eixo permite o acompanhamento do movimento diurno da terra. O segundo eixo,
chamado eixo da declinação pois permite ajustar a declinação do apontamento, é fixado
ao primeiro. A esse eixo é preso o tubo do telescópio. O tubo é fixado numa posição
1.16. TIPOS DE MONTAGEM
31
Eixo N−S
Figura 1.18: Montagem equatorial tipo “ Garfo”.
bem próxima ao centro de massa do telescópio. Um sofisticado sistema de contrapeso é adotado para corrigir o equilíbrio de massa do sistema quando ao telescópio são
acoplados dispositivos objetivando a observação em fotometria ou espectroscopia.
Quanto à montagem equatorial, ela mesma, são conhecidas as variantes Garfo, Inglesa e Alemã. Vamos a elas.
Garfo: Leva esse nome porque a fixação do tubo do telescópio ao sistema de eixos
assemelha-se a um “garfo” (Figura 1.18). Note que a fixação do eixo de ascenção reta no lado do solo deve ser reforçada pois faz um “balanço” com o tubo do
telescópio. É o tipo de montagem que, inicialmente, pareceu ser ideal para sistemas a espelhos. Contudo, a maior dificuldade está no pouco espaço deixado entre
a parte inferior do telescópio e a base do “garfo”, o que limita a introdução de
equipamento de tratamento e aquisição da luz. Um sistema de acompanhamento
diurno é introduzido na haste de sustentação superior da montagem. Apesar da
praticidade sugerida pelo sistema (não necessita de contra-peso), essa montagem
não encontrou muita popularidade entre os construtores dos telescópios modernos. As razões seriam, talvez, o já citado problema do espaço na base do tubo do
telescópio e o espaço que o conjunto final ocupa. Na Figura 1.18 podemos ver que
o sistema todo ocupa cerca de duas vezes o tamanho do tubo do telescópio.
Inglesa: Caracteriza-se por manter o eixo de ascenção reta suspenso por dois mancais
em suas extremidades. O eixo da declinação é fixado na mediana do eixo de
ascenção reta e a ele é preso o tubo do telescópio (Figura 1.19). Para permitir o
equilibrio de peso, introduz-se um sistema de contra-peso na extremidade do eixo
da declinação oposta àquela onde é fixado o tubo do telescópio. Esse sistema é o
adotado no telescópio de 1,52m do ESO em La Silla - Chile, usado por astrônomos
brasileiros. Essa também foi a opção dos projetistas do telescópio de 5m do Monte
Palomar, CA. USA. O telescópio pode estar em duas posições com respeito ao eixo
de ascenção reta: a leste ou a oeste. Por conta das dimensões dos equipamentos
de aquisição de dados do telescópio, é possível observar em apenas um quadrante
do céu, dependendo da posição do tubo com respeito ao eixo de ascenção reta. É
comum interromper-se as observações para trocar a posição do tubo. Alinha-se o
tubo do telescópio paralelamente ao eixo de ascenção reta para fazer-se a troca.
Essa troca faz passar o tubo por cima ou por baixo do eixo de ascenção reta,
dependendo de como a fiação do equipamento de aquisição está colocado.
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
32
Eixo N−S
Figura 1.19: Montagem inglesa.
Alemã: Esse tipo de montagem permite tanto utilizar-se o telescópio refletor quanto o
refrator. É caso do telescópio 1.60m do LNA em Brasópolis e da luneta Cook 46cm
do Observatório Nacional. No lugar do “garfo”, é introduzido o eixo da declinação
diretamente ao eixo da ascenção reta (Figura 1.20). Contra-pesos são colocados na
extremidade oposta ao do tubo do telescópio, no eixo da declinação, para permitir
o equilíbrio de peso. O material utilizado na construção do eixo da ascenção reta é
concebido especialmente para corrigir efeitos de flexões. O motor de acompanhamento, a exemplo da montagem garfo, é colocado no suporte superior do eixo de
ascenção reta. Alguns sistemas não admitem, por exemplo, que o contra-peso seja
colocado “acima” do tubo, pois compromete seu equilíbrio e o acompanhamento
fica prejudicado. É o caso da luneta 46cm do ON. Nesses casos é necessário inverter a posição do tubo, colocando-o a leste ou a oeste do eixo de ascenção reta,
tal qual o sistema de montagem inglesa. Essa montagem tem vantagens sobre as
outras. Permite uma razoável economia de espaço na cúpula e, quando bem utilizada, é bastante condencendente com o espaço necessário para o equipamento de
aquisição. Por outro lado, exige a inclusão de plataformas eleváveis para permitir
a observação, tanto pela presença do operador no manuseio do equipamento de
aquisição, calagem e centragem da buscadora, quanto para colocar equipamentos
fixos auxiliares àqueles que estão acoplados ao telescópio. Na luneta Cook 46cm
do ON existe a clássica solução de uma plataforma em escada, que se desloca em
círculos em torno do eixo vertical. No telescópio 1.60m do LNA, uma plataforma
sobe e desce sob a ação de um motor elétrico. A utilização dessas plataformas
nessas montagens é origem de acidentes, alguns graves, envolvendo astrônomos e
técnicos, em função de se submeter as cúpulas a um profundo breu (luzes são mal
vistas pelos astrônomos). Não raro, astrônomos despencam nos fossos deixados
pelas plataformas eleváveis, ou são atropelados pelas plataformas móveis. Alguns
chegam a fraturar ossos. A despeito da insalubridade, a montagem alemã é das
mais utilizadas nos telescópios modernos de médio porte.
1.16. TIPOS DE MONTAGEM
33
Eixo N−S
Figura 1.20: Montagem alemã
1.16.2 Montagem Azimutal
Vemos na Figura 1.21 a ilustração do telescópio SOAR, CTIO, Chile que é uma montagem azimutal. Note que o telescópio é sustentado em dois mancais e que a estrutura
se parece com uma montagem do tipo “garfo”, visto anteriormente (1.16.1). Em se tratando desse caso, o tipo “garfo” para a montagem azimutal é desejável graças a simetria
do sistema. Existem montagens azimutais com eixo atravessado perpendicularmente,
com um sistema de contrapeso, como no caso da montagem equatorial do tipo alemã.
No entanto, hoje em dia, essa solução perdeu espaço para a configuração em garfo.
O sistema pode rodar em relação ao eixo paralelo à haste vertical, chamado eixo
azimutal, enquanto que pode girar também no eixo perpendicular, paralelo à base do
telescópio. Esse último é chamado eixo de altura. Ao contrário do caso da montagem
equatorial em que somente o eixo de ascenção reta necessita de mecanismo de acompanhamento diurno, no caso da montagem azimutal esse acompanhamento é decomposto
nos dois eixos.
Pelas equações da trigonometria esférica:
sin δ
cos z
sin A sin z
= sin ϕ cos z − cos ϕ sin z cos A
= sin ϕ sin δ + cos ϕ cos δ cos H
= sin H cos δ
(1.7)
Sendo, segundo a convenção consagrada entre os astrônomos, δ a declinação do objeto,
H = T −α, onde α é a ascenção reta e T o tempo sideral local, A o azimuth e z a distância
zenital do objeto, e, finalmente, ϕ, a latitude do local. Uma vez obtido z, a dedução de
A se torna fácil.
Diferenciando essas equações, rearranjando os termos e considerando a derivada
em relação ao tempo sideral, obtemos:
dz
= cos ϕ sin A
dT
e
(1.8)
dA
= sin ϕ + cos ϕ cos A cot z
(1.9)
dT
Enquanto que a distância azimutal, o valor máximo é igual à unidade, o azimuth
atingirá um valor infinito quando o objeto atingir o zenith. Em geral, os sistemas de
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
34
Figura 1.21: Telescópio SOAR: exemplo de montagem azimutal.
rastreamento possuem um limite máximo para o acompanhamento de um objeto. Consideremos que a rotação máxima que um motor de azimuth pode atingir é de Km .
Substituindo esse valor na Equação 1.9 e supondo que A deva ser pequeno ou próximo
de π, deduzimos:
cos ϕ
zmin = arctan sin ϕ − Km O círculo definido por z ≤ zmin é conhecido por região proibida para o telescópio.
Um caso particular de montagem azimutal é a do astrolábio A. Danjon. No entanto,
não há grau de liberdade em altura que é determinada pelo ângulo do prisma que se
situa à frente da objetiva. Esquematicamente o tubo da luneta é disposta horizontalmente. Como o ângulo do prisma é fixo, o astrolábio determina um lugar geométrico de
alturas iguais no céu chamado almucântara.
1.16.3 Montagem Meridiana
Essa montagem caracteriza-se por restringir o movimento do tubo do telescópio de maneira a cobrir apenas o meridiano local. Nessa montagem enquadra-se a chamada
luneta “Bamberg” e o “Círculo Meridiano”, ambos com aplicação exclusiva na astronomia fundamental. A primeira prestava-se à determinação da longitude e do tempo
sideral. Hoje, essa técnica está em desuso graças à estabilidade do relógio atômico. Já
o Círculo Meridiano, é possível encontrá-lo em operação, tanto na elaboração de catálogos fundamentais quanto como elo de ligação com os satélites astrométricos tal como
o “Hiparcus”. No Brasil há um exemplar desses operando no Observatório Abraão de
Moraes, do IAG-USP, em Valinhos, SP.
1.17. DOMOS E CÚPULAS
35
Figura 1.22: Domo em forma de cúpula.
1.16.4 Montagem Zenital
Registram-se dois casos: a luneta de passagem zenital visual (VZT do inglês: Visual
Zenithal Telescope) e a fotográfica (PZT). A primeira está em desuso e a segunda já é
rara. Presta-se à determinação da latitude local cuja variação termina por determinar
o chamado movimento do polo.
1.17 Domos e Cúpulas
Telescópios são equipamentos fixos e precisam, ao mesmo tempo, de condições para
apontar livre de obstrução para os objetos astronômicos e de proteção contra as variações do clima. Soluções para isso são os domos. Coberturas são encontradas nas
mais variadas formas, sendo que para os telescópios modernos as mais usuais são em
forma de cúpula (Figura 1.22). Essa cúpula se abre através de uma ou duas trapeiras
movidas a motor elétrico. Uma vez aberta, a cúpula permite que o telescópio aponte
para uma posição qualquer no círculo de azimute constante até o zenith. Para permitir
a observação em outras posições a cúpula gira em torno de seu eixo vertical movida a
um motor. Geralmente, esse motor é controlado por um sistema computadorizado que é
acoplado ao sistema de offset guider. Esse procedimento permite que a cúpula se mova
automaticamente enquanto a observação longa tem lugar. Tal prática evita surpresas
desagradáveis quando se ignora o posicionamento da trapeira. Felizmente essa precaução tem sido lembrada pelos assistentes noturnos, quando dispositivos automáticos
não estão instalados7 .
Existem, também, domos em outros formatos, sobretudo se a montagem do telescópio não é equatorial. Na Figura 1.23 vemos o esquema de um domo típico do VLT (Very
Large Telescope) que se abre de maneira a deixar o telescópio ao ar livre.
Existem as mais variadas soluções para os domos, cujos únicos objetivos são, proteger o telescópio e seus equipamentos das variações do tempo e permitir que a observação seja cumprida com sucesso. Para finalizar, descrevo o domo do telescópio de 2m do
Pic-du-Midi, nos Pirineus franceses como um exemplo de originalidade na concepção
desse tipo dispositivo na astronomia.
A idéia original para o projeto do domo do telescópio de 2m do Pic-du-Midi surgiu
do fato de ventar muito nesse sítio. Concebeu-se, assim, uma abertura de 2 m na cúpula. Essa abertura estaria “sincronizada” com o telescópio de maneira a acompanhar
o movimento deste onde quer que ele estivesse. Assim, a solução encontrada é mostrada no desenho à esquerda da Figura 1.24. Sobre a cúpula em montagem azimutal,
acrescenta-se uma coroa esférica com eixo central a 45◦ podendo girar de 360◦ em torno
7 Um astrônomo brasileiro se notabilizou no Observatório do Pic-du-Midi, nos Pirineus franceses, por ter
solicitado ajuda, alarmado, porque, a despeito do céu completamente aberto, o seu objeto de observação
desapareceu do campo do telescópio de 1m daquele Observatório. O assistente notou, imediatamente, a
inadvertência do pesquisador: ele tinha esquecido de corrigir a posição da cúpula.
36
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
Figura 1.23: Domo conversível, em forma de “casa”.
Z
z A−A 0
θ
C
S
Figura 1.24: Esquerda: cúpula do telescópio de 2m do Pic-du-Midi. Direita: esquema
da solução da equação do movimento da cúpula por trigonometria esférica.
1.18. EXERCÍCIOS
37
desse eixo. Nessa coroa, coloca-se a abertura de 2m de maneira que essa, quando em
sua maior elevação com respeito à coroa, possa ser posicionada no zenith. Obviamente
é preciso manter esse sistema sob o controle de um computador. O posicionamento é
feito resolvendo um problema de trigonometria esférica, cujo esquema podemos ver à
direita da Figura 1.24. Na figura, S é o centro da abertura e C, o eixo de rotação da
coroa. Temos que encontrar A0 , o azimute do ponto C, e θ, a atitude do ponto S, no
sistema de referência da coroa. Das equações da trigonometria esférica 8 , temos
d cos SC
d + sin ZC
d sin SC
d cos θ
cos z = cos ZC
d = cos z cos ZC
d + sin z sin ZC
d cos A − A0
cos SC
d
sin z sin A − A0 = sin SC sin θ
(1.10)
Nas equações os termos variáveis são z, a distância zenital e A, o azimute do objeto de
interesse, e como incógnitas, temos, A0 , o azimute do centro de rotação da coroa e θ, a
atitude do centro da abertura. Essas três equações definem as incógnitas θ e A 0 , além
d quanto SC
d são, por
de estabelecer um vínculo entre elas. Sabendo-se que tanto ZC
construção igual a 45◦ as equações são colocadas de forma simples. Do exame dessas
equações deduzimos os limites de θ e A0 . O primeiro pode assumir valores de 0 a π,
ou de π a 2π. Já o segundo, graças à terceira equação, não precisa assumir valores
acima de ±90◦ . Dependendo do valor de A, o azimute do objeto, escolhe-se θ nos dois
primeiros ou dois últimos quadrantes e A0 com sinal positivo ou negativo de maneira
a melhor ajustar o domo. Ainda, da trigonometria esférica, obtemos os valores de z e
A das coordenadas equatorias do objeto de interesse. A cada instante os valores de z
e A são recalculados, e, por conseqüinte, θ e A0 na medida que o ângulo horário do
objeto evolui de maneira a fazer a abertura do domo sempre acompanhar a posição do
telescópio.
1.18 Exercícios
1. Imagine que a distância entre dois objetos no céu seja inferior a 2r onde r é o raio
de difração obtido da equação 1.4. Que aspecto a imagem resultante teria? Que
tipo de objeto um algorítmo de detecção classificaria tal imagem?
2. O que significa dizer que alguém usa óculos para miopia de grau 2 21 ?
3. Você está diante de uma loja de óptica e vê a embalagem de um telescópio portátil
onde se lê, em letras garrafais: Aproxima 150 vezes. Um pouco abaixo
dessas letras você vê uma observação: Oculares de até 25mm. A partir dessas
informações, que distância focal você pode deduzir que esse telescópio tenha?
4. Na questão anterior, a embalagem também possui escrito em um canto: f /15. Que
diâmetro você pode deduzir que esse telescópio possui?
5. Você compra o telescópio da questão 3. Abrindo a caixa você constata que existem três oculares. Uma apresenta a inscrição em seu tubo: 30×, outra, 75× e
finalmente a última com a inscrição 150×. O que isso quer dizer?
6. Qual é a resolução mínima desse telescópio que você comprou? Qual é a escala?
7. Que magnitude você espera poder observar com um telescópio desses?
8. Um astrônomo amador possui uma pequena luneta de 1m de distância focal. Ele
quer observar com o auxílio de um retículo marcado de 10 em 10 minutos de arco.
Sabendo-se que o campo de visão de sua luneta é de 3◦ , pergunta-se. Qual deve
8 Ver
[3, Danjon (1952)].
CAPÍTULO 1. TEORIA DO TELESCÓPIO
38
ser o diâmetro da lâmina de vidro que ele deve comprar? Qual a distância entre
as ranhuras no vidro que ele deve pedir para o torneiro mecânico fazer?
9. Demonstrar a fórmula da equação 1.3.
10. Uma objetiva é f/3.5. Qual é o ângulo de abertura de saída dos raios dessa objetiva?
11. Examinando as equações 1.10 qual é o valor máximo de |A0 |?
Capítulo 2
Astronomia Fundamental
Rigorosamente, um astrônomo observacional deve dominar totalmente as definições
básicas da astronomia fundamental: tempo, o universal e o sideral, coordenadas equatoriais, horizontais, galáticas, etc. E deve deduzir as fórmulas de transformação na
ponta da língua. Não é o que se constata, helás, na astronomia brasileira. Contudo,
não podemos deixar passar incólume essa ignorância e o que proponho aqui é que se
tome as próximas seções como um espécie de glossário dos conceitos fundamentais.
Coisas que um observacional deve saber.
2.1 Equador
Linha que determina a divisão da terra em duas partes iguais e é perpendicular ao
eixo de rotação da terra. Projetado no céu temos o chamado equador celeste. Uma
estrela posicionada no equador celeste descreve o maior círculo possível em relação ao
movimento diurno.
2.2 Eclíptica
É o grande círculo definido pelo movimento anual aparente do sol. Visto que existe a
nutação, define-se a eclpítica média.
2.3 Equinócio
Define-se equinócio vernal o ponto de cruzamento da eclíptica com o equador em que
o sol passa do hemisfério sul para o norte, e equinócio outonal o ponto em que o sol
passa do hemisfério norte para o sul. Tradicionalmente chama-se instante do equinócio
aquele em que o sol encontra-se nesse ponto.
2.4 Coordenadas Equatoriais
Coordenadas dos astros nos céu tempo por referência o equador. Possui duas coordenadas: ascenção reta e declinação. A ascenção reta, denotada por “α”, é aquela
que é medida na linha do equador e tendo como ponto de partida o equinócio vernal.
Geralmente é dada em unidades de horas, indo de 0H a 24H no sentido contrário ao
da marcação do tempo, isto é, de leste para oeste. A declinação, denotada por “δ”, é
medida a partir do equador, indo de −90◦ a +90◦ . Esses valores limites definem, respectivamente, o polo sul e o norte.
39
CAPÍTULO 2. ASTRONOMIA FUNDAMENTAL
40
2.5 Coordenadas Eclípticas
São as coordenadas obtidas em relação à eclíptica. A a longitude eclíptica (l) percorre a
linha da eclípica e vai de 0◦ a 360◦ e a latitude eclíptica b vai de −90◦ a +90◦ .
2.6 Coordenadas Geográficas Locais
São as coordenadas do local tomando por referência o equador terrestre. As coordenadas são: longitude geográfica (λ) medida na linha do equador a partir do meridiano de
Greenwich e a latitude geográfica (φ) medida a partir do equador. A longitude geográfica
é dada, seja em horas (0 a 24), seja em graus (+ ou -, ou E, medidas na direção oeste
para leste, e W na direção leste para oeste) de acordo com a aplicação. Na astronomia
adota-se as unidades em horas, com sentido positivo igual ao da ascenção reta, isto é,
de leste para oeste.
Antigamente definia-se as coordenadas geográficas do local com o auxílio de um
teodolito. Modernamente, o GPS, o Global Position System pode determinar essas coordenadas com grande precisão. Há uma longa controvérsia sobre a limitação dessa
técnica, no sentido que o que se mede com o GPS é a posição no geóide, não se tratando
da vertical como cabe no interesse astronômico. Deixemos, pois, essa controvérsia para
aqueles que se encarregam em medir as coordenadas geográficas.
2.7 Tempo Sideral
Um dia sideral é aquele obtido pelas passagens duas vezes consecutivas de uma estrela
fixa no céu. Se comparado com o dia solar, que é obtido pelas passagens do sol, temos
que o dia sideral é mais curto do que o dia solar por causa do movimento orbital da terra
em torno do sol. Ao cabo de um ano o tempo sideral ganhou um dia solar. Portanto a
transformação do dia solar em dia sideral se dá através da expressão:
366.25
× 24h
365.25
em outras palavras um dia solar tem 24h 3m 56s .6 em tempo sideral.
O tempo sideral, assim como o tempo solar, ou tempo universal, é medido a partir
do meridiano de Greenwich.
Tempo Sideral a 0h de Greenwich
Esse valor amarra a posição do equinócio com o meridiano de Greenwich. Dessa forma
se relaciona o valor da ascenção reta com o tempo sideral. Esse valor é dado no Anuário
do Observatório Nacional para cada dia do ano, a partir das fórmulas estabelecidas
por Newcomb e normalizadas por circulares da UAI (União Astronômica Internacional,
muitas vezes citada como IAU, do inglês), na Seção F sob o nome de “Tempo Sideral a 0
Hora do Tempo Universal”. Nessa tabulação, existe a coluna do tempo sideral aparente
e o médio. O primeiro é o valor corrigido da nutação e o segundo não possui essa
correção. Para o astrofísico observacional adota-se o valor médio.
Tempo Sideral a 0h Local
Determina-se subtraindo-se a longitude local ao TS0G:
TS0L = TS0G − λ
2.8. ÂNGULO HORÁRIO
41
Tempo Sideral Local
Dado uma certa hora local, devemos transformá-la em tempo universal em Greenwich,
o que se faz subtraindo-se o fuso horário (-3h no caso das localidades que adotam o
horário de Brasília. Na prática, para se obter o tempo universal (TU), soma-se o valor 3
ao tempo local):
TU = TL − F
Uma vez obtido o tempo universal deve-se transformá-lo em unidades siderais para
se obter o tempo sideral em Greenwich para assim ser adicionado à fórmula da transformação do tempo sideral local:
366.25
TU + TS0L = 1.002737851(TL − F ) + TS0G − λ
(2.1)
365.25
O tempo sideral pode ser computado através da tarefa asttimes, pacote noao.astutil
do IRAF. A limitação é que o Observatório deve ser conhecido pelo kernel do IRAF. Presentemente o único observatório brasileiro reconhecido é o do LNA. Se você quer trabalhar com dados de um observatório não conhecido pelo IRAF, a forma mais fácil é
procurar o administrador do IRAF local e pedir para ele introduzir os dados no banco
de dados pertinente. Fornecendo-se, além do nome do observatório, a data e hora desejada, a tarefa irá listar uma tabela contendo a data juliana, o tempo universal e o
tempo sideral relativo aos dados de entrada.
Outra forma de se obter o tempo sideral é através do XEphem. Basta fornecer os
dados na janela principal e os dados virão naturalmente. Outra vez, é preciso que
o kernel do XEphem reconheça o local desejado. Atualmente somente os dados do
Rio de Janeiro estão compilados. Contudo, nesse caso, basta você editar o arquivo
~/XEphem/auxil/xephem_sites e incluir corretamente os dados locais.
TSL =
2.8 Ângulo Horário
Em resumo, o ângulo horário é uma espécie de ascenção reta “local”, isto é, as coordenadas de ascenção reta medidas a partir do meridiano local. Como o tempo sideral
é medido a partir do meridiano de Greenwich e a ascenção reta é medida a partir do
equinócio, torna-se necessário definir, a cada instante, a posição do equinócio em relação ao meridiano de Greenwich. Esse valor é dado no Anuário do Observatório Nacional
sob o nome de “Tempo Sideral a 0h de Greenwich”. Para se determinar o ângulo horário, primeiro determina-se o tempo sideral local na fórmula 2.1, em seguida aplica-se a
fórmula:
H = TSL − α
onde α é a ascenção reta do astro de interesse, cujas coordenadas foram devidamente
precessionada1 . Valores negativos de H denotam os astros antes da passagem meridiana, isto é, a leste. Valores positivos, denotam os astros a oeste, após a passagem
meridiana.
2.9 Precessão
A correção da precessão chega a ser 48 segundos de arco por ano. Para astros catalogados na época de 1950 ou 1900 essa correção é crucial. Para épocas próximas ao
do ano de observação essa diferença émenos importante. De qualquer forma a tarefa
noao.astutil.precess permite a correção da precessão reduzindo as coordenadas ao
dia da observação ou, vice-versa, fixando as coordenadas à época de referência que se
deseja.
1 Correção
de nutação ainda não tem interesse ao astrofísico observacional.
42
CAPÍTULO 2. ASTRONOMIA FUNDAMENTAL
2.10 Coordenadas Galáticas
Tem especial interesse daqueles que se dedicam ao estudo da dinâmica da galáxia, mas
pode ser importante para outros campos também. Sobretudo na fixação de estratégia
de observação ou na preparação de campanhas de observação. As coordenadas são:
longitude galática (l) que é o arco a partir do centro galático, percorrendo a linha média
da via láctea. Vai de 0 a 360 graus e latitude galática (b) que é o arco medido a partir
da linha média da via láctea. A origem de l é o centro da galáxia (α = 17h 42m .43 e
δ = −28◦ 550 ) e cresce na direção do sul. Já b cresce no sentido crescente da ascenção
reta.
No IRAF a tarefa noao.astutil.precess permite transformar coordenadas equatoriais em galáticas e vice-versa.
O disco galático situa-se entre as coordenadas −30 < b < 30.
2.11 Catálogos
A construção e consulta a catálogos representam um capítulo a parte no que tange a
astronomia observacional. Não há de se desenvolver um trabalho nesse campo sem o
auxílio de pelo menos um catálogo. Existem os catálogos de uso público e o de uso
privativo. Os de uso privativo são aqueles construidos como sub-conjunto de um ou
mais catálogos públicos ou são decorrentes de um survey, ambos com vistas a um
trabalho mais aprofundado. Além disso, os catálogos públicos fornecem informações
padronizadas que nos servirão como referência e calibração de nossos resultados.
Para a confecção desses catálogos, projetos de survey são realizados. É preciso financiamento de longo prazo e se se quer cobrir toda a esfera celeste são necessários
acordos entre observatórios nos dois hemisférios. Esse é o caso do assim chamado
SAO e derivados. O SAO foi elaborado sob a supervisão do Smithsonian Astrophysical Observatory e envolveu esforços de vários Observatórios no mundo, inclusive o de
Córdoba, Argentina.
Um outro catálogo importante é o HD ou Catálogo Henri Drapper, um astrônomo
americano que promoveu um survey de 20 anos, catalogando as estrelas segundo sua
classificação espectral. Um catálogo equivalente na área de extra-galática é o de de
Vaucouleurs com a morfologia das galáxias.
Tanto o SAO, impreciso na posição, quanto o HD, impreciso na classificação espectral, foram fontes importantes de informação para a pesquisa e ainda representam
referência para os astrônomos.
Existe o BSC5 ou Bright Stars Catalog, version 5, essa definitiva, que aporta informações precisas para os astrônomos utilizarem como referência.
Além desses, existem centenas de catálogos, uns obsoletos, outros ainda não reunidos em uma só publicação, contendo informações sobre objetos galáticos, extragaláticos, classes de estrelas, galáxias, aglomerados, asteróides, linhas de emissão, espectros, padrões para a fotometria, etc. Isso sem contar com o crescente manancial de
catálogos e banco de dados “on line”, que permitem acessa à informação via Internet
(ver [5, Kohl Moreira, 2000] para revisão). Entre os mais tradicionais destacam-se o
SIMBAD http://www.simbad.ust.fr e o NED http://www.ned.ipac.edu.
Os usuários do IRAF e aqueles que tem acesso ao CDROM do ADC (Astrophysical
Data Center), distribuido gratuitamente pela NASA, versão FITS, podem se servir das
facilidades do pacote ADCCDROM a ser capturado do site do IRAF http://iraf.noao.
edu e ser instalado a posteriori (não vem com a distribuição padrão). Os comandos
adccdrom.catalog e adccdrom.spectra permitem acessar à informação tanto dos
catálogos disponíveis, entre eles os mais conhecidos dos astrônomos, quanto dos seus
dados. Consultas simples podem ser feitas facilitando enormemente o trabalho do
astrônomo na elaboração de campanhas observacionais, projetos de pesquisa, etc.
2.12. EXERCÍCIOS
43
No Observatório Nacional temos o SKICCOSMO http://skiccosmo.on.br, (Sky
Integrated Catalogs for Cosmology) que permite obter informação de objetos entre magnitudes 17 e 20, por enquanto, na região equatorial. Esse banco de dados é suprido
pelo chamado POSS-II (Second Palomar Observatory Sky Survey) que tiveram suas placas tratadas, digitalizadas e analisadas com sofisticadas ferramentas matemáticas ([5,
Kohl Moreira, 2000]). Os dados desse catálogo ainda permitem pesquisas originais apenas com as informações ali contidas, como também fornecem preciosas informações na
preparação de projetos a serem submetidos aos telescópios do projeto Gemini.
2.12 Exercícios
1. Calcular o tempo sideral local no Rio de Janeiro para o dia 18/02/2001 às 2 horas
da manhã.
2. Calcular a precessão de um astro cujas coordenadas são: α = 23h 28m 35s e δ =
−45◦130 0500 , época 1950.0 para o dia 18/02/2001.
3. Usar a tarefa IRAF precess para obter as coordenadas do centro galático.
44
CAPÍTULO 2. ASTRONOMIA FUNDAMENTAL
Capítulo 3
Atmosfera e Condições
Observacionais
3.1 Refração
3.2 Massa de Ar e Espalhamento
3.3 Turbulência
3.4 Brilho do Céu
45
46
CAPÍTULO 3. ATMOSFERA E CONDIÇÕES OBSERVACIONAIS
Capítulo 4
Fotometria
A fotometria, segundo Sterken & Manfroid, 1992 ([8]) é consagrada a:
• a medidada distribuição espacial da luz emitida pelos objetos celestes nas diferentes regiões espectrais;
• o monitoramento, numa região espectral específica, das variações do brilho desses
objetos;
• a compreensão do significado astrofísico desses conhecimentos.
A fotometria foi inaugurada pelo astrônomo, físico e matemático francês Pierre Bouguer
que publicou um livro sobre a “gradação da luz” em 1729. Seu trabalho foi seguido pelo
também francês, Jean-Henri Lambert, que em 1760 desenvolveu o sistema fotométrico
básico, estabelecendo conceitos e nomenglatura.
4.1 Unidades Fotométricas
Para se entender como analisar a informação proveniente dos astros celestes é preciso
que se tenha claro a natureza da radiação eletromagnética que é a única forma dessa
informação ser transferida para nós. Para tanto é preciso que se fixe algumas definições. As definições abaixo são feitas considerando “experimentos” sendo realizados em
um laboratório, em condições ideais, isto é, que sejamos capazes de medir todas as
grandezas envolvidas nas definições. Vamos considerar, também, os dois casos: o da
radiometria e a da fotometria, cujas definições se equivalem. No caso da fotometria,
no entanto, adotava-se unidades que diziam respeito à chamada psicofísica: unidades
obtidas por observadores experientes diante de situações adotadas por convenção. A
astronomia moderna abandonou essas unidades, visto que os dados de hoje são coletados por equipamentos contadores de fótons, isto é, totalmente impessoais. No entanto,
essas unidades serão descritas aqui no caso de, um dia, o jovem leitor seja levado a
comparar seus dados com observações antigas.
Energia Radiante: Ou especificamente, energia luminosa “E”, é a quantidade total de
radiação ou de luz obtida de um corpo radiante ou luminoso durante um certo
período de tempo. Essa medida não depende da forma do corpo, nem da distribuição de radiação existente na superfície desse corpo ou da variação dessa radiação
com o tempo enquanto durar o experimento, nem de sua distribuição com respeito
ao comprimento de onda. Essa energia é obtida tomando-se todas as direções de
radiação e independente do comprimento ou da faixa de comprimento de onda
emitido pelo corpo radiante. A energia radiante é, geralmente, medida em erg ou
watt − segundo (W s ou Joule (J). Em psicofísica a unidade de energia é talbot.
47
CAPÍTULO 4. FOTOMETRIA
48
Densidade de Energia Radiante: É a quantidade de radiação contida em um volume
unitário no espaço. Nessa definição estão contidos dois conceitos. O primeiro
conceito é o seguinte: imaginemos que possamos delimitar uma região no espaço
que contenha uma certa quantidade de fótons e façamos essa região viajar com os
fótons. Dependendo da radiação ser convergente, plana ou divergente, a energia
radiante média irá, respectivamente, aumentar, permanecer constante ou diminuir. O segundo conceito é o de mantermos essa região fixa no espaço e que
meçamos continuamente a energia méida radiante no volume. Essa densidade
irá variar, nesse caso, apenas se houver variação na radiação emitida pela fonte.
A medida que diminuimos o volume delimitado aproximamos o valor da energia
média radiante da densidade de energia radiante:
ε=
dE
.
dV
As unidades da densidade radiante são erg cm−3 , W s m−3 , ou, em psicofísica:
talbot/m3.
Fluxo Radiante: Ou fluxo luminoso “F”, no caso da luz, é a taxa de energia radiante
por unidade de tempo. Tomamos a energia radiante (luminosa) e dividimos pelo
tempo decorrido para obtê-la. Determinamos, dessa forma, a energia média no
intervalo de tempo do experimento. Se, ao invés de tomarmos a energia total,
fizermos uma tomada da energia a cada intervalo de tempo ∆t, obtemos uma
evolução da energia média no tempo: E(t, ∆t) = ∆E/∆t, onde ∆E é a energia obtida
no intervalo ∆t. Ao tomarmos intervalos cada vez mais curtos, vamos aproximando
o valor da energia média ao valor do fluxo, obtendo uma função do tempo. Assim,
definimos o fluxo F(t):
dE
.
F(t) =
dt
Cujas unidades são erg/s ou watt (W ). Ex. O fluxo radiante do sol é: F = 3.86 ×
1026 W . Em psicofísica a unidade de fluxo é o lumen (talbot s−1 ).
Intensidade Radiante: Ou intensidade luminosa I de uma fonte radiante (luminosa) é
o fluxo radiante (luminoso) por unidade de ângulo sólido. Procedendo de maneira
análoga à determinação do fluxo, com respeito ao tempo, imaginamos medir o
fluxo radiante (luminoso) médio com relação a diversas direções obtido dentro de
um ângulo sólido arbitrário. Na medida que diminuimos a dimensão do ângulo
sólido, fazemos o fluxo médio se aproximar da intensidade:
I(Ω) =
dF
.
dΩ
As unidades da intensidade são W sr −1 ou erg s−1 sr−1 e, em psicofísica, candela
(cd) (lumen/sr).
Irradiância: Ou iluminância E é o fluxo radiante (luminoso) incidente sobre uma superfície unitária:
dF
E(a) =
da
−2
As unidades mais freqüentes são: W m , erg s−1 cm−2 , ou lux, também chamado
metro − candela. Temos aqui a primeira das grandezas mensuráveis da fotometria,
porque, na prática estaremos lidando com um dispositivo sensível à luz, capaz
de contar fótons incidentes sobre uma dada superfície. Da iluminância podemos
conhecer o fluxo proveniente de uma dada fonte, fazendo-se medidas relativas,
com respeito a uma fonte supostamente conhecida. A razão entre as iluminâncias, desde que mantido o mesmo detector, permite obter o fluxo relativo da fonte
4.1. UNIDADES FOTOMÉTRICAS
49
n
υ
k
da
da cos υ
Figura 4.1: Geometria da radiância (luminância).
estudada.
A iluminância possui a característica de depender da distância do fonte. Imaginemos uma fonte pontual emitindo luz homogênea em todas as direções. As frentes
de onda serão, então, esferas concêntricas na fonte de luz. É fácil entender que
quanto mais distante colocamos a superfície receptora, a quantidade de fótons vai
diminuir por conta da diluição geométrica, dependente de 1/r 2 onde r é a distância,
ou o raio da esfera contendo o receptor.
Radiância: Ou brilho superficial, ou ainda brilho fotométrico, L ou B, ou ainda
luminância mantendo coerência para a fotometria, diz respeito à luz ou radiação proveniente de uma fonte extensa. Observemos a Figura 4.1: uma fonte de
radiação de superfície infinitesimal da possui uma normal n a ela. Digamos que
desejamos obter informação a respeito da radiação emitida na direção k, que mantém um angulo ϑ com a normal n, dentro de um ângulo sólido infinitesimal dΩ. A
luminância será, portanto, definida como:
L=
dI
d2 F
=
da cos ϑ
dΩda cos ϑ
As unidades usadas são W sr −1 m−2 , erg s−1 sr−1 cm−2 , cd m−2 , ou ainda o lambert =
104 /π cd m−2 . A unidade cd m−2 , às vezes também é chamada de nit1 . Uma característica da radiância (brilho superficial) é a sua invariância ao longo do feixe de
luz, isto é, independe da distâncias entre o emissor e o receptor.
1 Nitere:
brilhar em latim.
50
CAPÍTULO 4. FOTOMETRIA
4.2 Filtros
4.2.1 Filtros de Banda Larga (Broad Band)
4.2.2 Filtros de Banda Estreita (Narrow Band)
4.3 Fotometria Fotográfica
4.4 Fotômetros Fotoelétricos
4.5 Detetores CCD
4.5.1 Fotometria Relativa
4.5.2 Análise de Objetos Extensos
Capítulo 5
Espectroscopia e
Espectrofotometria
5.1 Redes de Difração
5.2 Calibração em Comprimento de Onda
5.3 Calibração em Fluxo
5.4 Índices Fotométricos
5.5 Largura Equivalente
51
52
CAPÍTULO 5. ESPECTROSCOPIA E ESPECTROFOTOMETRIA
Capítulo 6
Roteiro Observacional
6.1 Descrição de um Observatório
6.2 Surveys
53
54
CAPÍTULO 6. ROTEIRO OBSERVACIONAL
Referências Bibliográficas
[1] P. Benevides-Soares. Aberrações de Sistemas a dois Espelhos Centrados e Descentrados. Tese de livre docência, IAG-USP, 1974.
[2] I. Bronshtein and K. Semendiaev. Manual de Matamáticas para Ingenieros y Estudiantes. Editorial Mir, Moscou, 1973.
[3] André Danjon. Astronomie Générale. J. & R. Sennac, 54, Rue du Faubourg Montmartre, Paris, FR, 1952.
[4] Miles K. Klein. Optics. John Wille & Sons, Inc, New York, 1970.
[5] João Luiz Kohl Moreira. Um Banco de Dados para a Cosmologia Observacional. PhD
thesis, 2000.
[6] Abrahão Koogan and Antônio Houaiss. Enciclopédia e Dicionário Ilustrado. Edições
Delta, Rua do Ouvidor, 11, Rio de Janeiro, RJ, 1993.
[7] Henri Reboul. Introduction à la Théorie de L’Observation en Astrophysique, Instruments et Méthodes de Mesure. Masson, Paris, 1979.
[8] J. Sterken, Chr. & Manfroid. Astronomical Photometry. Kluwer Academic Publishers,
P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands, 1992.
[9] S. Strom. "new frontiers in ground-based optical astronomy". Sky & Telescope,
82:18–23, July 1991.
55
56
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Apêndice A
Resposta aos exercícios
A.1 Teoria do Telescópio
1. Teria o aspecto de um objeto pontual com o brilho resultante dos dois objetos.
O classificador identificaria como um objeto estelar. Não se pode esquecer que o
equipamente é incapaz de distinguir qualquer coisa menor do que 2r.
2. Significa dizer que as lentes do óculos possuem 40cm de distância focal negativa.
3. F = 3.75m.
4. D = 25cm.
5. Significa que, combinadas ao telescópio, os conjuntos apresentarão fatores de
aproximação de 30, 75 e 150 vezes. Respectivamente, suas distâncias focais serão:
125mm (8di), 50mm (20di) e 25mm (40di).
6. 73 milésimos de segundo de arco em 5500Å. 5500/mm.
7. 14.1mag .
8. 52.4mm. 2.9mm.
9. 10. 59◦ .5
11. 90◦
A.2 Astronomia Fundamental
1. 12h 00m 01s .
2. as> precess SDTIN 1950 2001.13
23:28:35 -45:13:05
3. as> galactic STDIN in_coords="galactic"
0 0
57
Índice Remissivo
eixo óptico, 5
elíptica, polarização, 15
Energia luminosa, 47
Energia Radiante, 47
entrada, pupila de, 9
equador celeste, 39
equatorial, 35
equinócio outonal, 39
equinócio vernal, 39
escala da imagem, 19
espelho primário, 20
espelho secundário, 20
espelho terciário, 23
índice de reflexão, 16
índice de transmissão, 16
Aberração esférica, 12
aberrações geométricas, 12
abertura, 10, 18
acromáticos, dispositivos, 14
Alemã, montagem, 31, 32
almucântara, 34
aplanáticos, dispositivos, 14
aproximação, fator de, 28
Astigmatismo, 13
Astrolábio A. Danjon, 4
Aumento, 9
aumento angular, 28
aumento do secundário, 20
fator de concentração, 28
feedback, 30
Fermat, Princípio, 5
fibras ópticas, 26
Fluxo luminoso, 48
Fluxo Radiante, 48
fotômetro fotoelétrico, 26
Bamberg, luneta, 34
beam-splitters, 26
brilho fotométrico, 49
brilho superficial, 49
Círculo Meridiano, 34
cáustica, superfície, 12
câmara planetária, 26
câmara Schmidt, 23
câmaras corretoras, 25
Caminho Óptico, 5
candela, 48
cartesianas, superfícies, 6
Cassegrain, 22
CCD, 30
chicotes, 26
circular, polarização, 15
Coma, 12
concentração, fator de, 28
Coudé, foco, 23
Cromatismo, 13
curvatura do campo, 13
Garfo, montagem, 31
GPS, 40
grande círculo, 39
Hiparcus, 34
Huyghens, Princípio de, 14
iluminância, 48
imagem, espaço, 9
imagem, foco, 9
imagens secundárias, 17
Inglesa, montagem, 31
Intensidade luminosa, 48
Intensidade Radiante, 48
Irradiância, 48
lente Fabry, 26
linear, polarização, 15
lumen, 48
luminância, 49
Densidade de Energia Radiante, 48
dioptria, 9
Distância focal, 10
Distorção, 13
domos, 35
magnitude limite, 29
movimento do polo, 35
58
ÍNDICE REMISSIVO
59
Número Focal, 10
newtoniano, 20
nodais, pontos, 10
telescópio gregoriano, 22
transferidor, 26
trapeiras, 35
objetiva, 17
objeto, espaço, 9
objeto, foco, 9
obstrução, 20
ocular, 17
velocidade da objetiva, 29
Vignetting, 11
vignetting, correção de, 29
virtual, imagem, 5
paraxial, óptica, 7
Petzval, Somas de, 13
plano sagital, 13
plano tangencial, 13
Planos focais, 9
Planos principais, 10
Poynting, vetor de, 18
principal imagem, plano, 10
principal objeto, plano, 10
prismático, efeito, 13
prisma de Wollaston, 15
pupila de saída, 26
Radiância, 49
Raios, Traçado de, 6
Razão Focal, 10
razão focal, 22
real, imagem, 5
realimentação, 30
redutor, 26
refletividade, 16
refletor, telescópio, 17
reflexão secundária, 17
reflexão, lei da, 3
refração, índice de, 3
refração, lei da, 3
refrator, telescópio, 17
refratora, superfície, 3
resolução, poder de, 19
retículo, 30
retículos, 24
Ritchey-Chrétien, 22
saída, pupila de, 9
sagital, plano, 13
Schmidt, câmara, 20
Schwarzschild, 22
Seidel, somas de, 12
Snell-Descartes, lei de, 3
SOAR, 22
superfícies semi-espelhadas, 26
talbot, 47
tangencial, plano, 13
telescópio de Newton, 20
Wollaston, prisma de, 15