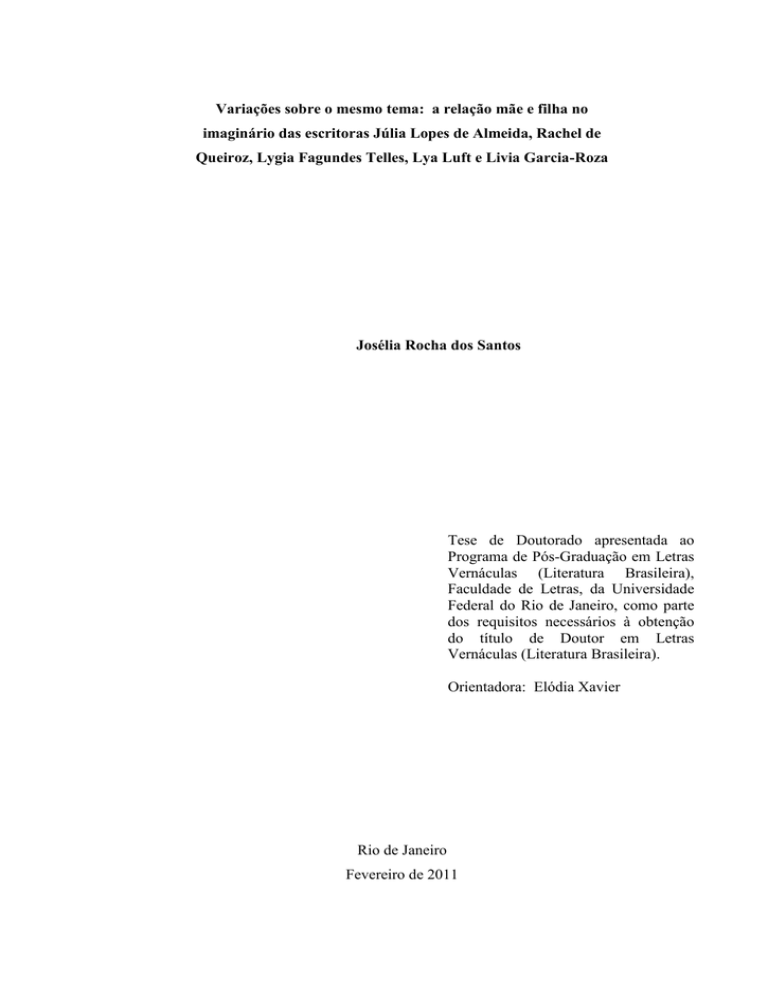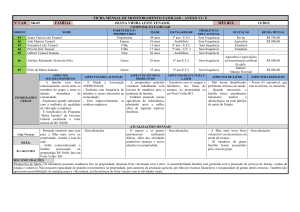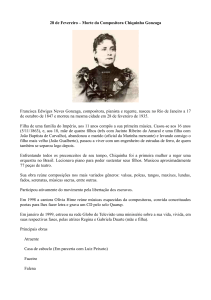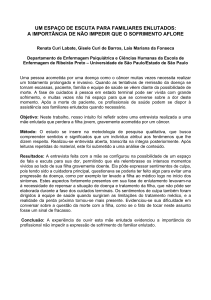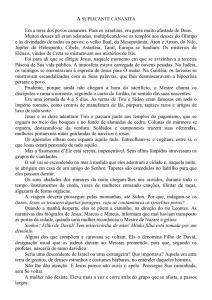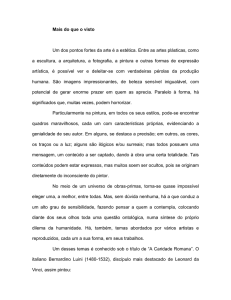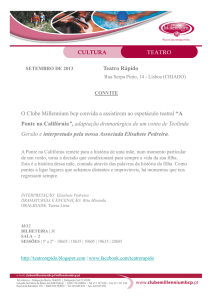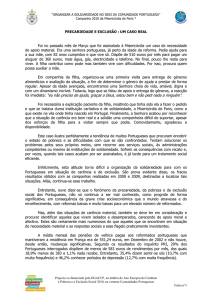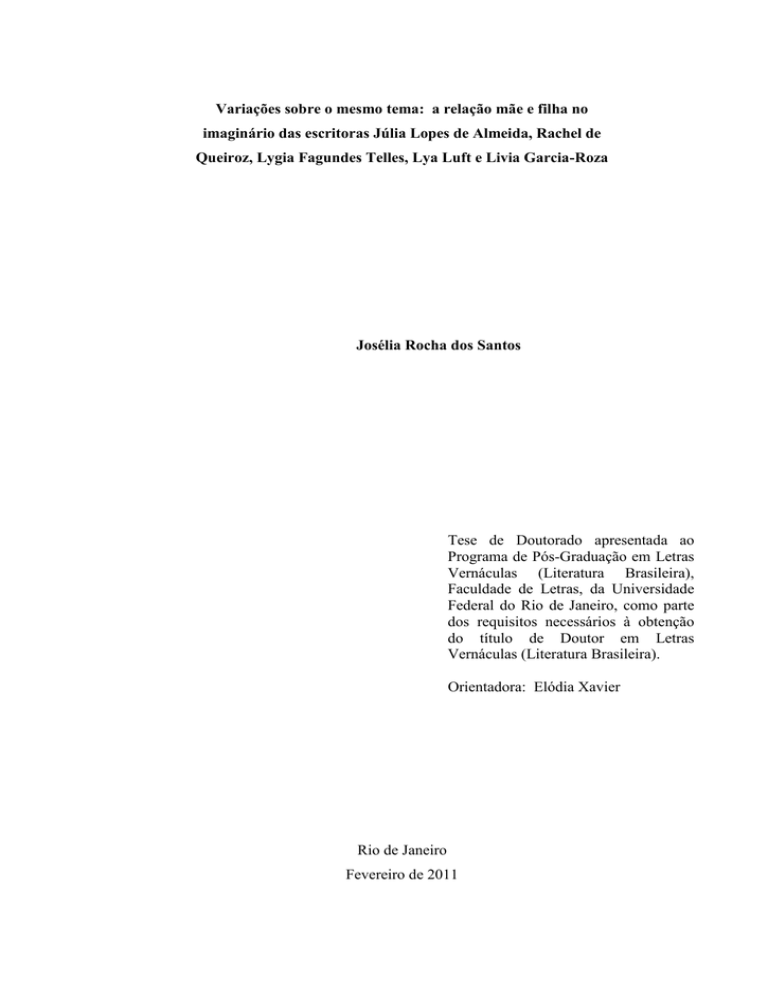
Variações sobre o mesmo tema: a relação mãe e filha no
imaginário das escritoras Júlia Lopes de Almeida, Rachel de
Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Lya Luft e Livia Garcia-Roza
Josélia Rocha dos Santos
Tese de Doutorado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Letras
Vernáculas (Literatura Brasileira),
Faculdade de Letras, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, como parte
dos requisitos necessários à obtenção
do título de Doutor em Letras
Vernáculas (Literatura Brasileira).
Orientadora: Elódia Xavier
Rio de Janeiro
Fevereiro de 2011
2
Santos, Josélia Rocha dos.
Variações sobre o mesmo tema: a relação mãe e filha no imaginário das escritoras
Júlia Lopes de Almeida, Rachel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Lya Luft e Livia
Garcia-Roza/ Josélia Rocha dos Santos – Rio de Janeiro: UFRJ/FL, 2011.
xi, 191 f.: il.; 31 cm.
Orientadora: Elódia Xavier
Tese (Doutorado) – UFRJ/ Faculdade de Letras/ Programa de Pós-Graduação em
Letras Vernáculas 2011.
Referências Bibliográficas: f. 1
1. Ficção de Autoria Feminina. 2. Literatura Brasileira.
I. Elódia Xavier. II.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de PósGraduação em Letras Vernáculas. III. Título.
3
Para Antônia:
mãe
por
intuição...
acima da instituição.
4
Resumo
Variações sobre o mesmo tema: a relação mãe e filha no imaginário das escritoras Júlia
Lopes de Almeida, Rachel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Lya Luft e Livia Garcia-Roza
Josélia Rocha dos Santos
Orientadora: Elódia Xavier
Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em
Letras Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ,
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras Vernáculas.
Este trabalho focaliza o conflito na relação entre mãe e filha abordado na literatura
brasileira de autoria feminina. O tema é recorrente e o objetivo da pesquisa foi analisar como
as escritoras o representam na estrutura familiar, tão presente nessa produção ficcional, e
(des)constroem essa relação que, sob a perspectiva filosófica e histórica, é harmoniosa. Para
tanto, foram elencados seis romances de cinco autoras que abrangem os séculos XIX, XX e
XXI. Em A viúva Simões (1897), de Júlia Lopes de Almeida (1862 -1934), há a disputa de
Ernestina e Sara pelo amor do mesmo homem. Verão no aquário (1963), de Lygia Fagundes
Telles (1921), apresenta-nos Patrícia que se dedica mais ao trabalho como escritora do que à
filha. Dôra, Doralina (1975), de Rachel de Queiroz (1910 – 2003), mostra a inimizade de
Senhora com Maria das Dores, intensificada pelo fato de a mãe ser amante do marido da filha.
Na obra A sentinela (1994), de Lya Luft (1938), a filha, aos cinquenta anos, ainda busca
compreender o porquê de ser alvo do desprezo materno. O tema é tão presente na produção
de Livia Garcia-Roza que analisei duas obras da escritora: no romance Meus queridos
estranhos (1997), a mãe é a narradora e se ressente de a filha não seguir suas orientações; em
Solo feminino: amor e desacerto (2002), Gilda, a filha, é a narradora e reclama da intensa
vigilância materna. Exatamente devido à distância temporal, foi interessante examinar a
convergência temática e estrutural das obras.
Palavras-chave: literatura; brasileira; relação; conflito; mãe; filha
Rio de Janeiro
Fevereiro de 2011
5
Resumen
Variaciones sobre el mismo tema: la relación madre e hija en el imaginario de las escritoras
Júlia Lopes de Almeida, Rachel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Lya Luft y Livia GarciaRoza
Josélia Rocha dos Santos
Orientadora: Elódia Xavier
Resumen da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em
Letras Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ,
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras Vernáculas.
Este trabajo se centra en el conflicto en la relación entre madre e hija abordado en
la literatura brasileña de autoría femenina. El tema es recurrente y el objetivo de la
investigación ha sido analizar de qué modo las escritoras lo representan en la estructura
familiar, tan presente en esta producción ficcional, y (des)construyen dicha relación, la cual,
desde una perspectiva filosófica e histórica, es armoniosa. Con esa finalidad, han sido
seleccionadas seis novelas de cinco autoras que abarcan los siglos XIX, XX y XXI. En A
viúva Simões (1897), de Júlia Lopes de Almeida (1862 -1934), se aprecia la disputa de
Ernestina y Sara por el amor del mismo hombre. Verão no aquário (1963), de Lygia
Fagundes Telles (1921), nos presenta a Patrícia, que se dedica más a su trabajo como escritora
que a su hija. Dôra, Doralina (1975), de Rachel de Queiroz (1910 – 2003), muestra la
enemistad de Senhora con Maria das Dores, intensificada por el hecho de que la madre sea
amante del marido de la hija. En la obra A sentinela (1994), de Lya Luft (1938), la hija, a los
cincuenta años, aun busca comprender la razón de que sea objeto del desprecio materno. El
tema está tan presente en la producción de Livia Garcia-Roza que han sido analizadas dos
obras de esta escritora: en la novela Meus queridos estranhos (1997), la madre es la narradora
y se lamenta de que la hija no siga sus orientaciones; en Solo feminino: amor e desacerto
(2002), Gilda, la hija, es la narradora y se rebela ante la intensa vigilancia materna.
Exactamente debido a la distancia temporal, ha resultado de interés examinar la convergencia
temática y estructural de las obras.
Palabras clave: literatura; brasileña; relación; conflicto; madre; hija
Rio de Janeiro
Fevereiro de 2011
6
Abstract
Variazioni sullo stesso tema: la relazione madre-figlia nell‘immaginario delle scrittrici Júlia
Lopes de Almeida, Rachel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Lya Luft e Livia Garcia-Roza
Josélia Rocha dos Santos
Orientadora: Elódia Xavier
Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em
Letras Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ,
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras Vernáculas.
Il lavoro si incentra sul conflitto tra madre e figlia, così com‘è trattato da alcune
autrici della letteratura brasiliana. Il tema è ricorrente e l‘obiettivo che ci siamo posti con
questa ricerca è stato quello di indagare come esso viene rappresentato nel contesto della
struttura familiare, ben presente nella produzione letteraria, e come le stesse scrittrici
(de)costruiscono questa relazione, la quale, in una prospettiva filosofica e storia, è armoniosa.
Vengono, quindi, presentati sei romanzi di cinque autrici, che abbracciano i secoli XIX, XX e
XXI. Il testo A viúva Simões (1897), di Júlia Lopes de Almeida (1862 -1934), ruota attorno
alla disputa tra Ernestina e Sara per contendersi lo stesso uomo. Verão no aquário (1963), di
Lygia Fagundes Telles (1921), ci presenta Patrícia, che trascura il ruolo di figlia per dedicarsi
prevalentemente a quello di scrittrice. Dôra, Doralina (1975), di Rachel de Queiroz (1910 –
2003), mostra lo screzio tra Signora con Maria das Dores, acuito per il fatto che lei è al
contempo madre e amante del marito della figlia. Nel testo A sentinela (1994), di Lya Luft
(1938), la figlia, cinquantenne, cerca ancora di capire le ragioni che l‘hanno resa bersaglio del
disprezzo materno. La forte presenza del tema nella produzione di Livia Garcia-Roza ci ha
indotti ad analizzare due opere della scrittrice. Nel romanzo Meus queridos estranhos (1997),
la narratrice è la madre, che si risente con la figlia, rea di non aver seguito le sue indicazioni;
mentre, in Solo feminino: amor e desacerto (2002) la narratrice è la figlia, Gilda, insofferente
del controllo eccessivo operato dalla madre. Di estremo interesse si è rivelata l‘analisi delle
convergenze tematiche e strutturali delle opere, considerata pure la distanza temporale che le
separa.
Parole-chiave: letteratura; brasiliana; relazione; conflitto; madre, figlia
Rio de Janeiro
Fevereiro de 2011
7
AGRADECIMENTOS
Graças a Deus pude contar com mãos amigas ao longo deste trabalho e sem elas,
com certeza, o mesmo seria concluído com maior dificuldade. Quero registrar, então, meu
agradecimento:
à Antônia Rocha dos Santos, minha mãe, que não me permite encontrar palavras para
definir a importância de tê-la comigo durante todos esses anos;
à Professora Doutora Elódia Xavier, minha orientadora de toda a vida acadêmica, pela
paciência com que me conduziu em minha trajetória universitária para que hoje eu
obtivesse êxito na apresentação do presente trabalho;
à Professora Doutora Anélia Montechiari Pietrani, à Professora Doutora Angélica Soares,
à Professora Doutora Helena Parente Cunha e à Professora Doutora Maria Lúcia RochaCoutinho, que aceitaram participar da Banca e se dedicaram a uma análise minuciosa do
trabalho, o que resultou em sugestões preciosas para a continuidade de minha pesquisa;
ao Professor Doutor Xosé Manuel Dasilva Fernández e ao Professor Doutor Paolo
Torresan, que, além de meus amigos, traduziram os resumos deste trabalho para a língua
espanhola e italiana, respectivamente.
Ao meu querido Mestre Luciano Rosa, por transmitir a segurança de uma amizade
indescritível nos momentos mais difíceis;
à Professora Doutora Claudia Castanheira, por sua generosidade em ler e dar sugestões à
organização do trabalho;
ao Professor Arthur José Baptista, por seu pronto auxílio aos dados históricos da pesquisa;
à Professora Nelma Barbosa de Souza, diretora da Escola Municipal Pedro Cavalcanti, por
sua articulação nos momentos em que precisei de dispensa da unidade para estudar e / ou
participar de congressos;
para Nylson Louzada Jr. e Roberta Garcia, pela logística imprescindível nos momentos
finais.
Foi muito importante ter a companhia de vocês nesta minha árdua e também
prazente jornada. Excelente caminharmos de ―mãos dadas‖.
8
SUMÁRIO
1. Introdução
10
2. Considerações iniciais
22
3. Um homem sedutor desequilibrando mãe e filha
39
4. A mãe transformando a filha em Maria das Dores
67
5. O homem e a literatura: interferências entre mãe e filha
97
6. A tessitura da filha para compor a figura materna
126
7. O (des)acerto da maternidade no século XXI
151
Conclusão
176
Referências
179
9
1 INTRODUÇÃO
As artes, em geral, sempre foram um dos meios encontrados pelo ser humano para
transgredir os valores culturais impostos pelas instituições sociais, como Família, Escola e
Igreja, que sempre exerceram uma forte violência simbólica1 sobre as pessoas, determinando
o comportamento dos grupos sociais de forma intransigente. Cumpre registrar que, em sua
etimologia, a palavra ―cultura‖ (colere, em latim) guarda tanto o sentido de cultivar como o de
adorar, duas ações que remetem à manutenção da tradição, da ordem estabelecida, a qual,
repassada através das gerações, tende a marginalizar quem a descarta ou a transgride. E as
expressões artísticas, como diz Antônio Cândido (1980), ao representarem os fatores do meio
social, produzem um efeito prático nos espectadores, a ponto de fazê-los mudar a conduta
e/ou a forma de conceber o mundo, apesar de poder também reavivar os valores culturais
adquiridos. O fato é que é difícil alguém ficar impassível diante das manifestações artísticas
que, ao produzirem objetos de estranhamento, tendem a expor – para questionar – as
ideologias da sociedade.
Porém, de todas as expressões artísticas, a arte literária parece ser a que exerce
mais influência sobre os indivíduos, já que, de modo geral, promove uma análise minuciosa
das peculiaridades do meio, dependendo mais do domínio sociolinguístico do que de um
patrimônio cultural mais amplo, como é o caso da arte visual, por exemplo. A literatura
possibilita, então, um olhar de questionamento, ao elaborar principalmente o que Roland
Barthes (2004) chama de ―texto de fruição‖, ou seja, aquele que causa desconforto e
desequilibra as bases de conceitos psicológicos, históricos e culturais do leitor.
A literatura brasileira de autoria feminina tem-se proposto a isso, pois insere temas que
polemizam os valores imemoriais da tradição, transmitidos de maneira sub-reptícia pelas
instituições. Com um discurso inovador e potencialmente crítico, a produção das escritoras
promove uma releitura da mulher, o que, historicamente, significa, até certo ponto, um
rompimento em relação à forma como a mulher é representada nos discursos das obras
canônicas, cuja tendência sempre foi a de falsear a realidade histórica da mulher. Além disso,
muitos desses textos ficcionais antecipam os fatos, os revelam.
Sabe-se que, por muito tempo, o âmbito de atuação da mulher – e seu
correspondente contexto histórico-filosófico – foi a casa, onde ela realizava trabalhos
1
Pierre Bourdieu (1930-2002) usa o termo ―simbólico‖ para se referir àquilo que não toma a forma perceptível e,
por isso, acontecendo por meio de sub-repção, produz efeito ainda maior.
10
meramente domésticos, cumprindo as funções que lhe eram destinadas ora pelo pai, ora pelo
marido. Logicamente, seus incipientes trabalhos artístico-literários tendiam a reproduzir esse
espaço privado, cujos laços se, por um lado, a protegiam, por outro a aprisionavam. E é
interessante registrar que, pelo fato de o cânone ter privilegiado a verve literária masculina,
várias escritoras, quando começaram a escrever poesias, crônicas e romances, arranjaram
meios de camuflar a própria identidade, escondendo-se sob pseudônimos masculinos. Por
isso, o registro dessa produção literária das mulheres é muito recente — data
aproximadamente da metade do século XIX o primeiro texto de que se tem conhecimento em
publicação de livro — e, assim como as autoras, tem pouca visibilidade.
Pesquiso os temas relacionados a essa literatura desde meu período de graduação,
então na qualidade de bolsista do NIELM (Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na
Literatura), sob orientação da Professora Doutora Elódia Xavier, e, mesmo após todos esses
anos, noto ainda a rejeição sofrida pelas obras de autoria feminina, mesmo em relação àquelas
cujos temas já ultrapassaram a necessidade de expressar a obrigatória e passiva atuação
feminina no espaço privado.
Em minha dissertação de mestrado, analisei o quanto a divisão cartesiana entre
corpo e mente, tomada como modelo para divisão dos sexos, deu ao homem o domínio
público e à mulher o domínio privado, representado pelo espaço doméstico, o que prejudicou
muito a interação entre os gêneros2. Trabalhei com a representação do corpo enquanto espaço
de perene vigilância para a mulher – branca e burguesa, tomada como modelo de todas as
sociedades, já que as mulheres da raça negra e das camadas mais pobres da população sempre
foram ícones do desvalor social —, que precisava guardá-lo como um bem a ser ―comprado‖
pelo homem ao assinar o contrato de casamento. Por isso, sempre se exigiu da mulher um
comportamento irreprochável, enclausurado, que a tornava cada vez mais invisível, um
objeto de preservação do bem-estar do homem. Em minha dissertação, busquei analisar como
as escritoras Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Helena Parente Cunha e Marina
Colasanti interpretaram o processo de aprisionamento e a liberação do corpo da mulher
através dos contos.
2
As Ciências Sociais criaram o conceito de gênero para se referirem à construção social imposta pela cultura
para designar homem e mulher. O conceito de ―gênero‖ diferenciou-se, assim, do conceito de ―sexo‖, que
passou a designar, a partir dessa concepção sociológica, a propriedade anatômico-fisiológica dos seres e a
relação física e/ou afetiva entre duas pessoas.
11
Dando continuidade a essa pesquisa, analiso no presente trabalho como as
escritoras brasileiras representaram a maternidade enquanto espaço de um dever da mulher
em atender às necessidades sociais do marido, já que zelar pelo progresso afetivo e material
dele inclui gerar e educar seus filhos. Mas nesta pesquisa focalizo mais especificamente a
relação mãe e filha sob a tese de que é principalmente por meio do vínculo com a menina que
mais se percebe a inadequação de algumas mulheres para a função materna e o seu esforço
para ajustar-se a essa prática, dentro dos moldes tradicionais. Isso era a contramão do que a
coletividade compreendia da mulher, pois o serviço socioeducativo da mãe foi disseminado
como não sacrificante, com a justificativa de que o evolver do feto gerava concomitantemente
o amor materno. Esse sentimento, posto acima de qualquer circunstância, possibilitava a
dedicação prazerosa de toda genitora à descendência e a fazia devotar-se à unidade familiar.
Sendo assim, é a idealização da mãe como naturalmente dotada de amor e
capacidade para conjugar a função biológica uterina, exclusiva da mulher, com o projeto
educativo de socialização dos filhos que a literatura desconstruiu ao longo do tempo. A trama
ficcional, durante um longo período, denunciou o espaço doméstico patriarcal como principal
fonte de opressão da mulher e deixou transparecer também seu esforço em preparar a
descendência para atuar na sociedade. Contudo, nem sempre tais esforços foram bemsucedidos, principalmente em relação à filha. É para esse atributo modelar em relação à
menina que se volta o presente trabalho, tomando como corpus de pesquisa as obras de cinco
romancistas brasileiras. São elas, respectivamente, Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), em
A viúva Simões (1897), Rachel de Queiroz (1910-2003), em Dôra Doralina (1975), Lygia
Fagundes Telles (1921), em Verão no Aquário (1963), Lya Luft (1938), em A sentinela
(1994), e Livia Garcia-Roza (?), em Meus queridos estranhos (1997) e Solo feminino: amor e
desacerto (2002).
Por tratar-se de obras inseridas dentro de um contexto mais amplo, com o qual
dialogam, o estudo apoiou-se em bases teóricas multidisciplinares, em busca dos fundamentos
históricos, filosóficos e sociológicos que definem o âmbito da sociedade patriarcal. Destacamse, ainda, as teorias críticas feministas, especialmente a de viés anglo-americano, que
denuncia os aspectos de arbitrariedade e a manipulação da imagem feminina na tradição,
refutando a teoria falocêntrica e revelando o estereótipo da mulher existente nos estratagemas
interpretativos da crítica literária tradicional. No entanto, a pesquisa também recorreu à
perspectiva do feminismo francês, que, vinculado à psicanálise, identifica a possível
12
―subjetividade feminina‖, ao entender a ciência ―como teoria capaz de promover a exploração
do inconsciente e a emancipação do pessoal, caminho que se mostrava especialmente atraente
para a análise e a identificação da opressão da mulher‖ (HOLANDA, 1994, p. 12). A teoria
psicanalítica é importante para a análise dos textos por estabelecer o enquadramento do ser
humano na sociedade como parte de uma prática insuflada nele através da educação tanto
individual quanto coletiva. Segundo Jung (1981, p. 91):
Nossa psicologia considera o homem tanto no seu estado natural como no
estado modificado pela cultura; em consequência disso, ao explicar os fatos
deve ter sempre em mira os dois pontos de vista, tanto o biológico como o
espiritual. Como psicologia médica, somente pode tomar em consideração o
homem completo.
A relevância da presente pesquisa repousa no fato de que, a despeito de todas as
transformações processadas na sociedade, a representação da mulher como um objeto social,
em detrimento dos seus projetos individuais, ainda se faz presente, revelando a permanência
de valores socioculturais que, pelo menos aparentemente, estavam superados e vencidos. Em
vista disso, o elenco aqui selecionado representa a desconstrução da maternidade como
projeto de vida e maior fonte de prazer da mulher, por meio do conflito existente entre mãe e
filha. Sobre esse papel social muito se falou, mas longe da perspectiva de sua ―atriz‖
principal, e é imprescindível que se perceba como a própria mulher se interpreta na função
que lhe foi por muito tempo imposta e que ainda permanece creditada como parte de sua
essencialidade.
O depoimento de Helen Fisher, PhD em Antropologia Biológica, dado à Revista
Marie Claire (junho de 2009, p. 63-67) confirma essa relevância. A matéria faz uma resenha
do livro Why him? Why her, em que a autora define a paixão segundo uma perspectiva
biológica, comparando sua ação orgânica à da cocaína. Para isso, ela separa os seres humanos
em quatro categorias — exploradores, construtores, negociadores e diretores — e dimensiona
a lógica da atração, a busca incessante pela cara-metade e as consequências físicas do amor.
Fisher pretende, assim, contribuir para as escolhas certas das pessoas. Mas o que mais
chamou a atenção foi o questionamento do entrevistador acerca da vida pessoal da
pesquisadora: ―Como especialista em amor, não é estranho que você não tenha conquistado o
sonho de toda mulher: casar, ter filhos e uma família estável?‖ Fischer, aparentemente
assustada com a pergunta, respondeu: ―Família estável, rotina? Isso é tudo que uma
13
exploradora não quer. Fui apaixonada por cinco homens diferentes e vivi com todos eles, mas
nunca tive filhos e não me arrependo. Sou exploradora demais para isso‖.
Vê-se, assim, que ainda há, no século XXI, a crença de que ―toda mulher‖ possui
um único destino e objetivo. A entrevista concedida por Helen Fischer e o consequente
desolamento do entrevistador diante de uma mulher não-mãe, remete-nos ao pensamento de
Simone de Beauvoir, segundo o qual não há ‗instinto‘ materno — ―a palavra não se aplica em
nenhum caso à espécie humana. A atitude da mãe é definida pelo conjunto de sua situação e
pela maneira por que a assume‖ (BEAUVOIR, 1980, p. 277). Com essa afirmação, a autora
pretendeu desfazer o conceito de mãe cristalizado na sociedade e introduzir a ideia de mulher
fora do destino doméstico imposto pela função materna. O pensamento de Beauvoir foi de
grande influência para as mulheres. A propósito, a Revista O Globo publicou, em 26 de julho
de 2009, uma matéria em que discutia o fato de as mulheres congelarem os óvulos para
poderem ter filhos mais tarde, caso venham a desejá-lo. Ainda na mesma matéria, a
antropóloga Mirian Goldenberg declara que alcançou grande sucesso em sua carreira
profissional porque decidiu não ser mãe, e não se arrepende disso. Goldenberg diz que ―é
possível, sim, ser feliz sem filhos. A angústia seria fruto da indecisão, da incapacidade de
fazer uma escolha‖. Ela considera que a pesquisadora francesa Simone de Beauvoir contribuiu
para sua decisão de não ser mãe: ―[Simone] me apresentou a liberdade feminina, o fim das
diferenças de gênero‖ (p. 26).
Na busca por discutir essas questões no âmbito literário, esta pesquisa analisa
como as ficcionistas brasileiras, através da relação mãe e filha — arquétipo de harmonia do
laço familiar —, desfizeram a ideia da maternidade como a perfeita função da mulher,
evidenciando que, longe de querer ser um modelo para alguém, ela deseja ser um indivíduo a
explorar com independência as múltiplas possibilidades intelectuais e afetivas que possui.
Parte-se do pressuposto de que a arte literária, via de regra, sempre contribuiu para responder
às questões existenciais do ser humano, porque ela está impregnada pela ideologia, seja para
confirmá-la ou refutá-la, e, conforme diz Todorov, ―não nasce no vazio, mas no centro de um
conjunto de discursos vivos, compartilhando com eles numerosas características‖ (2010, p.
22). Inclusive, ―longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas
educadas, ela [a literatura] permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser
humano‖ (p. 24). Por isso, os textos literários ultrapassam as especificidades das ciências em
geral e levam os leitores a observar que a necessidade de se viver a condição de ser humano
14
existente ―nas práticas sociais de nossa realidade, ganha uma dimensão dramática, quando
matéria ficcional. Advém daí a importância ímpar da literatura, que, além do seu valor
estético, viabiliza uma leitura mais complexa e dinâmica dessa realidade social.‖ (XAVIER,
1998, p. 14).
No entanto, a fim de melhor analisar a temática deste trabalho, é necessário um
prólogo que a insira dentro de um contexto mais amplo. Assim, no segundo capítulo, faço
essas considerações iniciais para, no terceiro capítulo, ―Um homem sedutor desequilibrando
mãe e filha‖, proceder a uma análise do romance A viúva Simões, de Júlia Lopes de Almeida,
apontando como a relação entre a personagem principal e sua filha, Sara, reflete,
principalmente, a construção social que estabelece que a mãe deve ser um molde para a filha.
A viúva retratada na ficção faz um esforço para se encaixar nessa figura modelar, mas, diante
da paixão por um homem, perde o controle, o que acarreta graves consequências tanto para si
quanto para a filha.
No quarto capítulo, ―A mãe transformando a filha em Maria das Dores‖, é feita a
análise do conflito entre mãe e filha em Dôra, Doralina, de Rachel de Queiroz. O romance,
narrado sob a perspectiva da filha e distanciado no tempo, mostra a trajetória de vinte e dois
anos de um convívio desgostoso com a mãe, repleto de ofensas mútuas e traições maternas,
em diversos sentidos, denunciando, inclusive, uma relação afetiva da mãe com o próprio
genro. Vê-se, nesse caso, que a autora procede a uma representação oscilante, que em alguns
momentos leva o leitor a ter certeza de que o ódio materno, responsável pelas dores
existenciais da descendente, e, em outras passagens, a duvidar dessa convicção. A partir da
elaboração memorialística de sua biografia, Doralina busca uma catarse.
O quinto capítulo, ―O homem e a literatura: interferências entre mãe e filha‖,
investiga como Lygia Fagundes Telles (des)constrói, em Verão no Aquário, a relação da
mulher com a casa, também a partir da perspectiva da filha. Veicula-se aqui uma oposição de
ideias diante da vida: a narradora reproduz a crença social de que a mãe deve ter a filha como
centro de atenções, enquanto a figura materna prefere o trabalho intelectual ao envolvimento
com a realidade doméstica. Além disso, na condição de escritora, a personagem da mãe
preocupa-se em aperfeiçoar o seu ofício, a fim de ajudar a resolver as frustrações existenciais
dos leitores de seus textos ficcionais, principalmente de André, um jovem seminarista.
O sexto capítulo, ―A tessitura da filha para compor a figura materna‖, analisa a
relação entre mãe e filha em A sentinela, de Lya Luft, apontando a distância que há entre a
15
maternidade biológica e a genuína afetividade da mulher por sua descendente, uma questão
que Simone de Beauvoir e Elisabeth Badinter tanto discutem em seus textos. O romance
narra a incessante busca da protagonista por compreender o motivo de a mãe destinar-lhe
tanto desprezo. Sem encontrar respostas para seus questionamentos, Nora, ao completar 50
anos, decide mudar o foco de sua vida, desviando-o da mãe para o trabalho criativo, o que a
ajuda a renascer.
No sétimo capítulo, ―O (des)acerto da maternidade no século XXI‖, o tema em
estudo é visto ora sob a perspectiva da mãe, na análise do romance Meus queridos estranhos,
ora sob a perspectiva da filha, em Solo feminino: amor e desacerto, ambos de Livia GarciaRoza.
As narradoras expressam a angústia de estarem ligadas a pessoas que não têm
nenhuma relação com elas, mas, ao mesmo tempo, se veem envolvidas por laços de família.
A representação de Garcia-Roza aponta para a dificuldade da convivência entre mães e filhas
no espaço doméstico, pelo fato de a mãe enxergar as filhas como extensão de si mesma e pela
dificuldade para aceitar o comportamento sexual da mulher hodierna.
As autoras selecionadas nesta pesquisa possuem uma diversificada produção
literária. Julia Lopes de Almeida, apesar de viver num tempo em que as mulheres
enfrentavam muitos obstáculos para ingressarem na carreira literária, foi uma escritora que
teve muitos títulos publicados. Um dos fatores a contribuir com a inserção de Julia Lopes em
uma atividade racional como a literatura, à época só permitida aos homens, foi o fato de ela
pertencer a uma família de intelectuais e ser casada com o escritor português Filinto de
Almeida. Além disso, elaborou um tipo de obra, hoje em dia considerada de autoajuda, na
qual vinculava conselhos para a mulher preservar um comportamento adequado à função de
esposa e mãe, o que era bem aceito pelos críticos e pelo público em geral.
Júlia Lopes publicou os seguintes romances: A família Medeiros (1892), A viúva
Simões (1897), A falência (1901), A intrusa (1908), Cruel amor (1911), Correio da roça
(1913), A Silveirinha (1914), A isca (1922), A casa verde (1932 – escrito em parceria com
Filinto de Almeida) e Pássaro tonto (1934). Recentemente, algumas editoras fizeram o
resgate de várias dessas obras, a fim de trazer ao público atual os textos literários que
registram a cultura familiar brasileira do final do século XIX e início do XX, sob a
perspectiva da autoria feminina. As estudiosas que se ocuparam dos escritos de Júlia Lopes
16
de Almeida foram, principalmente3, Elódia Xavier, Sylvia Paixão, Peggy Sharpe e Norma
Telles. Essas pesquisadoras prefaciaram as obras resgatadas, realizando uma análise da
importância de cada uma delas para o registro da trajetória da mulher brasileira. Para Elódia
Xavier, Julia Lopes de Almeida faz, em A intrusa (1ª publicação em 1908 e estabelecimento
do texto em 1994), uma apologia ao trabalho doméstico como forma de a mulher ascender
socialmente por meio do casamento.
Sylvia Paixão ressalta que, em A Silveirinha (1ª
publicação em 1914 com o subtítulo ―Crônica de um verão‖ e estabelecimento da obra em
1997), a escritora representa ironicamente a oposição entre a religiosidade da mulher burguesa
e o ateísmo do seu marido, enfatizando o estilo de vida da sociedade do Rio de Janeiro e suas
hipocrisias.
Peggy Sharpe destaca, em A viúva Simões (1ª publicação em 1897 e
estabelecimento do texto em 1999), as tensões, contradições e conflitos vividos pela mulher
brasileira, camuflados sob a rotina banal do cotidiano. Norma Telles sublinha o fato de que,
em A família Medeiros (1ª publicação em 1893 e estabelecimento do texto em 2009), a autora
traz a lume a vida cotidiana do interior de São Paulo, no período de transição da escravidão
para o trabalho assalariado. As pesquisadoras revelam, portanto, que os temas de Júlia Lopes
de Almeida tendem a convergir para o espaço legitimado de atuação da mulher: a casa. Nesse
âmbito doméstico, ela faz todo o esforço para ter seu trabalho reconhecido, tornar-se
indispensável e ser considerada por sua competência nos cuidados com a família.
Registre-se que Júlia Lopes de Almeida, além de romances, publicou obras de
aconselhamento para convencer as mulheres a se comportarem na sociedade como mães
exemplares, o que significa que a autora ajudou a reduplicar discursivamente toda a ―lei‖
sociopatriarcal. Algumas dessas obras são: Livro das Noivas (1896), Livro das donas e
donzelas (1906) e Maternidade (1925).
Rachel de Queiroz, cronista e romancista, é mais direta em sua reflexão sobre os
papéis sociais dos indivíduos e o casamento como único destino possível para a mulher. A
escritora nordestina teve grande importância no cenário intelectual do país; seus romances As
três Marias (1939), Dôra, Doralina (1975) e Memorial de Maria Moura (1992) foram,
respectivamente, adaptados para novela (1980), cinema (1982) e minissérie de TV (1994).
3
Digo ―principalmente‖ porque são as pesquisadoras que fizeram o resgate das obras, possibilitando que se
possa adquirir — ainda que à venda em poucas livrarias brasileiras — o romance. Muitas outras(os), dentre
as(os) quais Constância Lima Duarte e Nadilza Martins de Barros Moreira, fizeram um importante trabalho de
análise das obras.
17
Sua verve autoral foi de tamanho reconhecimento público que, em 1977, Rachel de Queiroz
foi a primeira mulher eleita, por um grupo estritamente masculino, para a Academia Brasileira
de Letras. Em sua produção, podem-se depreender destinos diversificados para a mulher; a
tendência é mostrar sertanejas que querem ter o controle da própria vida, sem depender,
necessariamente, de um homem para ditar-lhe o rumo a seguir. Seu primeiro romance, O
quinze (1930), introduz a personagem Conceição, uma professora que dispensa os dois
pretendentes que lhe aparecem, optando pela condição de solteira. Além disso, ela exerce a
maternidade por meio da adoção, o que demonstra o quanto a literatura de Rachel transgride a
realidade social que, à época, impedia a mulher de adotar sem a participação do homem. João
Miguel (1932) representa a prisão como campo de cerceamento político dos indivíduos, o
mesmo que Rachel de Queiroz sofreu em sua militância no Partido Comunista. No entanto,
as mulheres desse romance vivem livremente a sua libido. Em Caminho de Pedras (1937), a
autora trabalha com o socialismo, mostrando a luta por um ideal e denunciando o
autoritarismo da Era Getúlio Vargas, mas também questionando a domesticação da mulher.
Na obra As três Marias, o prenome ―Maria‖ para as três personagens principais, uma
referência à união das três estrelas homônimas, não uniformiza as mulheres, antes indicam
suas múltiplas personalidades e diferentes destinos. Na obra Dôra, Doralina , a autora enfoca
a conturbada relação entre a mãe, denominada Senhora, e sua única filha, Maria das
Dores/Dôra/Doralina. A descoberta de Doralina de que seu marido e Senhora são amantes é a
causa da cisão definitiva entre as duas. O galo de ouro (1986) apresenta a personagem de
Nazaré, que não assume o comportamento de esposa tradicional nem se enquadra no
encarceramento da vida doméstica. A narrativa de Memorial de Maria Moura apresenta a luta
da mulher para conquistar o seu território e estabelecer o seu domínio.
Do grupo de escritoras elencadas nesta pesquisa, Lygia Fagundes Telles, com
certeza, é a mais conhecida do público em geral. Isso se deve, talvez, ao fato de muitos de
seus textos terem sido televisionados, ficando em evidência por um bom período de tempo. O
conto ―O jardim secreto‖ foi ambientado, em 1978, pela Rede Globo, para a série Caso
especial. Seu primeiro romance, Ciranda de pedra (1ª edição em 1954), foi adaptado em 1981
para uma telenovela homônima da mesma emissora, sendo reeditada em 2008. Em 1982, após
uma trajetória de mais de quarenta anos de produção literária, a escritora foi eleita para a
Academia Brasileira de Letras.
18
É interessante observar que os romances de Lygia, quando retratam relações
conflituosas entre mães e filhas, tendem a focalizar a rivalidade da filha em relação à figura
materna e vice-versa. Isso ocorre desde o seu romance inaugural, Ciranda de Pedra, em que a
personagem Laura não consegue estabelecer um vínculo com suas primogênitas – ―Minhas
filhas... Eram minhas? Bruna que parecia uma inimiga, pronta sempre para me julgar. Tão
dura. E Otávia sempre tão distante, lá longe com seus cachos...‖ (1981, p. 29). Em As
meninas (1973), Lorena menciona que a mãe reconhece que a abandonou: ―‗Abandonei minha
filhinha num pensionato de freiras pobres, num quarto de chofer em cima da garagem e fui
viver com um homem que me apunhala pelas costas‘ — disse minha mãe à tia Luci num dos
seus dias de punição que começam na segunda e vão até domingo‖ (1998, p. 56). O romance
As horas nuas (1989) narra a história de Rosa Ambrósio, uma atriz decadente que, ao refletir
sobre a vida, observa: ―Fiquei sozinha com minha agregada negra. Com meu gato. Tenho
uma filha mas é como se não tivesse, parece aquela poesia que o papai gostava de ler, Nunca
está onde nós a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. No caso, era a felicidade.‖ (p. 20).
Mas parece ser em Verão no aquário, obra que será analisada neste trabalho, que a conturbada
relação entre mãe e filha mais se presentifica. A mãe aqui é representada pela personagem
Patrícia, uma escritora que se revela uma mulher prática, que não aceita as cobranças de
Raíza, a filha que insistentemente quer chamar sua atenção.
Lya Luft ficou conhecida como exímia tradutora das línguas alemã e inglesa,
tendo vertido para o português obras de autores como Virginia Woolf e Harald Weinrich —
deste, a tradução de Lete: arte e crítica do esquecimento lhe rendeu o prêmio União Latina de
melhor tradução técnica e científica. De sua veia literária salta uma profícua produção
romanesca, embora a escritora também tenha publicado livros de poesia, demonstrando certo
encadeamento temático entre os dois gêneros no que tange à forte ligação da mulher com a
casa e a família. O jogo entre vida (amor) e morte (ódio) — Eros e Tanatos — permeia todas
as narrativas da autora, mas a morte é propulsora da reorganização da vida. No mesmo ano de
1981, publicou As parceiras e A asa esquerda do anjo. O primeiro título se refere à parceria
entre vida e morte para a (des)construção da estrutura familiar. O retorno da protagonista à
antiga casa da família e a história de vida da avó são os fios condutores para uma tentativa de
expurgar os seus traumas passados. O segundo romance faz a representação da mulher
deprimida e ressentida por não se encaixar no núcleo familiar do qual faz parte
biologicamente. Reunião de família (1982) aborda o tema da hipocrisia familiar a partir do
19
retorno de Alice à casa paterna. A reunião da família é proposta devido à morte de um
sobrinho, mas faz emergir profundos dramas familiares. Em O quarto fechado (1984), a
ausência da mãe fragmenta a família, e a dificuldade encontrada pelos gêmeos Carolina e
Camilo para adequarem-se ao discurso patriarcal traz à cena uma representação dramática da
experiência humana no seio familiar: a morte precoce de Camilo por suicídio reúne os pais
em torno do caixão, obrigando-os a reverem o rumo de suas vidas. Exílio (1987) aborda
novamente a morte como meio de libertação do sofrimento pessoal e também como
desencadeador de dramas. A sentinela, obra que será analisada nesta tese, enfoca o desprezo
materno em relação à filha caçula. A protagonista persegue inutilmente uma explicação
plausível para o fato de sempre ter sido o alvo da preterição materna, mas somente após
reelaborar sua trajetória existencial consegue dar à sua vida um rumo independente dos
traumas familiares. O rio do meio (1996) está localizado entre a narrativa ficcional e o relato
de memórias pessoais. É uma obra que apresenta as diversas possibilidades de mudança do
comportamento humano, considerando que o indivíduo faz uso de diversas máscaras
internalizadas, de acordo com o momento vivido. O ponto cego (1999), conforme definição
constante da própria obra, é ―um fenômeno da visão humana segundo o qual, conforme
convergência e refração, pode-se ver o habitualmente permanecer oculto: a possibilidade
além da superfície, o concreto afirmado na miragem. Assim eu inventei, assim eu decretei,
assim é‖. (p. 63). A história é narrada por um menino que, ao observar a relação dominadora
do pai, que pretere a mulher e supervaloriza a filha, recusa-se a crescer, posicionando-se,
assim, contra os atos paternos.
A despeito da rica produção literária de Lya Luft, nenhum de seus livros deu tanta
projeção à autora quanto as obras escritas com o cunho de aconselhamento para a vida, como
ocorreu com Perdas e ganhos (2003) e Pensar é transgredir (2004). Após o sucesso de
venda dessas obras, Lya Luft sofreu um forte assédio para expor pensamentos a respeito de
assuntos diversos e ganhou uma coluna permanente na revista Veja.
A romancista e contista Livia Garcia-Roza destaca-se como a mais recém-ingressa
escritora brasileira, dentre os nomes arrolados nesta tese, já que seu primeiro romance, Quarto
de menina, foi publicado em 1995. Desde então, sua produção literária tem sido profícua,
dirigida tanto para o público adulto quanto para o juvenil. A casa e a família são os grandes
norteadores das narrativas. O romance Quarto de menina, voltado para a pré-adolescência,
narra o conflito de Luciana, uma menina que usa o próprio quarto como refúgio, desabafando
20
com as bonecas e com os grilos do vaso de flores sobre suas dúvidas e angústias. Após a
separação dos pais, porém, ela amadurece rapidamente, vendo-se obrigada a sair de casa para
enfrentar os problemas que estão além do seu pequeno espaço doméstico. Em Meus queridos
estranhos a relação conflituosa da narradora com a filha volta ao cenário, revelando uma
recorrência temática. Cartão-postal (1999) também retrata o conflito individual causado pela
separação dos pais, agora sob a óptica de um menino que se despede da infância.
O
desenvolvimento do adolescente contrapõe-se à imaturidade da mãe, que vive um novo
relacionamento amoroso. Cine Odeon (2001) é composto de uma diversidade de personagens
e seus sonhos íntimos, mas o foco são as (des)ilusões vividas pela adolescente Isabel no início
de sua vida amorosa. Solo feminino: amor e desacerto trata da relação mãe e filha,
principalmente sob a ótica do conflito de gerações. A personagem materna vive reiterando a
necessidade de a filha caçula se casar para ter uma vida mais regrada. Gilda, moça de 26
anos, rejeita ter o casamento e a maternidade no cerne de sua vida e caminha em sentido
completamente contrário, buscando, de qualquer forma, alcançar o orgasmo, tão propagado
pela mídia contemporânea como uma conquista possível a qualquer mulher. Em Meu Marido
(2006), a autora representa o processo de ruína da família de uma professora de língua
inglesa, narradora do romance. Milamor (2008), um dos finalistas do ―Prêmio São Paulo de
Literatura 2009‖, é narrado por Maria, que, aos sessenta anos, viúva e morando com a filha
que a trata como uma inválida, nutre uma paixão platônica por um homem que pouco
conhece, buscando recuperar, assim, a satisfação pela vida. O sonho de Matilde (2010) é
narrado pela personagem-título do livro e conta a história da família de um funcionário
público do interior cujas filhas, Cristina e Matilde, têm curiosidade de conhecer o Rio de
Janeiro; contudo, ao realizarem o sonho, elas se veem em meio a um pesadelo.
Todas essas escritoras colocaram a questão familiar no centro de suas narrativas,
trazendo a público as angústias de personagens femininas que vivem sob a perspectiva alheia,
entrelaçadas por regras inconciliáveis com a construção de suas individualidades, sua
condição humana. A fim de melhor sistematizar essa análise, passo às considerações iniciais
que conduzem à exploração do conflito na relação entre mãe e filha nas obras literárias.
21
2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Embora não se possa dizer com certeza quando e como a ideia de a mulher servir
exclusivamente para a reprodução se disseminou, certamente o pensamento de Aristóteles
(38-22 a.C.) foi de grande valia para fundamentar a incapacidade intelectiva e,
consequentemente, social da mulher. Segundo esse pensador, em qualquer tempo da vida, a
mulher era um ser inferior, por personificar a matéria, o corpo, aquilo que não precisava ser
mostrado porque não contribuía para o crescimento do ser humano, sendo importante apenas
para a reprodução e perpetuação da espécie. Assim, na sociedade ateniense, o contato entre
os dois sexos era estimulado meramente com a finalidade de procriação, e a mulher só fazia
parte da família do homem após o nascimento do primeiro filho. A relação afetiva não era
incentivada, pois entre homem e mulher devia haver a mesma hierarquia que havia entre amo
e escravo.
Aparentemente, a divisão dos espaços sociais para homens e mulheres tem seu
início em Aristóteles, embora algumas pessoas creditem à Bíblia Sagrada — escrita entre II
a.C. e final do século I d.C. — a fundamentação da maternidade altruísta, baseada em
personagens como Ana, que implorou a Deus por um filho, e Maria, que se dispôs a aceitar
uma concepção que a deixava sob suspeita de prostituição. No entanto, na história bíblica, a
maternidade foi mais evidenciada como uma maneira de agradar ao homem; a mulher devia
esforçar-se para dar-lhe uma semente, já que a esterilidade era uma humilhação. Contudo, o
livro de II Reis narra a história de uma sunamita que demonstra que nem todas as mulheres se
desesperavam devido à falta de um filho — na verdade, quem atribui essa necessidade àquela
é o auxiliar do profeta — pois, a sunamita, por si mesma, mostra-se indiferente à maternidade:
―E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho?‖( II Reis, capítulo IV, v. 28).
Uma outra passagem bíblica, ainda de II Reis, desfaz a ideia idealizada da avó –
popularmente reconhecida como uma espécie de mãe duas vezes, já que teria um amor ainda
maior pelos filhos dos filhos –, ao apresentar a história de Atalia, uma mulher que assassina
os netos para assumir o trono. Então, apesar de também divulgada pelas religiões de base
cristã, a fundamentação do elo socioafetivo4 entre a mulher e as gerações dela decorrentes,
conforme a sociedade assimilou, não está explícita em nenhuma passagem bíblica. Até
4
É um neologismo que parece pertinente à construção do texto.
22
mesmo os quatro evangelhos não se ocuparam em enfocar a dedicação de Maria ao Filho
divino e expuseram a independência de Jesus Cristo em relação à mãe.
No entanto, a Igreja Católica, que durante o período medieval teve o controle da
leitura do Livro Sagrado, estimulou a adoração à Maria, estabelecendo por meio dessa figura
feminina um exemplo a ser seguido, devido à pureza e à prestimosidade de um corpo virgem,
agradável a Deus e mais apto a gerar uma criança. As esposas medievais, sob influência da
doutrina eclesiástica e com dificuldade de engravidar, recorriam a todos os meios místicos
para alcançar a graça divina. A Igreja, desde aquela época, já impedia qualquer prática
contraceptiva, e a sociedade tornava a mãe objeto digno de atenção. Porém, esta não se
ocupava totalmente com os cuidados da criança, pois os pais tinham o costume de contratar
ama-de-leite ou nutriz, escolhida com cautela entre as famílias de boa formação moral e
trazida para viver perto dos bebês. A mãe educava nos primeiros anos, mas, chegando o
septênio da criança, passava a ser responsável somente pela menina, enquanto o menino
ficava a cargo do pai. Porém, algumas mulheres abandonavam os filhos, porque ―o ponto de
vista medieval, que prezava o celibato acima do casamento e da maternidade, permitiu que
essas esposas convencessem seus maridos a deixá-las abraçar a vocação religiosa, que incluía
voto de castidade e abandono dos filhos‖ (YALOM, 2002, p. 105). A Reforma Protestante,
no início do século XVI, proclamada pelo monge agostiniano Martinho fez sobrelevar a
natalidade nas famílias cristãs. É interessante observar que Lutero se casou com a ex-freira
Katherina von Bora e teve seis filhos. Não divergiu, portanto, da visão da Igreja ou da herança
do pensamento aristotélico, segundo a qual a mulher era um ser inferior e servia
essencialmente para a reprodução.
Essa estrutura de pensamento influenciou a ideologia patriarcal que passou a
dominar o mundo. Porém, até então, a maternidade era algo meramente biológico; não se
aventava qualquer ligação afetiva da mãe em relação à criança, pelo menos não no sentido de
aprisionar a mulher e gerar sentimento de culpa.
Se o projeto iluminista, surgido na França no século XVII, que defendia o
domínio da razão, oportunizou à mulher o acesso à escola e a despertou para a participação na
sociedade, o filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), um dos principais expoentes do
iluminismo, freou a ascensão pública da mulher. Isso porque seu discurso, publicado em
Emílio ou da Educação (escrito de 1757 a 1762), incutiu uma conexão interpessoal e afetiva
de hierarquia entre os sexos, atribuindo-a à natureza. Sendo assim, desfez a crença de que a
23
relação de subserviência da mulher à razão do homem era fruto apenas da vontade de Deus, a
quem somente os religiosos pretendiam agradar, e ofereceu uma visão segundo a qual a
subordinação era imutável por ser algo inerente à natureza:
Um deve ser ativo e forte, o outro passivo e fraco; é preciso necessariamente
que um queira e possa; basta que o outro resista pouco. Estabelecendo esse
princípio, segue-se que a mulher foi feita especialmente para agradar ao
homem. Se, por sua vez, o homem deve agradar a ela, isso é de necessidade
menos direta: seu mérito está na sua potência, ele agrada só por ser forte.
Concordo que essa não é a lei do amor, mas é a da natureza, anterior ao
próprio amor. (ROUSSEAU, 2004, p. 516).
Esse pensamento do filósofo também concorreu para difundir na sociedade
ocidental a ideia de que a mãe é, incontestavelmente, mais importante para a educação inicial
da criança. Rousseau, para tentar provar que somente a mulher pode cercar a alma do filho,
porque tem maior ligação com a criança e sabedoria para administrar a família
emocionalmente, elaborou argumentos aparentemente irrefutáveis.
E, com o intuito de
convencer a sociedade, justificou seu pensamento: ―A primeira educação é mais importante e
cabe incontestavelmente às mulheres. Se o autor da natureza houvesse desejado que ela
coubesse aos homens, ter-lhes-ia dado leite para alimentar as crianças‖ (ROUSSEAU, 2004, p.
7). No entanto, na continuidade do texto, parece ao leitor que Rousseau percebia a fragilidade
de sua afirmação; assim, para conseguir a adesão da ―personagem‖ para a qual seu discurso se
voltava, prometeu a felicidade pessoal àquela que gerasse e criasse sua prole:
Ouso prometer a essas dignas mães um apego sólido e constante da parte de
seus maridos, uma ternura realmente filial da parte de seus filhos, a estima e
o respeito do público, partos felizes sem acidentes nem seqüelas, saúde firme
e vigorosa e, finalmente, o prazer de se ver um dia imitada (sic) por suas
filhas, e citada como exemplo às filhas de outras. (ROUSSEAU, 2004, p.
23).
A mãe, impelida a ser um modelo para a inserção social da menina, teve na filha
um freio ao seu comportamento individual como ser humano.
Porém, no projeto de
organização social, a relação mais próxima da mãe com a criança objetivava acabar com o
costume de enviar os bebês às nutrizes. A função de ama-de-leite surgiu no final do século
XIV e se difundiu durante o século XV em Florença. No princípio, a empregada vinha para o
convívio da família, depois se passou a enviar a criança para viver, por quase dois anos, na
24
casa da pessoa contratada. Graças a esse serviço, a mulher não precisava amamentar ou ter
cuidado com a higienização inicial dos filhos. Na França, a entrega do filho para uma nutriz
se intensificou no século XVI, mas essa separação temporária culminou em diversas mortes
de bebês e passou a ser condenada pelos médicos e filósofos, de grande influência na época,
que culparam os pais.
Resulta desse histórico, então, essa espécie de ―suborno‖ de Rousseau no sentido
de que as mulheres abandonassem a prática de enviar as crianças para as amas-de-leite e as
trouxessem de volta à vida exclusivamente doméstica. Era difícil convencer as mães a
cuidarem de seus filhos quando isso significava um abandono de prazeres pessoais, como
passeios e leituras. Porém, segundo a visão de comando da Igreja e da sociedade civil, a
desorganização social daquele período decorria do fato de as mulheres terem rejeitado a tarefa
de cuidar de suas crianças. Conforme esse raciocínio, a ordem começava pelas mães e, se elas
se dignassem a dar dedicação total a seus filhos, os costumes seriam reformulados
automaticamente: os sentimentos da natureza seriam despertados em todos os corações e o
Estado se repovoaria. Enfim, a abnegação da mulher resolveria todos os problemas sociais.
Rousseau define bem como se dá a função materna da mulher:
Da boa constituição das mães depende em primeiro lugar a boa constituição
das crianças; do cuidado das mulheres depende a primeira educação dos
homens; das mulheres dependem também seus costumes, suas paixões, seus
gostos, seus prazeres, sua própria felicidade. Assim, toda a educação das
mulheres deve ser relativa aos homens. Agradar-lhes, ser-lhes útil, fazer-se
amar e honrar por eles, educá-los quando jovens, cuidar deles quando
grandes, aconselhá-los, consolá-los, tornar suas vidas agradáveis e doces:
eis os deveres da mulher em todos os tempos e o que lhes deve ser ensinado
desde a infância. (ROUSSEAU, 2004, p. 527).
Sendo assim, em todos os passos que dava, a menina tinha que observar se estava
agradando, a fim de ser escolhida como esposa e mãe. Em momento algum as mulheres
podiam caminhar por conta própria, pois, não tinham condições de serem juízes de si mesmas
e, por isso, deviam ―receber a decisão dos pais e dos maridos, assim como a da Igreja‖.
(ROUSSEAU, 2004, p. 547).
No entanto, em Júlia, ou, A nova Heloísa (1837) —
supostamente, cartas recolhidas de dois amantes residentes em uma província junto aos Alpes
e publicadas pelo filósofo —, a filha era tida por responsável por suas escolhas e o pai só
interferia no caso de faltar capacidade crítica:
25
Se uma filha não tem razão, nem experiência para julgar a prudência e os
costumes, um bom pai deve sem dúvida suprir a esta falta. O seu direito,
mesmo o seu dever é dizer: minha filha, este é um homem de bem, ou: é um
velhaco; é um homem sisudo, ou: é um louco. Eis as conveniências que ele
deve examinar, o juízo de todas as outras pertence à filha.
Vós sois mais feliz, amável Clara; tendes um pai que não pretende saber
melhor que vós em que consiste a vossa felicidade. (1994, p. 20)
O fato é que a conexão entre lideranças da Igreja e da sociedade civil, seguindo o
pensamento rousseauniano, elaborou para as mulheres um destino privado e foi a base do
patriarcalismo, sistema caracterizado pelo domínio, imposto institucionalmente, ―do homem
sobre mulher e filhos no âmbito familiar. Para que essa autoridade possa ser exercida, é
necessário que o patriarcalismo permeie toda a organização da sociedade, da produção e do
consumo à política, à legislação e à cultura‖ (CASTELLS, 2001, p. 169).
O fundamento patriarcal se tornou mais forte no período em que o liberalismo
estava em ascensão e era preciso que o núcleo familiar ficasse mais recluso, com o objetivo de
garantir que somente a descendência sanguínea de um homem tivesse direito à sua herança.
A repressão sexual para a mulher foi originada com o patriarcado autoritário e com o início
das divisões de classes, pois os interesses econômicos de uma minoria passaram a organizar a
família. Para isso, a recomposição dos seres nesse âmbito, em prol da proteção do capital, era
pertinente, porque a sociedade de então tendia para um retorno ao heterismo que, como
explicou Friedrich Engels (1984) — usando como base a obra Direito Materno, de Johann
Jakob Bachofen —, marcou um período primitivo em que a mulher se relacionava livremente
com vários homens; vivia-se sob a ginecocracia (domínio feminino absoluto) e não havia
como saber quem era o pai da criança. Aliás, houve sistemas de parentesco formados pelo
que chamaríamos em nosso tempo de relações promíscuas:
Os sistemas de parentesco e formas de família, a que nos referimos, diferem
dos de hoje no seguinte: cada filho tinha vários pais e mães. No sistema
americano de parentesco, ao qual corresponde a família havaiana, um irmão
e uma irmã não podem ser pai e mãe de um mesmo filho (...). A concepção
tradicional conhece apenas a monogamia, ao lado da poligamia de um
homem e talvez da poliandria de uma mulher, silenciando — como convém
ao filisteu moralizante — sobre o fato de que na prática aquelas barreiras
impostas pela sociedade oficial são tácita e inescrupulosamente
transgredidas. O estudo da história primitiva revela-nos, ao invés disso, um
estado de coisas em que os homens praticam a poligamia e suas mulheres a
poliandria, e em que, por consequência, os filhos de uns e outros tinham que
ser considerados comuns. (ENGELS, 1984, p. 31).
26
É importante notar, então, que as relações sexuais, por muito tempo, foram
praticadas sem entraves, sem limites proibitivos, havendo, inclusive, o casamento por grupos.
Nesse lar ―comunista‖, os filhos se misturavam, e a descendência só podia ser reconhecida
pelo lado da mulher. Como a comunidade de irmãos entre si foi aumentando e houve a
proibição de que pessoas com esse vínculo mantivessem relações sexuais, surgiu uma
necessária seleção. Isso se deu, principalmente, a partir do momento em que ocorreu a
prevalência do poder financeiro, no século XVIII. As relações afetivas entre homens e
mulheres passaram a ser mais longas e por pares, influenciadas também pela facilidade de
acúmulo e manutenção dos bens materiais. A fim de protegê-los e identificar o destino da
herança, o homem assumiu o compromisso de sustentar financeiramente a mulher que se
submetesse a ter relações sexuais apenas com ele, garantindo-lhe a descendência sanguínea.
A posição política e econômica paterna refletiu-se nas relações domésticas, vinculando-as à
hierarquização análoga à do Estado. De forma sub-reptícia, a mulher foi trazida para casa,
considerando vantajoso perder a liberdade e estar sob ―proteção‖. Não se tratou, portanto, de
uma ―disposição inerente‖ dos indivíduos nos espaços público e privado, mas de um trabalho
de organização da sociedade em que o alicerce dos vínculos familiares era a mãe e, na
disposição de poder, os projetos da pátria e da nação eram ligados aos de mãe e família, ou
seja, a mulher é a pátria do(a) filho(a) e a família é a nação em miniatura.
Sendo assim, as responsabilidades sobre a formação social da criança podiam ser
vistas como um sacrifício da individualidade e um serviço que, às vezes, implicava dores e
sofrimento. Contudo, foi o cuidado com a descendência que passou a assegurar à mulher uma
existência social. Sob a influência do discurso persuasivo de Rousseau, ela também passou a
tentar coadunar a capacidade biológica e o envolvimento emocional com a criança. Havia um
esforço da mulher para que essa ligação passasse a existir de fato, porque, sendo a criança o
centro dos cuidados, a partir do momento em que o feto se formava em seu ventre, preservar a
criança significava cuidar de si, perpetuando sua visibilidade. Foi também uma estratégia de
autopreservação:
E foi neste mundo sentimentalizado da casa que a mulher exerceu seu
mando, buscou formas de controlar o homem, os filhos, a família, usando
como armas, muitas vezes, exatamente aquelas virtudes que se esperavam de
seu sexo: a fraqueza, quase sempre aparente, a doçura, a indulgência, a
abnegação. Com seu modelo de recato, fidelidade e resignação, apresentado
27
na metáfora da mãe, ela criou naqueles à sua volta um tipo de dependência
em relação a esta sua força e a este modelo sagrado que, assumindo formas
mais ou menos distintas, perdura até os nossos dias. (ROCHA-COUTINHO,
1994, p. 74).
A função materna deu à mulher uma condição de governante, na medida em que
a qualidade do seu produto biológico conferiu-lhe prestígio social, mas o trabalho principal
era com relação à filha: torná-la uma pessoa digna de ter a proteção de um homem colocava a
mulher em situação vitoriosa. Para isso, a mãe precisava treinar a menina para se fazer
amada, e as histórias infantis da época apresentavam as princesas encasteladas, respaldando a
vantagem de terem uma vida exclusivamente reclusa, já que seriam escolhidas por um
príncipe. A situação era cíclica. Criar o menino para cumprir seu papel principesco era mais
fácil, por não o atrelar a um cerceamento físico nem destiná-lo a reproduzir a profissão
paterna. No caso da menina, havia ainda o agravante de que qualquer comportamento errado
da mãe poderia recair sobre o comportamento da filha, ensejando a desgraça de ambas. Vê-se,
assim, que o cerceamento social da mulher se deu através da maternidade, diretamente
relacionada à felicidade (ou infelicidade) da família.
No que tange à representação literária dessa temática, não se trata de algo novo
nem exclusivo da literatura de autoria feminina. A interdependência e a rivalidade entre mãe e
filha já foi algo explorado por muitos autores, como Honoré de Balzac (1799-1850) – patrono
do romance no Ocidente e também um historiador de costumes – que, em A mulher de trinta
anos, narra a infelicidade afetiva vivida pela personagem Julia d‘Aiglemont, numa trajetória
que se inicia em 1813, quando ela conhece o marido, e só acaba em 1844, quando a
personagem morre. Julia não tem a atenção do marido nem mesmo após o nascimento da
filha, que a prende definitivamente ao homem, já indesejado, e a obriga a uma vida de
fachada, para não perder o prestígio social.
Descrita como uma mulher bela, elegante,
inteligente e dissimulada, ela se casa mesmo após o presságio paterno: ―Casa com Vítor,
minha Júlia. Um dia lamentarás amargamente sua nulidade, sua falta de ordem, seu egoísmo,
sua indelicadeza, sua inépcia em amor e mil outras tristezas que te virão por causa dele‖.
(BALZAC, 2009, p. 31). As decorrentes desgraças não permitem que a então marquesa
esqueça a voz profética do pai, e o fato de ser mãe a impede de abandonar tudo em prol do
amor por Artur (Lorde Grenville). Porém, quando o amado morre para preservar-lhe a honra,
ela passa a detestar Helena, a filha.
28
Balzac, considerado o precursor do realismo literário, expôs nessa obra o destino
humano do casamento como um peso eterno para a mulher malcasada que, quando consciente
da razão de seu infortúnio, revoltava-se contra a instituição mais valorizada da sociedade
liberalista, sem encontrar, contudo, uma saída. A dificuldade de se moldar às leis sociais era
ainda maior no caso das pessoas que não possuíam princípios religiosos, como no caso de
Julia d‘ Aiglemont, embora a Igreja se encarregasse de amenizar o sofrimento da alma,
pacificando o convívio entre o indivíduo e a sociedade:
O vigário não quisera, numa primeira visita, afugentar demais uma dor
completamente egoísta, mas contava, graças à sua habilidade, abrir caminho
à religião numa segunda visita. De fato, dois dias depois voltou, e a acolhida
da marquesa provou-lhe que sua visita era desejada.
(...)
– Nós devemos, senhora, obedecer a uns e outros: a lei é a palavra, e
os costumes são as ações da sociedade.
– Obedecer à sociedade?... – tornou a marquesa, deixando escapar um
gesto de horror. – Ora, senhor, todos os males provêm disso. Deus não
ditou uma única lei de infelicidade; mas os homens reunindo-se falsearam
sua obra. Nós, as mulheres, somos mais maltratadas pela civilização do que
pela natureza. (...). O casamento, a instituição sobre a qual se apóia hoje a
sociedade, só nós faz sentir todo o seu peso: para o homem a liberdade;
para a mulher deveres. Devemos consagrar aos homens toda a nossa vida,
eles nos consagram apenas raros instantes. (BALZAC, 2009, p. 91- 92).
A cobrança social pesava sobre o comportamento da mulher, que sofria todo tipo
de cerceamento, caso optasse por uma ação contrária à lei da sociedade. A obra de Balzac
aponta a injustiça sofrida pela mulher no cumprimento de seu papel, sendo humilhada pelo
marido, que não lhe dava o devido o valor e ainda a traía com outras mulheres, para o que
contava com a conivência social. No entanto, o autor também demonstra que, devido à
carência gerada pelo desamor, a mulher, tal qual o marido, era levada a buscar afeição fora de
casa. O que a diferencia dele é a perda de controle emocional, e isso, para o projeto
iluminista, que valoriza a razão, é o prejuízo dela. Se era impossível à mulher ter uma vida
dupla, o seu embate para se livrar do que a aborrecia recaiu sobre a consciência de seu
aprisionamento:
– Não lhe falarei dos sentimentos religiosos que geram resignação –
disse o padre; – mas a maternidade, senhora, não será...
29
– Alto! – disse a marquesa. – Com o senhor serei verdadeira. Sim,
não poderei sê-lo doravante com mais ninguém, estou condenada à falsidade;
(...) Existem duas espécies de maternidade, senhor. Antigamente eu
ignorava tal distinção; hoje eu sei. Sou mãe apenas pela metade, e antes não
o fosse em nada. (...) Tenho uma filha, mais nada; sou mãe, assim o quer a
lei. (...) A pobrezinha da minha Helena é filha de seu pai, é filha do dever e
do acaso; em mim ela só encontra o instinto da fêmea, a lei que nos impele
irresistivelmente a proteger a criatura nascida de nós. Socialmente falando,
sou irrepreensível. (...)
– (...) Para mim, o dia é cheio de trevas, o pensamento uma luta, meu
coração é uma chaga, minha filha é uma negação. Sim, quando Helena me
fala, queria ouvir-lhe uma outra voz; quando me fita queria que tivesse
outros olhos. Ela está aí para me atestar tudo que deveria ser e que não é.
Ela me é insuportável! Sorrio-lhe, tento compensá-la dos sentimentos que
lhe roubo. (...). (BALZAC, 2009, p. 92/94).
Se a relação com a filha ainda pequena é conflituosa, a situação piora quando a
marquesa chega aos trinta anos, a idade que o narrador de Balzac considera ser a de
amadurecimento da mulher e, portanto, para ela, a melhor fase da vida. Esse período assinala
o ápice do amadurecimento para a mulher até mesmo no que se refere à sua capacidade de
sedução. A personagem, frustrada na relação com o marido, ata um romance com Carlos
Vandenesse, um jovem diplomata, bonito, inteligente e seu coetâneo. O relacionamento chega
ao ponto de render um filho que, sendo fruto do amor, é merecedor do carinho da mãe, mas
que não sobrevive à raiva da irmã desafeiçoada. O convívio entre mãe e filha, com o passar
dos anos, vai se tornando um verdadeiro duelo, e nem mesmo o vínculo sanguíneo é levado
em consideração:
A mãe era pois muito severa com a filha, e julgava tal severidade necessária?
Estaria com ciúmes da beleza de Helena, com quem ainda podia rivalizar,
pondo em ação todos os recursos de embelezar? Ou a filha surpreendera,
como muitas filhas quando se tornam clarividentes, segredos que aquela
mulher, na aparência tão religiosamente fiel aos deveres, acreditava ter
sepultado em seu coração tão profundamente como se estivessem num
túmulo? (BALZAC, 2009, p. 137).
A obra de Balzac revela ser de grande importância para a compreensão da
sociedade burguesa da época e, principalmente, da problemática relação entre mãe e filha.
Essa obra ficcional, tanto quanto a obra filosófica de Rousseau, torna intrínseca essa
convivência. É interessante notar que Julia d‘Aiglemont tem dois filhos, Gustavo e Abel, que
praticamente não são mencionados na narrativa. Porém, sobre as filhas recai o resultado do
comportamento leviano da mãe, definindo-lhes o destino trágico.
30
Na segunda metade do século XVIII, a única atividade de entretenimento para a
mulher era a leitura de obras literárias.
O romance ainda era um gênero medíocre,
considerado ―uma obra frívola, cultivado apenas por espíritos inferiores e apreciado por
leitores pouco exigentes em matéria de cultura literária‖ (SILVA, 2002, p. 678). Sua leitura
não era bem vista por moralistas e representantes do poder público, que o consideravam um
produto pernicioso, capaz de despertar nas pessoas uma espécie de perturbação e até mesmo
uma mudança de comportamento. É interessante perceber que Balzac utilizou um romance
para inserir a questão da crença popular de que tal tipo de leitura poderia despertar um
comportamento subversivo. A filha mais velha da família d‘ Aiglemont transforma-se após
ler a tragédia teatral Guilherme Tell, do alemão Friedrich Schiller (1759-1805), que narra os
suíços em luta contra a tirania austríaca. A jovem, mesmo sabendo que perderia a relação
afetiva com o pai, decide casar-se com um criminoso, para fugir da mãe, e vive com o marido
aventuras perigosas no mar, vindo a falecer em decorrência de um naufrágio. Só no momento
de sua morte Helena reaparece, por acaso, diante da mãe. É o início do julgamento da mãe
―desnaturada‖:
(...) acabava de escapar a um naufrágio, salvando de toda a família apenas
um filho, disse com voz horrível à sua mãe:
– Tudo isso é obra sua! Se tivesse sido para mim o que...
– Moína, saia, saiam todos! — gritou a Sra. d‘ Aiglemont abafando a
voz de Helena com o rumor da sua.
– Por piedade, minha filha, não renovemos nesse momento os tristes
combates. (BALZAC, 2009, p. 175).
Para se eximir da culpa, a mãe atribui a desgraça sofrida pela filha ao hábito da
leitura de romances. Mas, se a morte da primogênita já é um peso tão grande sobre Julia, o
juízo final é ver Moína, sua caçula e mais amada, reproduzir as mesmas atitudes de
infidelidade conjugal das quais ela se arrepende. Como observa Michelle Perrot (2009),
historicamente a missão de educar a filha foi motivo de desgaste materno, porque a vigilância
da mãe se intensificava à medida que ela sentia a ameaça de desvalorização de seu serviço
através do comportamento da descendente. Perrot destaca que a mãe também era observada
minuciosamente em seus atos, pois a filha usava os deslizes maternos como arma de defesa.
Isso ocorre à Julia d‘Aiglemont em relação à Moína, e soa-lhe como uma punhalada, porque a
caçula sabe da traição materna e não se priva de acusá-la no momento em que a mãe deseja
alertá-la sobre seus atos de infidelidade. Mas, se o conhecimento do segredo dá à jovem uma
31
condição de ascendência em relação à senhora, as duas são condenadas pela consciência: Julia
morre em decorrência da indiferença da filha, e esta, ao ver a mãe morta, fica mentalmente
desequilibrada. O mau exemplo da mãe causa a destruição do lar.
Com o advento do Romantismo, esse tipo de narrativa se afirmou e foi
considerada apta para expressar os múltiplos aspectos humanos e universais, passando o
romance a ser um instrumento analítico da realidade social da época. ―O romance (...)
incorporara múltiplos registros literários, revelando-se apto quer para a representação da vida
quotidiana, quer para a criação de uma atmosfera poética, quer para a análise de uma
ideologia.‖ (SILVA, 2002, p. 682).
Pelo menos até a década de 70 do século XX, a cultura francesa exerceu grande
influência sobre a brasileira, principalmente em relação às
expressões artísticas.
A
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1808), a Academia Brasileira de Letras (1897) e a
Universidade de São Paulo (1936), nossas representações de prestígio intelectual, são
exemplos de instituições inspiradas no modelo francês. Balzac foi ícone para nossa literatura,
especialmente por ter feito, com primazia, o desenho das entranhas da sociedade burguesa em
ascensão. No que diz respeito ao comportamento masculino e feminino assimilado por essa
camada social, vemos a influência exercida pelo discurso de Rousseau em nossas narrativas
ficcionais.
Segundo Antônio Candido, a influência estrangeira no aparecimento do romance
entre nós ocorreu, principalmente, com publicações que vão de 1830 a 1854, em sua maioria
francesas, e que revelavam no título o gênero convencionado como folhetinesco. Cândido
considera que Balzac faz parte de um grupo literário que não se preocupou tanto em passar o
próprio pensamento para a obra, mas levou em consideração a possibilidade receptiva do
leitor, fornecendo-lhe, mais ou menos, o que ele esperava ou que sua capacidade permitisse
esperar.
Assim, a facilidade de compreender o texto, de maneira geral, resulta da
correspondência que esses autores têm com o receptor, com as possibilidades médias de
apreensão e expectativa do meio. Nesse grupo, estão contidos ―igualmente o folhetim de
capa-e-espada e a ficção novelesca, sentimental e humanitária, que foi alimento principal do
leitor médio no século XIX e serviu para consolidar o romance enquanto gênero de primeiro
plano, tornando-o hábito arraigado‖ (1997, p. 121).
32
Voltando à obra de Balzac e à representação do tema da maternidade, percebe-se
que o autor denuncia o amor materno como um mito criado com o objetivo de engendrar 5 a
essencialidade da mãe em relação à criança; contudo, o amor materno não é desencadeado
quando a criança não é fruto de uma relação satisfatória da mulher. No entanto, percebe-se
também a intenção de Balzac de difundir um comportamento baseado na ideia de uma
natureza hierárquica, segundo a qual o homem está autorizado a ser infiel porque isso não
causa nenhum transtorno à família (seu comportamento não interfere no destino dos filhos). Já
os deslizes morais da mulher causam trágicas consequências às filhas. E a leitora, ao ver a
representação da mulher burguesa, principalmente através da personagem Julia d‘Aiglemont,
geralmente compreendia que o modo feminino de agir, se não vinha de uma essência inerente
a seu sexo, deveria resultar das expectativas e cobranças da sociedade. Esse engendramento
faz parte das estratégias de controle que induzem a pessoa a pensar, sentir e agir de modo não
espontâneo.
Porém, ao se perceber em meio a uma trama cuja intencionalidade era conformála às inscrições sociais, a mulher passou a alardear o seu incômodo de diversas maneiras.
Uma delas foi através do movimento feminista, que questionou a distinção entre o espaço
público e o privado, o ―enraizamento do patriarcalismo na estrutura familiar e na reprodução
sociobiológica da espécie, contextualizado histórica e culturalmente.‖ (CASTELLS, 2001, p.
169). Nesse caso, as primeiras revolucionárias são oriundas também da nação francesa,
pouco tempo após a premissa rousseauniana. Algumas mulheres questionaram o sistema, pois
a Revolução Francesa entrou no cerne da vida privada, possibilitando subverter a ordem
definidora dos sexos. A década de 90 do século XVIII foi marcada pelos primeiros passos de
luta pela emancipação da mulher, inicialmente através da aquisição do direito à palavra.
A francesa Olympe de Gouges (pseudônimo de Marie Gouze, 1748-1794) foi uma
das primeiras vozes a denunciar a exclusão da mulher, em sua Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne de 1791 e também em Contrato Social, obra feminista inspirada na
homônima de Rousseau. Essa revolucionária escreveu peças teatrais antiescravagistas e obras
com teor feminista que discutiam o divórcio e as relações sexuais fora do casamento. Morreu
guilhotinada.
O objetivo de idealizar e cultuar a maternidade foi o meio usado para não permitir
a aquisição de uma consciência sexual por parte das mulheres, que, adaptadas ao sistema
5
Usado, como na origem do latim, ingěnero, no sentido de ―construir‖, ―implantar‖.
33
patriarcal, haviam assimilado o sentimento de culpa por ultrapassar o limite a elas imposto.
Conscientizá-las da violência que significava o aprisionamento de sua sexualidade à função
materna, como queria Gouges, era o colapso total da ideologia autoritária, que não tendia a
um arrefecimento. Muito pelo contrário, a teoria patriarcal serviu de embasamento para as
doutrinas de política autoritária que atrelaram ainda mais a mulher à maternidade. Segundo o
filósofo Otto Weininger (1880-1903), era preciso diferenciar ―mãe‖ e ―prostituta‖, pois o ato
sexual por prazer desonrava a primeira, e sua satisfação de ter filhos não delimitaria nem
mesmo a quantidade de suas gravidezes. Já a segunda deveria ser impedida de exercer a
maternidade. Mais uma vez se reforça a ideia de que a mulher digna de consideração da
sociedade é, sobretudo, mãe.
O psiquiatra e psicanalista Wilhelm Reich (1897-1957) publicou, em 1933, A
Psicologia de Massas do Fascismo, analisando o papel que a família desempenha em prol dos
sistemas autoritários. Ele demonstra como a maternidade sofre interferências do Estado, pois,
quando se necessitava ou não de mão-de-obra, havia o incentivo ou a repressão à procriação.
Assim, também o trabalho privado ou público da mulher era manipulado por essa autoridade.
Encontra-se nesse livro o manifesto de Adolf Hitler para o Partido Nacional-Socialista,
segundo o qual:
A mulher é, por sua natureza e destino, a companheira do homem. Isso os
torna companheiros tanto na vida, como no trabalho. A evolução econômica
processada através dos séculos, do mesmo modo que transformou os setores
de trabalho do homem, também alterou,, logicamente, os campos de
atividade da mulher. Além da obrigação do trabalho comum, pesa sobre o
homem e sobre a mulher o dever de conservar a espécie humana. Nesta mais
nobre missão dos sexos, nós também descobrimos as bases de seus talentos
que têm a sua origem nas predisposições individuais com que a Providência,
na sua eterna sabedoria, dotou o homem e a mulher de forma inalterável.
Por isso, é um dever superior possibilitar aos dois companheiros de vida e de
trabalho a constituição da família. A sua destruição definitiva significaria o
fim das características humanas mais sublimes. Por mais que se alarguem
os campos de atividade da mulher, o fim último de uma evolução orgânica e
lógica terá de ser sempre a constituição da família. Ela é a menor, mas a
mais valiosa unidade na construção de todo o Estado. O trabalho honra
tanto a mulher como o homem. Mas o filho enobrece a mãe. (REICH, 1970,
p. 57-58, grifos do autor).
Contra esse determinismo, diversas outras mulheres, a exemplo de Olympe de
Gouges, foram buscando ter voz nos meios sociais. Porém, uma das vozes mais significativas
quanto à questão da maternidade e da relação mãe e filha foi Simone de Beauvoir (1908-
34
1986), com a publicação de Le Deuxième Sexe (1949), traduzido para língua portuguesa em
1980. Segundo essa autora, baseada na filosofia existencialista, a maternidade consolida o
vínculo entre o casal, mas o êxito desta função depende de como a mulher se sente em relação
ao marido. Essa visão filosófica corresponde ao que já se podia depreender da literatura
balzaquiana, demonstrando o quanto é conflituosa a relação entre mãe e filha:
A situação é diferente segundo o sexo da criança e, embora no caso de um
menino a coisa seja mais ―difícil‖, em geral a mãe a ela se ajeita melhor. Por
causa do prestígio de que a mulher reveste os homens, e também dos
privilégios que estes detêm concretamente, muitas mulheres desejam filhos
de preferência a filhas. ‗É maravilhoso pôr no mundo um homem!‘, dizem;
vimos que sonham com engendrar um ‗herói‘ e o herói é evidentemente do
sexo masculino. O filho será um chefe, um condutor de homens, um
soldado, um criador; imporá sua vontade sobre a terra e a mãe participará de
sua imortalidade.
A menina é mais totalmente dependente da mãe: com isso, as
pretensões desta aumentam. Suas relações assumem um caráter muito mais
dramático. Na filha, a mulher não saúda um membro da casta eleita; nela
procura seu duplo. Profeta nela toda a ambigüidade de sua relação própria; e
quando se afirma a alteridade desse alter ego, sente-se traída. É entre mãe e
filha que os conflitos de que falamos assumem formas exasperadas.
(BEAUVOIR, 1980, p. 285, v. 2).
Como já foi dito, para a construção do homem não havia muita preocupação, pois
ele precisava ser criado livre, a fim de ter independência e aprender a defender a si próprio e à
família.
Em compensação, precisava esconder a capacidade emotiva, pois demonstrá-la
significava fraqueza. Por isso, desde cedo, era projetado para fora de casa, a fim de se
envolver em situações complexas, tanto em estudos como em brincadeiras, que desenvolviam
suas habilidades cognitivas. Não havia interdição para ele; até sua liberdade sexual era
incentivada. Geralmente sua vida sexual era iniciada em bordéis – e tudo o que fazia com a
prostituta não seria praticado com a mulher que geraria seus filhos. A mãe tinha orgulho de
formar esse ser conquistador e investia muito em seus privilégios. Contudo, na relação entre
ela e a menina havia problemas, os quais se intensificavam com o passar dos anos, pois
precisava impor à filha um destino que não a satisfez enquanto mulher, e, ao mesmo tempo
em que sofria a angústia dessa condição, vingava-se, mesmo que inconscientemente, na
menina, repassando-lhe o sofrimento que a sociedade lhe impingiu. Quanto mais a filha
crescia e ganhava autonomia, mais piorava a situação, já que a mãe tinha dificuldade para
aceitar a perda da autoridade que somente sobre aquela exercia. Quando era alvo da atenção
do pai, a menina podia ser usada para prendê-lo em casa, mas o problema maior entre as duas
mulheres era o fato de o homem compará-las, percebendo a juventude desabrochando no
35
corpo de uma e declinando no da outra. Então, como observa Simone de Beauvoir (1980, p.
288), ―todo o rancor [da mãe] contra o mundo, ela o dirige contra essa jovem vida que se
lança para um futuro novo; (...) Uma luta aberta declara-se muitas vezes entre ambas; é
normalmente a mais jovem que ganha, pois o tempo trabalha por ela‖.
Assim como Simone de Beauvoir, outras pesquisadoras veem nessa relação
problemática entre mãe e filha indícios para se negar tanto o instinto como o incomensurável
―amor materno‖. Elisabeth Badinter, em Um Amor Conquistado: o mito do amor materno
(1980, p. 238), esclarece com mais propriedade o quanto essa construção de amor e instinto,
remetida ao sexo feminino, prejudicou a condição da mulher como ser humano:
Graças à psicanálise, a mãe será promovida a ‗grande responsável‘ pela
felicidade de seu rebento. Missão terrível, que acaba de definir seu papel.
Sem dúvida, esses encargos sucessivos que sobre ela foram lançados
fizeram-se acompanhar de uma promoção da imagem de mãe. Essa
promoção, porém, dissimulava uma dupla armadilha, que será, por vezes,
vivida como uma alienação.
Enclausurada em seu papel de mãe, a mulher não mais poderá evitá-lo
sob pena de condenação moral. Foi essa, durante muito tempo, uma causa
importante das dificuldades do trabalho feminino. A razão também do
desprezo ou da piedade pelas mulheres que não tinham filhos, do opróbrio
daquelas que não os queriam. (...) As mulheres mais realizadas em sua
condição de mãe aceitaram com alegria carregar esse terrível fardo. Mas as
outras, mais numerosas do que se podia supor, não puderam, sem angústia e
culpa, distanciar-se do novo papel que lhes queriam impor. A razão é
simples: tomara-se o cuidado de definir a ‗natureza feminina‘ de tal modo
que ela implicasse todas as características da boa mãe. Assim fazem
Rousseau e Freud, que elaboraram ambos uma imagem da mulher
singularmente semelhante, com 150 anos a separá-los: sublinham o senso da
dedicação e do sacrifício que caracteriza, segundo eles, a mulher ‗normal‘.
Fechadas nesse esquema por vozes tão autorizadas, como podiam as
mulheres escapar ao que se convencionara chamar de sua ‗natureza‘? Ou
tentavam imitar o melhor possível o modelo imposto, reforçando com isso
uma autoridade, ou tentavam distanciar-se dele, e tinham de pagar caro por
isso.
Foi necessário haver essas vozes iniciais que tornaram pública a, por vezes,
humilhante vida privada da mulher. No entanto, também era pertinente que houvesse uma
representação das personagens femininas em sua busca de tornarem-se mais compreendidas,
expondo e denunciando a experiência vivida. Segundo Judith Butler (2008, p. 18), para a
mulher foi imprescindível inscrever essa representação porque:
36
A representação é a função normativa de uma linguagem que revelaria ou
distorceria o que é tido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres.
Para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz de
representá-las completa ou adequadamente pareceu necessário, a fim de
promover a visibilidade política das mulheres. Isso parecia obviamente
importante, considerando a condição cultural difusa na qual a vida das
mulheres era mal representada ou simplesmente não representada.
No Brasil, essa representatividade do universo doméstico começa a ser elaborada
em meados do século XIX, e é interessante perceber que, se a adoção de comportamentos
exemplares era parte dos discursos das mulheres, muitas escritoras desconstruíram a crença de
que a mulher era voltada exclusivamente ao casamento e à maternidade e trouxeram a lume os
conflitos pertinentes à vida doméstica. Esses não eram claramente simbolizados na arte de
cunho masculino, porque o encadeamento social privilegiava o homem, e é difícil explicitar
algo que não é objeto de observação ou vivência própria. Quando os escritores abordam o
tema da maternidade em suas obras, a mãe, geralmente, não é evidenciada, ―ela é sempre
secundária, ‗pano de fundo‘ para a narrativa principal, que normalmente se desenvolve em
torno de outro personagem, o filho.‖ (STEVENS, 2007, p. 42).
As escritoras passam a expressar uma visão crítica a respeito da estrutura familiar;
algumas tematizam a maternidade, focando principalmente a relação mãe e filha como cerne
da trama literária. Ao inserirem a função existencial da mulher no universo ficcional, elas
trazem para o público leitor a versão dos fatos a partir da perspectiva de quem vive a
maternidade e pensa a respeito dela objetivamente. Mesmo nessa produção inicial, pode-se
notar que a inserção temática do universo feminino leva o leitor a enxergar a ideologia
dominante de seu tempo, permitindo-lhe uma apreciação crítica dos aspectos que o envolvem
sub-repticiamente nos projetos da sociedade. É uma produção que evidenciou a opressão
geral vivida pela mulher sob o domínio do patriarcado.
Em entrevista dada à Revista
Brasileira (intitulada ―Como é perigoso escrever‖), Lygia Fagundes Telles explica que,
devido ao fato de a mulher ter aprendido a ler e escrever muito tarde, precisou aguçar a
percepção, o dom de vislumbrar, que, sem dúvida, influencia essa ficção de estilo mais
subjetivo, mais confessional:
E isso não só na poesia mas também na prosa, e mulher não podia se
confessar, não é certo? As confissões eram com o padre e, assim mesmo,
havia o medo de dizer tudo, o melhor, talvez, ficava escondido. Quando ela
começou a escrever, na hora em que teve o direito de se explicar, está visto
que tinha que ser nessa linguagem confessional. A linguagem subjetiva,
37
intimista, o mergulho lá no interior do seu eu, ah! que alívio. A libertação
através da palavra escrita. (1999, p. 35).
A palavra confessional talvez não seja a mais adequada para desoprimir, pois
quem se confessa é porque sente culpa, e não é isso o que se pode depreender da leitura da
própria Lygia Fagundes Telles. O fato é que algumas obras literárias, principalmente da
produção, soam como o meio de desabafo de algumas escritoras que, apesar de não
direcionarem a obra para um público específico, buscam uma relativa identificação com os
leitores, já que transmitem uma visão de mundo inscrita na crença coletiva – a qual
questionam.
Conforme diz Antônio Candido (1980, p. 20), a literatura é uma arte social
influenciada por ações e fatores do meio, ―que se exprimem na obra em graus diversos de
sublimação; e produz sobre os indivíduos um efeito prático, modificando a sua conduta e
concepção do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos valores sociais‖. Tzvetan
Todorov (2010) categoriza o poder da literatura que transforma o ser humano internamente
para, além de ajudá-lo a viver, torná-lo mais compreensivo e próximo do outro. Isso porque a
arte literária, tal qual a filosofia e outras ciências humanas, é produto de pensamento, de saber
do universo psíquico e social em que estamos inseridos:
A realidade que a literatura aspira compreender é, simplesmente (mas, ao
mesmo tempo, nada é assim tão complexo), a experiência humana. Nesse
sentido, pode-se dizer que Dante ou Cervantes nos ensinam tanto sobre a
condição humana quanto os maiores sociólogos e psicólogos e que não há
incompatibilidade entre o primeiro saber e o segundo. (TODOROV, 2010,
p. 78).
Não havia, portanto, meio melhor de a mulher se autotraduzir do que através da
arte literária. E, dentro de um vasto leque de possibilidades temáticas veiculadas na literatura
de autoria feminina através dos tempos, a conflituosa relação entre mãe e filha destaca-se,
segundo parece, como a que mais evidencia a construção social do destino de mulher. É o
que se buscará demonstrar nos capítulos seguintes.
38
3 UM HOMEM SEDUTOR DESEQUILIBRANDO MÃE E FILHA
Julia Lopes de Almeida (1862-1934), como dito, produziu, além de romances,
textos não-ficcionais ou de aconselhamento, nos quais predominavam temas relacionados ao
espaço doméstico.
Em Livro das Noivas (1896), Livro das donas e donzelas (1906) e
Maternidade (1925), a autora prescreveu aconselhamentos e normas de conduta que visavam
levar a mulher a adotar comportamentos adequados às exigências da sociedade,
principalmente no que se refere ao exercício materno. Sendo mulher exemplar (burguesa,
casada e com filhos), Júlia Lopes possuía credibilidade para influenciar suas companheiras de
gênero.
Por isso, sentia-se autorizada a escrever crônicas com finalidade nitidamente
educativa. Em Livro das Noivas (1896, p. 171), por exemplo, a autora definiu o que é ser mãe:
Ser mãe é renunciar a todos os prazeres mundanos, aos requintes do luxo e
da elegância; é deixar de aparecer nos bailes em que a vigília se prolonga, o
espírito se excita e o corpo se cansa no gozo das valsas; é não sair sem temer
o sol, o vento, a chuva, na desgraçada dependência do terror imenso de que a
sua saúde sofra e reflita o mal na criança; é passar as noites num cuidado
incessante, em sonos curtos, leves, com o pensamento sempre preso à
mesma criatura rósea, pequena, macia, que lhe suga o sangue, que lhe magoa
os braços, que a enfraquece, que a enche de sustos, de trabalho, de
prevenções – mas que a faz abençoar a ignota Providência de a ter feito
mulher, para poder ser mãe!
Vê-se que Julia Lopes não pretendia entrar em choque com as normas vigentes,
como faziam as feministas da época. Por isso, não sugeriu nada diferente daquilo que estava
nas inscrições sociais, e destinava para as mulheres os serviços do lar. Na realidade, parece
ter usado uma certa astúcia para caminhar na contramão daquelas que radicalizavam,
chegando até mesmo a adotarem trajes ―masculinos‖ para reivindicar igualdade social entre os
sexos, uma atitude imbuída de um forte apelo político. Mas não foi à toa que se fez referência
à roupa; esse dado é tão importante que a Convenção francesa, ainda em 1793, registrou, em
decreto, que não podia haver grupos caracterizados pela maneira de vestir. Conforme diz
Lynn Hunt (2009), esse documento se destinava principalmente às agremiações femininas
cujas participantes faziam uso de ―toucado vermelho e forçavam as outras mulheres a imitálas. Aos olhos dos deputados, nesse auge de radicalidade revolucionária — o momento da
descristianização —, a politização da indumentária ameaçava subverter a própria definição da
ordem dos sexos.‖ (HUNT, 2009, p. 22).
39
A maneira brasileira de revolucionar por meio da vestimenta veio dessa herança
francesa, então recente. Dona Júlia fez duras críticas a esse comportamento de confronto
político-social da mulher. Isso, porém, não a impediu de aceitar outras possibilidades para
além do restrito campo doméstico e defender a necessidade de se considerar o trabalho
intelectual da mulher, no que diz respeito à elaboração do espaço público, já que ela mesma
buscou projeção fora de casa. E, no Livro das donas e donzelas (1906, p. 23), temendo
críticas, a autora se posicionou contra as mulheres que se estavam ―travestindo de homem‖,
dizendo que tal atitude configurava, na verdade, uma anuência da mulher ao discurso que a
inferiorizava:
É uma esquisitice muito comum entre senhoras intelectuais envergarem
paletó, colete e colarinho de homem, ao apresentarem-se em público,
procurando confundir-se, no aspecto físico, com os homens, como se lhes
não bastassem as aproximações igualitárias do espírito. (...) Esse desdém da
mulher pela mulher faz pensar que: ou as doutoras julgam, como os homens,
que a mentalidade da mulher é inferior, e que, sendo elas exceção da grande
regra, pertencem mais ao sexo forte, do que ao nosso, fragílimo; ou que isso
revela apenas pretensão da despretensão. (...) Seja o que for, nem a moral
nem a estética ganham nada com isso. Ao contrário; se uma mulher triunfa
da má vontade dos homens e das leis, dos preconceitos do meio e da raça,
todas as vezes que for chamada ao seu posto de trabalho, com tanta dor,
tanta esperança e tanto susto adquirido, deve ufanar-se em apresentar-se
como mulher. Seria isso um desafio?
Apesar do tom moralizante, o que se pode observar é que a autora foi perspicaz
em sua crítica, pois a fez aos homens e às mulheres, e igualmente defendeu a um e a outro.
Agradou, assim, a suas companheiras de gênero que pleiteavam projeção social, pois
demonstrou reconhecer a igualdade intelectual entre homens e mulheres, e isso — na sua
condição privilegiada de transeunte nas áreas do pensamento como escritora e jornalista —
era visto com bons olhos pelas militantes.
A discussão sobre o que é ser mulher e o que é ser homem sempre foi de difícil
solução. Porém, para Júlia Lopes, a vestimenta própria de cada sexo também deveria ser
mantida, para que a igualdade intelectual fosse destacada. Imitar o homem era concordar com
a ideia de que está apenas nele a capacidade de construir intelectualmente a sociedade, e isso
chamaria a atenção para o comportamento e não para o pensamento crítico-social da mulher.
Para a autora, o corte de cabelo e a veste eram marcas dos sexos, e só se poderia
conceber qualquer tipo de mudança por muita necessidade, como no caso das exploradoras
40
florestais, que eram obrigadas a usar calças grossas com altas polainas. As escultoras e as
pintoras também poderiam usar calças para facilitar a subida e a descida de andaimes e
escadas. É interessante perceber como Júlia Lopes (ALMEIDA, 1906, p. 26) define as
marcas de gênero por meio da vestimenta:
Rosa Bonheur, conta-nos um seu biógrafo, surpreendida no atelier pela
notícia de que a imperatriz Eugênia entrava em sua casa para oferecer-lhe a
Legião de Honra, viu-se atrapalhada para enfiar à pressa os trajes do seu
sexo e poder receber respeitosamente a soberana. Só de portas adentro ela
abusava dessas entradas por seara alheia, para usar com liberdade de todos
os seus movimentos; mas desde que a artista era procurada por estranhos, ela
aparecia como mulher.
As palavras duras da autora acerca do comportamento transgressor das ativistas,
os exemplos positivos demonstrados e os aconselhamentos anuentes aos interesses patriarcais
levaram o cânone a indicar suas obras como de ―boa leitura‖, principalmente por trazerem a
público um tom moralizante na voz de uma mulher. Essa maior aceitação fazia seus textos,
inclusive os literários, circularem sem sofrer retaliação da crítica — composta exclusivamente
por homens —, aqui e em Portugal, onde Júlia Lopes também publicou.
Há um caráter didático nesses textos, que define o instinto materno como o ponto
central da vida da mulher. Ainda no Livro das donas e donzelas, a autora fez questão de
enfatizar a maternidade como uma função precípua e independente da classe social. No
capítulo intitulado ―A mulher brasileira‖ (talvez não tenha sido intencional, mas o próprio
título já demonstra o dado cultural da questão), foi categórica quanto ao que deveria ser o
único desejo de todas: ―Ricas ou pobres, as mães só têm uma aspiração: – aleitar, criar os
seus filhos!‖ (ALMEIDA, 1906, p. 37). Ora, tal afirmação possui um tom conceitual e
pedagógico, e vem de uma mulher que, por ser mãe, era considerada uma profunda
conhecedora do assunto, digna de ser ouvida/lida. No entanto, outras mulheres, sem projeção
igual à de ―dona Julia‖, não possuíam os mesmos meios para expor idéias que possivelmente
se chocariam com as da autora. Mesmo assim, na continuidade do seu pensamento a respeito
da amamentação, ela demonstra ter consciência de que o que dizia era parte da cultura do
país: ―Este exemplo [o do aleitamento] devia ser citado, porque, à proporção que essa virtude
se acentua entre nós, parece que nos países mais civilizados vai-se tornando escassa!‖
(ALMEIDA, 1906, p. 37).
41
Com esse tipo de pensamento, a obra de Júlia Lopes foi bem recepcionada pela
crítica, que destacou seu nome em jornais e revistas. O sucesso levou-a a alcançar espaço nos
periódicos do Rio de Janeiro e de São Paulo, lugares de circulação das principais ideias, onde
os grandes escritores se projetavam, divulgando suas obras entre os intelectuais. As mulheres
da sociedade também liam as publicações destinadas a orientar a sua função doméstica. A
revista feminina A luta moderna, por exemplo, foi uma publicação mensal voltada para
poesia, trabalhos de crochê, pintura, receitas culinárias e aconselhamento. Apesar do nome, o
periódico não possuía nenhum cunho feminista, nem contava somente com a colaboração de
mulheres – Olavo Bilac e Mário de Andrade, por exemplo, estavam entre seus redatores.
Além disso, Virgiliana de Souza Salles, diretora da revista, era bem conservadora. Em abril
de 1915, essa senhora ofereceu ao público um capítulo de Eles e Elas (1910), tecendo elogios
ao talento de ―dona Júlia‖, que, segundo ela, era uma exímia escritora, ―cujo estilo simples e
delicioso reflete toda a suavidade da alma feminina.‖ (1915, p. 17). A partir daí, vieram
muitos outros textos da autora.
Em fevereiro de 1916, a revista publicou várias cartas de Júlia Lopes dirigidas a
Ângela, supostamente uma afilhada da escritora, que estava angustiada com a criação dos
filhos. Mesmo reconhecendo tratar-se de uma citação extensa, é importante reproduzir aqui
trechos das correspondências para se compreender como o exercício materno era objeto de
muita preocupação, alvo de grande questionamento das mulheres, e também como contradizia
a natural aptidão feminina para a maternidade, tão apregoada por adeptos do pensamento
rousseauniano.
De Júlia Lopes para Ângela:
Ainda outra coisa te peço: não ouças a tagarelice de teus filhos com ouvido
distraído, dá-lhes importância, conversa com eles. Pensa que as crianças têm
melindres como a gente grande, gostam que lhes preste atenção quando
falam.
E nessas conversas íntimas e doces quantas coisas belas se sugerem e
se ensinam! As palavras maternas são sempre fascinadoras e tem uma ação
prodigiosa na formação do caráter e do espírito dos filhos pequeninos. Disse
J. Jacques Rousseau, um autor que não conheces mas cujo nome tens ouvido
citar, que a primeira educação, que é a mais importante da vida, pertence
incontestavelmente às mulheres, pois se o autor da natureza quisesse que ela
pertencesse aos homens, ter-lhes-ia dado a eles o leite para a nutrição das
criancinhas. (1916, p. 6)
42
A autora reproduziu a argumentação de Rousseau – já mencionada na introdução
deste trabalho – porque não teve como justificar a associação entre capacidade biológica e
ligação afetiva no trabalho de educar a criança, tarefa que Ângela tinha dificuldade para
desempenhar com êxito.
Logicamente, a publicação de cartas íntimas possuía o nítido
objetivo de atender tantas outras mulheres que tinham os mesmos questionamentos e
angústias. Era necessário mostrar-lhes que o compromisso com a criação dos filhos fazia parte
de um projeto maior e muito importante de formação do país. Com esse intuito, em maio de
1916, outra carta de Júlia Lopes foi publicada:
É nas doces mãos das mamães como tu que está a prosperidade e a ventura
do Brasil de amanhã. Não te esqueças dessa tremenda responsabilidade e
insinua nos teus filhos todas as virtudes que os possam tornar bons cidadãos.
(...) Esforcemo-nos por não ser nem demasiadamente autoritários nem
demasiadamente ternos. (...) Capacitemo-nos de que a educação não é a arte
de ensinar as crianças a uma submissão cega; mas a arte de as tornar homens
livres e de saberem usar dignamente essa liberdade. (p.10-11)
Porém, tais respostas aos queixumes da afilhada não satisfaziam, já que não
produziam o efeito de apaziguar o espírito daquela que não se sentia imbuída da dita natureza
feminina que toda mulher deveria ter. No mês de julho de 1916, foi publicado um texto de
Ângela que demonstra uma angustiada reflexão sobre o assunto:
Ora, imagine que percorri hoje todas as livrarias à procura de livros
brasileiros sobre educação e voltei para casa... como saí. Que fazem os
nossos médicos, os nossos fisiologistas, os nossos educadores de coração
que não se lembram de instruir às jovens mães, suas patrícias, com noções
modernas da arte tão complicada de dirigir os filhos? (...) De dia para a
noite a nossa vida nacional muda de aspecto e de sentimento; não posso por
isso pensar em transmitir aos meus filhos a mesma educação (aliás,
deficientíssima) que recebi. Além da diferença do sexo, porque eu era uma
menina e eles são rapazes, há ainda a diferença de ambiente do lar dos meus
pais para o meu. (...) Com as mesmas idéias religiosas e os mesmos
preconceitos sociais, meu pai e minha mãe criaram em casa uma atmosfera
talvez um pouco pesada, mas tranqüila e sem oscilações de temperatura.
Contudo, quando olho para o passado, não me parece que minha mãe tenha
sido feliz. (...) Percebo que se submetia a muitas coisas por um exagero de
prudência em que reduzia a cinzas inertes iniciativas e vontades
perfeitamente legítimas, sem que o sacrifício a que submetia a sua opinião e
a sua vontade lhe tivesse dado nenhum proveito nem a ela nem talvez
mesmo a nós. O que somos devemos sê-lo francamente. O constrangimento
de alguém cria sempre ao redor de si um halo de dúvida e de tristeza... (...)
43
Por menos atilada que seja a minha inteligência, pressinto que a educação
física e moral de cada povo devem estar de acordo com as tendências
naturais da sua raça e com as condições do clima de seu respectivo país. O
que se combate em uns não será talvez preciso acoroçoar em outros, se não
em absoluto, pelo menos até certo ponto? Entre tantos brasileiros ilustres e
cientistas, será crível que nenhum se sentisse atraído por esse problema,
escrevendo em linguagem de fácil penetração um livro para uso das mamãs,
suas patrícias? Só uma pessoa conhecedora do nosso modo de ser e das
nossas necessidades poderia fazer um trabalho verdadeiramente aproveitável
nesse sentido. (...) Suponho que em outros países mais calmos, mais frios,
tradicionalmente disciplinados, a imaginação das crianças se subordine sem
íntimos protestos a todas as imposições que se lhes façam; mas no nosso, os
meios de aperfeiçoamento parece-me deverem ser usados de um modo
diverso. (...) Uma idéia: por que não escreverá a minha querida amiga esse
livro? Ninguém lhe porá mais coração.
Faça-o e dê-lhe o título de:
M A T E R N I D A D E!
Com todo afeto, um beijo da
sua
Ângela (p. 11)
Nesse texto de Ângela, fica clara a observação de que ela não sentia a inerência da
maternidade em si, mas a via como parte de uma árdua aprendizagem que, inclusive, sofria
influência da cronologia e, por isso, não podia ser apreendida através da experiência da
geração anterior. A ânsia por manuais e a constatação da infelicidade dessa mulher apontam
para um questionamento do dom materno como algo natural.
Júlia Lopes de Almeida, provavelmente atendendo ao pedido expresso na carta de
Ângela, publicou um texto sobre o tema, primeiramente em jornal e, um ano depois, em livro.
A recepção de Maternidade foi prestigiada pelo Jornal do Commercio, que publicou a obra
em capítulos a partir do dia 19 de agosto de 1924:
Iniciamos hoje a publicação de uma obra da insigne escritora Sra. D. Julia
Lopes de Almeida, a quem já tanto devem, no romance, no teatro, na crônica
de jornal e no livro didático, as letras brasileiras. Como é sabido, a Sra. D.
Julia Lopes de Almeida tem, nos últimos anos, entremeado os volumes de
pura ficção como a Isca – série magnífica de novelas onde a sua imaginação
e o seu engenho de narradora se tornaram igualmente admiráveis – com
obras de tendência educativa, cuja alta utilidade não pode ser posta em
dúvida. A esta preciosa categoria pertence o Correio da roça, a Árvore, o
Jardim florido, livros cheios de talento e de sentimento, em cujas páginas se
contêm as lições mais generosas de amor à terra e ao lar. É uma cruzada de
peregrina beleza a que a Sra. D. Julia Lopes de Almeida empreendeu, com a
sua vasta e profunda cultura, o seu esmero de artista e os dotes de um
coração que, tão ditosamente repartido por seu esposo e seus filhos, tem
44
sempre mananciais de ternura a distribuir por outra família estremecida: a
Família Brasileira. A esse luminoso apostolado de inteligência e afeto
pertence a obra Maternidade, que hoje começamos a publicar. (Texto de
posfácio).
Como diz a citação, é uma obra cuja finalidade é ensinar e que, por contribuir para
o estabelecimento da função materna, merece tantas loas. Humberto de Campos, em O
Imparcial de 23 de agosto de 1924, também faz referência à publicação. Tecendo igualmente
muitos elogios, ele observa que a mulher-mãe quer ver seu trabalho materno reconhecido na
visibilidade social do filho. Escreve Campos:
D. Julia Lopes de Almeida está publicando, atualmente, na imprensa carioca,
um formoso estudo intitulado ―Maternidade‖ e em que se bate, com as armas
severas da lógica, pela reabilitação da mulher, na sociedade e no mundo.
São formosas colunas de crítica vigorosa aos erros, às omissões e aos
preconceitos contemporâneos e antigos, com o propósito único de cercar as
mulheres, no lar ou na vida intensa, de uma atmosfera mais densa de
respeito.
O capítulo publicado ontem é, por exemplo, um grito amargo, e ainda
oportuno, contra a injustiça da História. Alude ele à ingratidão dos homens
de gênio, que esquecem, breve, o que esse mesmo gênio deve à criatura que
os gerou. (p. 11-12).
Quando os capítulos do periódico foram publicados em livro, a autora utilizou as
observações dos jornalistas como uma espécie de posfácio, já que representavam a chancela
do cânone vigente, o que significava o carimbo de ―altamente recomendável‖, o passaporte
para o sucesso da publicação.
E não poderia ser diferente, pois a obra em questão se refere às mulheres como
―as piedosas‖ que se desdobravam para serem as pacificadoras de um mundo em constante
guerra. Mas também demonstra que, na época, o questionamento do ―instinto materno‖ ou do
tão propagado extremo ―amor de mãe‖ estava se intensificando: ―Que voz é esta que me está
perguntando se todas as mães pensam do mesmo modo? Seria isso possível?‖ (ALMEIDA,
1925, p. 87). A uniformização do comportamento da mulher era a grande questão, pois a
condição de ser humano, de indivíduo que se distingue dos demais em seus desejos, não era
levada em consideração. O ponto que suscitava a discussão estava na palavra ―todas‖, e,
categoricamente, a autora apelou para uma justificativa psicológica que desqualificava a
mulher que pensasse de modo diferente ou manifestasse publicamente sua incapacidade para
o exercício da prática altruísta da maternidade: ―Tudo se deve perdoar aos infelizes. A essas,
45
se as tivessem antes, de algum modo, educado e esclarecido, nenhuma executaria jamais o
gesto alucinado de abandonar seu filho, e as criminosas, que ainda vão mais longe, só uma
cousa as justifica: – a loucura.‖ (ALMEIDA, 1925, p. 88).
Dentre tantas inovações científicas e culturais, o século XIX é marcado, também,
pelo surgimento da psiquiatria brasileira, e a mulher – definida como uma incógnita, passível
de reações imprevisíveis – foi alvo da mais intensa observação. Ela era considerada um ser
capaz de ter atitudes estranhas e mais predisposto à doença mental, devido à sua natureza
cíclica. Então, sendo ―lugar de ambiguidades e espaço por excelência da loucura, o corpo e a
sexualidade femininos inspiravam grande temor aos médicos e aos alienistas, constituindo-se
em alvo prioritário das intervenções normalizadoras da medicina e da psiquiatria‖ (ENGEL,
2009, p. 333). No entanto, para a medicina da época, a maternidade era o meio de cura de
qualquer desvio mental e, ―para a mulher que não quisesse ou não pudesse realizá-la — aos
olhos do médico, um ser físico, moral ou psiquicamente incapaz —, não haveria salvação e
ela acabaria, cedo ou tarde, afogada nas águas turvas da insanidade.‖ (Ibidem, p. 338).
Júlia Lopes de Almeida reproduz o pensamento dominante da época, já que
transgredir a ordem é um ―risco nada popular e nada simpático, como permanecer à margem
da estrada larga, é viver recolhido em si mesmo, à moda do eremita.‖ (JUNG, 1981, p. 180).
Assim, é definitivamente mais fácil compreender porque dona Julia define como doente
mental a mulher que não se mostra satisfeita por criar os filhos. Para o humano comum,
―sempre se afigurou coisa estranha que alguém preferisse seguir uma trilha estreita e íngreme,
que leva ao desconhecido, em lugar de seguir pelos caminhos planejados que conduzem a
metas conhecidas.‖ (JUNG, 1981, p. 180).
Reafirmando essa possibilidade de ―doença‖, Julia Lopes foi categórica com a
ideia de que toda mulher desenvolve um amor extremo pela descendência, antes mesmo de
concebê-la.
Se o amor aumenta com a convivência dos filhos, ele já existia em gérmen
inda antes da sua anunciação. O amor materno vive nas próprias virgens
pela inconsciente aspiração de perpetuidade, em que toda a natureza se
glorifica. Há casos, porém, em que, por circunstâncias especialmente
dolorosas, ou por enfermidade ou originalidade de temperamento, esse amor
não desabrocha com a mesma antecipação, mas só depois do nascimento do
filho, conforme o amor paterno, de muito mais lenta evolução porque talvez
não seja formado pelo instinto, como o da mãe. (ALMEIDA, 1925, p. 89)
46
Esse amor materno evocado pela autora, que estaria presente até nas virgens,
equivale à fome, às necessidades fisiológicas que se podem controlar ou adiar, mas não
eliminar por completo. É o instinto algo natural que independe da cultura, pois pertence a
toda espécie humana e não precisa ser ensinado. Sendo a maternidade instintiva, não há a
necessidade de regras para se exercer a função, e, conforme vemos em Livro das Noivas
(1886), há uma espécie de ritual ou mesmo de sacrifício na maternidade. Mas é fato que o(a)
filho(a) é o único meio que a mulher tem de obter alguma importância social e a autora, nos
diversos textos que publicou sobre o tema, parecia querer contribuir para conformar suas
parceiras a esse sistema. Por isso, usou um tom enfático em Maternidade (1925, p. 107-108),
buscando naturalizar a relação da mulher com a criança ao declarar que:
Em todos os animais o instinto do amor materno produz heroísmos, mas em
nenhum ele se anuncia como na mulher com tanta antecedência. Mal
começa a falar, a abrir os olhos com inteligência para a observação das
coisas e já a menina acalenta nos braços a sua boneca, aconchegando-a ao
peito, como para a aleitar.
Às vezes, quando se é pobrezinha, à falta de boneca, qualquer botija
ou travesseirinho pode servir para as funções representativas de um bebê...
A realidade é nesse caso a ficção. Toda a beleza está na espiritualidade do
amor.
Em outro trecho, a autora eternizou a relação entre mãe e filho:
Nos outros animais este instinto deixa de merecer a classificação de – amor
– desde que as mães vêem os filhos criados e independentes. As relações
que passam a existir entre elas e as suas próprias criaturas são desde então
como as dos indivíduos estranhos entre si, quer pelo sangue quer pela
consciência. No espaço livre ou nas furnas do deserto, a mãe ave, ou a mãe
fera, não reconhecerá depois de algum tempo de separação em outra ave ou
em outra fera o filho pelo qual se sacrificou antes. Só para a mulher o filho
é, desde a hora dos seus primeiros vagidos até ao do último suspiro, motivo
do mesmo cuidado e da mesma crescente preocupação. (...) Pode ele tornarse grande, célebre, respeitado pelas multidões ou temido pelo mundo, ela
sentirá sempre dentro do peito a necessidade de o proteger, de o defender, de
olhar por ele com a mesma ternura do tempo em que pequenino ele se lhe
pendurava das saias pedindo-lhe o agasalho do seio. Não há filhos grandes,
nem há mães pequeninas. O amor materno olha sempre de cima para as
árvores e para as pedras do Planeta. (1925, p. 110 – 111)
Porém, não era em qualquer circunstância que a função materna era valorizada,
mas, socialmente, era preciso que a mulher casada sempre se mostrasse satisfeita em relação à
47
maternidade, mesmo que fosse preciso ser treinada para a aceitação passiva do encargo com a
criança. Isso não ocorria com facilidade devido ao fato de a persona — originalmente
designativo de uma máscara utilizada pelo ator, indicando o papel que ele iria desempenhar
— pertencer a um complexo sistema de vínculo entre a consciência individual e a sociedade.
É um disfarce que protege e, quando perfeitamente encaixado, faz o indivíduo atender às
expectativas do meio e descartar ―naturalmente‖ os próprios desejos. Para adquirir essa
naturalidade, era necessário um treinamento. Assim ocorria com a maternidade em relação à
menina, que crescia percebendo que, quando adulta, haveria de dedicar-se totalmente ao(s)
filho(s), sendo treinada para essa função desde cedo, através das brincadeiras de casinha e
boneca.
No entanto, em Maternidade (1925, p. 156-157), apesar de enfatizar a importância
do papel da mãe na criação do filho, Júlia Lopes também tece um discurso a respeito dos
desdobramentos sociais da mulher que, no período da guerra, prestou serviços voltados para
as ciências, indústria e comércio. Diz a autora:
Muitas que desconheciam ainda as suas próprias aptidões, porque nenhum
acidente da vida as tinha posto em evidência, tiveram com a guerra a
revelação da sua capacidade. Chamadas pela urgência do momento a
substituírem os homens em trabalhos até então alheios à sua interferência,
acudiram sem hesitação às determinações que lhes eram impostas. Nem só a
necessidade de manterem o lar, sem chefe; nem só o sentimento egoístico de
preencherem o lugar do marido ausente para o conservarem até à sua
problemática volta, as decidiram a aceitar encargos para que não estavam
preparadas. Outra razão as impeliu: a de consagrarem o seu esforço à pátria
e aos que pela pátria morriam, mas consagrarem-no sem retórica, nem cenas
sentimentais, só com um trabalho nunca esmorecido. Bem atilados andaram
os povos beligerantes procurando utilizar-se a tempo da inteligência
feminina, até então ignorada.
Na produção literária, Julia Lopes demonstrou acreditar nisso também, pondo em
xeque, algumas vezes, um possível instinto materno ou extremo amor materno. Mas fica ao
leitor da obra ficcional a percepção de que fugir às inscrições sociais ou tirar a máscara pode
trazer uma espécie de punição até mesmo sobrenatural, divina. Por via das dúvidas, é melhor
ficar com o estabelecido e mais conveniente não arriscar por meio de atos de rebeldia.
Todas essas considerações acerca do pensamento não-ficcional de Júlia Lopes de
Almeida, embora exaustivas, são importantes para este trabalho, na medida em que, já nesse
tipo de escrita, a autora reconhece opções femininas que fogem ao eixo instinto
48
maternal/amor de mãe, recorrendo a Rousseau e aos estudos da psiquiatria que justificam a
ausência do talento para a função materna como um possível traço de desvio psíquico da
mulher. Porém, é interessante notar que a linguagem usada nesses textos é imperativa no que
se refere ao fato de que a glória da mulher pelas vias da maternidade vem, em geral, pela
criação de meninos.
Portanto, há uma coerência intrínseca entre esse pensamento e a
representação literária do relacionamento entre mãe e filha em A viúva Simões6, em que a
satisfação pela experiência da maternidade aponta, concomitantemente, o quanto a criação da
filha pode reverter-se em profundas preocupações e aborrecimentos.
Na verdade, A viúva Simões é um exemplo do que não deve ser o comportamento
de mãe, dentro da concepção ideológica sociopatriarcal da época.
Conforme se pode
depreender do comentário sobre ―dona Julia‖ feito por João do Rio (1904), essa narrativa
sofreu influências do escritor francês Guy de Maupassant e, segundo a própria Júlia Lopes, ―é
a história de uma senhora conhecida‖ (VS, p. 28). Mas, se a autora buscou ser fiel ao que
apregoou em seus livros não-ficcionais sobre a maternidade, também desconstruiu a ideia de
que a passividade da mulher é algo natural, indiretamente questionando o cerceamento
oriundo das convenções matrimoniais. A vida sob a invisibilidade física e sob o sufocamento
dos desejos individuais é uma exigência da sociedade para a protagonista, que deve atuar
como um modelo exemplar para a filha.
No todo, a obra revela-se um retrato histórico da composição do meio social
burguês da época. A autora se ocupou em descrever, por exemplo, a diversidade de povos e
culturas que ocorre após a libertação dos escravos, com o incentivo à vinda dos europeus para
miscigenar a raça brasileira, tida como inferior. Assim, entre os empregados da casa da viúva,
há uma cozinheira africana (ex-escrava), um copeiro francês, um jardineiro português, uma
lavadeira alemã e, completando o quadro, uma adolescente mestiça que foi criada na casa.
A narrativa apresenta os anseios de projeção social por parte da protagonista, que
opta por se casar com um homem que sustenta um título importante, o Comendador Simões.
Como diz Simone de Beauvoir (1980, p. 167, v. 2), o casamento, para a mulher, era seu
emprego e a única forma justificação de sua existência na sociedade. Por isso, foram-lhe
impostos múltiplos atributos: ―ela deve dar filhos à comunidade (...) o Estado a coloca
diretamente sob a tutela e só lhe pede que seja mãe. (...) que ela fique sob a proteção de um
6
Doravante, após a citação dessa obra, será usada a sigla VS, seguida do número da página.
49
marido; ela tem também por função satisfazer as necessidades sexuais de um homem e tomar
conta do lar‖.
O século XIX foi marcado pelo processo de urbanização, principalmente pelo
início da modernização dos centros econômicos do Rio de Janeiro e São Paulo. Devido a
isso, nesses estados surgiam os cafés, teatros, bailes, aos quais a mulher só podia frequentar
com o pai ou o irmão, e, após uma certa faixa etária, de preferência com o marido. Nesse
espaço de trânsito liberalista, a elite burguesa organiza a vivência doméstica a partir da
aparente solidez familiar. Para ser digna do louvor público, a família tem que fazer parte da
construção imagética de um lar acolhedor, com marido que tenha domínio sobre todos os
componentes da casa e uma esposa dedicada a satisfazê-lo, cuidando de tudo que pertence a
ele, incluindo ela mesma. Nesse período, não há nada de maior orgulho para a mulher do que
ser escolhida por um homem para tomar-lhe o nome, ser sustentada e ganhar um passaporte
para o convívio na sociedade. Esse tipo de interesse é representado por Júlia Lopes por meio
da viúva Simões. A personagem sabe que somente com um marido terá a consideração
social; e nem busca a realização romântica, mas a vantagem socioeconômica do casamento:
Em verdade, ele, o bom Simões, fora requestado pela moça! O plano fora
seu; queria casar, ser rica, vingar-se de Luciano, que a perseguia sempre nos
bailes, nos teatros, em toda a parte, e que afinal, sem uma explicação,
deixava-a para ir para França! (...) O comendador Simões tinha sido um bom
marido, carinhoso, cortês, sempre pronto a dar-lhe tudo quanto ela desejasse,
vestidos caros, casa ajardinada, mobílias modernas, vida farta, confortável e
doce. (VS, p.50-51).
A posição social da mulher adquirida a partir do casamento vem marcada já no
título do livro, indicando que, mesmo com a morte do homem, ela não perde a condição de
pertence dele. No início da narrativa, não se conhece o nome da personagem, que mais tarde
é apresentada como Ernestina; o que se impõe é o sobrenome da família do marido, como se
fosse preciso continuar a manter o voto de fidelidade. A personagem, consciente desse fato,
procura fugir às críticas e, para isso, abdica dos prazeres sociais e afetivos. No entanto, a casa
é um espaço ambíguo, pois, se a protege dos atrativos externos que ameaçam sua integridade
moral, também é um lugar de angústia:
Adquirira fama de menagère exemplar; e então levava o escrúpulo a um
ponto elevadíssimo, para não desmerecer nunca do conceito de boa dona de
casa. Levantava-se cedo; percorria o jardim, a horta, o pomar, o galinheiro;
censurava o hortelão pelo menor descuido; via bem até as mais
50
insignificantes ninharias: a grama precisava ser aparada... As roseiras
careciam de poda; por que não se enxertavam estes ou aqueles pés de fruta?
O homem respondia que já tinha deliberado aquilo mesmo, e ela passava
adiante, sempre com perguntas ou ordens. (...) No interior era um chuveiro
de recriminações. A cozinha tomava-lhe horas. Passava os dedos nas
panelas e nos ferros do fogão, a ver se estavam limpos; cheirava as
caçarolas; obrigava a Benedita a arear de novo tachos e grelhas, a lavar a
tábua dos bifes e o mármore das pias e da mesa. Se havia alguma torneira
pouco reluzente ou alguma nódoa no chão, detinha-se, exigindo que se
corrigisse a falta logo ali, à sua vista. E era assim por todos os
compartimentos, minuciosa, ativa, severa. (VS, p. 36).
O narrador onisciente faz um retrato da protagonista também a partir do seu
comportamento, deixando transparecer a irritação que as atividades domésticas, mesmo as de
comando dos empregados, provocam na viúva.
E porque essas ocupações a legitimam na
sociedade burguesa e lhe trazem prestígio, ela é descrita como uma dona de casa exemplar,
uma mulher zelosa, que torna o lar aprazível à sociedade, sendo também responsável por
proteger o patrimônio econômico e moral da família, se possível fazendo-o crescer. Percebese, no trecho acima transcrito, que a repetição de verbos no pretérito imperfeito marca o tom
enfadonho das atividades cotidianas.
A viúva busca seguir à risca as determinações sociais; porém, a narrativa deixa
transparecer que tal atitude configura um esforço; a análise psicológica da personagem leva o
leitor a perceber como o social é exterior ao indivíduo, que tenta cumprir as normas ditadas
pela sociedade por medo da rejeição. Isso remete, mais uma vez, ao que Jung define como
persona, a máscara social que protege o ser humano e que, pouco a pouco, camufla o
verdadeiro ser. Trata-se de um compromisso entre o indivíduo e as convenções sociais que
permite o acesso a certos valores consagrados, como nome, título e ocupação profissional. O
fato é que, mesmo que inconscientemente, o indivíduo deseja galgar uma posição superior na
sociedade, tornar-se objeto de admiração e referência. Assim, a viúva procura ajustar-se à
persona que lhe favorece, embora, às vezes, seu inconsciente denuncie a infelicidade que o
uso da máscara lhe traz:
Tinha de vez em quando as suas horas tristes, em que a inteligência se lhe
revoltava contra a monotonia daqueles meses que se desfolhavam iguais em
tudo, sempre iguais... (p. 36) (...) Estava num de seus momentos de
melancolia; almejava qualquer coisa que ela mesma não sabia definir. Era a
revolta surda contra a pacatez da sua vida sem emoções, contra aquele
propósito de enterrar a sua mocidade e a sua formosura longe dos gozos e
dos triunfos mundanos. (VS, p. 38).
51
É interessante notar que a capacidade intelectual da personagem faz com que ela
seja consciente dos limites que a vida doméstica lhe impõe e que tanto lhe incomodam;
paradoxalmente, porém, é ocupando-se com os serviços da casa – o que mais lhe resta? – que
ela tenta preencher a sua vida, sufocando seus sonhos e aspirações.
Muito tempo depois da publicação de A viúva Simões, Clarice Lispector,
no
conto ―Amor‖, da coletânea Laços de família (1960), deu à luz a personagem Ana, que em
muitos aspectos faz lembrar a protagonista de Júlia Lopes de Almeida. Quando fica
desocupada dos afazeres domésticos, Ana sente seu coração se encher da ―pior vontade de
viver‖ (p. 15), e é o marido que lhe segura a mão e a afasta do ―perigo de viver‖ (p. 18).
Viver, no caso, é entregar-se à realização dos desejos sem ser alvo da vigilância das
instituições. Porém, a cobrança é imediata, não uma cobrança como aquela que vimos na
obra de Balzac citada na introdução deste trabalho, em que a marquesa Julia d‘Aiglemont é
inquirida pelo padre, diante do qual deve confessar seus pecados; na narrativa de Clarice não
há marido, filha ou vigário que possam impedir a personagem de se deixar levar pelos
prazeres. Contudo, a cobrança interior é a sua maior condenação.
Na obra de Júlia Lopes, a situação é mais complexa, porque embora o Sr. Simões
só exista no retrato da parede, ainda amedronta a viúva, revelando a imagem de um ―marido
terrível e ameaçador‖ (VS, p. 50). Obter o título de esposa e mãe, portanto, não lhe foi tarefa
fácil, pois, sabendo-se subjugada pelo homem e vigiada pela sociedade, ela precisava
esforçar-se para manter a estima e a aprovação de todos, fazendo um exercício constante de
autopoliciamento, para evitar que sua família fosse alvo de execração pública. Além disso,
devia justificar perante a sociedade a escolha do marido, fazendo-o honrado por meio dos
elogios a ela dirigidos. Sobre essa postura da mulher, Rousseau (2004, p. 559) tece o seguinte
comentário:
Ora, como conseguirá ela tudo isto, se ignorar nossas instituições, se não
souber nada sobre nossos costumes, sobre as conveniências, se não conhecer
nada nem sobre a fonte dos juízos humanos, nem sobre as paixões que os
determinam? Uma vez que ela depende ao mesmo tempo da própria
consciência e das opiniões dos outros, é preciso que aprenda a comparar
essas duas regras, a conciliá-las e a só dar preferência à primeira quando as
duas estiverem em oposição.
52
Como ficou demonstrado na carta que escreveu à afilhada, Júlia Lopes de
Almeida conhecia tais orientações rousseaunianas para a mulher; daí construir uma
personagem consciente da necessidade de segui-las na sociedade patriarcal. Por isso, a
senhora Simões age de modo a evitar discussões acerca de sua reputação, o que se torna para
ela uma ―obsessão quase neurótica‖ (VS, 1999, p. 36).
Essa compulsão é mais uma
manifestação da persona, difícil de ser mantida quando a personagem demonstra não ter
conseguido vencer os desejos íntimos que vão de encontro aos coletivos. Se Ernestina forja
sua persona através da figura da boa viúva que vive para os cuidados da casa e respeito à
memória do marido, o narrador sempre reforça que suas atitudes são extremamente calculadas
— ela sabe de sua responsabilidade em zelar pela filha — e apresenta ao leitor a vida
particular da personagem, deixando sobressair o peso da repressão e todo o processo racional
a que ela recorre no esforço de conter algum possível deslize.
Ela tinha uma filha, Sara, que era o seu conforto e a sua agonia. Por causa
dela renunciava aos divertimentos do mundo, exagerando as suas atribuições
caseiras. Tinha medo de apaixonar-se um dia, fugia do perigo de amar, de
trazer para casa, para o gozo do seu corpo e da sua alma, um padrasto para a
filha, um estranho com quem tivesse de repartir os seus cuidados e as suas
riquezas. (...) O seu temperamento, aparentemente frio, dava-lhe por vezes,
momentaneamente, um ar de rija autoridade, muito em contradição com o
seu tipo moreno, de brasileira. No trato comum era calma, e tinha sempre o
cuidado de não trair as suas horas de desfalecimento, em que lhe passavam
pela mente desejos e idílios irrealizáveis... (VS, p. 37)
Os vocábulos ―conforto‖ e ―agonia‖ traduzem o significado de Sara na vida da
viúva. O primeiro remete-nos ao fato de ela estar enquadrada naquilo que se espera da
mulher: casou e teve uma filha, não se transformou, portanto, em um entojo social. Já o
segundo, mostra a ansiedade que a menina traz para a mãe, pois todos os cuidados de
contenção precisam ser tomados por causa dela, que está formando conceitos sólidos a
respeito da sua participação na engrenagem social. A viúva Simões se esforça, então, para
manter a aparência de uma pessoa equilibrada, que serve de exemplo para a menina. Descrita
pelo narrador como uma morena bonita, de meia idade, que não possui o ânimo da mocidade
e nem as friezas da velhice, a viúva poderia reiniciar uma nova vida afetiva, mas tem ―medo
de comprometer a felicidade da filha‖ (VS, p. 38), ou seja, medo de prejudicar a menina com
alguma leviandade.
53
Mas essa responsabilidade de servir de modelo na função de mãe vai revelandose como um peso ao longo da narrativa, desmascarando o fato de que a função biológica da
maternidade esteja sempre coadunada a um extremo e incondicional amor ou a uma vontade
incontestável de cuidar da criança. Júlia Lopes de Almeida deixa bem demarcada a função
biológica e a função educativa ao longo da obra.
A organização familiar burguesa é estabelecida no romance sobre três
fundamentos: o prestígio do marido, a subalternidade da mulher e a subordinação dos filhos.
Ao ser dado um lugar de destaque à mãe ou à função educadora, controlam-se os desejos de
mulher; são injetados meios de dominar aquilo que, na concepção da sociedade, corre o risco
de terminar em um perigoso extravasamento do feminino, ―a mulher deve acima de tudo ser
mãe, a fim de que o corpo social esteja em condições de resistir à tirania de um gozo feminino
capaz.‖ (ROUDINESCO, 2003, p. 38). Por isso, Sara é o principal freio da senhora Simões:
―Se não tivesse tido a filha, talvez que a própria comodidade em que vivia imersa a tivesse
feito procurar os gozos efêmeros da sociedade, mas a sua pequenina Sara prendia-a aos
deveres da casa, preocupando-a muito...‖ (VS, p. 51). Sendo assim, na falta física do marido,
é Sara que livra Ernestina do perigo de viver.
A vontade da viúva de sair da ―linha‖, assim como o motivo que a impede de
procurar os gozos efêmeros, vão sendo intensificados ao longo do texto. Isso faz com que nem
sempre ela consiga disfarçar seu abatimento e revolta contra uma vida pacata e sem emoções,
contra a imposição de sufocar a mocidade, a formosura, e manter-se distante das satisfações
existenciais que a vida fora de casa teria a lhe oferecer.
A ruína da personagem está
justamente em ter atitudes superficiais, pois sua persona vai oscilando, ainda que, em
princípio, a mudança seja apenas interna. Mas o início da perda do controle emocional
propriamente dito – e, portanto, da persona – se dá com a notícia da chegada de Luciano Dias,
o ex-noivo da juventude, publicada no jornal.
Vale assinalar que parece um contrassenso ver uma pessoa intelectualizada como
Júlia Lopes de Almeida inserir em sua narrativa a ideia de que a leitura é ameaçadora da
tranquilidade da vida doméstica da mulher — a personagem não teria conhecimento da
chegada do ex-noivo se não lesse o jornal. Contudo, esse é o estratagema utilizado pela
autora para desencadear em sua personagem toda uma mudança de vida , sinalizando a
entrada numa zona de perigo que não poderia ser ultrapassada sem grandes sofrimentos. E
assim, na segunda parte da trama, instala-se o conflito; transtornada pela notícia do retorno do
54
ex-noivo, após 19 anos, a viúva procura conscientizar-se de que a filha representa um limite
que a impede de dar vazão aos seus desejos latentes. Novamente a intervenção do narrador
deixa transparecer a frivolidade de que se reveste a fala interior da personagem:
A volta de Luciano Dias reavivava-lhe a imaginação. Desde a morte do
marido que procurava estiolar, ressequir o seu coração de moça, o seu
egoísmo maternal absorvia-a toda; não se daria a ninguém, não roubaria à
filha nem um dos seus afagos, nem um único dos seus pensamentos e dos
seus cuidados. Pela sua idolatrada Sara deixaria queimar o seu corpo, cegar
os seus olhos e despedaçar o seu coração. Perecesse tudo sobre a terra, se só
a custa desse aniquilamento pudesse o sorriso iluminar os lábios frescos da
filha! (VS, p. 44).
A estas horas ele teria meia dúzia de filhos, uma esposa estrangeira, um lar
calmo e feliz; ela tinha uma filha moça, a responsabilidade do seu nome e da
sua casa. Cada um que seguisse o seu rumo; olhar para trás seria, além de
ridículo, pueril e perigoso... (VS, p.45).
O caráter político da responsabilidade da mulher com o projeto traçado para o
espaço doméstico vem à tona através do pavor que a viúva tem de um julgamento público
negativo. O adjetivo ―perigoso‖ é usado como determinante de uma ameaça em pelo menos
mais duas passagens da obra.
Por isso, a crise psicológica da personagem diante da
possibilidade de um encontro com a antiga paixão é repassada ao leitor como um momento de
ponderação entre a vida passada e a presente, que devem direcionar para a senhora Simões o
melhor caminho a ser seguido, a fim de definir o seu futuro. Mas este projeto depende
primordialmente de sua coragem para enfrentar a tentação de abandonar a persona e deixarse dominar pelos desejos individuais.
Se as ações da personagem são aparentemente guiadas pela persona, as fantasias
com o ex-noivo vão tomando uma proporção que lhe tira o controle, levando-a a oscilar entre
a autocrítica, ou a tentativa de recuar, e a vontade de dar vazão a uma nova possibilidade de
vida. As recordações, abafadas por forças éticas, emergem e, ao serem trazidas à memória,
produzem o choque entre os desejos individuais e as aspirações morais da própria
personalidade, revelando que, desde a notícia da chegada do ex-amor, a máscara de mulher
bem comportada e modelo para a filha começa a cair. Segundo Jung, o desequilíbrio substitui
a consciência falha da persona porque o inconsciente individual sobrepuja a psique coletiva.
É o que se vê no romance em questão, onde fica exposto todo um desejo de vida fora do
55
sistema, passando os desejos íntimos, até então só desvelados pelo narrador, a integrar parte
dos atos e das palavras da personagem:
Luciano! Sim. Era ele quem se anunciava! Que vinha fazer à sua casa,
após dezenove anos de ausência e de completa indiferença? Que saudades
vinha revolver ou que idílios acordar? Ao mesmo tempo em que estes
pensamentos se atropelavam no seu espírito, ela, por um movimento em que
entrava tanto de coquetterie como de nervosismo, ergueu-se, apoiou a mão
no espaldar baixo de um fauteuil, impelindo com o pé, para o lado, a longa
cauda do seu vestido de viúva. Houve um silêncio; o coração bateu-lhe com
força. (VS, p. 46).
A mudança no comportamento da viúva, bem marcada no texto pelo narrador
onisciente, guia a leitura, tornando mais evidente quanto possível que o interior da
personagem, inicialmente traduzido pelo modo enlutado, vai ganhando vida com a presença
do homem de predileção. Mas uma outra questão é inserida: a que coloca em oposição as
expectativas de Luciano e de Ernestina em relação ao relacionamento. Enquanto a mulher
deixa o coração dominar-lhe os atos e a enredar rapidamente, o homem mantém uma postura
fria, buscando sempre uma análise imparcial da situação.
De forma significativa, o leitor só vem conhecer o nome da personagem com a
entrada de Luciano na história, assinalando o momento em que ela deixa de atender
exclusivamente às expectativas coletivas — sob o comportamento que se espera de qualquer
viúva burguesa — e passa a agir guiada por interesses individuais, quando os desejos internos
tomam o lugar das regras sociais. O narrador vai mostrando, aos poucos, que toda essa
transformação gera na personagem uma grande fragilidade emocional, que se contrapõe à
segurança demonstrada pelo ex-noivo sedutor:
Luciano aproximava-se dela, envolvendo-a com a sua voz quente e o seu
olhar macio e caricioso, ali mesmo, bem em frente às barbas fartas e ruivas
do comendador Simões. As suas palavras escorriam como o mel de um
favo. Ernestina, sempre de cabeça baixa, tinha o sorriso paralisado, sem
coragem de pôr um clique àquela ternura perigosa.
Ele ousava queixar-se de ter sido esquecido! A viúva não protestava.
Entretanto, lembrava-se bem! Nos primeiros meses de casada aborrecia o
marido e disfarçava mal esse sentimento. (VS, p. 52).
É certo que a personagem, inicialmente, ainda consegue pensar de forma lúcida,
refletindo sobre as causas do repentino desaparecimento de Luciano, no passado, e do seu
súbito retorno, tanto tempo depois. No entanto, se de início ainda consegue ponderar, aos
56
poucos vai sendo dominada por conteúdos inconscientes, que a levam a tomar atitudes
impensadas. É assim que, algum tempo depois, vê-se completamente envolvida pelo homem
amado, esquecendo-se da promessa de se sacrificar em prol da filha. Tal atitude pode ser
classificada pelo que Jung denomina de ―eclipse da consciência‖, um fenômeno que ocorre
quando a fantasia invade uma pessoa de modo tão automático que a leva a se esquecer de
coisas importantes – no caso, zelar pelo bem-estar social da filha. A paixão sobrepuja, assim,
a importância da menina, e o pensamento do homem a respeito da situação que envolve a vida
da viúva Simões ganha um lugar de destaque:
— Que tal achou minha filha?
Ele moveu a cabeça com um sorriso, estendeu, depois de alguma hesitação,
os beiços em bico, e não respondeu.
— Quer dizer que lhe desagradou...
— A senhora parece-me ser uma dessas mães excessivas a quem não
se pode dar uma opinião franca dos filhos?
— Engana-se, respondeu secamente a viúva.
— O melhor é não perguntar nada...
— Ao contrário, eu quero saber qual a sua impressão! Tenho
empenho nisso! (VS, p. 57-58).
Historicamente, a consideração social destinada ao homem não surgiu apenas por
conta da ordem de um sistema, mas também devido ao lugar de prestígio em que a mulher o
colocou. No campo das relações afetivas, era ele quem conduzia o relacionamento com
perspicácia — chegava e ia embora quando desejasse — e ela se submetia cegamente, para
não lhe perder os gestos de atenção que, nem sempre sinceros, eram a designação do amor.
Sob esses parâmetros, a viúva apaixonada do romance, meio imatura, chega a ser idiotizada,
na medida em que seus interesses se voltam para o foco de sua paixão, ao passo que o homem
é descrito como um aproveitador da ―fragilidade feminina‖. A protagonista perde o equilíbrio
demonstrado inicialmente diante da possibilidade de entregar-se ao prazer com aquele que
sempre esteve nos seus sonhos, e não tem condições críticas para perceber que o alvo de sua
paixão visa meramente vantagens econômicas, não se envolvendo emocionalmente na
relação. Na verdade, apenas a viúva busca reviver a juventude passada, um desejo que afeta
diretamente a filha, que passa a segundo plano na vida da mãe. Luciano Dias, um homem
diverso daquele com quem Ernestina se comprometeu pela aliança do casamento, não é
merecedor de sua entrega afetiva. E é aí que reside o tom moralizante da narrativa, porque
também aí está o perigo tão enfatizado no início da trama: os cuidados maternais deixados de
57
lado em prol dos desejos carnais não trazem nenhuma compensação. De forma pedagógica, o
romance sinaliza o risco que representa, para a mulher, deixar-se levar pelos prazeres do
mundo, tão temidos inicialmente pela viúva. Vejamos a passagem em que Luciano Dias sonda
a vida moral da senhora Simões, deixando claros os seus interesses comerciais nesse
relacionamento:
— Agora diga-me: acerca do comportamento de Ernestina nunca se
falou?
— Nunca ouvi nada! Gozou sempre de boa reputação. Isso a meu ver
não tem valor. Há mulheres tão sonsas!
— Que diabo! Nem um amante, hein?
— Nenhum, que me conste.
— Não sei... calcula-se nuns quatrocentos contos, talvez.
— Não é má soma... Pois se não fosse o demo da filha, quem sabe?
Talvez que realmente eu caísse na asneira de casar...
— Você não quis quando ela era moça, e então agora...
— Quando era moça era pobre... (VS, p. 65)
Deixar-se seduzir é um prejuízo para essa mulher compromissada, porque a leva a
estagnar o próprio desenvolvimento, além de ameaçar o patrimônio econômico da família. O
homem se controla emocionalmente, consegue esconder o objetivo econômico da relação e
usa os melhores recursos a fim de afastar o grande empecilho ao seu empreendimento: a filha
da viúva.
De acordo com Simone de Beauvoir (1980), possuir uma descendência é parte da
estratégia da mulher para consolidar o vínculo com o marido. Sendo assim, enquanto o Sr.
Simões era vivo, Sara era uma vantagem para Ernestina, que vivia o devotamento materno de
forma autêntica e verdadeira. No entanto, a partir do retorno de Luciano e do desagrado que
este demonstra em relação à menina, o compromisso materno começa a sofrer mudanças
significativas. ―O caráter de Ernestina ia-se transformando rapidamente. Depois da visita de
Luciano, ela passou uns dias muito sombria e ríspida, indignada consigo mesma contra as
idéias que lhe iam nascendo como rebentões novos em tronco maduro, diversas em tudo das
antigas‖ (VS, p. 75). A partir de então, várias passagens do texto evidenciam que as
convicções antigas da viúva Simões ―se despregavam como folhas secas.‖ (idem):
Ernestina, que fora sempre inflexível às solicitações da filha para saídas e
divertimentos, mudara completamente de parecer depois da visita de
Luciano. Agora, ela não sabia mesmo por que sentia necessidade de andar,
divertir-se, num ambiente diverso do seu. (VS, p. 79)
58
Falava em comprar carro, mudar mesmo de bairro, ir para Laranjeiras. Sara
estranhava aquilo, fazendo objeções. Concordava com a aquisição do carro,
mas opunha-se à troca de casa; aquela em que viviam estava cheia de
recordações do pai... (p. 82)
— Mamãe! Escolha; qual é mais bonito, este corte cinzento ou aquele
branco e preto?...
— O azul.
— O azul!
— Sim, o azul é o mais bonito, respondeu a mãe apressada, quase sem
olhar.
— E o luto?
Ernestina atrapalhou-se, já nem lhe ocorria o luto. (VS, p. 83)
O costume de usar luto é a forma de exteriorizar a tristeza interna pela morte de
um ente querido. É também um sinal do respeito que a pessoa enlutada nutre por quem já não
tem a existência física, mas é digno de ser perpetuado na memória. Ao lembrar o luto devido,
a menina parece despertar um pouco a consciência da mãe, apontando o quanto esta mudou
no que diz respeito aos cuidados com família. A viúva, ainda que inconscientemente, deixa
cair por terra o compromisso firmado com o Sr. Simões por meio da aliança do casamento. E
após tanto esforço para manter a persona e afirmar a maternidade como sua função precípua,
passa a ver a filha como um peso:
...não queria pensar nele nem amar ninguém. Aquilo era uma loucura que
havia de passar... Desejava somente vê-lo mais uma vez, só uma vez...
depois afastá-lo-ia da idéia. Ela não se pertencia, era da filha; tudo que
havia ali devia ser da filha... tinha sido ganho pelo pai, com esforço, por
amor dela... (...) Logo depois do jantar, Ernestina recolheu-se ao quarto,
muito fatigada e nervosa. Parecia-lhe um sonho tudo aquilo! Principiava a
considerar ignominioso todo o tempo que vivera ao lado do marido, na
pacatez burguesa e honesta do seu lar. Lembrando-se dos beijos que o
esposo lhe dera, esfregava com força os lábios e as faces, como se os
sentisse ainda e os quisesse arrancar da pele. Chegou a lamentar o
nascimento da filha, mas desse sentimento arrependeu-se depressa; adorava
Sara, e queria-a sempre bem pertinho de si, conquanto desse razão a
Luciano; afinal, o ciúme dele lisonjeava-a... Se a Luciano aborrecia Sara era
porque a amava, a ela, e a pequena era a recordação viva e inextinguível do
pai... (VS, p. 90-91).
Novamente, Júlia Lopes de Almeida nos remete à ligação entre o abandono das
normas e a loucura. É interessante, então, observar, que a psiquiatria, como já foi dito, em seu
surgimento na segunda metade do século XIX, esteve associada à política de controle social, e
a principal ordem a ser controlada relacionava-se diretamente à sexualidade da mulher.
59
Assim, a fim de reconhecer ou negar o desejo ou o prazer femininos, ―os alienistas
estabeleciam uma íntima associação entre as perturbações psíquicas e os distúrbios da
sexualidade em quase todos os tipos de doença mental‖ (ENGEL, 2009, p. 342), incluindo a
histeria, que era, segundo os médicos, uma doença essencialmente feminina. No entanto, a
loucura ou a ideia de que alguém está louco ―é um conceito social. Usamos restrições e
convenções sociais a fim de reconhecermos desequilíbrios mentais‖ (JUNG, 2008, p; 51), ou
seja, definimos manifestações individuais que não entendemos com um rótulo que simbolize a
abstração.
Mas a intenção de Júlia Lopes de Almeida, em termos moralizantes, leva o leitor a
visualizar a mulher a caminho de uma patologia mental pelo fato de ela ter ultrapassado o
campo delimitado para ela. A ―pacatez‖ e a ―honestidade‖ fazem parte desse limite e, na
autocrítica empregada por Ernestina, apontam para uma necessária compreensão de que, se o
comportamento sob esses substantivos são insatisfatórios para a plenitude dela, não trazem
dissabores. A realização de desejos carnais, que se destina à prostituta ou amante, segundo o
texto latino Econômica, atribuído ao Pseudo-Aristoteles, tira a dignidade da ―mulher do lar‖;
por isso, ela deve ser prudente e acomodada. Como o registro em Foucault, esse discurso
latino também:
Recomenda ao homem de ‗só se aproximar de sua esposa com maneiras
honestas, muito comedimento e respeito‘ (cum honestate, et com multa
modestia et timore); ele deseja que o marido não seja ‗negligente nem
rigoroso‘ (nec neglegens nec severus): ‗tais sentimentos são aqueles que
caracterizam as relações entre uma cortesã e seu amante‘; com a própria
mulher, ao contrário, o bom marido deverá demonstrar atenção, mas também
comedimento, ao que a esposa responderá com pudor e delicadeza,
demonstrando ‗em partes iguais‘ afeição e temor. E ao acentuar o valor
dessa fidelidade o autor desse texto dá claramente a entender à mulher que
ela deverá ter, no que diz respeito às faltas de seu marido, uma atitude
relativamente acomodatícia. (FOUCAULT, 1985, p. 174-175)
Apesar de desejar oficializar a relação com Luciano, Ernestina quer ter uma vida
diferente com ele, permitindo-se deixar de lado a vida conservadora para satisfazer os desejos
que ficaram adormecidos com o marido. Mas como fazer isso se tem uma filha? Mesmo
sabendo das exigências de sua função, a relação com a filha vai deixando de ser a prioridade
da personagem quando o homem desejado começa a fazer exigências de exclusividade. A
mulher, que aprendeu durante toda sua vida a submeter-se à orientação do homem, fica
60
desestruturada no momento em que precisa tomar uma decisão difícil: atender às
responsabilidades maternas que a sociedade lhe cobra ou realizar-se em sua sexualidade, de
forma individual. Partindo do princípio de que se trata de duas questões alternativas e
incoadunáveis, Júlia Lopes opta por apresentar o resultado de uma opção equivocada para a
mulher:
Luciano aproximou para bem perto da dela a sua cadeira, tomou a mão da
viúva e beijou-a demoradamente na palma, nos dedos, nas unhas.
— Que mãos bonitas!... Como eu adoro estas mãozinhas!... Ernestina
sorriu; ele continuou a falar amorosamente, e pediu-lhe que tirasse o luto.
Queria vê-la de branco, como uma noiva, e de cores claras e cantantes.
— É preciso esperar...
— Dê-me esta prova de amor, tire o luto!...
— É cedo... tenho medo...
— Medo de quê? De que os outros reparem?!
— Medo de...
— De quem?!
— De minha filha... (VS, p. 101)
Na época em que Júlia Lopes publicou o romance, a mulher era vista como um
bem da sociedade, a qual, por mecanismos próprios de monitoramento, mormente através das
instituições, interferia diretamente no relacionamento entre os casais. No âmbito doméstico,
eventualmente, o prazer pessoal podia coincidir com a ―finalidade biológica do instinto: a
conservação da espécie.
Sendo esta finalidade de natureza coletiva, o relacionamento
psíquico dos esposos era também essencialmente coletivo, não podendo, portanto, ser
considerado relacionamento pessoal em sentido psicológico‖ (JUNG, 1981, p. 198). Como se
pode depreender, a vida conjugal com o Sr. Simões não trouxe uma vivência de prazer sexual
para dona Ernestina; por isso, livre da presença física do marido, ela poderia lançar-se a uma
nova experiência com o sexo oposto, em busca de satisfação; contudo, a filha representava um
entrave à nova oportunidade que, literalmente, batia à sua porta. Sara poderia copiar um
modelo errado, como ocorre com a personagem Moína, no romance A mulher de trinta anos,
de Balzac. Mas, ainda que correndo esse risco, terrível para sua reputação, a viúva Simões
não se furta a uma opção individual, ou seja, não põe em primeiro lugar os interesses
maternos nem dá a filha a devida consideração:
Nesse dia aliviou o luto.
Sara mostrou-se admirada e ofendida.
— Ainda não há um ano e mamã já usa branco?!
61
— O luto é uma tolice... creio que já dei uma satisfação à sociedade...
— De rigor é um ano.
— Não é na roupa que está o sentimento, é no coração.
— Eu sei... mas... gostava que mamã fizesse como as outras...
— As outras! Quem te ouvir falar assim há de pensar que não
lamentei a morte de teu pai?
— Não, minha mamãzinha. Deus me livre! Eu bem sei que mamã
tem muitas saudades... pudera! Se não fosse assim, a senhora seria ingrata!
Ernestina corou, mas Sara, muito ingênua, não deu por tal.
Principiou então uma vida toda diferente. (VS, p.105 -106)
Segundo Descartes, baseado no pensamento aristotélico, paixão é passividade
(pathos, paschein) e faz padecer, sendo provocada pela ação de alguém. Sendo assim, quem
padece está subordinado a quem age, pois o ser agente tem o poder de modificar, mudar; já o
paciente tem a sua transformação motivada por algo externo a si.
O ser passível fica
suscetível e, geralmente, não percebe a perda do domínio pessoal. A paixão é o sinal de
dependência constante do outro e, portanto, é virtuoso o ser que consegue dominá-la, pois
aprende a dosar o pathos. Isso quer dizer que virtuoso e racional são a mesma coisa. Na
narrativa de Júlia Lopes de Almeida, há a representação da mulher não-virtuosa conforme
essa visão tradicional.
C. G. Jung considerou que o término da puberdade psíquica da menina se dá aos
dezenove ou vinte anos, quando ela chega ao período mais intenso de desenvolvimento da
consciência. Até atingir o pensamento individual, o ser, na fase adolescente, presta maior
atenção nas pessoas que lhe sejam líderes nas instituições familiar, educativa e religiosa. Ao
receber o ensinamento de como deve agir, observa mais seus responsáveis e também cobra
que sigam o caminho que determinam como correto. Isso explica a reclamação da
personagem adolescente do romance, Sara, quanto ao comportamento da mãe, que está
desprezando o costume das mulheres da sociedade. Mas nem mesmo isso faz Ernestina
retroceder e recolocar a persona que lhe dá o reconhecimento de uma ―menagère exemplar‖.
A criação da menina não importa mais. As atitudes de Ernestina em consideração a Luciano
sobrepujam qualquer marca de amor materno, e a ligação entre mãe e filha vai esmaecendo
devido ao novo interesse da senhora. A viúva chega a não perceber a ofensa cometida contra
a filha, ao não devotar mais nenhum respeito à memória do Sr. Simões. Os atos de desprezo à
família são intensificados: primeiro ela retira o luto, depois convida o arqui-inimigo do
comendador para visitá-la e, por fim, retira o retrato do marido da sala:
62
...Um dia Ernestina conversava com ele muito satisfeita na sua sala,
esperando ouvi-lo falar de Luciano, quando Sara, ainda desprevenida, abriu a
porta e entrou. (...) A moça estacou no umbral, fixando atenta e admirada os
olhos na visita. O seu rosto, habitualmente rosado, tornou-se lívido, os
lábios tremeram-lhe, não encontrando palavras para a indignação que lhe
fervia no peito. (...) O Rosas, o grande inimigo de seu pai, ali, dentro daquela
casa, em doce tête-à-tête com sua mãe! O comendador Simões não o pudera
ver nunca sem desgosto e sem raiva, e o vil aproveitava-se agora que ele já
não vivia, para ir recostar-se nos seus estofos e pisar as suas alcatifas! (...)
Sara continuava chorando, enraivecida contra a mãe. Por que consentiria ela
em receber o Rosas?! Por que mudava de dia para dia o seu caráter? Por
que se ocupava agora tanto consigo, passando horas no seu quarto, sozinha,
fugindo da companhia dos outros e aparecendo depois toda cheirosa, fresca
como a flor apenas desabrochada? Que mistério seria esse que ia afastando
dela, evidentemente, todo o carinhoso e doce amor de Ernestina? Que falta
teria ela cometido? Por que se adivinhava tão só? (VS, p. 107-108 e 112).
A autora vai reiterando o perigo de a mulher não se dedicar passivamente ao seu
destino, e os indícios de loucura vão sendo reavivados.
A maternidade, inicialmente
considerada como paixão, transforma-se em obrigação e logo em peso insuportável, e é
natural àquele que sente a vida lhe sendo sugada por outra pessoa procurar, como forma de
defesa, livrar-se do problema. Assim, vai havendo um afastamento gradual entre Ernestina e
Sara. A viúva, que nunca havia se permitido distanciar-se da filha, leva-a para passar dias em
Friburgo e ―aproveita a sua ausência para varrer pela porta afora todas as recordações do
passado‖ (VS, p. 137). Com essa atitude, apaga totalmente a obsessiva preocupação anterior
com a constituição moral da filha e passa a dar mostras contundentes de que seu foco é o
prazer pessoal, e não mais a satisfação devida à sociedade. Indiretamente, a narrativa
denuncia o quanto a presença de um homem alheio ao seio familiar pode causar diversos
prejuízos à relação doméstica.
O retorno de Sara de Friburgo enseja o início do triângulo amoroso. A alegria da
jovem chama a atenção de Luciano Dias, que, ao invés da antipatia anterior, começa a sentir
certo encanto pela adolescente. Não é, porém, uma atração paternal, mas de homem para
mulher. Ardiloso, Luciano trabalha maquiavelicamente com mãe e filha para, de forma
egoísta, tirar proveito da fragilidade da família Simões. Fica evidente que a culpa de todo esse
processo recai sobre Ernestina, já que, em uma sociedade que desvaloriza a mulher, quanto
mais velha ela for, mais deve estar atenta e perceptiva. Contudo, a paixão deixa a mente
obtusa, o que favorece a astúcia do outro:
63
Era como se de repente o vácuo da sua casa solitária se tivesse tornado em
um corpo de mulher moça e contente, e lhe reclamasse tudo o que lhe
faltava... e parecia-lhe então que Sara fora momentaneamente a alma daquele
ninho que ele enfeitava, amava, e que encontrava sempre mudo, frio, morto,
incapaz de corresponder ao seu carinho!
E Ernestina? Parecera-lhe nesse dia um pouco avelhantada, medrosa de
expansão. E teve pena daquela alma de criança, fechada em um corpo já em
decadência... (VS, p. 143)
Na época em que a obra foi escrita, uma mulher de trinta e seis anos já era
considerada velha, contudo sem perder o poder de sedução, como diz Balzac. No entanto,
mesmo que Ernestina tenha beleza e ofereça vantagens econômicas, Sara tem, além disso, a
juventude de que o homem precisa para afirmar sua virilidade.
Luciano não consegue
esconder a preferência pela menina, de quem procura estar cada vez mais próximo. Com a
nascente intimidade entre os dois, a viúva vai percebendo a ameaça sofrida, e o tom da
narrativa se torna angustiante, já que não é mais o vínculo entre mãe e filha que está em jogo,
mas a rivalidade entre duas mulheres. Sara continua a ser um empecilho às pretensões
matrimoniais da mãe, mas agora por ter se tornado uma concorrente. Ernestina pensa, então,
em estratégias para afastar a filha de Luciano e interromper aquela incipiente atração.
Começa uma guerra (―Sara! Vamos ver qual de nós vence!‖, VS, p. 155), pois ela não abre
mão de Luciano em prol da adolescente, que não percebe que disputa com a própria mãe.
Luciano Dias quer as duas, pois se a viúva era ―a mulher de fogo que lhe queimava a carne, a
filha era a mulher de luz benéfica que lhe iluminava o futuro, e ele amava a ambas, a uma
com os sentidos, a outra com o coração‖ (p. 161). Assim, mesmo sendo mais velha, a viúva
ainda era sexualmente atrativa, um objeto erótico para o homem.
A experiência de vida anterior da viúva Simões, marcada pela frustração amorosa,
leva-a a lutar pelo objeto do seu desejo. Ela encontra-se numa fase em que, como diz Simone
de Beauvoir, a mulher está em plena maturidade erótica. É por volta dos 35 anos que a mulher
geralmente supera as inibições, os desejos afloram com mais violência e ela tem pressa em
satisfazê-los. Mas, na obra de Júlia Lopes, a idade da protagonista é mostrada de forma
negativa, por estar ligada à degradação do corpo. O texto reafirma a noção pela qual se, para
o homem, o envelhecimento é sinal de acúmulo de experiências, para a mulher representa um
prejuízo. Fica então compreendida a hierarquização dos seres — proposta por Platão e depois
explicada por Descartes —, da alma (eterna) em relação ao corpo (perecível). Segundo o
pensamento platônico, ―é sempre a alma que deseja. Mesmo o desejo-apetite pertence à
64
alma‖ (PESSANHA, 1993, p. 115). Se quem define é o homem (a alma) cabe aos corpos se
debaterem para ganhar o apreço dele e, para isso, vale tudo:
A rivalidade com a filha exacerbava isso. A mocidade de Sara era a sua
tortura. Invejava aqueles dezoito anos, aquela alma primaveril, aquele rosto
fresco e tranqüilo. Estremecida, com medo da velhice, da sua fatal e terrível
decadência que sentia já perto, muito perto! Suprimir Sara, pelo casamento,
era o seu sonho de ouro! Na sua imaginação doente surgiam idéias
extravagantes. Pensou em ir, ela mesma, procurar o Eugênio Ribas, ou
fazer-lhe constar, pelo Nunes, que daria um grande dote à filha... (...)
Enraivecia-se contra Luciano! Imaginava os mais estranhos e esquisitos
meios de prendê-lo a si. Já não importava tanto que ele amasse a outra,
contanto que se casasse com ela!... (VS, p. 164)
O espelho não nega a Ernestina a realidade da decadência física. Se tomarmos a
palavra ―espelho‖ como significado de conhecimento, compreenderemos, mais uma vez, que
Júlia Lopes se preocupou em criar uma personagem com traços críticos, racionais, que, para a
mulher, nem sempre é vantajoso.
Isso porque a baixa autoestima pode contaminar a
capacidade crítica da mulher, levando-se em consideração que a autoestima se define como
―qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra,
consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos‖ (HOUAISS, 2009, p. 224). Isso
ajuda a explicar por que a atitude e o juízo da mulher foram, por muito tempo, comandados
com segurança pelo homem, o detentor do saber, que, segundo os filósofos antigos, é incapaz
de ser corrompido pela emoção. A mulher que tentava se autoguiar tendia a desequilibrar-se,
como a viúva Simões, que vive o desespero de ver novamente lhe escapar o sonhado objeto de
satisfação. Soma-se a isso o vislumbre de uma finitude que lhe rouba a promessa de
realização sexual, o que deixa a protagonista psiquicamente transtornada.
Contudo, no duelo entre mãe filha, ambas perdem. Ao ouvir Sara confessar o
amor que sente por Luciano, Ernestina humilha-se, e apela para que a outra abandone a idéia
de ficar com ele. E então revela à filha, minuciosamente, o seu amor por Luciano, sufocado
por tantos anos, momento em que também vêm à tona todas as queixas e antipatias que ele
dirigiu à menina desde quando a conheceu. Essas revelações transformam o sentimento da
jovem em ódio pelos dois, levando-a a pensar que Ernestina não a amasse. ―Cuidou mesmo
que ela desejasse a sua morte...‖ (VS, p. 171). Tanta pressão psicológica leva Sara a uma
grande debilidade mental, e Ernestina, sem Luciano, é obrigada a dedicar-se à filha idiota – o
seu castigo por ter tentado transgredir o destino de viúva eterna do Sr. Simões. O elo entre
65
mãe e filha é forçosamente refeito. Do amor dedicado a Luciano e da rivalidade travada com
Sara o que resta é a culpa.
Fica nítida no discurso de Júlia Lopes de Almeida uma intenção pedagógica que
busca incutir na mulher a crença de que é mais prudente deixar de lado os elementos
incompatíveis com as regras culturais impostas e conformar-se com a nulidade de uma vida
pacata. As paixões são efêmeras e geralmente frustram e decepcionam as expectativas, além
de porem em risco a reputação social da mulher. Para Jung, a paixão ―não provém de uma
colisão com a lei moral geralmente aceita e de certo modo arbitrária, mas de um conflito com
o próprio si mesmo que, por razões de equilíbrio psíquico, exige que o déficit seja
compensado.‖ (JUNG, 1984, p. 120).
Sendo assim, é compreensível o projeto ideológico de Júlia Lopes quanto ao
destino final da viúva Simões, reconduzida ao posto de ―mulher de família‖, ―honesta‖ e ―mãe
exemplar‖. A lição transmitida é a de que a mulher não deve ser fraca, e que deve lutar com
todas as forças pela preservação do lar — respeitando inclusive a presença moral do marido
falecido. Infere-se que não vale a pena tentar alterar o status quo, porque, ―afinal de contas, é
sempre a força bruta que predomina em toda a natureza. Como diz o narrador, ―as flores
delicadas e franzinas que nascem para o perfume, como o coração da mulher para o amor,
caem e morrem se não lhes dão amparo doce e cuidadoso‖ (VS, p. 205). E somente o homem
que dá proteção e carinho merece ser considerado.
No entanto, ainda que de modo não intencional, Júlia Lopes de Almeida
introduziu, em A viúva Simões, uma contradição no que tange a toda uma elaboração
discursiva a respeito da maternidade, incluindo conceitos disseminados pela própria escritora.
O comportamento de Ernestina, desde o início da obra, desmitifica o amor da mulher em prol
da descendência como algo extremo e sublime, um amor socialmente reconhecido como
protetor e autosacrificante. A ficção apresenta Sara, inicialmente, como o resultado do desejo
de Ernestina de estabelecer-se socialmente, ganhar visibilidade, e também era algo que não
poderia ser evitado, já que os meios contraceptivos eram condenados, principalmente para
uma família com ascendência alemã e portuguesa, tradicionalmente conservadora.
O enredo do romance, visto em conjunto, situa a maternidade tanto no campo
social como no psicológico, demonstrando que a mulher pode até viver dominada
psicologicamente pela construção social que a vincula à criação dos filhos, mas que qualquer
paixão extrema pode levá-la a negligenciar essa função. O fato de, ao fim do romance, a
66
viúva viver para a filha doente mental é, como dito, um castigo. E, enquanto ela assume as
conseqüências de ter lutado pela pessoa errada, assiste a Luciano, o agente de seu infortúnio,
pegar o navio e retornar à Europa. Ou seja, a vida dele prossegue normalmente; a dela ficara
destruída.
67
4 A MÃE TRANSFORMANDO A FILHA EM MARIA DAS DORES
Rachel de Queiroz (1910-2003) foi uma verdadeira revolucionária, ao introduzir
em sua obra ficcional personagens decididas a seguir um destino que ia de encontro ao
tradicionalmente imposto às moças do seu tempo: casar, ter filhos, cuidar do marido e da casa.
Isso porque a própria autora também se insurgiu contra as tradições, revelando-se uma mulher
disposta a romper com as convenções e a transitar com liberdade no espaço público: além de
publicar obras literárias, foi jornalista e militante do partido comunista. Outra ruptura se deu
quando, por iniciativa própria, ela separou-se do marido, atitude até então inconcebível para
uma mulher.
A precocidade de Rachel de Queiroz no exercício de atividades de cunho
intelectual, então impróprias para a mulher, suscitou muita desconfiança da crítica oficial em
relação à sua produção literária. A declaração de Graciliano Ramos – sempre muito
comentada no rol de elogios recebidos pela escritora – de que ao ler O quinze (1930) teve a
impressão de que o texto foi escrito por um ―barbado‖ demonstra o quanto a obra foi
gramaticalmente bem escrita, não condizente com a instrução pífia que as moças recebiam.
Por sua vez, a temática abordada no romance, o conflito social provocado pela seca no
Nordeste, denunciou um verdadeiro contrassenso, já que a narrativa combate os valores
patriarcais da sociedade, o que era bastante grave, principalmente em se tratando da cultura
nordestina, visceralmente machista.
Com efeito, O quinze esmaece a figura masculina e destaca a projeção da mulher;
Conceição, a protagonista, estuda e trabalha; além disso, recusando-se a dar ouvidos à avó,
essa professora rejeita todos os seus pretendentes e opta por ficar solteira, o que revela uma
mulher de ideias revolucionárias. A problemática da seca e a questão da independência
feminina são abordadas lado a lado aqui pela primeira vez, e todos os escritos posteriores da
autora apresentam personagens que tendem a seguir o caminho aberto por Conceição, uma
mulher indomável que não sacrifica seus desejos pessoais em prol das normas sociais. Porém,
em 1930, comportamentos transgressores desse tipo não eram aceitos nos meios mais
tradicionais, que, fiéis aos princípios do patriarcado, não permitiam à mulher ter uma vida
independente.
Rachel de Queiroz aproveitou o ofício de jornalista, o mesmo exercido por Júlia
Lopes de Almeida, para produzir um texto diferente das escritoras contemporâneas, abdicando
68
da subjetividade e da linguagem açucarada, relacionadas ao que se convencionou chamar de
―literatura feminina‖. A própria escritora declarou, em entrevista a Cadernos de Literatura
Brasileira (2002, p. 26), que essa diferença não foi o fruto de um projeto intencional, mas o
resultado de exercer um ofício masculino:
O meu caso é diferente: talvez eu tenha uma linguagem masculina porque
venho do jornal. Quando eu comecei a escrever, a literatura brasileira ainda
se dividia entre o estilo açucarado das mocinhas e a literatura masculina.
Hoje o estilo de muitas escritoras brasileiras se impõe. Clarice, por exemplo.
Ela foi a maior de todas nós – e era absolutamente feminina.
A romancista se destacou, também, por ter publicado sua primeira obra aos 20
anos de idade, ambientando sua história, como dito, no território nordestino à época da seca.
Rachel foi a única mulher a representar ficcionalmente esse tema, que ocupou a obra de
muitos outros escritores, com destaque para Graciliano Ramos, que, três anos depois, em
1933, estreou com Caetés. Contudo, a obra mais conhecida do autor foi a antológica narrativa
de Vidas Secas, que só viria a lume oito anos após a publicação de O quinze, o que confere à
Rachel de Queiroz um inegável pioneirismo.
Mas, apesar de toda a força colocada em suas personagens femininas, a escritora
não aceitou ser considerada como um estandarte do feminismo; aliás, declarava-se contrária
às militantes, por achar o movimento mal orientado. Além disso, conforme a entrevista que
deu ao programa Roda Viva, em 1º de julho de 1991, Rachel de Queiroz declarou-se contra o
artista que coloca sua obra a favor de qualquer ideologia. Para ela, a arte devia ser uma fiel
testemunha de seu tempo e de seu povo, mas deixando cada interlocutor chegar às próprias
conclusões.
E é possível concluir, após a leitura de algumas obras da autora, que ela
ultrapassou o espaço destinado à mulher, transformando-se numa espécie de Maria Moura,
que não teme colocar ―fogo na casa‖. Isso porque os temas desenvolvidos para representar
seu tempo e seu povo são desbravadores.
Quanto à representação ficcional da relação mãe e filha, pode-se observá-la mais
diretamente em Dôra, Doralina (1975)7, obra que mereceu considerações positivas da crítica
e ganhou adaptação e direção de Perry Salles para o cinema, em 1981. Em Cadernos de
Literatura Brasileira, Wilson Martins (2002, p. 82) tece as seguintes considerações a respeito
desse romance:
7
Doravante, após a citação dessa obra, será usada a sigla DD, seguida do número da página.
69
(...) Enquanto isso, iam mudando os parâmetros das técnicas romanescas e
das ideologias literárias. Isso permitiu-lhe reencontrar, por inesperado, a
‗verdadeira‘ Rachel de Queiroz, precursora de uma visão feminista que se
antecipava por uns bons 30 anos a concepções posteriormente dogmáticas.
O resultado foi o soberbo Dôra, Doralina, que, segundo parece, desnorteou a
crítica e não foi reconhecido em sua justa medida como livro que se vinha
juntar a uma nova idade do romance brasileiro, acrescentando-lhe alguma
coisa. Era a idade marcada por Quarup, Os tambores de São Luiz, Gabriela,
cravo e canela, Tenda dos milagres, O tempo e o vento, Grande sertão:
veredas, para mencionar apenas os principais.
Em entrevista a Hermes Rodrigues Nerry — publicada no livro Presença de
Rachel: conversas informais com a escritora Rachel de Queiroz (2002, p. 111) —, ao ser
questionada sobre a inspiração que motivou o relacionamento entre Doralina e a mãe, Rachel
de Queiroz respondeu que as tiranias da casa nordestina geravam muitas barbaridades, como
fugas, homicídios e suicídios. Diz a escritora: ―Muitas de minhas amigas viviam dramas
assim. Tive sorte de crescer numa família mais aberta e descontraída. Mas o peso da
opressão era uma tônica em grande parte das famílias que conheci.‖ E, para evitar vincular
dados particulares à ficção, a autora deixou claro que ―o retrato de Dôra com sua mãe era, na
verdade, o espelho deste drama subjetivo que eu via em muitas casas.‖ Não há, portanto,
inspiração nessa ou naquela pessoa. Admitindo que em todo romance é necessário que haja
um conflito, Rachel define suas personagens como o resultado de uma mistura de influências.
Dôra, Doralina é uma obra memorialista e, como tal, é narrada de forma
retrospectiva, iniciando-se quando a protagonista-narradora retorna para a fazenda da qual
saiu brigada com a mãe.
Tendo trabalhado em prol do próprio sustento e adquirido
experiências que lhe incentivaram a voltar para casa depois das mortes da mãe e do segundo
marido, a narradora se propõe a fazer um processo de reconstrução de sua trajetória para
recompor, inclusive, o tempo passado na fazenda.
A narração do romance flagra Dôra
olhando para um tempo passado, o tempo do enunciado, expondo seus conflitos em relação à
figura materna e aos rumos que sua vida tomou em consequência disso. Ela tenta refazer o
percurso que vai da infância até a fase adulta, e, ao reviver os momentos que lhe ficaram
registrados na memória, faz uma descrição minuciosa até mesmo de elementos banais, como o
remédio ―Atroveran‖, o carro Strudebaker, a companhia de aviação Panair e o Jornal do
Brasil. No entanto, como as imagens mudam de minuto a minuto, é impossível a qualquer
pessoa reter na mente o ―desenho‖ real das coisas. E se é difícil reter o instante vivenciado
70
recentemente, mais difícil ainda é fazê-lo em relação ao passado remoto. O que fica é apenas
a impressão ou a percepção que ―ocupa sempre uma certa duração, e exige consequentemente
um esforço da memória, que prolonga, uns nos outros, uma pluralidade de momentos.
Mesmo a ‗subjetividade‘ das qualidades sensíveis (...) consiste sobretudo em uma espécie de
contração do real‖ (BERGSON, 1999, p. 31) realizada pela memória. E isso é tudo o que
Maria das Dores tem para narrar sua história.
Sob uma perspectiva homodiegética, é elaborado, então, um tipo de narrativa que
direciona o leitor a perceber as emoções, os sentimentos e as atitudes individuais das
personagens, exibindo-se flashes que capturam momentos particularmente marcantes da vida
de Doralina.
O romance está dividido em três livros que formam a trilogia de Maria das Dores /
Doralina e são assim intitulados: ―O Livro de Senhora‖, ―O Livro da Companhia‖ e ―O Livro
do Comandante‖. O primeiro livro está ambientado na fazenda onde a narradora vive até os
vinte e cinco anos de idade com a mãe, a quem chama de ―Senhora‖, como forma de marcar
um distanciamento. O segundo título embute um duplo sentido, pois se refere à companhia
teatral que Dôra integra, mas também pode ser uma referência à companhia que ela encontra
nessa equipe de trabalho. O terceiro livro é dedicado ao homem que, tendo sido Comandante
em um navio, passa a ter o comando da vida da protagonista.
No início do romance, a narradora está adulta e amadurecida refletindo sobre a
relação entre o significante e o significado do seu nome, Maria das Dores, que lhe foi dado
pela mãe. Ela passou boa parte da vida com ódio desse nome por acreditar tê-lo recebido
como representação viva de toda a dor existencial de sua progenitora.
Porém, após as
experiências fora da fazenda e quando a mãe já está morta, a personagem reavalia a questão e
conclui que o nome não exerce nenhuma influência sobre a pessoa que o recebe:
Mais de uma vez eu disse que se tivesse uma filha punha nela o nome de
Alegria. Mas não tive a filha; e também conheci no Rio uma senhora
chamada Alegria, Dona Alegria, vizinha numa casa de vila, no Catete. De
manhã bem cedo eu ia apanhar o pão — nesse tempo se apanhava o pão na
porta! — e ela apanhava o seu na mesma hora e eu lhe dava o meu bom-dia e
ela mal rosnava o bom-dia dela, azeda, chinela roída, cabelo muito crespo
em pé na testa — D. Alegria! Aí eu desisti do nome, embora ainda pensasse
na filha. (DD, p. 13).
71
O antropônimo pode ser o primeiro agente de desentendimento entre genitores e
descendentes, mesmo que, geralmente, os pais costumem dar aos filhos nomes com uma boa
significação, por acreditarem que pode trazer-lhes ―bons fluidos‖.
E isso porque o
designativo, além de individualizar os seres, costuma trazer embutida uma mensagem do que
se deseja para a pessoa, como, por exemplo, Letícia (alegria) ou Caio (feliz). Contudo, nem
sempre tais nomes agradam àqueles que os recebem. Logicamente, para a personagem em
estudo, ser chamada de ―Maria das Dores‖ torna-se um trauma, e o mais difícil para ela é
aceitar que esse trauma lhe tenha vindo da própria mãe. Principalmente porque, em sua
percepção infanto-juvenil, a mãe a trata com o mesmo sentimento de desprezo que tem pelos
empregados; e, pior do que isso, sempre escolhia propositalmente qualquer coisa que fosse
ruim para ela, inclusive o nome:
(...) A velha Maria Milagre, que vinha do tempo do cativeiro, chamava
Senhora de ―Sinhá‖. A mim ela também pegou a tratar de ‗Sinhazinha‘ e eu
ralhei que acabasse com aquilo, com medo que me pegasse o apelido:
Sinhazinha, imagine. Já me bastava o Dôra. Pois, nos meus quatorze anos,
o nome que eu queria ter era Isolda. Mas vai ver se jamais na vida Senhora
me botaria o nome de Isolda. Talvez meu pai, não sei, ele morreu tão cedo,
não deu para eu conhecer o que ele gostava ou não. Não deu para eu
conhecer nada. Mas eu era capaz de jurar — isso jurava mesmo — não tinha
sido meu pai quem escolhera para a filhinha dele aquele nome horrível de
Maria das Dores. (DD, p. 27).
(...) Estremeci, encarei a Senhora e falei com raiva:
— Não sei qual dos nomes que me chamam é mais horrível: Dôra ou
Maria das Dores. Se nome fosse sinal pregado na pele eu arrancava o meu
nem que fizesse sair sangue.
— Esse nome — esse nome — a senhora só botou em mim pra me
castigar. Maria DAS DORES! Como dizendo que eu sou as suas dores!
(DD, p. 29-30).
Os egípcios da Antiguidade criam que o antropônimo era bem mais do que um
mero signo de identificação, por julgarem que tinha força viva e dimensionava o indivíduo.
―Para o mundo celta, o nome está estreitamente ligado à função. (...) Em época remota, a
tradição céltica sempre implica uma equivalência real entre o nome da personagem e suas
funções teológicas ou sociais, ou ainda entre seu nome e seu aspecto ou comportamento.‖
(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1995, p. 641-642).
O nome próprio é um meio de fixar significação, e não é ―próprio‖ apenas por ser
patrimônio simbólico de quem o tem, mas ―porque lhe é apropriado. Duplamente apropriado:
72
marca de uma apropriação pelo outro, e escolhido segundo uma certa adequação àquele que é
nomeado, para exprimir aquilo que lhe é próprio enquanto indivíduo.‖ (MACHADO, 2003, p.
28). A personagem, em sua fase infantil, está imbuída das mesmas concepções e, por isso,
prefere ser chamada pela forma carinhosa adotada por seu falecido pai: ―Doralina, minha
flor!‖ (DD, 2004, p. 31).
A fragilidade da personagem fica evidenciada tanto por sua
preferência pelo apelido criado pelo pai como por sua opção pelo nome de ―Isolda‖, originário
do grego, ―a que proteja‖.
Essa questão do nome tem uma importância tão grande para ela que, mais tarde,
quando conhece o Comandante do navio J. J. Seabra, fica incomodada ao saber-lhe o nome e
o respectivo significado: ―Asmodeu‖, uma entidade maligna descrita no livro de Tobias como
a entidade dos prazeres impuros, também conhecida como ‗o diabo coxo‘ que levanta os
telhados das habitações para descobrir os segredos íntimos dos moradores. Por remeter a uma
imagem horrenda, o nome Asmodeu causa medo em Doralina. Contudo, se para a
protagonista o nome que a relaciona à dor é um xingamento, para o nominado, o fato de ter
um antropônimo considerado maldito não é tomado como uma ofensa:
Creio que sinceramente ele tinha orgulho daquele nome horrível. Gostava,
parece, de ser diferente, de provocar, devia ter puxado ao pai. Já eu, desde o
primeiro dia detestei o nome dele. Em anos e anos da nossa vida, nunca esse
nome saiu da minha boca, fora um dia, e jamais o botei no papel. Nas cartas,
endereçava para o ‗Comandante A. Lucas‘. Aos outros, quando falava nele,
eu dizia ‗O Comandante‘. E entre nós dois, eu não o chamava pelo nome,
chamava bem, meu amor, querido, criatura, homem, e diabo, seu diabo, nas
horas de raiva ou de paixão. (...) Muitas vezes, no escuro, quando ele, o
Asmodeu II, dormia e eu tinha insônia, de repente me dava um medo gelado
de que o outro, o Asmodeu I, levantasse o telhado e nos aparecesse,
procurando companhia. (DD, p. 234).
A questão do nome enquanto elemento representativo do ser perpassa também a
problemática relação de título que a narradora atribui à mãe. No período anterior à saída da
casa materna, a palavra mãe coadunava, para a protagonista, biologia e afeto pelos
descendentes. Por isso, ela destina à mãe o título de ―Senhora‖, por julgar que lhe define
melhor a rigidez.
— O meu mal foi ter gasto o dinheiro que gastei botando você em
colégio, pra só aprender essas besteiras.
Eu tive vontade de dizer: ‗O seu mal é um só: foi eu ter nascido; e,
depois de nascer, me criar.‘ Mas tive medo. Por esse tempo eu já tinha
73
deixado de chamar Senhora de ‗mamãe‘. Ainda não tomara coragem pra
dizer ‗Senhora‘ como nome próprio, na vista dela — dizia ‗a senhora‘, o que
era diferente. Mas de mãe não a chamava. Se ela percebeu, não sei. (DD,
2004, p. 26).
Assim como ocorre com a importância que dá à influência do nome, somente na
fase pós-amadurecimento, a protagonista do romance compreende a cisão entre os atributos
biológicos e afetivos e que a junção deles faz parte do inconsciente coletivo. Porém, na
infantilidade de Doralina, o pronome de tratamento ―senhora‖, forma consagrada de se
conferir respeito aos mais velhos, passa a nome próprio, ―Senhora‖, porque a genitora
representa à filha apenas uma autoridade destituída de sentimento afetivo. É uma mulher que,
após a morte do marido, fica responsável pela fazenda da família – assim como a viúva
Simões o faz com relação à casa –, exercendo seu poder de mando sobre os empregados. E,
para esse comando, é preciso revestir-se de atributos reconhecidos culturalmente como
masculinos, despindo-se de todo sentimentalismo que possa atrapalhar o seu governo.
Destaque-se que, em Memorial de Maria Moura, a protagonista também passa por essa
transformação; contudo, no caso de Dôra, Doralina, conforme a descrição da narradora, essa
transformação é apenas interna.
Senhora tem o respeito dos empregados, mas trata a filha como se fosse um deles,
não demonstrando nenhuma consideração ou cuidado com seus sentimentos; é como se a filha
sequer existisse, um descaso que é intensificado com o passar do tempo. Senhora se justifica:
―Peço que se lembrem de que eu não tenho quem chore por mim; sou uma viúva sozinha”
(DD, p. 39). A filha se ofende, pois sente-se inútil diante da mãe: ―E eu? Eu já estava com
vinte e dois anos, mas comigo ela não contava. Era a viúva sozinha!‖ (DD, p. 39).
Quando narra a infância de rejeição vivida junto à mãe, a personagem tenta
encontrar, no processo regressivo da memória, a causa que a levou a ser o alvo do desprezo
materno. Contudo, é impossível haver a isenção, necessária a esse processo de revisitação
para análise do passado, devido ao envolvimento, inclusive, com as impressões do tempo
presente: ―Sempre me tinha parecido desde pequena que eu tinha de brigar até pelas horas de
sono; sequer na mesa ela servia — cada um fizesse o seu prato. Eu menininha, ela sempre
mandou alguém me lavar, vestir, pentear minha tranças lisas. Mas mandava qualquer uma.‖
(DD, p. 47).
Cumpre registrar que, nas famílias tradicionalmente abastadas, não havia o
costume de as mães se ocuparem com os cuidados dos filhos, inclusive nas fazendas do
Nordeste, de origem escravocrata. Porém, as crianças tinham uma mucama ou babá fixa que
74
ficava à disposição para orientá-las na hora da higiene, alimentação e lazer. E esse já era um
sinal de cuidado ou de preocupação com o bem-estar da criança, o que não ocorre no caso de
Doralina, em que a mãe destinava ―qualquer pessoa‖ para cuidar dela.
A narrativa de Rachel de Queiroz, como se disse, é ambientada no sertão
nordestino, onde os casamentos eram providenciados pelas famílias dos noivos e, na maioria
das vezes, sem a anuência deles, principalmente da noiva. Numa época em que a virgindade
da moça era vista como um bem que integrava o acordo matrimonial, a família dela
incentivava a celeridade do casório, a fim de evitar um possível contato sexual antes da
assinatura do contrato de núpcias. Sendo assim, ―o marido nem sempre seria o rapaz mais
desejado, e sim o possível, num mercado matrimonial relativamente restrito (...) impunham à
mulher a condição de aceitar, com resignação, o par que lhe era mais do que sugerido —
praticamente imposto — pela família.‖ (FALCI, 2009, p. 258). Portanto, as filhas, como as
representadas por Sara e agora por Doralina, são consequências desse tipo de arranjo, o
produto de mães que procuraram legitimar-se sociamente pela maternidade, levando-se em
conta que ―uma mulher sem filhos é uma monstruosidade‖, como diz Balzac pela fala de
Louise, protagonista das Memórias de duas jovens esposas. (apud PERROT, 2009, p.137).
Rachel de Queiroz representa ficcionalmente esse tempo, em que as uniões
matrimoniais ocorriam por conveniências econômicas e os filhos eram patrimônio simbólico.
No entanto, a autora também tem por finalidade demonstrar como é custoso compreender
uma convenção social quando se está impregnado da ideia de que os relacionamentos
familiares são determinados pela natureza dos seres. Por isso, a infância narrada demonstra a
curiosidade de Doralina por desvendar essa mãe que lhe parece enigmática e nada próxima da
definição de mãe que introjetou. A relação é conturbada, e, mesmo sendo a única herdeira da
fazenda, a personagem não consegue sentir-se proprietária do patrimônio familiar: ―Eram
tudo as comadres de Senhora, as cunhas de Senhora, os cabras de Senhora. A casa de
Senhora, o gado de Senhora. Aliás, ninguém no geral da fazenda nem mais dizia Senhora —
só ‗a Dona‘. ‗A Dona quer‘, ‗a Dona mandou.‘‖ (DD, 2004, p. 47). O comando austero da
―Senhora‖ garante-lhe o respeito, em nível hierárquico, dos empregados, mas ativa na filha a
necessidade de se impor para que, diferenciando-se dos demais, seja reconhecida como dona
também. Isso ocorre na passagem em que Doralina assume, por conta própria, os cuidados
com um desconhecido que se acidentou:
75
Sim, eram férias, pleno dezembro e o sol tirava fogo das pedras; a gente não
sabia se era a força da luz que fazia tremer as figuras ao sol ou se era mesmo
o homem que estava cambaleando. Mas era ele, sim; porque de repente caiu
da face sobre o pescoço do jumento, largando de mão o cabresto. E então foi
escorregando devagarinho, chegando até o chão, onde se estendeu. (DD, p.
50).
(...)
E pois eu calmamente assumi a autoridade naquela hora, e disse para
Amador que era preciso botar o homem numa rede e tratar daquele ombro.
(DD, p.52).
(...)
(...) Claro que Senhora não gostou de saber que eu tinha tomado a ousadia de
acudir aquele passante sem nome e sem cara, botá-lo num quarto, tratá-lo —
e tudo sem ordem dela. E me interpelou quando eu vinha do quartinho do
paiol com as coisas da farmácia na mão:
— Você está dando coito a todo cigano extraviado que aparece, e nem
ao menos me pediu licença?
Passei por ela sem responder, como já ia ficando meu costume. (...) Durante
três semanas tratei do desconhecido. Antônio Amador, que o despira e
revistara por ordem de Senhora, não lhe encontrou nada no bolso das calças
senão uma nota suja de dinheiro miúdo e um molho de medalhas de
alumínio, todas com o Padre Cícero no verso e Nossa Senhora das Dores
(minha madrinha!) no reverso. (DD, p. 54).
(...)
Tive a briga com Senhora e garanti a tapera a Delmiro. (DD, p. 64).
Na ausência física do pai, esse homem desconhecido que surge de repente passa a
ser um defensor da narradora, que recebe dele a atenção que lhe é negada pela mãe. Na
verdade, ambos acabam estabelecendo uma relação de cuidados mútuos:
Aparecia, trazendo sempre algum presente que guardava para mim — um pé
de flor numa panelinha, um par de cabaças para eu nadar com elas no açude
(...); ou era uma gamelinha de emburana, do tamanho de uma tigela de louça,
fina (...) ‗que era para eu tomar a minha coalhada‘. (DD, p. 66).
O pai falecido de Doralina é representado dentro dos parâmetros sociais regidos
pelos ideais falocêntricos que permearam todas as sociedades patriarcais e que exigiram do
homem o efetivo governo do lar, a fim de auferir respeito familiar e social. Michelle Perrot
(2009, p. 110) considera que a morte paterna é causa de dissolução familiar por trazer, a um
só tempo, a fratura econômica e a emocional. Isso porque ―os poderes do pai também são
domésticos. Exercem-se nessa esfera, e seria um erro pensar que o âmbito privado pertence
integralmente às mulheres, ainda que o papel feminino efetivo no lar aumente de maneira
constante.‖ Assim, apesar de a morte do pai ocorrer quando Doralina ainda é criança, esta o
76
reverencia como a autoridade que merece ser respeitada sempre: ―De dia gostava de me
fechar na alcova, sozinha, e pensar no meu pai, ali como ele era no seu retrato da sala, com o
bigode retorcido, a gravata grande com um alfinete de coral rodeado de brilhantes miúdos‖
(DD, p. 20). É o retrato de um patriarca que, mesmo depois de morto, impõe sua presença
para a filha, já que, para a mãe de Doralina, o marido serviu para ajudá-la a cumprir o seu
―destino de mulher‖. Mas, na verdade, ela é a autoridade de si mesma: ―Um dia de surpresa,
Senhora deu aquele alfinete de gravata a Laurindo dizendo que era jóia de homem. Eu não
gostei, tinha sido de meu pai, por que ela não me entregou para eu dar? Mas não falei nada, já
tinha começado o tempo em que eu não falava mais nada‖ (DD, p. 20). O mesmo objeto tem
significados diversos para as duas: para a Senhora, o homem é um bem apenas enquanto tem
serventia, assim como o alfinete; contudo, para Doralina, o adorno guarda a proporção de
importância que a figura paterna representa para ela.
É significativo observar que nem mesmo a obrigação social de servir de modelo
para a filha gera algum vínculo entre Senhora e Maria das Dores. Senhora é bem menos
conservadora e, por isso, não vive segundo as normas. Doralina possui uma concepção
inicialmente rígida quanto aos destinos e comportamentos imutáveis, ou seja, para ela os
acontecimentos se dão sempre de uma mesma forma, independentemente das pessoas
envolvidas nas situações:
Eu pensava que casamento não tem jeito, uma vez a gente casando é igual à
morte, definitivo; ou não: eu pensava que casamento era como laço de
sangue, como pai e filho — a gente pode brigar, detestar, mas assim mesmo
está unido, ruim com ele, pior sem ele, o sangue é mais grosso que a água,
essas coisas. Com o nó do padre e do juiz eu teria ganho a minha vitória
para sempre e ela agora era meu assinado no papel. (DD, p. 77)
Conforme assinala Gilberto Freyre (2004, p. 249), o complexo sistema patriarcal
brasileiro teve sua ―base biológica superada pela configuração sociológica. Um sistema em
que a mulher, mais uma vez, tornou-se sociologicamente homem para efeitos de dirigir casa,
chefiar família, administrar fazenda‖. Essa substituição não importava ―em matriarcalismo
senão adjetivo — nunca substantivo — ou em valorização do sexo considerado frágil.‖
(FREYRE, 2004, p. 250). Senhora assume essa postura, e todos a sua volta a percebem como
homem, pois, ao se ver viúva e ter a oportunidade de tomar o lugar do homem — ou seja, ser
autoridade máxima da casa —, ela não titubeia em vangloriar-se de sua nova condição de
77
prestígio: ―Dizia muitas vezes com ar de queixa, mas eu sabia que era mostrando poder:
‗Mulher viúva é o homem da casa‘ — ou então — ‗mãe viúva é mãe e pai‘‖ (DD, p. 40).
Inclusive, Doralina, contraditoriamente, por muito tempo revela não ter conhecido outro
homem que não fosse sua mãe: ―Também como é que eu ia saber o que era um homem, as
partes de homem, as manhas de homem. Naquela casa, como lhe resmungava pelas costas
quem tinha raiva dela, ‗só havia um homem, que era Senhora.‘‖ (DD, p. 77).
Essa mãe-homem representada por Senhora contraria a visão de mulher como um
ser frágil e emotivo; ao contrário, ela é a força da fazenda – que sabe muito bem tirar proveito
da independência que a viuvez lhe proporciona.
Senhora nem cogita abrir mão dessa
condição de administradora dos bens, do poder de comandar a casa e os empregados, o que a
presença do homem não lhe permitiria. Por isso, não é interessante casar-se novamente; ela
não quer submeter-se nem mesmo ao amor, como ocorre com a viúva Simões de Júlia Lopes
de Almeida. No entanto, Senhora não dispensa o prazer, mesmo que para isso precise usar a
filha e depois passar por cima dela.
À época retratada, o casamento regulava a sexualidade e era, na maioria das
vezes, uma negociação em que vários fatores eram avaliados, como sobrenome, emprego,
classe do homem e beleza da mulher. Porém, esses bens simbólicos não são levados em conta
pela mãe de Doralina na escolha de um marido para a filha. Visando ao próprio interesse
sexual, Senhora arquiteta o casamento da moça com Laurindo, um homem jovem e bonito,
para mantê-lo dentro de casa e usufruir, assim, da relação com ele. Vê-se, então, mais um
atributo ―masculino‖ da personagem na relação com o rapaz mais novo: a iniciativa da
sedução:
Passou a tratá-la de ‗Prima Senhora‘, e ela lhe disse que o certo era chamar
de tia, prima velha se chama tia e se toma a bênção. Tão faceira e rosada
falando aquilo, mal passava dos quarenta anos, o lindo cabelo alourado meio
se desmanchando do coque de grampos de tartaruga, o vestido de linho de
mangas curtas descobrindo os braços redondos, o decote aberto, o colo
macio. Tia! (DD, p. 25)
A obra de Rachel de Queiroz, mais uma vez, inovou, já que o poder de sedução
exercido por Senhora, uma mulher de meia-idade, supera a força da juventude de Doralina.
Esta é que se sente humilhada e intimidada diante da mãe, que maneja muito bem suas armas
de atração. A beleza posta em questão é quesito de desvantagem para Doralina, já que ela tem
78
―fiapos de perna, as ancas finas, o cabelo estirado‖ (p. 34). Contudo, a personagem é filha de
fazendeiro, herdeira de gado e terras, e isso também conta bastante.
O romance mostra o quanto as mulheres jovens, como Doralina, criadas no
restrito espaço doméstico, ainda ingênuas e com poucas oportunidades de alçar a cobrada
condição de ―casadas‖, são facilmente conquistadas por qualquer rapaz que se destaque por
seus dotes físicos. É o que ocorre com a protagonista, que só consegue o necessário
distanciamento para avaliar com isenção a aparência física do seu marido após a experiência
de vida adquirida fora do ambiente da fazenda. O texto a seguir revela o contraponto entre a
visão do passado e a do presente:
Mas naquele dia da primeira visita de Laurindo (...) eu não tive motivo de
me zangar e não dizia nada; ficava embebida olhando Laurindo, sentado na
cadeira de vime, de culote e perneiras, camisa cáqui americana, cigarro
sempre aceso na mão. (...) Hoje, tantos anos passados, me pergunto se
Laurindo tinha mesmo aquela boniteza que me pareceu; não, não tinha. Ou
tinha, porque afinal quem pode dizer as regras do que é bonito gente; uma
pessoa não é uma casa ou uma igreja, de que se traça a planta no papel, se
mede na régua, conta os metros e os centímetros, enfeita com mármore e
madeira lavrada e manda dourar e depois fica lindo. (...) Laurindo, por
exemplo, que nem era muito alto, nem tão largo de peito, nem tinha olho
verde ou negro que se considera lindo, nem a qualidade de pele rosada como
certos homens conhecidos por bonitos. Nele era mais a postura do corpo de
carne enxuta, um ar de trato e limpeza, o sorriso curto e de repente. Mas eu,
naquele tempo, nem retrato de mocinho de cinema tinha visto que vencesse a
ele. (DD, p. 38-39).
Embora feia e já quase passando da idade de casar, Doralina encarna, ainda, o
papel da noiva romântica – tanto quanto o de vítima em potencial, já que não consegue
perceber as reais intenções que sua mãe alimenta ao querer casar-lhe com Laurindo. Esse é
mais um dado problematizador na relação entre mãe e filha. Senhora, com ciúme do futuro
genro, evita até mesmo envolver-se na organização da festa de casamento dos dois, inclusive
criando impedimentos para a realização sexual de Doralina. Diz a narradora: ―Na semana do
meu casamento eu mesma tinha preparado a alcova para nós. Senhora queria aprontar o chalé
do Umbuzal dizendo que era mais próprio para a lua-de-mel. E ela falava ‗lua-de-mel‘
apertando os beiços, como se amargasse.‖ (DD, p. 21).
É interessante notar que as duas mulheres são conservadoras quanto à
consideração devotada ao homem.
Depois de casado, Laurindo revela-se como um
preguiçoso, que não contribui financeiramente para as despesas da família, ou seja, não é o
79
tipo de homem provedor. Mas, a despeito disso, desfruta de total prestígio dentro de casa,
porque é um mestre na arte de seduzir:
Na Soledade ele se instalou como filho da casa — natural, não era o genro, o
marido? e nem Senhora nem eu pensávamos diferente, o homem da casa
tinha direito a tudo. Trabalhava quando trabalho aparecia, mas não corria
atrás dele. (p. 80).
Dinheiro, por exemplo, ele nunca me deu. Me dava presentes (...). Também
nas despesas da casa não entrava com nada — mas igualmente dava os
agrados a Senhora. Sempre trazia os presentes juntos, para ela e para mim
(...) e um era quase sempre a duplicata do outro. (DD, p. 85).
Segundo a percepção de Doralina, esse homem é um articulador que consegue se dar
bem com todas as pessoas que lhe sejam interessantes. Também revela um lado mau, ao
matar covardemente os animais de Delmiro, caçando-os para comer, com a conivência de
Senhora. Além disso, aproveita-se do fato de ser o único homem da casa, manipulando as
mulheres a seu bel-prazer. Ele é o ―dono do território‖ tanto sob a perspectiva da esposa e da
sogra, sua amante, quanto das empregadas.
Até a comida da mesa ficava mais simples com Laurindo fora porque eu só
gostava de beliscar bobagem e, Senhora, o seu alimento era na base do leite
(...) Laurindo na mesa, vinham os peixes de forno, as cabidelas de galinha, as
caças que ele matava, as buchadas de carneiro que eu detestava. (...) Era
outro movimento. Era o senhor macho naquela casa de mulheres, parecia até
que os ares mudavam. Se bem que ele não fosse o dono nem mandasse em
nada e pedisse tudo por favor (pois nem ele tinha a ousadia de disputar o
lugar de Senhora), mas era o filho querido, o sinhozinho a quem todo o
mulherio fazia os gostos, correndo. (DD, p. 84-85).
A respeito dessa questão do privilégio conferido ao homem no seio familiar,
Pierre Bourdieu (1999) explica que a prioridade universalmente dada ao homem se afirma na
objetividade das bases sociais e de atos (re)produtivos.
Esses procedimentos são
fundamentados na divisão sexual de trabalho valorizado e na perpetuação biológica e social
que concedem a ele a melhor parte. São esquemas inerentes ao habitus — sistema de
percepção, pensamento, apreciação e ação exercidos durante as trocas sociais e que contribui
para a introjeção intelectual e moral do comportamento de um determinado grupo, deixando a
sensação de que o mesmo é natural —, os quais são repassados pelas mulheres na educação
dos descendentes. Segundo Bourdieu, o habitus é aplicado pelas mulheres em todos os
80
âmbitos da existência, especialmente nas ―relações de poder em que se vêem envolvidas (...)
seus atos de conhecimento são, exatamente por isso, atos de reconhecimento prático, de
adesão dóxica, crença que não tem que se pensar e se afirmar como tal e ‗faz‘, de certo modo,
a violência simbólica que ela sofre‖ (BORDIEU, 1999, p. 45). Dessa forma, a mulher, via de
regra, dá ao homem o direito de ir e vir, sem nada lhe cobrar. O romance em estudo traduz
bem essa realidade:
Então, por quinze ou vinte dias, mal se via o homem em casa, só de longe
em longe, pra tomar seu banho, trocar de roupa, engraxar as botas e sair de
novo, pela madrugada. E ele ausente, a casa da Soledade parecia voltar ao
que antes fora, quero dizer, antes do casamento. Eu ia tratar das minhas
plantas que tinham aumentado muito (...). Ou cuidava da minha criação de
paturis, em grande prosperidade. Ou me trancava no quarto, quando
arranjava um romance novo; ou em último caso, me sentava com um
bordado na rede de corda do alpendre. (DD, p. 82).
Nesse âmbito de comodidade familiar, o triângulo amoroso, arquitetado pela mãe
e não percebido pela filha, é vantajoso para todos, pois permite que cada um se satisfaça sem
comprometer socialmente a sua imagem: para Senhora, que já passou pela situação de
subjugada a um marido, há a vantagem de não ter de cumprir uma obrigação, podendo viver
de forma espontânea o prazer sexual; para Laurindo, ter as duas é ter o sexo de uma e os
serviços da outra, além de apossar-se dos bens materiais das duas; já para Doralina, a situação
do casamento é uma satisfação social muito valorizada, pois lhe permite cumprir seu ―destino
de mulher‖, como demonstrado na seguinte passagem:
E as distâncias que Laurindo ia tomando de mim, eu, inocente, achava que
devia ser ‗coisa de homem‘, como Xavinha dizia. Como também a bebida.
Às vezes em que ele chegava da rua tão bebido que quase caía do cavalo, na
minha mente aquilo era natural em homem; tratava de o deixar na rede, lhe
tirava as botas, desabotoava a roupa, lhe refrescava o rosto com uma toalha
molhada, pra mim eram essas as obrigações da boa mulher. (DD, p. 77)
Nem as viagens do marido ou o afastamento sexual são motivos de
questionamento para as mulheres que, à época representada, consideravam uma vantagem ver
o homem voltar para casa. Pior do que a subserviência e a passividade diante do marido é
descobrir na figura materna uma rival. É inadmissível para Doralina, sob qualquer hipótese,
que a mãe, por mais que esteja afastada do estereótipo materno inscrito na sociedade (―a
81
religião da maternidade proclama que toda mãe é exemplar‖, BEAUVOIR, 1980, p. 280 vol.
2), possa traí-la. E é novamente o distanciamento temporal em relação aos fatos que leva
Doralina a enxergar que era do conhecimento de todos o interesse de sua mãe por Laurindo,
antes mesmo do seu casamento com ele:
Eu tinha vinte e dois anos, ela tinha quarenta e cinco — e Laurindo casou
comigo. Um dia, antes do noivado, eu vinha pelo corredor e escutei uma das
mulheres dizendo na cozinha: ‗A viúva se enfeita toda, mas é a menina que
pega o moço‖ (DD, p. 41).
Um dia, dois meses depois do casamento, Xavinha foi fazer compras
nas Aroeiras e, mal chegou, logo se viu que estava estourando com uma
história nova. Foi começando a falar com Senhora.
— Por isso é que eu tenho raiva daquele povo das Aroeiras, nunca se
viu gente pra gostar mais de mexerico, nem respeitam as pessoas! (...)
Não sei, mas senti que Senhora não queria especular na minha frente o
novo mexerico de Xavinha; era como se já estivesse inteirada e procurasse
desviar meu interesse.
Deixei passar a hora da ceia, Senhora foi para o quarto dela, e eu
atravessei o corredor, cheguei ao quarto de Xavinha (..). Aos poucos, com
muitas mordidas de beiço e palavras sussurradas, o caso foi saindo. Não vê,
ela encontrou D. Dagmar na farmácia (...). E então D. Dagmar disse que na
rua foi a maior admiração com o resultado do casamento, tinha gente nas
Aroeiras que até fez aposta como casava a velha e não a moça. Seu
Carmélio de Paula foi um. Mas o tabelião, aquele Esmerino, tinha dito ali
mesmo no balcão da farmácia que cobria qualquer aposta: Laurindo casava
era com a moça:
— Não vê que casando com a viúva ele só pega metade da meação
dela, porque a outra metade é a herança da filha? Mas casando com a moça
leva logo a legítima do pai e depois vem a herança da mãe, direta, sem
repartimento... (...)
Dei as costas e fui embora sem esperar que Xavinha acabasse a
lengalenga, saí andando para o quarto, meio trêmula, com um gosto ruim na
boca. (DD, p. 43- 44).
Essa passagem explicita a questão da vigilância social sobre a instituição familiar
e as intrigas sofridas por seus membros, transformados em alvo de comentários, julgamentos
e condenação. O romance retrata a reificação da mulher na sociedade patriarcal, já que é
Laurindo quem determina as vantagens da relação simultânea com mãe e filha; ou seja, a
mulher é usada como parte de um projeto de ascensão capitalista por parte do homem, um
objeto dele.
No entanto, o que é considerado novo em Rachel de Queiroz – e uma deformidade
para os padrões morais – é a possibilidade de a mãe deitar-se com o marido da filha. Por
82
isso, sua protagonista jamais poderia aceitar como verdade os comentários que ouvia a
respeito da mãe, pois equivaleria a acreditar em uma ―aberração da natureza‖, já que a crença
é de a mãe ter a capacidade de se despir de quaisquer desejos individuais em prol da sua
descendência. A esposa pode desconfiar do marido e até perdoar-lhe a infidelidade sexual,
mas nunca aceitar que venha da própria mãe qualquer possibilidade de traição:
Mais tarde Laurindo me procurou na cama, eu me virei de costas, enfadada e
sonolenta. Ele também não insistiu, deu boa noite e foi para a rede dele (...).
No meio da noite acordei; com pouco o relógio da sala bateu doze horas;
bateu depois a meia hora. Passou-se ainda algum tempo e aí eu escutei um
raspar de leve de chinela no quarto ao lado, como se Laurindo estivesse se
levantando. Esperei, esperei me pareceram horas e ele não voltava. Fiquei
inquieta, quem sabe ele tinha tido alguma coisa no banheiro? Me levantei e
cheguei à porta — ele vinha de volta. No escuro não o vi, só escutei os
passos. E, coisa maluca, a impressão que eu tinha é que ele vinha do lado
oposto, da frente da casa e não do fundo do corredor, onde o banheiro ficava.
Senti aquele arrepio esquisito, que é que Laurindo andaria fazendo pela casa
de noite no escuro? (DD, p. 88)
Do conturbado relacionamento entre mãe e filha, pode-se esperar muita coisa, mas
esse tipo de traição é muito grave por ir de encontro com a ideia de mãe como arquétipo.
Além disso, rompe totalmente com o código de ética da relação familiar. Ficam evidentes,
durante o percurso narrativo, os esforços da narradora para transformar Senhora numa
aberração diante do leitor, num ser para quem o conceito de moral social não tem nenhuma
significação prática:
(...) de repente se ouviu um som abafado, um som de voz, no quarto defronte
— que era o quarto de Senhora, pegado à sala.
E escutei a fala dela (que nunca na vida tinha conseguido falar baixinho),
sim era a fala dela:
— Vá embora!
E depois a voz de Laurindo, protestando:
— Ela tomou o remédio. Não tem jeito de acordar.
Delmiro não sei se escutou tão bem quanto eu, mas vi que entendeu.
E eu, eu saí correndo pelo terreiro, descalça e de pijama, no pavor de que os
dois me descobrissem. Do lado de lá dos quartos do paiol, caí sentada num
monte de tijolo e rompi num choro que era mais um soluço fundo — eu
tremia com o corpo todo e me vinha aquele engulho violento — eles dois,
eles dois. O velho tinha me acompanhado, mais devagar. Ficou de pé, talvez
esperando que aliviasse a força do choque, me olhando sem dizer nada. A
lua clara como uma luz de rua. Eu afinal me acalmei e lhe disse a mesma
palavra que acabava de ouvir da outra:
83
— Vá embora.
Delmiro virou-se e foi buscar o burro que obedeceu ao cabresto e veio
caminhando macio, como se também quisesse respeitar o segredo da noite.
Chegando perto de mim o velho me tocou o ombro, de leve — eu
tinha me dobrado de novo sobre os joelhos com o rosto entre as mãos — e
me aconselhou num sussurro de rouco:
— Entre pra casa. Olhe o frio. Vá.
Deu um puxão no cabresto, fez um passo, voltou-se:
— Deus dá um jeito.
Eu levantei o rosto a essa palavra e disse as minha palavras também:
— Jeito, só a morte. (DD, p. 92-93).
Esse extenso trecho da narrativa flagra a traição sofrida e expõe o rompimento
simultâneo com os dois laços mais importantes para Maria das Dores – a mãe e o marido.
A primeira parte da trama encerra-se com esse episódio. Não há mais nada a ser
desvendado. A mãe assume-se finalmente como uma pessoa indiferente à filha, já que o
desejo individual é precípuo. Tampouco há o que esperar de Laurindo após a abjeção
praticada. Porém, se as pessoas que devem proteger Doralina — por laços de sangue ou de
contrato — golpeiam-na, Delmiro, um desconhecido, sai em sua defesa e dispõe-se a matar
o marido infiel, o que efetivamente realiza. Age, portanto, como um pai que quer livrar a filha
da humilhação. Por fim, o corpo de Laurindo é o último objeto de disputa entre mãe e filha:
Nós ficamos as duas ajoelhadas, de um lado e do outro do corpo; nem eu
nem ela chorávamos; mas respirávamos com força, como se a nós duas nos
faltasse o ar, como dois que brigam parando para um momento de descanso.
Eu tirara as mãos de cima dele e me apoiava com força no chão, os olhos no
rosto de Senhora. E Senhora não tirava dele os seus olhos, mas também não
o tocava — segurava a própria garganta com ambas as mãos. Como
sufocando um grito. (DD, p. 98).
Desse último confronto, nenhuma das duas sai vencedora, e a possibilidade de
conciliação também é extinta. Somente anos após a ocorrência dos fatos, com o devido
distanciamento temporal, a narradora consegue refletir melhor sobre esse instante, e, mesmo
que ainda tenha dúvidas acerca do envolvimento entre a mãe e o marido, considera que
Senhora não possuía afetividade suficiente para tirar-lhe o homem e a relação entre ambos era
meramente física e de poder: ―Até hoje não posso jurar se Senhora quis mesmo casar com ele;
penso mais que não. Casar foi coisa que ela nunca pretendeu depois de conhecer a sua força
de viúva.‖ (DD, p. 41).
84
O rompimento definitivo com a mãe permite que Doralina saia em busca de uma
vida independente da casa da fazenda. A ruptura é também com a tradição que lhe exige o
cumprimento do período de luto – uma cobrança que é feita igualmente à viúva Simões de
Júlia Lopes de Almeida –, mas isso seria demonstrar um respeito que ela não sente pelo
marido. Deixando para trás a Fazenda Soledade, Doralina põe um ponto final em sua ligação
com a família.
O segundo livro, ―O Livro da Companhia‖, é marcado por novos encontros e pela
formação de novas famílias para a narradora, além de assinalar o trabalho na companhia de
teatro com a qual essa nova mulher passa a conviver. É o começo de tudo aquilo que
Doralina não encontrou em seu espaço familiar. Com a mãe, ela manteve meramente laços de
sangue, mas ao sair de casa parte em busca de laços afetivos. O passado fica bem escondido.
As pessoas que Doralina encontra não sabem das suas angústias com a mãe, das traições
sofridas. É um segredo guardado por falta de coragem de revelar a mãe que tem. O excerto
abaixo assinala o relacionamento entre Doralina e a personagem dona Loura:
(..) E então D. Loura, que via longe, logo no segundo mês me fez uma
proposta de mãe para filha: eu passava a dormir com ela no quarto grande,
ocupando a cama e o guarda-roupa que tinham sido de Osvaldina em
solteira. Podia ajudar fazendo a escrita da pensão, tirando as contas dos
hóspedes, pagando imposto, luz, armazém, na rua, tomando nota dos
extraordinários, mormente as bebidas que eram a sua maior dor de cabeça
(...).Mal sabia ela que a minha saída de casa não tinha sido um desgosto dos
que passam. Que eu tinha cortado o cordão do umbigo que me prendia à
Soledade para sempre e nunca mais. Da Soledade e a sua dona, eu agora só
queria a distância e as poucas lembranças. (DD, p.121).
Doralina que, ao casar com Laurindo, passou a viver a mesmice do cotidiano na
vida simples da fazenda, sempre envolvida com as tarefas domésticas, depois de enviuvar e
sair de casa, rejeita essa vida rotineira e restrita. É com esse novo olhar que ela observa e
critica o casamento da prima Osvaldina:
Agora ela tinha uns vinte e dois anos, ele não completara os trinta, mas já
pareciam um casal antigo apegado aos seus costumes miudinhos: domingo
iam no culto, porque o telegrafista era crente e converteu Osvaldina a
protestante. Cinema às quartas-feiras, na sessão colosso do Majestic, que
levava dois filmes grandes, um caubói e cinco complementos. No mais ela
não fazia nada, sempre do quarto para a sala arrastando as chinelas, e ele
telegrafava. (DD, p. 118)
85
A narradora não mais se encaixa nesse tipo de vida que impõe limitação
existencial à mulher, uma mudança que se operou dentro dela devido à experiência
humilhante que teve com a mãe. Assim, ela contraria a postura típica das mulheres, para as
quais o que importava era a volta do homem para casa. Como diz Simone de Beauvoir (1980,
p. 196): ―Aí [a mulher] encerra o marido que resume para ela a coletividade humana (...). O
lar torna-se o centro do mundo e até sua única verdade.‖
No enredo de Rachel de Queiroz, há a ideia de que a viuvez é o melhor estado
civil para a mulher, pois ela passa a ser um indivíduo responsável, o que não o é na condição
de solteira ou de casada. Tanto a mãe quanto a filha, uma vez livres, partem para realizações
pessoais quando não há mais ninguém a quem dar satisfações. A narradora, principalmente,
decide tornar-se uma pessoa completamente diferente, buscando o respeito também através do
trabalho. Assim, passa por uma verdadeira revolução ao se tornar atriz de um grupo teatral, a
Companhia de Comédias e Burletas Brandini Filho, emprego que à época não era bem visto
para a mulher de família. Doralina adota uma postura diante da vida pela qual define até
mesmo a escolha do tipo de relacionamento e de homem que ela quer para si:
Aceitei dar uma volta de carro com um admirador, um rapaz do Banco do
Brasil que não faltava a um espetáculo. Eu fui, depois ceei com ele, mas era
desses homens que avançam em cima da gente de dente trincado, até parou o
carro, e então eu disse que se ele não tocasse o carro pra frente eu gritava; e
voltamos sem novidade para o hotel. (...) Teve outro admirador, um
português com um dente de ouro, muito novinho e corado, levava flores no
camarim, uns buquezinhos muito mixos, mas com esse nunca saí. O
bancário me deixa escabreada, a verdade é que eu ainda sentia medo
daquelas coisas. (DD, p. 38).
Na década de 70, quando a obra foi publicada, a mulher, mesmo ao procurar
liberar-se para viver plenamente a sua sexualidade, encontrava ainda muita dificuldade para
ultrapassar
antigas
imposições
sociais.
Apesar do incipiente advento
da pílula
anticoncepcional, o aprisionamento do corpo da mulher ainda era determinante e foi
complexo para ela transmutar esses valores sem ser rotulada de mulher fácil ou prostituta. A
liberdade era algo conflitante, pois a mulher, ainda que se recusando a ter o corpo controlado
por e para um homem, não deixava de dar importância ao relacionamento:
Eu podia ficar recordando assim: em São Luís foi o lugar onde aquele
comerciante gordo me mandou um cartão com uma pulseira, depois mandou
86
outro cartão convidando para um passeio de barco; eu não fui e ele queria
que eu devolvesse a pulseira. (DD, p. 150).
Como já contei, eu recebia propostas e até me apareciam namorados, mas
nenhum era coisa que desse pra se cair para trás de entusiasmo; um mais rico
havia de ser como aquele da pulseira, sovina e aproveitador. Acho que em
vista da fama que tem mulher atriz, os homens que valem alguma coisa,
mormente os que valem em dinheiro, já se precatam contra elas e têm medo
de se verem arrastados em alguma aventura perigosa. (DD, p. 159)
Apesar de trabalhar para prover a si mesma, Doralina ainda busca o
relacionamento tradicional, em que o homem atende as necessidades financeiras da casa. Se o
ex-marido, Laurindo, não provia nada, ela disso não se ressentia porque o homem da casa, na
verdade, era Senhora, que providenciava o sustento para todos, inclusive para ele. Porém, o
homem que a agora atriz procura deve ter condições de lhe suster tanto em termos de finanças
quanto de afeto. Então, apesar das características de subserviência, os critérios para a relação
são definidos por ela, que não aceita qualquer tipo de imposição humilhante do homem e até
se defende sozinha, como se vê na seguinte passagem:
Respirei fundo, escutei o homem que entrava, dava para se ouvir o seu
fôlego meio curto; uma mão segurou os cordões do punho da rede, outra
mão desceu em procura de meu corpo, tateando. (...) Segurei a mão que já
me tateava pelo seio, o sujeito quando sentiu meus dedos deu um aperto
neles e se deixou levar e eu aí puxei aquela mão para a boca, como para um
beijo (...) e cravei-lhe os dentes na carne, com toda força que eu tinha. Ao
mesmo tempo libertei o joelho que ele alisava e chutei com a maior violência
o corpo que já se dobrava sobre a rede alta. Não sei onde pegou meu pé, na
barriga talvez; senti na boca o gosto do sangue e o homem puxou a mão
ferida com um repelão que me machucou o lábio. Mas não deu uma palavra,
só um grunhido de bicho machucado. Eu fui que silvei entre os dentes,
como uma cobra:
— Vá-se embora já, senão eu grito!
E ele saiu correndo com os pés descalços e tomou pelo corredor sem
se preocupar de fechar a porta. (DD, p. 196)
A postura da personagem é significativa para a desconstrução da ideia de mulher
como sexo frágil, que depende da força física do homem para protegê-la. Mais uma vez, o
texto aponta a independência como um pressuposto para que a mulher tenha direito à voz , o
que lhe permite afugentar o ―lobo mau‖ sem precisar do ―caçador‖. A própria narradora se
surpreende ao se perceber como uma pessoa capaz de se defender sozinha, totalmente
diferente daquela que ela foi no passado, antes de vivenciar a experiência da maturidade:
87
Fosse meses antes, aquele ataque noturno na certa tinha me assombrado, me
insultado, talvez até me feito correr para longe. Imagine só, um homem que
eu não conhecia nem quem era, no escuro — no meu quarto! — botar as
mãos em cima de mim (p. 200).
Fosse no tempo de dantes o sucedido da noite de véspera, no melhor dos
casos eu teria corrido a Seu Brandini para lhe dar queixa e pedir proteção;
fazia do sujeito um tarado, exigia polícia, cadeia. Agora não; se tratava de
assunto meu, particular. (DD, p. 202).
A suposta fragilidade feminina não é, então, um fato; mas se encontra na aptidão da
mulher para introjetá-la como um dos atributos do seu gênero. A tomada de atitude que leva
Doralina a rechaçar o homem faz com que a personagem se veja como um contraponto de sua
mãe, que sempre teceu julgamentos depreciativos em relação às mulheres sexualmente
disponíveis, mas intimamente agiu como elas: ―Senhora sabendo, que diria? E aí eu até me
ri: ‗Rapariga!‘ no mínimo. Rapariga é que entra homem de noite no quarto dela.‖ (DD, p.
200). O que a narradora repele, portanto, é a hipocrisia, passando a guiar-se por seus próprios
princípios:
Mas a vida nova ensina depressa e eu tinha aprendido muita coisa na
Companhia. Homem não é bicho, também é de carne assim como nós, a lei
deles é atacar. Mulher que se defenda, entregue só quando quer. (DD, p.
201)
Bem, nisso tudo o que eu quero dizer é que antes de eu entrar na Companhia,
tinha o meu corpo como se fosse uma coisa alheia que eu guardasse
depositada, e só o podia dar ao legítimo dono, e depois de dar a esse dono
era só dele, não adiantava eu querer ou não, porque o meu corpo eu não tinha
o direito de governar, eu vivia dentro dele mas o corpo não era meu. (...) Já
agora o corpo era meu, pra guardar ou pra dar, se eu quisesse ia, se não
quisesse não ia, acabou-se. Era uma grande diferença, pra mim enorme.
(DD, p. 202).
Elódia Xavier (2007) define, entre as dez tipologias de corpo estudadas, o ―corpo
disciplinado‖ e o ―corpo liberado‖. Quanto ao primeiro, baseando-se na teoria de Arthur
Frank e Michael Foucault, a pesquisadora mostra que o sistema social usa mecanismos
invisíveis de controle e sujeição sobre o corpo. Este, contudo, apesar de tornar-se dócil e útil,
só é disciplinado devido à consciência de carecimento. Já o segundo tipo rompe com a inércia
do habitus tradicional, das ordens imutáveis, do cotidiano preestabelecido, dos conceitos
inquestionáveis. No contexto feminista, o corpo disciplinado e o liberado são frutos de
88
decisão e conveniência pessoal. Não há como permitir que ele seja moldado, arbitrariamente,
pelas normas da sociedade patriarcal que desconsidera o desejo da mulher.
No romance em estudo, a consciência da importância do corpo revelada pela
personagem-narradora é parte de um processo de autoconhecimento e definição. Por isso,
ainda que a lei do homem seja ―atacar‖, ele não conquista o ―território‖ sem autorização da
sua dona:
(José Aldenor) fora as orelhas, era um moço até simpático, bem-tratado,
perfumado, de anel de grau no dedo. Carro dele mesmo. Fui aos passeios,
fui ao sorvete. Fui cear com ele. Acabei indo na tal de garçonnière, Deus
que me perdoe.
Não sei o que é que eu esperava — mas não esperava aquilo. Falar em ninho
de amores, eu imaginava talvez uma casa, um chalezinho em meio de jardim,
tudo moderno, rico e elegante. (...) Cem anos que viva não esqueço. Pior do
que os quartos de pensão onde a gente às vezes se hospedava. Cem anos?
Mil anos que eu viva não esqueço. Minha sorte é que ele vinha caindo de
bêbedo, não pôde nem encostar o automóvel direito, deixou enviesado na
calçada. Subiu a escada aos tropicões, me deu a chave para eu abrir a porta.
E, entrando, atravessou a saleta e foi direto para o quarto. Se agarrou comigo
e me arrastou para a cama, me derrubou com ele. Vestido, de sapatos. (...)
Não resisti porque fiquei com vergonha, afinal eu tinha chegado até ali da
minha livre vontade. Mas no que caiu na cama e tocou a cabeça na almofada,
ele passou as mãos ao redor do meu pescoço, procurou me beijar e
resmungou com a fala mole:
— Meu bem, vamos dormir um pouquinho, estou tão cansado,
cansado!
E pegou a dormir agarrado comigo. (...) Escorreguei da cama, fui até
ao espelho, endireitei o cabelo e me escapuli pela escada. (DD, p. 179-180).
Se na década de 70 os grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, estavam
em franca transformação e o contexto nordestino é representado sob a dificuldade de absorver
mudanças. Ainda que a mulher já demonstrasse capacidade de autodefesa, as barreiras para
que ela se firmasse sua independência eram muito resistentes. Rachel de Queiroz fala de uma
época em que as mulheres eram julgadas pela sociedade até pelo fato de saírem sozinhas à
rua.
A personagem Doralina representa isso, pois, ao conseguir escapar do ―Morcego
Mimoso‖, encontra um guarda que reproduz a diferença de tratamento que há entre a ― mulher
de respeito‖ e a prostituta: ―Aqui no Recife, quando a senhora precisar sair de noite, arranje
companhia. Sozinha, pode ser tomada por horizontal.‖ (p. 181). Com esse discurso, a autora
frisa como os rótulos aprisionaram a mulher, que, por medo da marginalização, precisou alçar
89
voos curtos em prol da sua liberdade, até porque nem todas as mulheres caminhavam na
mesma direção:
Estrela também me recomendava cuidado, dizia que ia me dar os seus
conselhos de Lola, a Loba, que a vida engana muito e mais vale um bom
companheiro que mil namorados, mas a gente só aprende à própria custa.
Admirava a calma com que eu enfrentava tanta situação nova e eu respondia
que tinha tido muito tempo para imaginar qualquer situação, acabava de
deixar vinte e seis anos de prisão e carcereiro atrás de mim. (...) E a verdade
é que aqueles vinte e seis anos não me serviam de nada, deles eu só queria
me esquecer. (DD, p. 138).
De fato, é difícil libertar esse corpo regrado, guardado para um só homem, como
na educação recebida nas instituições patriarcais. Porém, se vê nascer a possibilidade de pôr
em prática reivindicações como a de não ser motivo de execração social a mulher optar por ter
relações sexuais fora do casamento, feita pela ativista francesa Olympe de Gouges no século
XVIII. Esse novo ideal foi parte de um complexo processo em prol da libertação. Em Vigiar
e Punir: nascimento da prisão (1987), Michel Foucault mostra os mecanismos que foram
utilizados para colocar o indivíduo sob um estado de sujeição às normas da sociedade. Sair de
suas amarras é ficar exilado, como alguém que tem uma doença contagiosa e as outras
pessoas precisam se policiar para não serem contaminadas.
Contrariamente a isso, na
representação de Rachel de Queiroz, a protagonista, ainda que tenha estudado em uma escola
com fundamentos religiosos, tem consciência de que não há como alcançar a liberdade sem se
ferir:
No colégio tinha uma freira professora de Lições de Coisas que gostava de
contar cada caso horrível, acontecidos em todas as partes do mundo, não sei
de onde ela os tirava (...). Mas para mim o pior era o caso da raposa, numa
serra da Espanha, que caiu presa numa armadilha de ferro; como não
conseguia se libertar, roeu a junta do osso, rasgou a pele e a carne até
apartar, e por fim saiu livre — aleijada mas livre, deixando o pé na
armadilha; e no outro dia o caçador só encontrou aquela pata sangrenta,
presa nos dentes de aço. (...) Pois agora eu me considerava assim como a
raposa: se deixei minha carne sangrando na Soledade, também me livrei.
(DD, p. 139).
Assim é a história das mulheres. A própria narradora se mostra ainda oscilante
entre a reivindicação de liberdade e a reprodução dos conceitos patriarcais. Ao narrar o
episódio de Odair, que, sendo casado, rapta uma menina em Manaus, Doralina se posiciona a
respeito da obrigação do rapaz de ficar com a namorada: ―Afinal, a menina já não podia
90
voltar atrás e recomeçar a vida. Quem, nas famílias boas de Manaus, ia querer casar com
moça desencaminhada por um mágico — e casado?‖ (DD, p. 147).
O termo
―desencaminhada‖ é propício para dar à moça a conotação daquela que deveria esperar para
começar a vida sexual no casamento, mas que se desviou dessa determinação social. Rachel
de Queiroz traduz bem no seu romance os valores vigentes na sociedade nordestina da
primeira metade do século XX:
Uma coisa chata em Fortaleza foi um boato que se espalhou, imagine, que eu
era uma herdeira rica do interior, rompida com a minha família e por isso
entrara para o teatro. Me botavam como sendo dos Fulano do Crato, dos
Beltrano de Sobral, e o jornal dos padres publicou um artigo lamentando a
maléfica influência dos costumes modernos nas famílias cearenses, se acaso
fosse verdade que uma senhorita de tradicional estirpe alencarina havia
trocado o seu lar católico pelas luzes do ‗teatro ligeiro‘ — usando de
metáfora caridosa. Se tal vocação fosse ao menos para a cena lírica, como
sucedeu com a grande Bidu Sayão, sobrinha de um presidente! Mas aquelas
burletas e esquetes picantes, aquelas cançonetas licenciosas, etc. etc. etc...
(...) E eu não era senhorita, era viúva e maior, nem era do Crato nem de
Sobral, nem minha família era tão estirpe assim, por mais que Senhora
alegasse as suas grandezas. (...) O telegrafista proibiu Osvaldina de sair
comigo ‗pra não se envolver no escândalo‘. Então seu Brandini resolveu
tomar providência. (DD, p. 157)
A prontidão de um homem é necessária para salvar a honra da mulher. Porém, se,
além de D. Loura, o dono da companhia teatral e sua esposa passam a ser a nova família
protetora de Doralina — ―seu Brandini que tinha muito de paterno —, talvez um pai meio
sem-vergonha; e aquela amizade quieta de Estrela, sem mentira nem ilusão‖ (DD, p. 139) —,
ainda assim o ressentimento com a mãe permanece forte nas reflexões internas da narradora.
A mágoa pela falta de amor materno é desencadeada em alguns momentos de tal forma que
lhe domina as alegrias das realizações profissionais. A ameaça de ver o segredo da morte do
marido revelado por Delmiro, por exemplo, deixa a protagonista assustada, preocupada com o
envolvimento da mãe nesse segredo — ―Senhora ainda poderia me entender com meias
palavras —, eu tinha a certeza comigo de que ela não estava inocente de nada, sabia tanto
quanto eu. Mas como é que eu ia adivinhar o que andava naquele coração duro que nunca me
teve amor?‖ (DD, p. 190). No entanto, se percebe a mãe apenas como uma rival que, em sua
paixão pelo homem, nem se preocupou em proteger a filha dos desgostos, Doralina não tem
coragem de deixá-la a cargo da condenação social:
91
Pelo olhar dos olhos garços que ela me botava naquele dia, cada uma de nós
a um lado do caixão de Laurindo, Senhora branca como a parece caiada atrás
de si; e a boca cerrada numa risca que lhe escondia os lábios parecia uma
cicatriz — ah, ela não.
Aliás eu não ousava. Apelar pra ela eu não ousava. Embora o mais provável
fosse ela estar do meu lado, com medo do escândalo. Mas também ninguém
podia jurar que, de repente, furiosa com a minha independência e com a vida
que eu levava, Senhora não se passasse abertamente para o lado do morto.
Se deixasse se levar pelo bem que quisera a ele? — e só Deus e eu podemos
imaginar que bem foi esse, que não enxergou nem dor nem pecado e me
esmagou debaixo dos pés. Não fosse aquele tiro perdido, como teria tudo
acabado? Quando lhe doesse e queimasse o sinal da mão do diabo, que faria
ela? (DD, p. 191).
Entre mim e Senhora a tragédia toda tinha se passado sem palavras (...). Na
hora em que uma de nós furasse o tumor, abrisse a tampa da caldeira, meu
Deus, ia estourar tudo. Uma coisa era o povo falar, outra coisa era o povo
saber; e uma explosão entre mim e ela podia espalhar aquele segredo
horrível, das aroeiras em volta, um foguetório de lama suja. Triste dela e
triste de mim também (...). Ah, ela sabia o que fazer, sempre soube. Nesse
ponto eu podia dormir, tapar os dois ouvidos e confiar em Senhora. (DD, p.
258).
A narradora retorna sempre ao ponto nevrálgico; é como se não encontrasse saída,
uma solução para sua dor existencial de filha enjeitada. Ela pode viajar por vários lugares em
seu ofício artístico, o que lhe dá prazer, mas a mãe, ou qualquer assunto a ela relacionado,
continua a ser um entrave, era ―aquele engulho azedo no meio da minha alegria.‖ (DD, p.
258). Nenhum acolhimento é suficiente para extirpar da narradora a imagem da mãe e as
questões confusas vividas com ela: ―O que Seu Brandini, Estrela, D. Loura sabiam era apenas
que eu não me dava bem com minha mãe, que ela era uma senhora de gênio autoritário,
difícil, e eu, ficando viúva, tinha resolvido conquistar minha independência.‖ (p. 263).
É importante notar que a protagonista toma a realidade para, a partir dela, viver
uma vida simbólica, que, como considera C. G. Jung (2008), é necessária ao ser humano. Isso
ameniza o sofrimento, mas não o apaga. Os relacionamentos que deveriam ser substitutivos
daquele vivido com a mãe, como já dito, não solucionam. Esse quadro só se altera na metade
da narrativa, quando a protagonista encontra Asmodeu, que, como Laurindo, chama a atenção
por sua aparência física, causando em Doralina uma forte impressão:
Foi no Juazeiro, no dia seguinte, Seu Brandini quis tomar uma cerveja e nós
entramos no bar. Hora depois do almoço antes do ensaio, e dentro do bar só
havia outra mesa ocupada além da nossa. Três homens nela, dois baixinhos
e um grande. (...) Pois o grande era ele. Alto, bonito e antipático. Falava
imperioso, como se desse ordens aos outros dois. Moreno, morenão, cabelo
92
preto e liso como de índio. Cabeça fina e pescoço musculoso, que saía da
gola aberta da camisa amarela, e os ombros largos combinavam com o
pescoço. (DD, p. 210).
Não digo que eu descobrisse logo que tinha encontrado ali o homem da
minha vida. Mas que desejei que fosse ele, desejei. (DD, p. 213).
Esse homem que faz Doralina voltar a sonhar é um modelo do sistema patriarcal.
Por uma coincidência romanesca, é o Comandante do navio J. J. Seabra que conduz a
Companhia a Pirapora, em viagem pelo rio São Francisco. Ele, de início, faz a narradora
contar o seu passado e revelar detalhes que nunca tinham sido expostos a ninguém:
nascimento, meninice, nome, inimizade com Senhora, fazenda Soledade, gado, plantações,
empregados, Delmiro, casamento e viuvez com Laurindo, filho morto, D. Loura e sua
acolhida na pensão, o casal Brandini, enfim, quase tudo o que diz respeito a sua vida. A
traição materna, porém, continua sendo um segredo inconfesso.
Portanto, não é a beleza do homem o que faz a personagem sentir-se atraída, mas
sim o fato de ele se interessar por tudo o que diz respeito à vida dela, logo demonstrando que
não a quer apenas para um prazer momentâneo. Porém, ele é literalmente um Comandante, o
tipo de homem que valoriza a relação hierárquica e que coloca a mulher sempre sujeita a uma
autoridade, dependendo da permissão alheia para viver:
— E sua mãe concordou com a sua entrada na Companhia?
— Não perguntei, não consultei a ela nem a ninguém. Afinal sou
viúva, estou perto dos trinta anos, não devo satisfações a pessoa alguma.
Tinha me exaltado fiz uma pausa:
— Você nem calcula como esse pessoal tem sido bom pra mim, é
quase como uma família. Seu Brandini me vigia e me ajuda como um pai
velho de comédia. Estrela — não sei se já viu, é aquela segurança. O povo
fala mal de gente de teatro — mas são pessoas como todo mundo, tenho
conhecido gente outra muito pior... Eu já estava me desculpando — e ele
calado, ouvindo, ouvindo. (DD, p. 227)
O tom mais ameno adotado por Doralina durante a conversa com o Comandante
marca um retorno da personagem ao que se espera do elemento feminino: a tendência à
dominação, própria do corpo disciplinado da mulher que, ao se sentir carente, permite-se
subordinar. Isso significa que do encontro de Doralina com o Comandante emerge a mulher
aos moldes da tradição patriarcal, como nos tempos em que viveu na fazenda Soledade:
93
O Comandante queria me dar dinheiro, pagar a pensão, eu não aceitei, não
era preciso. (...)
Ele abanou a cabeça:
— Você é minha mulher, eu tenho o direito de lhe sustentar.
Àquela palavra, meu coração deu um salto de alegria. Me agarrei nele com
força:
— Claro que sou sua mulher, mas acontece que também estou
ganhando a vida. (...) (DD, p. 257)
Se, a partir dos anos sessenta, há no Brasil um aumento significativo de mulheres
entrando no mercado de trabalho e conseguindo a independência financeira, há também a
consciência de que abdicar dessa conquista constitui um retrocesso. Assim, para Doralina, o
fato de ter condições de bancar o próprio o sustento faz com que ela tenha segurança em si
mesma, e, mesmo sendo subserviente ao amor, a lembrança das circunstâncias desagradáveis
e humilhantes vividas no passado a deixa desconfiada com qualquer proposta que possa
representar um indesejado retorno à domesticidade:
Não era orgulho, não era nada. Ou era orgulho? A gente não vivia junto
como um casal, era uma noite hoje outra além, e ele me dando dinheiro ao
sair — não parecia que estava me pagando? Meu Deus, e se eu pudesse, eu
é que dava dinheiro a ele, cozinhava, lavava e passava pra ele, lhe engraxava
os sapatos, fazia as coisas mais humildes que eu nunca tinha feito na vida,
nem para mim mesma! E me ri — se Xavinha escutasse — eu, que na
Soledade tinha uma cunhã até para me lavar o cabelo! (DD, p. 258)
Enfim, ―O Livro do Comandante‖ é marcado pelo retorno de Doralina à vida
doméstica, apontando a dificuldade da mulher para afirmar sua autonomia. Nota-se que isso
ocorre devido ao fato de a personagem não ter poder de persuasão para levar o homem a
aceitar o trabalho dela fora de casa. Entre o destino de mulher e a condição de ser humano, ela
fica com a primeira opção, que impõe sua subserviência.
Porém, essa atitude é
compreensível, já que, no período em que a mulher ainda estava alçando um voo tímido, a
escolha pela independência determinava seu fracasso afetivo.
Raramente se conseguia
coadunar a saída do domínio hierarquizante, reconhecido como legítimo pelo sistema, e a vida
sob o mesmo teto do homem, educado sob uma estrutura que lhe assegurava o controle da
mulher:
Comecei a fazer planos. Na hora do café, Seu Brandini e Estrela já tinham
convidado o Comandante a ficar morando conosco na Mansão. E Seu
Brandini ofereceu mais:
94
— Ladislau e eu estamos bolando uma nova turnê — quem sabe você
pode trabalhar conosco? (...) Aí o Comandante se endireitou na cadeira, de
repente muito sério:
— Desculpe, Brandini, mas Dôra não volta a trabalhar em teatro.
Seu Brandini ficou logo vermelho de raiva:
— Por quê? Você ainda é do tempo das cômicas? Qual é a vergonha
de trabalhar em teatro?
— Não é vergonha, mas eu não gosto. Mulher minha se rebolando lá
em cima no palco e tudo quanto é macho embaixo, de boca aberta. Tenha
paciência. Pra mim não. (DD, p. 283).
Como ser da tradição patriarcal, o Comandante impõe as regras da relação e se
nega a mudar seu esquema (habitus), e Doralina acaba aceitando voltar à inércia social.
Quando Georg Lukács (1885-1971) conceituou o processo de reificação, ou seja, transformar
o ser humano em coisa e instituir-lhe um preço, talvez estivesse pensando apenas no vínculo
de trabalho fora do espaço doméstico. No entanto, a mesma relação existiu para a mulher que
permitiu pôr de lado as ambições em troca dos prazeres que o homem poderia lhe conceder,
principalmente quando faltava convicção acerca das vantagens de se inserir em campo alheio.
Em muitos casos, a emancipação era algo que assustava, porque significava que a mulher teria
de assumir as responsabilidades e ficar sozinha ainda não era o ideal para ela. E é justamente
o medo de reivindicar uma igualdade de direitos na sociedade e, com isso, vir a perder o
homem, o empecilho para a personagem de Rachel de Queiroz prosseguir o seu voo rumo à
independência:
(...) Acho, ao contrário, que já levava muito gosto naquela vida na
Companhia, a luz e os aplausos e os homens assobiando, e o dia trocado pela
noite, e a gente hoje aqui amanhã além. Era uma aventura que não parava e
eu sempre tinha sonhado com aventuras.
Mas só se eu fosse uma louca e tentasse botar na balança — num prato o
Comandante, no outro a Companhia. Corresse tudo de água abaixo, carreira
de artista e luz de palco, que é que me valia nada disso em comparação com
ele? E nem me parecia sacrifício, era só a escolha entre o maior e o menor,
com perdão do Carleto...) (DDE, p. 285).
Doralina opta pelo caminho mais fácil, pois aventurar-se no desconhecido, apesar
de trazer maior desenvolvimento à personalidade, pode conduzir a surpresas desagradáveis.
Então, ―se quiser ser consequente, tem que dar lugar, e sem dúvida o primeiro lugar, à história
dos agentes e das instituições que concorrem permanentemente para garantir essas
permanências.‖ (BOURDIEU, 1999, p. 101).
95
Porém, a personagem Doralina não vive a domesticidade conforme a imposição
de uma norma social, pois sua escolha é madura. Segundo C. G. Jung, as convenções, por
serem apenas uma engrenagem da sociedade, não abrangem nada além da rotina da vida. É
um mecanismo que conserva os indivíduos inconscientes, tomando decisões sem usar o
raciocínio independente, mas vinculado à maioria. Só se torna personalidade quem tem a
capacidade de conscientemente dizer ―sim‖ ao que lhe é interior. Isso quer dizer que a pessoa
não se entrega cegamente aos desdobramentos dos acontecimentos, pois
O que cada personalidade tem de grande e de salvador reside no fato de ela,
por livre decisão, sacrificar-se à sua designação e traduzir conscientemente
em sua realidade individual aquilo que, se fosse vivido inconscientemente
pelo grupo, unicamente poderia conduzir à ruína. (DD, p. 185).
Com a decisão de dedicar-se ao seu Comandante, Doralina não se submete meramente
à tradição que impõe à mulher a dominação pelo homem — pai, irmão, marido —, mas o faz
pelo amor que destina a quem ela escolhe:
Ai, eu fazia um deus daquele homem, podia estar muito errada, mas não sei.
Afinal amor é isso mesmo, a gente pegar um homem ou uma mulher igual
aos outros, e botar naquela criatura tudo que o nosso coração queria. Claro
que ele ou ela podem não valer tanta cegueira, mas amor quer se enganar.
Amor de mãe também não é assim? O filho pode ser feio ou mau-caráter e
ela acha lindo, um anjo. Meu filhinho do meu coração, nascido das minhas
entranhas. Pois amor também é assim, é meu, é único, dono do meu corpo,
das minhas entranhas, mais até que um filho, e então? (DD, p. 365).
Os atos de agressividade do homem dileto não são tomados como violência, mas
como demonstração de amor, o que pode ser considerado algo absurdo para a visão feminista,
mas que faz parte da concessão espontânea da mulher que opta pela subordinação: ―Me deu
um tapa forte na face que deixou marca dos seus quatro dedos: ‗Isso é pra você se lembrar de
nunca mais na vida sair dançando com outro homem.
A sorte de vocês foi eu estar
desarmado.‘‖ (DD, p. 302). É um olhar diferenciado a respeito de amor, como ocorre também
com o conceito de maternidade. Apesar de ainda confusa, a personagem já começa a aceitar
que pode existir alguém para a mulher que seja mais importante do que o(a) filho(a). Ainda
que, na ocasião da morte de um policial conhecido por ―Bigode‖, ela pense no fato de que
―podia ser que a mãe gostasse dele quando o pariu — e assim mesmo só porque mãe é mãe.‖
96
(DD, p. 389). O tempo verbal composto ―podia ser‖ já insere a noção de dúvida, ainda que em
seguida a personagem seja categórica: ―porque mãe é mãe‖.
Porém, compreender a relação com a própria figura materna é mais complicado
para a narradora, porque, à época do trauma que a mãe lhe causou, ainda nutria algum
resquício de respeito por ela. Por isso, apesar de o Comandante apagar, ou pelo menos
amenizar bastante, as frustrações relativas a Laurindo, a imagem da mãe sempre a perturba.
Por fim, a notícia da morte de Senhora desestabiliza Doralina; contudo não há sentimento de
perda, não há emoção. Trata-se apenas de uma pessoa falecida com que ela viveu um mero
vínculo sanguíneo, e não afetivo. O que, na verdade, mexe com a personagem é o fato de,
sendo filha única, ter de retornar ao lugar de seu infortúnio existencial e assumir o comando
de seu patrimônio. E, pior do que isso, ter de conviver com os fantasmas que abatem seu
espírito. O desconhecimento do Comandante a respeito dos fatos que envolvem Doralina e
sua mãe o leva a cobrar da mulher uma devida consideração social em relação à falecida:
Depois que eles saíram o Comandante voltou a se sentar perto de mim, me
olhando bem, sem me tocar.
— Estou estranhando você. Com os diabos, apesar de tudo era sua
mãe. É assim o seu jeito de sofrer — de cara limpa, sem uma lágrima?
— Ainda estou meio tonta do choque, meu bem.
Fiz uma pausa, procurando jeito de me explicar:
— Aliás você já sabia que eu não me dava com Senhora.
Ele abanava a cabeça:
— Briga de mãe com filho nunca vai assim tão longe. Até pra lá da
morte! Eu sei, muitas vezes briguei com minha mãe. Ficava danado, jurava
nunca mais botar os pés em casa, e na primeira ocasião voltava, ia tomar a
bênção da velha.
— O gênio de sua mãe devia ser diferente. Mas Senhora era dura.
Depois de brigar comigo, mesmo que eu voltasse lá mil vezes pra lhe tomar
a bênção, acho que ela continuava a negar minha existência.
Oh, muito pelo contrário: negar existência nada! O gosto que Senhora
haveria de ter, me vendo chegar na Soledade, mão levantada ‗A bênção,
Senhora!‘ Ia me pisar aos pés, ia dizer tudo... — ou ia? Sim, ou ia? Desde
aquela noite desgraçada, qualquer coisa lhe avisou de que eu sabia. Eu
pensei que não me traíra em nada — mas quem pode jurar? E Senhora
mudou — ficou menos arrogante — com uma espécie de cerimônia de mim.
(DD, p. 325-326).
O marido, sob mentalidade patriarcal, conservador, não tem compreensão para
separar o que é cultural — convencionado e arbitrário — do que é da natureza — imutável —,
separação essa que Doralina, aos poucos, vai conseguindo fazer. Ele cobra dela uma
97
convencional manifestação pública de comoção, mas é a lembrança mais íntima da traição
materna que desperta a emoção. Chorar por Senhora seria o mesmo que anuir à hipocrisia, que
Doralina rejeitou quando saiu de casa. Somente a morte do Comandante é que configura uma
perda real e irreparável, deixando a personagem completamente sem referência (―Eu olhava
tudo em meu redor como casa e gente de uma cidade estrangeira e ouvia a língua do povo
como uma língua estrangeira‖ – DD, p. 406), tanto que Doralina se sente obrigada a expressar
sua dor através do luto: ―Achei o preto obrigatório. Era o meu documento de viuvez, ou mais
que isso; aquela roupa preta era a carta de marido que eu assinava para o Comandante.‖ (DD,
p. 409).
Ao ver alterada a realidade de sua vida, Doralina retorna, sozinha, para a fazenda
Soledade. Mas agora já é outra pessoa, porque voltou com as dores da vida. Diz ela: ―Doer,
dói sempre. Só não dói depois de morto, porque a vida toda é um doer.‖ (DD, p. 412). Mais
uma vez, é o trabalho que salva a narradora do desespero, mostrando o quanto a vida é algo
cíclico. O comando dos empregados ocupa-lhe o tempo e ameniza a dor pela perda do
marido, mas é no trabalho intelectual de reelaborar a própria história que ela realiza uma
verdadeira catarse, buscando libertar-se dos fantasmas da família, principalmente o da mãe.
Ao colocar uma distância temporal entre o eu narrador e o eu narrado, ou seja, ao
contrapor a mulher madura e consciente, na qual Doralina se transformou, com a jovem
mulher do passado, a autora reafirma que só o distanciamento dos fatos permite que se
estabeleça um olhar crítico sobre os acontecimentos, ainda que, como mencionado, eles sejam
―contaminados‖ pelas impressões pessoais. Mediante esse distanciamento, Doralina pode ver
a mãe como um produto do meio, que dissimulou sua personalidade através de máscaras
(personas) sociais: mulher casada, mãe, viúva enlutada, etc. Pode ver, também, que o
condicionamento a essas máscaras atinge, consequentemente, as pessoas que envolvem o
universo da mulher e os que estão sob sua dependência, especialmente a filha.
98
5 O HOMEM E A LITERATURA: INTERFERÊNCIAS ENTRE MÃE E FILHA
Religião e filosofia, duas correntes do campo metafísico, repassaram um forte
sentimento de culpa ao indivíduo cujo comportamento vai de encontro às expectativas das
convenções sociais. Essa realidade se faz presente em muitas das obras de Lygia Fagundes
Telles (1921), que, além da conturbada relação entre mãe e filha, muitas vezes questiona os
dogmas religiosos, principalmente em seus dois primeiros romances, Ciranda de pedra
(1954) e Verão no aquário (1963). Inegavelmente, questões relativas às delimitações do ser e
à necessária liberdade para torná-lo pleno são recorrentes seja nos contos seja nos romances
da escritora, denunciando, de forma não panfletária, a hipocrisia dos discursos oficiais que
sufocam a possibilidade de o indivíduo sentir-se livre para fazer suas próprias escolhas.
Outra constância nas obras de Lygia Fagundes Telles são os temas que dizem
respeito mais especificamente ao universo da mulher, como família, relação sexual na velhice
e maternidade. A tendência a desconstruir o mito do ―instinto materno‖ pode ser observada
desde o seu primeiro romance, em que a personagem Laura, mãe de três filhas, é acusada de
só pensar em si mesma desde que se apaixonou por Daniel. Mais tarde, Bruna, a filha mais
velha, atribui a doença mental da mãe a um castigo divino:
Não podia deixar de acontecer isso, Virgínia. Nossa mãe está pagando um
erro terrível, será que você não percebe? Abandonou o marido, as filhas,
abandonou tudo e foi viver com outro homem. Esqueceu dos seus deveres,
enxovalhou a honra da família, caiu em pecado mortal! (TELLES, 1981, p.
34).
Segundo esse julgamento, que reproduz a fala social e o discurso religioso, a mulher
considerada correta é aquela que está pronta a sacrificar seu desejo individual em prol do lar.
Se age contrariamente a esse comportamento, ela é apontada como louca, conforme se viu nas
palavras de Júlia Lopes de Almeida. Segundo entrevista da própria Lygia Fagundes Telles
(1998, p. 38), esse é um tipo de tema que só pode ser abordado dessa forma por uma mulher,
pois ali está a vivência da pessoa ―pertencente a uma sociedade como a nossa, que, até bem
pouco tempo, não tinha qualquer consideração por ela.‖
99
A narrativa de Verão no aquário8 retoma essa temática, ao destacar um drama
familiar vivido por mãe, filha, tios e sobrinha. O título nos remete à estação mais quente do
ano, que tanto expõe a beleza dos corpos quanto os desconforta, devido ao suor e à secura da
terra. O aquário é o espaço para poucos e selecionados peixes, elementos de decoração da
casa, os quais, por não poderem buscar o próprio alimento, sempre dependerão da ajuda
alheia. A partir desses dados, já se pode depreender o significado que o espaço domiciliar
assume no contexto do romance.
A história narra o conflito psicológico vivido por Raíza, a protagonista-narradora,
que faz da busca pela atenção materna o seu único objetivo de vida. Essa obsessão resulta na
paralisação da sua vida, tanto no plano profissional como no afetivo. Na verdade, o que Raíza
procura é subsídios para competir com a mãe, Patrícia, mas tem consciência de que somente
no quesito juventude leva alguma vantagem sobre ela.
Mais uma vez, portanto, Lygia se dispõe a desconstruir e refazer os laços
familiares, evidenciando que seus personagens não estão limitados a papéis fixos. Sem
levantar bandeiras político-sociais que empobreceriam o trabalho ficcional, a autora realiza
uma proposição implícita de que o indivíduo deve tirar o espartilho social, para que tenha
liberdade de fazer suas próprias escolhas e tornar-se pleno. Essa proposta se apresenta em
Verão no Aquário por meio da elaboração de uma trama em que os diversos tipos de
personagens se apresentam como personalidades que desejam gradativamente alcançar a
liberdade completa. Dessa forma, a obra, também com uma narradora homodiegética, pode
ser organizada por grupos. O primeiro é composto por Raíza e André, pessoas que não
gostam de regras, mas que não conseguem afastar-se delas. Ambos são condicionados por
dogmas que introjetaram, mas sem nenhuma condição pessoal para segui-los; por isso,
sacrificam-se para ajustar a persona aos moldes convencionais e manter a máscara de ―bons
indivíduos‖. E, a fim de sanarem seus medos individuais, eles se valem da religião:
[Raíza] Aproximei-me da estante e tirei a Bíblia meio escondida sob uma
pilha de livros. Li ao acaso. ‗Em ti, Jehovah, me refugio. Livra-me na tua
retidão e resgata-me; inclina para mim teus ouvidos e salva-me. Sê para
mim uma rocha de morada; tu hás ordenado que eu seja salvo, porquanto tu
és a minha rocha e a minha fortaleza.‖ (VA, p. 70).
[André] (...) O importante é não desanimar em meio da luta, é resistir!
Apertou a cabeça entre as mãos. Devo confessar que às vezes também sou
8
Doravante, após a citação dessa obra, será usada a sigla VA, seguida do número da página.
100
tentado da forma mais cruel, multiplicam-se as ciladas mas não esmoreço,
está me ouvindo?
Encarei-o. Que ciladas? Ele ainda falava em ciladas do demônio, em
ciladas... (VA, p. 146).
Esses dois personagens disputam a atenção de Patrícia e geram, assim, um
triângulo. No entanto, neste não há traições e sim atrações: Raíza, achando que a mãe tem
um caso com André, passa a assediá-lo, e, para isso, usa como arma a juventude; André, um
seminarista, precisa da segurança e da maturidade de Patrícia, mas não consegue resistir à
sedução de Raíza. Aquela atua como uma bússola para o jovem e quer ser o mesmo para a
filha, mas não consegue, porque a filha quer a mãe com exclusividade. Podemos dizer, então,
que Patrícia é a base do triângulo. Isso fica claro nas palavras que Raíza dirige a André:
―Você precisa dela, eu sei, aquela velha história de todo homem querer no fundo dormir com
a mãe, não me oponho a Édipo. Mas veja em mim a irmã e serei Electra!‖ (VA, p. 18).
O triângulo amoroso que a narradora acredita existir baseia-se em personagens
míticos: André e Raíza são Édipo já que se sentem seduzidos, respectivamente, pela figura
materna e paterna.
Patrícia, na trama imaginária de Raíza, poderia ser Jocasta, por se
envolver com o ―filho‖, ou Clitemnestra, já que a filha, desejando ferir a mãe, envolve o
irmão para que ele a golpeie. É a arquitetura da tragédia da qual Patrícia se destaca como a
heroína que procura firmar o ethos (o próprio caráter), e, para isso, luta contra o dáimon (o
destino), a fim de assumir o seu desejo (no caso da narrativa, o ofício de ficcionista). André,
leitor de suas obras, a compreende, mas Raíza lhe cobra o destino doméstico, do qual é parte.
O segundo grupo, o que se dispõe a fugir da realidade, é composto por Giancarlo,
tia Graciana e tio Samuel. A tia de Raíza vive em seu quarto recompondo as roupas de sua
juventude, inventando fórmulas de perfume, parada no tempo:
De vez em quando, ela se voltava e eu então fingia estar contando as flores
do papel da parede, umas vagas guirlandas de miosótis que desciam enleados
em laçarotes de fitas, como convém ao quarto de uma mocinha. Mas de uma
mocinha que passou muitos anos fora e que, ao voltar, continuou como se
nada tivesse mudado, cantarolando distraidamente as mesmas cantigas em
meio dos móveis carunchados e cortinas comidas por traças. (VA, p. 5).
O marido de Patrícia e pai da narradora, Giancarlo, falecido desde o início da
narrativa, é descrito como um homem romântico, vago e sonhador; um farmacêutico
fracassado que disfarçava o vício da bebida mastigando hortelã e fugindo para o sótão, lugar
101
onde também ficava tio Samuel, que, antes de ir morar no sanatório, ―se refugiava com sua
loucura entre os móveis imprestáveis e caixotes de livros nos quais os bichos cavavam
galerias insondáveis.‖ (VA, p. 6).
Patrícia, Marfa, Fernando e Eduardo compõem o terceiro grupo; são pessoas que
sabem o que querem e quase não se importam com a consideração alheia sobre seus atos.
Conseguem fazer uma análise crítica para identificar o que é teoria social, mas a experiência
de vida de cada um os faz formular conceitos próprios. Por isso, enfrentam as adversidades
transgredindo as regras, conscientes de que precisam de um escape para amenizar a dor
existencial.
Patrícia, mãe de Raíza, é uma pessoa que, desde jovem, enfrenta as
determinações sociais com segurança, como, por exemplo, quando anunciou à família o seu
casamento com Giancarlo. A narradora resgata as lembranças da tia acerca desse momento:
―Você sabe perfeitamente que na nossa família as coisas são feitas num outro sistema, disse
meu pai. Patrícia então examinou-o como costuma examinar essa cortina e respondeu que já
estava na hora de mudar esse sistema.‖ (VA, p. 25).
Marfa, sobrinha de Giancarlo e filha de Samuel, bebe muito, tal como o tio, e faz
uso de drogas. Porém, isso é parte de uma escolha consciente e não de uma fuga. Raíza
percebe essa diferença: ―Até para o vício é preciso ter coragem, ela dissera... Ela ao menos
escolhera enquanto eu ali estava em disponibilidade‖ (VA, p. 48). Ao contrário da narradora,
sua prima busca entrar mais na realidade para compreender os dramas existenciais e a fim de
atingir esse objetivo faz tratamento psicanalítico — ―de dor em dor, o psicanalista chega à
raiz da dor. E se não solucionar pelo menos esclarece‖ (VA, p. 45). Já Fernando é um homem
casado que mantém relações extraconjugais, inclusive com Raíza, que vive, também por conta
disso, um sentimento de culpa. Ele tenta aconselhá-la: ―Viva, carneirinho, viva sem se
preocupar com os outros‖ (VA, p. 16). Eduardo é um libertino — ―você é homem ou mulher?
perguntei-lhe e ele dilatou as narinas com carmim nas bordas, ‗é indiferente...‘‖ (VA, p. 65).
Segundo se depreende desse grupo, mesmo que a escolha do seu modo de vida seja
condenada pela maioria, eles se preocupam em encontrar uma forma individual de se sentir
bem, de solucionar o mal-estar da própria existência.
A história da família se passa na casa, em que todos os personagens transitam em
algum momento, com exceção de Fernando e Eduardo, e é desencadeada por um sonho em
que o pai falecido de Raíza aparece com uma rosa no lugar do rosto. Essa imagem, altamente
simbólica, fica na memória da narradora, que busca entender-lhe o significado. Contudo,
102
como os símbolos dos sonhos geralmente são de difícil compreensão, muitas vezes é
necessário recorrer-se a fontes externas de interpretação. Assim, a Bíblia Sagrada é muito
citada no romance, já que muitos dos textos bíblicos apresentam os sonhos como antecipação
de algo que está para ocorrer ou como explicação para algo já ocorrido. Exemplos disso
encontram-se nas personagens José, Faraó, Salomão e Nabucodonosor, cujos sonhos se
tornam realidade, conforme a interpretação dada.
No entanto, o segundo e o quarto
personagens precisam do auxílio de alguém que lhes esclareça o que, para si, é uma
mensagem subliminar:
(...) Faraó teve um sonho. (...) Tornando a dormir, sonhou outra vez. (...) De
manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os
magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos; mas ninguém
havia que lhos interpretasse. Então, disse a Faraó o copeiro-chefe: (...)
Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda;
contamos-lhe os nossos sonhos, e ele no-los interpretou, a cada um segundo
o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu (...). Então,
Faraó mandou chamar a José (...). (Gênesis 41: 1, 8, 9, 12, 13, 14).
No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho; o seu
espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar
os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem
ao rei quais lhe foram os sonhos; eles vieram e se apresentarem diante do rei.
Disse-lhes o rei: ‗Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu
espírito. (...) Uma cousa é certa: se não me fizerdes saber o sonho e a sua
interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo
(...)‘. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, ele revelaria
ao rei a interpretação. (Daniel 2: 1-3 e 5).
Para C. G. Jung, o sonho é a manifestação de uma segunda intenção inconsciente
que se pode tornar parte da consciência quando auxiliado pela ―intuição e através de uma
reflexão mais profunda (...). Mas o sonho mostra o aspecto subliminar na forma de imagem
simbólica e não como pensamento racional.‖ (2008, p. 190, grifos do autor). Os sonhos
enigmáticos têm por função revelar um segredo, são profecias. Tal como eles, o de Raíza
precisa ser analisado pelo viés simbólico, já que ela não consegue compreendê-lo sob
parâmetros racionais: ―Por que a rosa em lugar do rosto?‖ (VA, p. 4). Conceitualmente
conhecida como a flor que simboliza a beleza, a ausência de defeitos e a delicadeza, a rosa,
como representação, esclarece à Raíza a personalidade do pai, inclusive apontando a
incompatibilidade existente entre ele e Patrícia, sua mãe. Ao longo do texto, Raíza apresenta o
seu pai como um homem que, literalmente, gosta de enfeitar a realidade:
103
‗Que fazia você no verão?‘ perguntou a formiga. E a cigarra com voz
dilacerada: ‗Eu cantava...‘ Mais de uma vez ele me contou essa fábula mas
era sempre minha mãe que eu via no lugar da formiga: ‗Pois dance agora!‘
Ficávamos os dois no meio da neve que ia-nos cobrindo, paizinho, como ela
é má! Ele então pensava que eu me referia à formiga e ficava surpreendido
ao me ver banhada em lágrimas. ‗Não chore, Raíza, depois a cigarra
encontrou um buraco quentinho e lá ficou morando. Quer tomar um
chocolate antes de dormir?‘ (VA, p.97).
No filme, era um exército. ‗Um exercito já desfilou sobre este corpo‘, disse
a mulher de vestido decotado e olhos pesados de rímel. Foi a única frase que
me ficou de todo o enredo. Na rua, apertei o braço do meu pai: Aquela
mulher, paizinho... Disse que um exército passou em cima dela... Meu pai
fez então aquela cara perplexa, de quem não tinha entendido bem. E
enveredou para a história da princesa que queria um vestido da cor do mar
com seus peixinhos. Assim ele costumava fugir das perguntas difíceis. Das
situações difíceis, ‗Raíza, já contei a lenda do Moinho Encantado?‘ (VA, p.
171).
Essa representação da família de Raíza mostra que o casamento da cigarra com a
formiga é, logicamente uma união difícil de dar certo. A idéia de que os opostos se atraem
para as relações afetivas é também aí desconstruída pela autora, que apresenta essa oposição
como um dado de distanciamento do casal. Além disso, a oposição entre os pares sempre se
pautou no conceito de heterossexualidade e na determinação de uma suposta essencialidade
para cada sexo, como já mencionado. No entanto, no romance em estudo, são as cobranças de
posicionamento diante da vida que geram os conflitos pessoais, já que os papéis, tão bem
demarcados na sociedade, estão trocados na obra. Giancarlo não é o homem viril que se
espera no comando de um lar, ou seja, não é o marido racional, responsável e firme nas
decisões, o pai com autoridade, muito pelo contrário. Pelo discurso de Raíza vê-se
reproduzida a fala da sociedade a respeito do pai dela: ―É um farmacêutico fracassado, bebe
demais, você não sabia? Está sempre escondido no sótão em companhia do irmão, um tipo
meio louco que vive cortando coisas, a família inteira é esquisitíssima‖ (VA, p. 6). Porém, na
visão de Raíza, o pai é um ser frágil, ―ele não fora outra coisa em toda sua vida: um
estrangeiro amedrontado, sem bagagem e sem ambição.
Teria sido bom farmacêutico?
Provavelmente nem isso, era tão vago, tão sonhador, impossível imaginá-lo eficiente em meio
dos boiões e pozinhos brancos‖ (VA, p. 25). A figura do homem sob os parâmetros patriarcais
é esmaecida aos poucos; em contrapartida, a imagem da mulher, até então invisível em sua
domesticidade, vai ganhando projeção – e uma projeção auferida por meio do trabalho
intelectual.
104
A narrativa de Raíza expõe um outro sonho significativo, desta vez relacionado a
Patrícia e à verdadeira obsessão da jovem pela mãe. É um sonho que integra a investigação
da narradora acerca do comportamento materno em relação a ela. Nesse caso, então, o sonho
é já uma espécie de paranoia, desenvolvida a partir ―de idéias acompanhadas de intensa
emoção que, por isso, influenciam a psique com força anormal.‖ (Jung, 2008, p. 375):
O passarinho vigiava e seus olhos tinham o mesmo fulgor de cobre da
caçarola. Abri os braços para espantá-lo mas nesse instante ele sorriu como
André costumava sorrir. André! gritei. Mas ele já não me via. Enlaçou
minha mãe, enlaçados e nus os dois corpos rolaram pelo braseiro do fogão,
vermelhos como ferro incandescente. Quis olhar lá dentro mas um sopro
gelado apagou o fogo. (...) Afastei as cobertas, o corpo úmido de suor, ai!
aqueles sonhos...
(...)
— Tia, tia, se ao menos eu soubesse...
— Soubesse o que, meu bem?
— Que eles são amantes. (VA, p. 126-127).
Os sonhos são despertados por elementos do inconsciente, como coisas que são
colocadas no sótão ou no porão, lugares onde se destina tudo o que se pretende esconder, por
não se poder jogar fora. Giancarlo, por exemplo, está inserido nesse espaço, a fim de escapar
de críticas à sua incapacidade de ser o modelo de homem que a sociedade patriarcal deseja.
Se, por influência religiosa, não se pode acabar com a própria vida, o exagero da bebida é o
recurso para fugir dela e/ou abreviá-la — ―a morte é castigo, mas a vida também é.‖ (VA, p.
16).
O drama gerado em Raíza parece advir do fato de a mãe não suportar a
acomodação e de a filha ter herdado da figura paterna toda a indefinição diante da vida. Não
é por acaso que no sótão tem um espelho diante do qual Giancarlo, Samuel e Raíza
costumavam se observar. Contudo, se eles, simbolicamente, visualizam os próprios defeitos
refletidos no espelho, não o fazem com o fim de consertá-los.
Era ali o meu lugar. E para certificar-me disso, bastava ver o velho espelho
apoiado na parede, um espelho redondo, todo cheio de manchas porosas
como esponjas embebidas em tinta. Nele eu ficava amarela também, eu,
meu pai, tio Samuel, todos da mesma cor do cristal doente, enfeixados no
círculo da moldura dourada. Então meus olhos se enchiam de lágrimas
porque eu tinha medo de que um dia ele se quebrasse e nos perdêssemos um
do outro. Quem cuidaria do meu pai, delicado como uma folha murcha,
dessas que caem ao primeiro vento?! E do tio, balofo como um fruto que
apodrecesse antes de amadurecer, quem cuidaria dele, quem? No espelho,
105
só no espelho eu via que fazíamos parte da mesma árvore, a árvore
detestável que minha mãe aceitava em silêncio e que tia Graciana,
distraidamente, fingia não ver. Para que as duas irmãs ficassem em paz —
minha mãe com seus livros e minha tia com suas costuras — era preciso que
os dois irmãos ficassem longe de suas vistas. No sótão, por exemplo. Sim, a
casa era enorme mas nós três não cabíamos dentro dela. (VA, p. 7).
O sótão também pode ser considerado como uma representação do inconsciente,
onde estão contidas as ações socialmente condenáveis. Assim como o sótão, onde não se
devem levar as visitas, porque é um lugar desordenado, o inconsciente também é um lugar
completamente desconhecido pelos outros. No entanto, ele pode irromper à consciência do
indivíduo e dominá-lo por algum tempo, tirando-lhe a lucidez, o discernimento. Pode não
chegar a ser patológico, mas é o momento em que a pessoa está sob um comportamento que
não é desejável:
[Giancarlo] Refugiava-se no sótão, limpando os livros. E nas raras vezes
que saía, voltava tão sonolento, tão estranho que eu mesma não tinha
coragem de me aproximar. Ficava a vigiá-lo de longe até que a sonolência
passasse e ele pudesse me reconhecer (...). Ele cheirava hortelã. E sorria
vagamente como se estivesse mergulhado num sonho. (VA, p. 26).
A oposição entre o pai e a mãe de Raíza fica mais nítida, porque, enquanto ele é
emoção, ela é razão, equilíbrio: ―Não se entusiasmava nunca, preferia ler, estudar, sempre foi
reservada demais‖ (VA, p. 23); ―ficamos completamente desnorteados (...).
Só Patrícia
parecia raciocinar, só ela não perdeu a cabeça, sempre tão segura...‖ (VA, p. 25). O homem
jamais estaria ligado à emoção no contexto social que impõe a ele atributos de força, coragem,
equilíbrio e comando. A representação materna de Lygia Fagundes Telles se opõe, assim, ao
pensamento filosófico segundo o qual a mulher era um ser destinado a todas as situações
afetivas, pertencendo a ela a responsabilidade pela criação da criança, por ser mais propensa à
afetuosidade, característica não condizente com a natureza do homem.
Conforme esse
pensamento, a mulher possuía uma fraqueza intelectual que a distanciava das situações de
comando. Contudo a mulher representada pela personagem-mãe de Verão no aquário não se
enquadra nessas definições; Patrícia, reconhecidamente, destaca-se pela força e pela
segurança.
Em geral, tal como acontece com Giancarlo, os personagens masculinos do
romance se apresentam bem fragilizados. A tia de Raíza, por exemplo, descreve assim um
seu antepassado: ―O nosso bisavô, o Marquês de Aragão, era mais sensível do que uma moça,
106
tamanha delicadeza de sentimentos!‖ (VA, p. 25). André, conforme diz Patrícia, ―é um moço
de uma sensibilidade doentia, cheio de inibições e, ao mesmo tempo, tão sem mistérios, tão
puro‖ (p. 91). As mulheres, por sua vez, não são todas descritas sob o conceito de debilidade,
de fácil comoção diante das intempéries existenciais, como quis Voltaire (1694-1778),
filósofo contemporâneo de Rousseau, cujas ideias também foram amplamente disseminadas
na sociedade. Ao categorizar as espécies, em seu Dicionário Filosófico (1764), Voltaire
conceituou a mulher sob as seguintes palavras:
De um modo geral é mais fraca do que o homem, menor, menos capaz de
trabalhos demorados. Seu sangue é mais aquoso, sua carne mais compacta,
seus cabelos mais longos, seus membros mais arredondados, os braços
menos musculosos, a boca menor, as nádegas mais salientes, as ancas mais
afastadas, o ventre maior. Essas características distinguem as mulheres em
toda a Terra, em todas as espécies, desde a Lapônia até as costas da Guiné,
na América como na China. (...) Não constitui novidade que em todos os
países o homem se tenha tornado senhor da mulher, já que tudo está
fundamentado na força e normalmente ele apresenta uma superioridade
muito grande tanto na força física quanto na espiritual. (2008, p. 394-396).
Muitos anos se passaram até que homens e mulheres fossem vistos dentro de sua
diversidade. Em Verão no aquário, a autora dá a cada personagem a condição de seres
individualizados, sem contudo abdicar das especificidades de gênero, demonstrando que o ser
consciente e racional sabe que nem sempre as regras podem ser rasgadas, pois os prejuízos
sociais são imensos.
O casamento e a maternidade, por exemplo, são partes de uma
convenção da qual a mulher da década de 60, quando a obra foi publicada, ainda não podia
fugir. E, nas famílias burguesas, a mulher que tentasse escapar desses papéis sociais por
vontade própria era considerada rebelde. Como vimos na análise da obra de Rachel de
Queiroz, a função de esposa e o trabalho individual da mulher para prover a si mesma eram
coisas excludentes. Muitas moças de famílias burguesas — como a personagem Patrícia do
romance em estudo — procuraram renunciar ao papel de moças casadoiras, mas não
conseguiram, porque a vontade individual foi esmagada pelo desejo coletivo em sua
totalidade. Raíza descreve tal situação vivida por sua mãe no passado:
— Casou com ele para se livrar da família, não precisaria ter se casado
se fosse menos convencional, mas está claro que tinha que dar essa
satisfação. Então casou-se. Calculou mal porque ao se libertar da família,
veio-lhe em troca uma outra maior e mais complicada: um marido como ele,
sem ambição e ainda por cima, viciado. Um cunhado demente, uma
sobrinha cheia de problemas... E eu nascendo quando o casamento já estava
107
estourado, ah, se ela pudesse livrar-se de todos como de uma ninhada de
gatos! (VA, p. 86).
No início dos anos 60, período de ambiência da obra, era inconcebível à mulher
exercer alguma atividade profissional, e aquela que a exercesse era obrigada a abandoná-la
após o casamento. A narradora revela uma grande percepção de como a rigidez da trama
familiar pode ser um empecilho à vocação profissional do ser humano. Assim, apesar de
cobrar da mãe um comportamento tradicional, tem consciência de que o exercício materno
não é parte da natureza e, principalmente, de que uma mulher como Patrícia é totalmente
inadequada para ele. No entanto, quem opta por não ficar à margem, força uma adaptação e
sufoca a índole individual e, por isso, precisa encontrar uma forma de catarse. No caso de
Patrícia, uma escritora, essa catarse se dá através da elaboração ficcional, que lhe permite
firmar a própria personalidade, a qual Jung define como ―a realização máxima da índole inata
e específica de um ser vivo em particular (...) Personalidade é a obra a que se chega pela
máxima coragem de viver, pela afirmação absoluta do ser individual (...) tudo isso aliado à
máxima liberdade de decisão própria.‖ (1981, p. 177).
Patrícia foge à passividade atribuída ao sujeito feminino e não se deixa controlar
pelas leis de sujeição ao homem, seja ele o pai ou o marido. E, para isso, elege a ficção
literária como alternativa para escapar do aprisionamento do viver, já que a função de
escritora lhe permite corrigir a escolha malfeita, libertando-a da opressão oriunda do convívio
familiar.
Contudo, a filha, sem conseguir aceitar plenamente essa realidade, sente-se
abandonada.
Não é aleatória a semelhança de Patrícia com a esfinge, que, segundo o
Dicionário de Símbolos, ―só pode ser vencida pelo intelecto, pela sagacidade, o oposto do
embrutecimento vulgar.‖ (Chevalier & Gheerbrant, 1995, p. 389). O raciocínio crítico não
permite que a pessoa viva sob conceitos decorados ou discursos vazios, limitados à
reprodução de discursos alheios, como faz André ao citar, sem nenhuma convicção, o
pensamento dos filósofos. O (a) escritor(a), como intelectual, sempre busca traduzir para si
mesmo suas convicções e questionamentos acerca dos valores e dos ideais da sociedade. Sua
visão de mundo, às vezes, coincide com as propostas ideológicas dominantes, mas também
pode levar o leitor a uma nova perspectiva dos fatos, ao oferecer-lhe novas possibilidades
conceituais. Isso porque ―literatura é espelho. O signo é transparente. Os olhos do romancista
refletem os objetos da sua observação.‖ (Bosi, 2007, p. 14). Lygia Fagundes Telles, além de
108
evidenciar a necessidade de independência do ser humano através de Patrícia, representa com
Raíza o indivíduo paralisado, preso pela raiz a conceitos que o vinculam ao mundo. E isso
devido ao medo de enfrentar a diversidade e não saber lidar com ela, o que deixa a pessoa
fechada como que numa espécie de ―aquário‖: protegida, mas limitada, obtusa.
Devido a esses enraizamentos conceituais, Raíza presta atenção na mãe, mas não a
tem como referência de mulher que se envolve com os problemas da família e se dedica ao
outro. Além de não dar prioridade aos membros da casa, a mãe foge da função de moldar a
filha como forma de agradar ao meio em que vive. É uma pessoa que busca autenticidade, e
se, por vezes, faz a concessão de se interessar pela vida do outro, isso não significa tornar esse
outro superior a si mesma, como é próprio da esposa e mãe inscrita no modelo patriarcal. E o
fato de tomar a própria individualidade como referência para a construção de sua vida, faz
com que a personagem seja considerada egoísta:
Minha mãe. Chovia? Fazia sol? Eu ficara grávida? Marfa aparecera
bêbada? Tio Samuel fora para o hospício? Meu pai fora para o inferno?
Não, nada disso tinha a menor importância. O importante era que ela
escrevesse seus livros. Podia um vulcão romper no meio do jardim público e
haver um fuzilamento em massa na esquina e a Lua dar um grito e se
despencar do alto... Ela não queria saber. Ou melhor, queria saber mas era
como se não tivesse sabido. Ouvia. Calava. E muito tesa e muito limpa,
sentava-se diante da máquina, punha os óculos e começava a escrever. (...)
Guardar o útil e deitar fora o inútil. E que perita ela se tornara nessa arte de
selecionar!... Que importância meu pai ou eu podíamos ter? Nós dois tão
desfibrados, tão frágeis com nosso medo da morte, com nosso medo da vida
— que importância, não, mamãezinha? Se ao menos tivéssemos sabido
aprender as lições admiráveis dos seus livros, recheados de personagens
mais admiráveis ainda... É bem verdade que o quotidiano não existia para
esses heróis. (VA, p. 49)
As críticas de Raíza são contundentes em relação à mãe. Ora, se esta é descrita por
Graciana como uma pessoa que, desde nova, possui características de racionalidade e de
frieza extremas, a incomunicabilidade entre mãe e filha explica-se pelo fato de as duas
assumirem comportamentos diferentes diante da vida. Ainda que a narração de Raíza
demonstre seu pensamento crítico, a linguagem que dirige à mãe é irônica e, por vezes,
infantilizada. A liberdade que a mãe lhe deu, desde criança, ao invés de trazer maturidade,
gerou uma crise de abandono. Para a protagonista, a dedicação de Patrícia a personagens
fictícios só serve para idealizar as pessoas, com as quais a mãe, na verdade, gostaria de
conviver.
109
Porém, Patrícia não deixa de agir como uma observadora das etapas de vida da
filha, que vão passando naturalmente e sobre as quais as interferências maternas são as
imprescindíveis. Por isso, não critica nem lamenta quando a menina, na fase adolescente,
interrompe os estudos de piano: ―Só minha mãe não se surpreendeu, ‗passou como passou a
adolescência‘, ouvi-a certa tarde dizer a Miss Gray, que se confessava derrotada. Contudo,
não se opôs a que eu contratasse Goldenberg, ‗é um excelente professor‘, disse apenas. E
esperou...‖ (VA, p. 34).
A atitude de indiferença da mãe é, segundo a observação da
narradora, demonstração de falta de afeto, enquanto para a mãe é uma forma de aceitar a
natureza da filha. Patrícia, que não impôs um destino à filha quando criança, tampouco tem a
intenção de reprimir ou incentivar qualquer ação dela na juventude, pois, para essa mãe criada
por Lygia Fagundes Telles, a filha não depende de adestramento, mas de conselhos: ―Ela fala
só uma vez sobre um assunto. Depois, recolhe-se de novo ao seu mundo e lá fica a olhar os
outros como essa sua Germaine olha para nós‖ (VS, p. 35). Relacionando o olhar da mãe com
o olhar da estátua, Raíza intensifica a impressão que a mãe lhe causa: a de uma mulher serena
e impassível.
Como mencionado, a mãe representada na narrativa se distancia muito da mulher
idealizada, em que ―a ternura e as atenções que deve aos filhos são consequências tão naturais
e tão visíveis de sua condição, que ela não pode, sem má-fé, recusar sua aprovação ao
sentimento interior que lhe guia‖ (Rousseau, 2004, p. 558). A personagem escritora é a
representação do desregramento para o gênero feminino, assim como o marido o é quanto ao
masculino. Mas é sobre ela que a exigência da filha se intensifica, pois esta busca em Patrícia
uma disponibilidade materna sob perspectivas românticas, tais como as descritas por Jung: ―A
sublime figura maternal, a Grande Mãe, rainha da misericórdia, que tudo compreende e tudo
perdoa e que sempre deseja o bem. Vive para os outros, nunca busca seus próprios interesses
e é a descobridora do grande amor.‖ (2008, p. 103).
A psicanálise tende a culpabilizar a família pelas neuroses, psicoses e perversões
individuais. No contexto do romance, a mãe não escapa de ser apontada como a responsável
pelos males que atingem a filha — como já visto nas considerações iniciais deste trabalho,
Balzac já introduzira essa questão em A mulher de trinta anos. E na visão de Lacan, por
exemplo, igualmente a mãe é a responsável pelo modo como se desenvolve a estrutura
humana da menina. Assim, a solicitação de amor por parte da criança se expressa na dialética
que envolve a presença materna, que significa prova de amor, e a ausência, que indica, na
110
visão lacaniana, desafeição. ―O fato de a mãe poder atender às necessidades tanto biológicas
quanto amorosas da criança constitui um dos motivos pelos quais é elevada à categoria do
Outro. O que impera é seu poder: suas respostas constituem lei ou regulamentos, suas
demandas são mandamentos.‖ (Lacan, apud Zalberg, 2003, p. 60). Analisando-se por esse
prisma, que não pode ser desprezado, a mãe representada por Lygia Fagundes Telles não
articula os conceitos de alienação — a menina desde que nasce é dependente do mundo
materno — e separação — período em que a filha sai da total submissão ao mundo materno
—, que, para Lacan, são imprescindíveis à constituição da futura mulher.
Porém, esse encadeamento natural entre alienação e separação aparentemente não
existe para Raíza, cujo processo de crescimento como indivíduo deve ocorrer
independentemente da configuração familiar. Não há que se reconhecer propriamente uma
incapacidade de Patrícia para se dedicar à família, ou a manifestação de um egoísmo que a faz
voltar-se apenas para os próprios interesses. Na realidade, essa personagem, criada no período
de declínio do sistema patriarcal, ensina a filha a viver meramente sob a condição de ser
humano. Para isso, é preciso ensiná-la a ser um indivíduo autônomo, com liberdade, inclusive,
para aprender. Em dado momento, a mãe diz à filha: ―Essas coisas não podem ser explicadas,
as palavras não adiantam, eu queria que você entendesse sem ser preciso que eu dissesse.‖
(VA, p. 131).
No período em que o romance foi publicado, quando a mulher estava em processo
de ascensão intelectual e profissional, não cabia criar uma jovem alimentando-lhe a
ingenuidade e o idealismo diante da vida. Patrícia, no papel de escritora, transfere suas
idealizações para o âmbito da ficção. Mas entre a ficção e a realidade há uma grande
distância, já que a segunda volta-se para o plano empírico da existência, exigindo do ser
humano amadurecimento psicológico e consciência de si mesmo. Assim, para Patrícia, a
educação tem que seguir a natureza do desenvolvimento próprio de cada um, sem prender-se a
idealizações. Com o objetivo de preparar a filha para enfrentar a sociedade de forma racional,
Patrícia lhe cobra que repense as próprias atitudes:
— Você fez uma mudança grande, Raíza, começou ela lentamente.
Mas não terá sido brusca demais? Essas renúncias repentinas... Você cortou
tão de repente o cigarro, a bebida...
— O sexo. Cortei tudo.
— Fico satisfeita mas inquieta, vejo que está sofrendo e não quero que
você sofra assim.
— Toda mudança tem que ser na base do sofrimento, mãezinha.
111
Ela arqueou as sobrancelhas. Apertou mais minha mão.
— Mas o sofrimento será mesmo necessário? Não desconfia um
pouco de uma fase que começa tão sem alegria, tão sem saúde?... (...)
— Só sei que tenho tentado ser boa, mamãe, mas é difícil. Viciei-me
nas pequeninas perversidades e agora sinto falta delas como há pouco senti
falta do cigarro. (VA, p. 130).
A filha imatura representada na obra enfoca dois principais empecilhos à relação
com a mãe: o ofício de escritora que esta exerce — ―já não era manhã, entardecia. Se ao
menos minha mãe parasse um pouco de escrever, se descansasse, por um minuto que fosse,
aquela máquina implacável‖ (VA, p. 10) — e André, o jovem seminarista. O primeiro
―inimigo‖ é um fato, mas o segundo é apenas uma ameaça pressentida por Raíza (―Era preciso
me apressar antes que chegassem a ser amantes se é que ainda não...‖, VA, p. 3), que, no
fundo, acha inconcebível haver um relacionamento entre um jovem e uma mulher mais velha.
Se a figura da mãe é semelhante à de uma esfinge, não é possível decifrá-la, e a narrativa
lança ao leitor a dúvida sobre essa relação, como ocorre ante dos enigmas machadianos. No
romance de Lygia, porém, tal situação assume uma conotação diferente daquela que se viu no
romance de Rachel de Queiroz, porque agora a narradora não coloca o elemento masculino
como pivô de seu afastamento afetivo da mãe; extremamente autocentrada, Raíza vê o rapaz
como mais um a ocupar o tempo que a mãe deveria dedicar a ela. Por isso, o mais importante
é o que Raíza é capaz de fazer devido a sua fixação na imagem materna: ela decide entrar em
combate com a mãe e procura usar André para feri-la:
Pensei de repente em minha mãe naquela mesma cadeira que eu ocupava
agora. Mamãe já esteve aqui com você, não esteve? perguntei. Ele baixou
o olhar e pôs-se a fazer um barquinho com o guardanapo de papel. ‗Já
esteve sim‘, respondeu depois de algum tempo. Achei-o de repente distante,
formal. (...) Uma certa alegria maliciosa ardeu em mim. Foi então que lhe
perguntei se era assim também que ele tratava minha mãe no particular.
‗Que particular?‘ quis saber numa voz dilacerada. Ora, para onde você a
leva quando não estão tomando chá, respondi e ele se levantou. Perdi-o
pensei. (VA, p. 18).
E se eu entrasse assim seminua pelo escritório adentro, perdão, perdão, eu
não sabia que André estava aqui!... Minha mãe me lançaria um olhar de
cólera fria, era uma raridade aquele olhar, só seus personagens conseguiam
olhar igual. Quanto a André, não teria tempo sequer de desviar-se das
minhas pernas. (VA, p. 28).
112
Sempre que se entra em uma guerra ou num jogo tem-se como objetivo um troféu
e, para alcançá-lo, as armas também podem ser invisíveis, apenas simbólicas, como, por
exemplo, o discurso persuasivo. Outro recurso é se aproveitar da carência do ―inimigo‖, que,
geralmente, deixa os pontos fracos expostos. No caso de André, a repressão dos impulsos
sexuais é nítida, principalmente por ele estar prestes a ingressar em uma profissão sacerdotal,
a qual, mesmo que ainda não tenha sido efetivamente praticada, impõe norma celibatária. A
narradora une as duas armas com a intenção de enredar o rapaz. Contudo, se ele tem o
comportamento casto, não é nenhum ingênuo, o que lhe permite enxergar as artimanhas de
Raíza:
— André, eu te amo.
Ele levantou-se com energia. Apertou o nó da gravata.
— Não, você não me ama, você cismou comigo, tudo não passa de um
simples capricho, prosseguiu ele pondo-se a andar de um lado para outro
como um animal enjaulado. Eu não pretendia dizer-lhe o que vou dizer, mas
você fica insistindo... Pois bem, talvez seja melhor esclarecermos de uma
vez por todas: o seu interesse por mim existe exclusivamente porque você
desconfia de que sua mãe e eu...
— São amantes.
— Deixa eu terminar! exclamou ele avançando. Fez um esforço para
controlar-se: Exatamente, é esse o seu juízo a nosso respeito e desse juízo
nasceu essa idéia de amor. Mas você confunde amor com ciúme, tem ciúme
dela e fica então a desafiá-la o tempo todo, atormentando-a de um modo
incrível... (VA, p. 79).
Apesar do caráter frágil, a acuidade do seminarista não lhe permite ser usado por
Raíza. Porém, é interessante notar que a autora utiliza a obsessão de filha pela mãe para
encadear um preconceito recorrente, representado pelo monitoramento das relações afetivas
da mulher mais velha. O problema de Raíza não é a mãe ter um homem, mas que ele seja
mais jovem. É o poder de sedução da escritora, que nem mesmo usa recursos para disfarçar
os sinais de envelhecimento, o que deixa a filha incomodada — ―Ela me olhou penalizada.
Um raio de luz batia em seus cabelos dando-lhes um brilho quente. Podia tingi-los. Mas
preferia deixá-los assim, docemente castanho-grisalhos, penteados para trás. (...). Era jovem,
mas não era mais jovem‖ (VA, p. 50). No entanto, a juventude só é ponto de valorização para
quem prestigia a aparência física em detrimento do indivíduo como ser humano. André,
segundo a narradora, é atraído pela intelectualidade de Patrícia e pelo desenvolvimento de sua
personalidade. A relação entre o seminarista e a escritora ultrapassa os interesses meramente
113
superficiais, envolvendo uma dimensão existencial mais profunda. Raíza, contudo, tem uma
visão bastante preconceituosa sobre esse relacionamento:
Fiquei sorrindo e pensando em minha mãe. Tão deusa, tão inacessível, as
vinte mil léguas submarinas longe daquela vulgaridade que se pintava diante
de mim. Contudo, o mesmo triste lado humano na sede de mocidade: o mais
velho sempre sugando o mais jovem na ânsia de alguns anos mais de seiva.
E como ela soubera manejá-lo, com que finura conseguira atraí-lo criando
uma atmosfera mística de incesto. A sonsa. Mas a mim não iludia da
mesma forma que a mulher-gata não iludia o espelho. Era eu o espelho da
minha mãe, em mim ela se refletia de corpo inteiro. (VA, p. 68).
Simbolicamente, o espelho se assemelha ao sol, por deixar as coisas nítidas e
revelar as falhas. Noutro sentido, também pode considerar-se espelho alguém que representa
um modelo ou exemplo de vida para os outros. E, sob esse prisma, somente a qualificação
cultural faria Patrícia espelhar-se em Raíza. Esta, obcecada em atingir a mãe, o objeto em
disputa, não consegue perceber fatores mais importantes em uma conquista amorosa do que a
beleza e a juventude, como o amadurecimento, por exemplo. Tal postura, no entanto, é
contraditória, já que Raíza considera a mãe com uma mulher autêntica, sem disfarces, cuja
superioridade reside justamente no fato de ela não trabalhar com o corpo, transitório, mas com
o desenvolvimento intelectual, um atributo perene que, segundo as teorias filosóficas,
enriquece a alma. Patrícia é, principalmente, como já visto no relato da irmã, uma pessoa bem
racional desde jovem, o que se opõe à posição infantilizada da filha na fase da juventude —
―Eu sei que você gosta muito de brincar‖, (VA, p. 39) diz a mãe para Raíza.
No caso de André, ele sente uma grande afinidade com a escritora, por encontrar
nela a mãe que não teve para conversar. Segundo ele: ―Foi como se eu tivesse caído de
repente numa valeta e não pudesse mais sair. Patrícia me deu a mão. Sei agora que foi Deus
quem a enviou.‖ (VA, p. 76). Patrícia tem com o rapaz um vínculo emocional maior do que
com a filha, porque os dois buscam uma forma de canalizar o sofrimento e as frustrações da
vida ―para o trabalho, aproveitar esses estados para se fazer alguma coisa de útil, o tédio
também pode ser fecundo...‖ (VA, p. 75). O choque com o terceiro vértice deste triângulo
advém de Raíza ser superficial, voltada para efemeridades.
Como se percebe, o sofrimento de André também se relaciona com a falta de
atenção materna, já que sua mãe ―foi viver com outro homem e nunca mais apareceu. Ele
adorava a mãe, uma criatura que parece ter sido tão encantadora quanto irresponsável.‖ (VA,
114
p. 91).
Essas palavras, usadas por Patrícia para explicar à filha os motivos de sua
proximidade com o jovem, também revelam como a personagem escritora vê a si mesma no
papel de mãe: apesar do incômodo que pode sentir pela vida doméstica, não saiu de casa
fisicamente, como a mãe de André, e essa presença física é suficiente. Sendo assim, ainda
que a filha reclame do desamparo emocional, a mãe cumpre a responsabilidade de estar junto
a ela, atendendo-a quando extremamente necessário.
Portanto, nem Raíza nem André estão no centro da vida materna. Com a ausência
da mãe na fase infantil, os cuidados com o seminarista ficaram a cargo dos tios e,
posteriormente, de um padre vizinho. Como considera Jung (2008), a Igreja representa o
melhor substitutivo para a ligação com a mãe, pois é a segunda responsável por proteger a
alma humana e propiciar desenvolvimento pessoal conforme os moldes da sociedade. Desse
modo, o apoio religioso recebido do padre influencia o caminho espiritual que André tenta
tomar como profissão, enquanto Patrícia e sua literatura surgem na vida do jovem no
momento em que ele precisa solucionar os dramas que essa escolha traz. É possível dizer,
então, que André representa o leitor que, segundo Tzvetan Todorov (2010, p. 33), busca as
leituras ―para nelas encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o
mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência; ao fazê-lo, ele
compreende melhor a si mesmo.‖
Porém, André não tem um desenvolvimento crítico que lhe permita relacionar as
leituras com as experiências de vida, até porque ele não as tem. Por isso, mantém-se sob as
assertivas filosóficas e a superficialidade existencial. Textos de Rilke, Shakespeare e Bergson
são usados como pilares para os conceitos existenciais, mas não sustentam o rapaz que luta
contra a própria natureza humana – ―O importante é não desanimar em meio da luta, é resistir!
Apertou a cabeça entre as mãos. Devo confessar que às vezes também sou tentado da forma
mais cruel, multiplicam-se as ciladas mas não esmoreço‖ (VA, p. 146) — e chega, aos
poucos, ao suicídio. Na luta pela convicção quanto ao caminho ―certo‖ a seguir – ou seja, na
dúvida entre adotar o que as instituições consideram correto ou optar por um projeto de vida
traçado a partir dos próprios interesses –, o indivíduo precisa de uma orientação que o ajude a
livrar-se de sua angústia. Para André, essa orientação vem de Patrícia, uma mulher forte e
racional que, além de aceitá-lo sem fazer críticas, contribui para o seu processo de
amadurecimento. Já Raíza é atraente, mas, por ser tão fraca quanto ele, mais o conduz ao
desequilíbrio:
115
(...) Fiquei na ponta dos pés. Então fomos nos aproximando quase sem
movimento até ficarmos um defronte do outro, ardendo tensos e altos como
duas chamas iguais. O beijo foi profundo. Mas curto porque alguém gritou
lá fora e ele estremeceu, recuando. (...) Voltei para o meu quarto e ali fiquei
no escuro, apertando a boca contra a palma da mão. Ouvi-lhe os passos mas
seu andar perdera o vigor habitual: ele titubeava como se não encontrasse a
saída. (VA, p. 81)
A persona religiosa exige afastamento de todo atrativo que perturbe a esperada
contenção, principalmente em relação ao corpo, já que, para o sistema monástico, este não
deve ser usado para o prazer e, sim, para a procriação. O deleite é somente espiritual e, para
alcançá-lo, é necessário renunciar, principalmente, aos prazeres perenes oferecidos pelo corpo
— ―espero não vacilar na hora do sacrifício, se for chamado ao sacrifício‖ (VA, p. 146), diz
André. É uma privação voluntária que requer do indivíduo, mais do que disciplina, um
grande esforço de renúncia. E isso gera conflito interior e sofrimento, pois, se a vida sob a
conduta de abstenção parece proteger a pessoa, também produz, conforme diz Foucault (2001,
p. 60), ―um modo particular de relação consigo que comporta formas precisas de atenção, de
suspeita, de decifração, de verbalização, de confissão, de autoacusação, de luta contra as
tentações, de renúncia, de combate espiritual, etc.‖ Portanto, não é nada fácil. O indivíduo,
reprimido no desenvolvimento do seu caráter pessoal, passa a ser uma invenção da
coletividade, por isso tem necessidade de criar uma ―vida particular‖. Vê-se, portanto, que a
assimilação do papel social é fonte de muita confusão psíquica, pois ninguém jamais
consegue se desvencilhar totalmente de sua natureza em prol da persona. Como diz Jung
(1984, p. 70), ―somente a tentativa de fazê-lo desencadeia, em todos os casos habituais,
reações inconscientes: caprichos, afetos, angústias, idéias obsessivas, fraquezas, vícios, etc. O
‗homem forte‘ no contexto social é, frequentemente, uma criança na ‗vida particular‘, no
tocante a seus estados de espírito.‖ Os personagens Raíza e André são produtos disso:
— Não acreditar na gente, em toda gente! Não acredito mais em mim
nem nos outros e é horrível isso, tudo vai ficando tão sem sentido, tão
estúpido... É como se eu estivesse representando a farsa da moça que
resolveu ser boazinha. Preferível entregar-se simplesmente como todos os
outros, os da minha geração, acrescentei sorrindo sem saber por que sorria.
A geração esgarçada, não é essa a nossa?
— Mas você também não era feliz antes. Ou era? Você e todos do
seu grupo estavam sempre no palco. Raíza, somos os perdidos, somos os
malditos... (...)
116
Como dizer-lhe que ele também representava? E tão mal. Decorava o
papel e agarrava-se a ele sem talento, sem vocação. O que aconteceria
quando descobrisse que a solução era rasgá-lo? (...) (VA, p. 146).
A trama de Lygia Fagundes Telles também é representativa da impossibilidade de
total individuação do ser humano e da contraditória ânsia que todos têm por se tornar
distintos. O reconhecimento da opressão de uma vida sob regras e a dificuldade de se
encaixar nelas levam André a recorrer à ajuda da personagem escritora quando se vê dividido
entre lutar contra a natureza ou prosseguir mantendo uma vida de privações. A contribuição
que ela lhe dá é mostrar-lhe como lidar com a sociedade sem se autoagredir: ―Sozinho ele terá
que descobrir que o fato de não ter vocação para a carreira não significa uma traição a Deus.
Quero apenas ajudá-lo porque sei que no momento precisa de mim.‖ (VA, p. 92).
Patrícia não impõe a André nem a Raíza nenhum juízo ou julgamento de valor, o
que revela uma natureza que se quer livre das amarras sociais. Sua produção literária deixa
transparecer o desejo de isolamento do grupo para criar o processo de libertação do indivíduo,
embora não consiga parar de representar as frustrações da sociedade em que vive:
Os personagens da minha mãe. Os jovens tinham sempre um pouco de
André nos maxilares apertados, na paixão do olhar, tão contidos e graves, de
uma gravidade absurda amordaçando os mais saudáveis impulsos. Ai! os
quase padres, todos com aquele ar de renúncia, autoflagelação... Por que
teriam que ser assim? (va, p. 12).
— Mas titia, basta ler seus livros... Em cada personagem há um pouco
dela nessa ânsia de solidão, nesse desejo de fuga, todos se debatem em meio
de armadilhas, ciladas... A luta é sem descabelamentos, certo, mas por isso
mesmo ainda mais desesperada. Prisioneiros, titia, ela e eles uns prisioneiros
muito distintos, distintíssimos. Mas prisioneiros. (VA, p. 87).
Patrícia revela, através da ficção, esse aprisionamento de si e dos outros. Trazer
isso a lume é importante porque, na maioria das vezes, os adestramentos humanos se tornam
imperceptíveis, mesmo que tragam muita insatisfação. André não tem, como Patrícia, o
escape da criação artística, mesmo porque, conscientemente, não quer fugir da realidade e dos
conflitos que tanto o angustiam: ―E, ao mesmo tempo, prosseguiu ele com vivacidade,
renovam-se minhas energias, as dificuldades como que me atiçam para a luta e me sinto um
leão, disposto a lutar até o fim. Hei de alcançar o que eu quero, Raíza.‖ (VA, p. 122). Patrícia
torna-se um espelho para o seminarista, no qual ele se mira em busca de desenvolvimento
117
pessoal. Por isso, no trabalho de tentar reconstruir-se, ele, assim como ela, afasta-se da grande
massa, em busca de isolamento: ―Por ora, o melhor é isolar-me um pouco para haver
concentração no trabalho, veja o exemplo da sua mãe, tão só e tão fecunda...‖ (VA, p. 123).
Ao contrário de Patrícia, Raíza não suporta a solidão, e isso a leva a buscar apoio
nos outros. André percebe isso: ―Você tem medo de ficar sozinha, Zazá, você tem medo e por
isso me segura embora não me ame. E com isso acaba ficando mais só ainda. Por que você
tem tanto medo assim?‖ (VA, p. 40).
O fato é que o convívio social pode gerar incômodo, mas ele também representa
uma proteção contra os perigos desencadeados pelas psicoses individuais. A vida religiosa,
por exemplo, para quem tem fé, é o suporte ideal para aplacar os medos, inclusive da solidão.
Segundo Freud, é da necessidade de proteção que advém a crença em Deus ou o vício em
algo. Isso porque, para suportar os sofrimentos e decepções que a vida proporciona, é preciso
ter medidas paliativas. ―Existem talvez três medidas desse tipo: derivativos poderosos, que
nos fazem extrair luz de nossa desgraça; satisfações substitutivas, que a diminuem; e
substâncias tóxicas, que nos tornam insensíveis a ela.‖ (FREUD, 1997, p.22). Na narrativa
em análise, a personagem Patrícia adota a primeira dessas providências, a fim de amenizar a
dor existencial. Raíza busca a segunda e se coloca sob um estado de fantasia.
Em diversas passagens, Raíza chama a atenção para o estrabismo de Marfa, o
qual, literalmente, define-se como um defeito causado pelo desvio do eixo visual; contudo,
em sentido figurado, o estrabismo poderia significar também um modo distorcido de pensar.
Não é isso, porém, o que acontece com Marfa, sem dúvida a pessoa mais resolvida da casa,
porque capaz de elaborar uma leitura direta das imbricações da vida que sufocam o indivíduo.
A beleza que Raíza enxerga nessa ―especialista‖ em tradução vem da serenidade com que a
prima assume uma opção de vida longe dos padrões culturais. O hábito do raciocínio leva
Marfa a analisar os axiomas e a enfrentar os traumas da existência em seu momento presente,
sem sofrer com o passado nem se iludir com o futuro:
— A gente não é livre para escolher um botão, compreende? Apontoume, desafiante. E se você acredita em Deus, como pode acreditar nisso
liberdade? Pois não está escrito que nem um fio de cabelo cairá da nossa
cabeça sem que Ele saiba e consinta? Que conversa é essa? Dentro da sua
própria doutrina, não adianta espernear, meu bem, desde o limbo nossas
vidas já estão planificadas... Pensando bem, eu, que não acredito em Deus,
ainda acredito mais do que você, compreende? Aceitei-me como Ele me fez.
Sou o que sou. Fim.
(...)
118
— Você sabe muita coisa, você sabe até demais, compreende? Da
minha parte, só sei que vou morrer. E que vou endoidar de raiva se na hora
da morte perceber que não me diverti o quanto poderia ter me divertido.
(VA, p. 95-96).
Essa vida determinada previamente ou, como nas palavras da personagem,
planificada sob controle de leis institucionais, conduz Marfa ao uso de substâncias tóxicas.
Essa é a forma que ela encontra para ser coerente consigo mesma, partindo-se do pressuposto
de que os valores que o indivíduo proclama diante do seu grupo social devem afinar-se com
suas atitudes. No caso de Marfa, sua segurança não está em criar uma persona e ajustá-la para
si, ou seja, ela não se apega a determinações filosóficas/religiosas/sociais, que supostamente
dão segurança ao indivíduo, pois a sua natureza é livre de autocrítica e de julgamentos
exteriores. Porém, a falta de limites propicia um desprezo pelo sentimento alheio ou por
qualquer ética nas relações sociais, em prol de ter os desejos saciados. Para isso, Marfa
rompe completamente com os limites em relação ao próximo. Um exemplo disso é o fato de ir
para a cama com o namorado da prima:
Tinha sido há três meses. Fui entrando pelo apartamento adentro, com duas
latas de tinta debaixo do braço, ia pintar o quarto de azul-claro, estava escrito
no anúncio que era facílimo pintar qualquer cômodo com aquela tinta, estava
escrito. Começaria a trabalhar bem cedo. Quando ele voltasse à noite, já
encontraria tudo pintado. Uma surpresa. E fui eu quem a teve quando
resolvi entrar sem bater. Os dois ainda estavam deitados, fumando. A
conversa frouxa. A carne frouxa. Marfa foi a primeira a sorrir. Então
Fernando também sorria. (VA, p. 11).
Raíza narra a descoberta do envolvimento sexual da prima com o seu namorado
de forma natural. Aliás, o fato não é sequer mencionado no restante da narrativa. É como se,
na realidade, Raíza admirasse a prima pela forma segura com que ela age, buscando agradar
somente a si mesma. É uma personalidade que não se preocupa em ser ―boa‖, dentro dos
preceitos sociais, porque não precisa da aprovação alheia para suas atitudes. Diz Raíza: ―Ela
duvidara e isso atingia fundo quem representava o tempo todo como eu, Marfa estava certa,
eu só agia em função das pessoas em redor. Caso contrário, que importância tinha se
acreditassem ou não em mim? (...) que importância tinha se viesse o aplauso ou a vaia?‖
(VA, p. 103).
O desejo de liberdade para fazer o que se deseja, de um lado, e o projeto social e
religioso, de outro,
cria um impasse, gerando conflitos pessoais que, dependendo da
119
gradação, pode acarretar o
desenvolvimento de neuroses, como ocorre com Raíza.
A
personagem Marfa observa isso e opta por assumir seus desejos pessoais, decidindo, assim,
ficar à margem dos valores apregoados pelas instituições sociais. Nesse ato consciente a
favor de uma vida plena, a jovem não teme questionar nem mesmo a formação familiar,
apontada como o núcleo primordial das relações humanas, mas que, entretanto, aprisiona os
indivíduos. Diz Raíza: ―E me lembrei de repente do que ela dissera quando éramos meninas:
‗Não sei por que essa embrulhada de pai e mãe, a gente devia nascer como os tomates, como
as couves (...)‘‖ (VA, p. 97). Marfa considera, portanto, uma vida sem os agrupamentos
formados por laços de sangue, julgando que, se fossem consideradas apenas as peculiaridades
individuais, a satisfação pessoal seria maior. Por meio de Marfa, a autora demonstra que,
mesmo que o indivíduo cause estranhamento nos demais em função de suas atitudes
transgressoras, quando elas são frutos de uma decisão consciente, e não meros gestos de
rebeldia, não geram traumas. A indefinição, o ficar ―em cima do muro‖, é muito mais
problemático, porque é um empecilho para a vida: ―É preciso ter coragem, ela [Marfa]
dissera. Até para o mal era preciso ter alguma fibra. Sentei-me e descansei a fronte na mesa.
Ela ao menos escolhera, enquanto que eu ali estava em disponibilidade, sem coragem para o
mal, sem coragem para o bem, os braços abertos na indecisão.‖ (VA, p. 49).
A visão crítico-social que a narrativa veicula através do discurso de Marfa, ainda
na década de 60, soa como profecia para o leitor atual. Além disso, introduz a ideia de que é
necessário ao ser humano recorrer a alguma forma de ilusão para amainar a vida:
— Mas esse vai ser o mundo do futuro, meu bem. Um mundo de
desligados, compreende? O desespero humano exorbitou, não se podem
agüentar essas operações a frio, tem-se que recorrer a alguma coisa. Fez
uma pausa. E num tom mais brando: Ninguém aguenta a vigília, nem essas
santinhas, disse apontando para uma freira que atravessou o jardim e sumiu
numa porta. Parecem tão firmes, não? Mas precisam também das suas
pilulazinhas, no fundo, o mesmo desespero de se desligar ou pela farmácia
ou pela igreja. O que dá no mesmo, compreende? Tomam pílulas de fé,
ficam em êxtase, do êxtase passam ao estado de levitação... Como nós,
exatamente como nós, apenas os meios são outros. (VA, p. 116).
Lygia Fagundes Telles, mais uma vez, revela o incômodo que lhe causa a
uniformização da vida. Em Ciranda de pedra, já introduzira essa problemática por meio da
representação de um grupo de pessoas dentro de uma roda da qual ninguém podia entrar ou
sair, todos aprisionados por uma ligação rígida e inflexível.
E, em Verão no aquário,
120
apresenta personagens que querem desfazer esse elo. A exceção fica por conta de Raíza, que
não enxerga o isolamento como algo positivo e acha necessário que todos estejam em
conformidade com o círculo social:
(...) Era preciso, ao menos, que não continuássemos como ilhas, nós que
fazíamos parte de um só todo como aquelas bonecas de mãos dadas que tio
Samuel recortava dobrando os jornais: bastava recortar a primeira e as
seguintes vinham vindo formando uma corrente de bonecas, os mesmos
vícios e as mesmas virtudes a se repetirem nas silhuetas iguais. (VA, p. 97).
Diferentemente de Raíza, os outros personagens, representantes dos diversos tipos
sociais, querem trilhar um caminho existencial próprio, sem vigilâncias e condenações.
Vários ―ensinam‖ como é criar uma vida livre. Fernando, por exemplo, tem sua própria teoria
sobre amor e casamento, bem coadunada com os prenúncios da década de 60, período em que
já se podia enxergar alguma nuance de liberdade para a mulher e, consequentemente, uma
reconfiguração do casamento. Uma exigência romântica para os relacionamentos afetivos
estava na contramão da independência vindoura. O pensamento de Fernando, reproduzido
pelo discurso de Raíza, assinala bem a questão:
A voz de Fernando misturava-se à do mar. Dizia que os da minha geração
pareciam já ter-se libertado da influência do cristianismo com todos os seus
medos de Deus, do diabo, das assombrações, de coisas assim. Eu não.
‗Você parece pertencer à geração da sua tia, amor. Aquela tia dos
perfuminhos... Vamos, meu carneirinho, fique bem à vontade que depois a
gente morre e não vai para o inferno como ensinaram no catecismo. E
mesmo que exista inferno ou equivalentes, se você me amar bastante, será
absolvida‘. (VA, p. 16) (...) Quero que saiba, meu carneirinho, que não
posso oferecer nada mais do que te ofereço agora. Posso me separar da
minha mulher e dos meus filhos para nos casarmos, quer se casar comigo?
Hem?... Mas isso também não significa esse para sempre que você tem o
mau gosto de repetir. Já me casei umas quatro ou cinco vezes, esta seria a
sexta ou sétima, nem sei!... É o que você quer? Não, não é, eu sei que não.
Você quer ser amada como as heroínas dos livros da sua mãe. Quando na
realidade o amor é tão simples... Veja-o como uma flor que nasce e que
morre em seguida porque tem que morrer. Nada de querer guardar a flor
dentro de um livro, não existe coisa mais triste no mundo do que fingir que
há vida onde a vida acabou. Fica um amor com jeito desses passarinhos
empalhados que havia nos escritórios dos nossos avós. (VA, p. 32).
A representação das diversas vozes da sociedade reclama uma forma de vida em
que a escolha pessoal se sobreponha às dúvidas trazidas pelos discursos sociais e à hipocrisia
121
presente no mito da felicidade eterna. Assim, se a voz de Fernando se mistura com a do mar,
ou seja, uma voz que traz em si uma diversidade de espécies, a voz de Raíza é a do aquário,
delimitada a um grupo restrito – que tende a se extinguir.
Marfa e Fernando são exemplos de pessoas com atitudes independentes, ainda que
possam ser considerados irresponsáveis,.
Já a narradora representa a recusa a ter
comportamento adulto, mesmo o sendo em idade, e segue exigindo que Patrícia cumpra a
função social, sendo a mulher voltada para o bem-estar doméstico e abrindo mão de seus
projetos em prol da família. A mãe, então, é ícone do ser que não sabe unir o destino de
mulher, exigido pela sociedade, com a condição de ser humano: ―Não é verdade o que estou
dizendo? Hem?... Com meu pai, por exemplo: por acaso você hesitou em deixá-lo de lado?
(...) você fez bem, está certo, se não fizesse assim não teria ido para a frente.‖ (VA, p. 131).
Raíza é a imagem social que o indivíduo quer construir, mas interfere em sua
autonomia. Ainda que ele faça projetos de parecer ―bom‖ aos olhos da sociedade, seus atos
mais espontâneos geralmente são agressivos e, portanto, ―maus‖: ―Não presto, está acabado.‖
– diz Raíza –, ―Natureza tão ruim que qualquer semente má se desenvolve em mim com
tamanha exuberância que, quando acordo, já sou inteira a semente.‖ (VA, p. 103). Os
conceitos de bondade e de maldade estão, assim, imbricados em todo ser humano, em menor
ou maior grau. E é a consciência desses conceitos internalizados que gera o sentimento de
culpa, como ocorre com Raíza, cuja consciência lhe acusa dos ―erros‖ praticados:
Voltei-me para o espelho: uma moça magra e loura, os pés descalços
manchados de talco. E os cabelos escorrendo água. Enrolei a toalha na
cabeça. Por mais banhos que tomasse persistia o cheiro da memória: se eu
pudesse limpá-la, tirar dela ao menos a lembrança dessa manhã. Precisava
ter ido? Mais do que o ato em si desgostava-me aquela minha vontade que
desfalecia a cada passo: a linha interrompida. Quando eu a uniria num traço
único? (VA, p. 106).
Como não consegue usar André para atingir e paralisar a mãe, Raíza pratica atos
com esse objetivo, mas que causam o efeito contrário, já que a mãe permanece produzindo,
crescendo, enquanto a filha vai consumindo-se aos poucos. Como já foi dito, a insegurança
de Raíza contrasta com a independência de Marfa e de Fernando; mas contrasta,
principalmente, com a segurança de Patrícia, pois, se o conflito dessa relação é desencadeado
pela obsessão da filha pela mãe, em nenhum momento a escritora se desequilibra com as
cobranças da jovem, assim como também não dirige à filha qualquer acusação pelo seu
122
comportamento. Contudo, se Raíza aponta os erros da mãe, não deixa de reconhecer os
próprios erros, e se culpa por causa deles. A consciência de ser uma pessoa má é inerente à
narradora, como se vê no diálogo travado entre ela e sua tia:
— Passei pela porta do escritório, não te contei isso? A porta estava
fechada mas ouvi lá dentro soluços abafados, tão sentidos que meu coração
até doeu. E ela o consolava como se consola um filho.
— Ou um amante.
— É, ou um amante.
Vi de repente no espelho minha cara astuta e não me reconheci. Passei
ferozmente a escova nos cabelos. Pareço uma raposa, pensei baixando o
olhar, não, não era mais um carneirinho louro, era uma raposa. Atirei a
escova na mesa.
— Bobagem, titia, não preste atenção ao que estou dizendo, começo
de vez em quando a devanear e me perco em bobagens. Fechei os punhos.
É que estou ficando ruim outra vez. (VA, p. 128).
A posição crítica de Raíza diante do possível envolvimento amoroso de sua mãe
com o seminarista é cíclica e torna o discurso tautológico, como sua própria vida. Aliás, a
repetição ocorre com relação a diversos pontos: a profissão materna, o relacionamento de
Patrícia com André, a vontade de ser dominada pelo espírito de ―bondade‖. Porém, essa
tautologia é necessária para intensificar a ideia de restrição, presente na imagem do aquário.
É interessante perceber que o âmbito doméstico tem conotação diversa para mãe e filha. Para
a escritora, é naquele espaço que ela organiza o material colhido externamente para o
desenvolvimento do trabalho criativo e, portanto, libertador. Para a narradora, a vida privada
é uma limitação, uma atrofia; a casa é um esconderijo que a protege dos perigos externos e
dos seus próprios pecados. A relação entre casa/aquário/esconderijo é metafórica na seguinte
passagem:
(...) Tirei uma folha de alface do prato e mergulhei-a no aquário.
— Agora eles vão ter um esconderijo.
— Você ainda mata esses peixes, Raíza.
— Eles estão muito expostos, os pobrezinhos. Se cometerem pecados,
não têm nenhuma moita para se esconder.
‗Que fizeste, que fizeste?‘ o Senhor perguntaria. Então eles fugiriam para
debaixo da folha e lá ficariam enfurnados.
— Mas que pecado pode ter um peixe? Perguntou ela lavando
pensativamente as folhas da alface.
Contornei o globo de vidro com as mãos.
— Nunca se sabe, Dionísia. As tentações estão por toda a parte,
houve até um santo que teve que morar dentro de um túmulo para fugir do
demônio. (VA, p. 106).
123
A narrativa revela uma imagem de debilidade, de atrofia do ser humano como
consequência dos conceitos religiosos que lhe são inculcados de forma irrefletida. Esses
conceitos levam o indivíduo a evitar erros ou pecados que o afastam do divino e ameaçam o
seu bem-estar, já que o julgamento e a condenação da própria consciência são intensos.
Compreende-se, assim, a opção de Raíza pelo isolamento, pela perda de contato com o outro:
isso a livra de experiências que conduzem à perdição, como os amores proibidos e os vícios.
Contudo, esse tipo de opção põe em evidência a submissão do ser ao interesse coletivo.
Então, se o esconderijo é proteção, também é uma sujeição consciente que empobrece a
pessoa, impedindo-a de pôr-se à prova diante dos atrativos do mundo para saber se consegue
manter-se fiel às expectativas alheias ou se deve seguir os seus próprios desejos, muitas vezes
marginais:
— Vou pedir à titia que vista uma roupa de fada e me transforme num
peixe. Deve ser boa a vida de peixe, murmurei tentando sorrir.
— Deve ser fácil. Aí ficam eles dia em noite, sem se preocupar com
nada desde que há sempre alguém para lhes dar de comer e trocar a água...
Uma vida fácil, sem dúvida. Mas não boa. Não se esqueça de que eles
vivem apenas dentro de um palmo de água quando há um mar lá adiante.
— No mar seriam devorados por um peixe maior, mãezinha.
— Mas pelo menos lutariam. E nesse aquário não há luta, filha.
Nesse aquário não há vida.
A alusão não podia ser mais evidente. (VA, p. 109).
Nessa passagem, vê-se a tentativa de Patrícia de incentivar a filha a sair do
aquário/casa para aventurar-se no mar/sociedade, lançando-se ao convívio social com todas as
lutas que ele representa. Nota-se que a mãe opta por não incentivar em Raíza a disposição
para permanecer ―carneirinho‖ (passiva) ou se transformar em ―peixe‖ (protegida); ela não
cria a filha para reproduzir um comportamento específico seu ou seguir qualquer outro
modelo, mas quer jogá-la em situações nas quais precise defender-se sozinha. São
experiências que a farão descobrir quem é de verdade e quais são seus limites individuais.
Ciente da falta de firmeza nas atitudes da filha, preocupa-se em torná-la menos instável, mais
segura. Como diz Marfa, reportando-se ao namoro de Raíza com Fernando ou ao vício do
cigarro: ―Já rompeu esses laços milhares de vezes. E milhares de vezes voltou a atar tudo.‖
(VA, p. 94)
A autora parece justificar a relação conflituosa entre mãe filha pelo fato de uma
não ser a extensão da outra, mas representarem duas personalidades opostas. Raíza está
124
imersa no romantismo, em que ―o eu romântico, objetivamente incapaz de resolver os
conflitos com a sociedade, lança-se à evasão‖ (Bosi, 1995, p. 93) discursiva. Patrícia, guiada
pela objetividade, rejeita o idealismo e se volta para o factual. Assemelha-se a Machado de
Assis, ao posicionar-se entre escritores que, ―sensíveis à mesquinhez humana e à sorte
precária do indivíduo, aceitam por fim uma e outra como herança inalienável, e fazem delas
alimento de sua reflexão cotidiana.‖ (VA, p. 176):
— Mas nada disso interessa, mãezinha, o que interessa mesmo é o seu
romance. E tive vontade de rir. Teria graça se ela perguntasse: qual deles?
Toquei-lhe no ombro. Já posso ler?
— Depois que eu tiver feito algumas correções...
— Por acaso André já leu?
Ela fez que sim com um ligeiro movimento de cabeça. Pelo menos não
mentia. Por acaso são amantes? Eu poderia também perguntar. (VA, p.
132).
É necessário perceber que a filha é que se preocupa em vigiar a sexualidade
materna e não o contrário. Patrícia é uma personagem representante de um período em que a
vida sexual da mulher está se adaptando ao prazer, não sendo mais uma obrigação. Ela busca
se relacionar bem com as escolhas afetivas de Raíza, seu interesse por esse assunto se
restringe ao compromisso de zelar pela satisfação da menina, sem maiores interferências. Essa
personagem escritora é narcisista, característica própria de um tipo de mulher que, segundo
Simone de Beauvoir, tem a capacidade de se voltar para si mesma, a fim de encontrar
realização pessoal.
Geralmente, essa mulher se torna artista, por visar a múltiplas
possibilidades enquanto ser humano. No caso de se voltar para a pintura ou para a elaboração
ficcional, precisa de isolamento, e isso, às vezes, a impede de enxergar além da perspectiva do
momento. Ainda segundo a socióloga francesa, essa atitude narcísica resulta da vontade de
combater, através da imaginação, o rol de proibições e imposições enfrentadas desde a
infância e que trouxeram insatisfações na fase adulta. Em decorrência disso, a sexualidade
não foi prazerosa e as atividades viris lhe foram impedidas. A vida conjugal, para muitas
mulheres da década de 60, foi de frustrações, devido à angústia de não saber como coadunar o
desenvolvimento intelectual, que projeta para fora de casa, com a função doméstica, que não
traz visibilidade social. Assim, umas mergulharam na depressão e outras buscaram dar um
sentido à vida dedicando-se a tarefas que lhes individualizassem: ―A situação da mulher
predispõe-na a procurar uma salvação na literatura e na arte. Vivendo à margem do mundo
125
masculino, não o apreende em sua figura universal e sim através de uma visão singular; ele é
para ela (...) uma fonte de sensações e emoções.‖ (Beauvoir, 1980, p. 473).
A representação dessa tentativa de (des)construção do papel da mulher através da
personagem de Patrícia, porém, não significa, no romance, uma desatenção total com os
cuidados devidos à família, pois essa mulher racional não despreza os acontecimentos da casa.
Apenas a vida doméstica não é o cerne da sua vida, como o é a atividade intelectual. A autora
aposta na representação da filha que ainda acredita na possibilidade de a descendência ser o
objetivo central da vida materna, mas, ao mesmo tempo, acusa o quanto essa visão é egoísta.
A passagem a seguir flagra, mais uma vez, Raíza culpando-se por causa da mãe:
— Preciso ir buscar umas coisas que devem ser de Graciana. Você
quer aquele espelho, não quer? perguntou ela apertando levemente meu
braço.
Como é que você sabe? pensei perguntar-lhe. Não me lembrava de
ter-lhe dito nada a respeito. E então?... Senti a boca salgada em lágrimas.
Fui para o quarto. (...) Minha mãe. Como era possível?... E apesar de tudo
me recebia ainda, abria-me os braços, a mim que não fizera outra coisa do
que atormentá-la, principalmente depois da chegada de André. E minhas
pequenas perversidades! Era preciso ser mesmo muito mesquinha para
confundir um afeto tão desinteressado com uma ligação vulgar e que se
existisse não teria a menor importância, é claro, ambos eram livres e não
seria a diferença de idade que impediria o desejo. Acontecia apenas que não
existia esse desejo. No máximo, uma simples amizade amorosa e que eu
estranhava, habituada como estava a girar em torno do sexo. Mas até
Fernando já não suspendera seu juízo? ‗É provável que nem haja nada entre
eles, é de se esperar tudo de uma gente assim...‘ (VA, p. 110).
Como diz Elisabeth Badinter (1985), a relação afetiva entre os seres humanos é
construída, ou seja, não decorre de uma afinidade sanguínea ou da ligação uterina entre os
envolvidos. Toda satisfação é resultado do nível de respeito e carinho mútuos estabelecido na
convivência. Na obra literária em questão, a filha cobra da mãe atenção e afeto como se essas
concessões fizessem parte de uma obrigação, ainda que a narradora demonstre ponderar sobre
a posição tanto da mãe quanto de si mesma e perceba que a vigilância ostensiva da figura
materna é uma incoerência. Lygia Fagundes Telles, no intuito de exemplificar que, no campo
dos relacionamentos, a afinidade intelectual prepondera sobre a sanguínea, leva André a
buscar na personagem escritora a orientação existencial que lhe falta, após ter lido uma de
suas obras.
126
A representação literária aponta também que a função intelectual é um caminho
para a visibilidade da mulher. E o mais significativo aqui é o fato de que a mulher não
precisou deixar o espaço doméstico para lançar-se ao ―mar‖.
– Vamos para o mar, André? Minha mãe me aconselhou o mar, diz
que estou num aquário. Mas ela está num aquário também...
– Ela não. (VA, p. 147).
Devido ao caráter superficial de sua personalidade, Raíza não percebe que
somente o fato de Patrícia ter feito a escolha de sair da servidão à domesticidade é um
mergulho no mar. É possível pressupor que o retrato de Patrícia aqui descrito é o da própria
Lygia Fagundes Telles, que, em sua trajetória profissional, sempre escolheu uma seara que
não era pertinente à mulher, tendo que enfrentar até mesmo a oposição materna, já que sua
mãe preocupava-se com os prejuízos sociais que a filha poderia ter: ―Falei-lhe sobre os meus
planos. Ela ouviu mas logo ficou apreensiva, Faculdade de Direito, filha? Entrar numa
escola de homens, verdadeira temeridade que iria afastar os pretendentes, quem quer mulher
que sabe latim? Todo homem tem medo de mulher inteligente, filha‖ (Telles, 2009, p. 670).
Enfrentar a sociedade com esse tipo de escolha significa a saída do aquário e um mergulho no
mar, além da disposição para vivenciar todo tipo de adversidade. Quanto ao fato de a mulher
escolher o ofício de escritora, durante muito tempo significou enfrentar um cânone que
depreciava a obra de autoria feminina antes mesmo de ser lida.
Para esse tipo de mulher racional e corajosa, como Patrícia de Verão no aquário,
é difícil lidar com um modelo de pessoa tão insuportavelmente obtusa quanto a narradora,
obstinada em encontrar indícios de um suposto relacionamento entre a mãe e o seminarista –
e usando esse hipotético relacionamento como justificativa para as dificuldades que encontra
na relação com a mãe:
— Há retratos no quarto de André?
— Ainda não estive lá, Raíza não posso dizer.
— Não, não tem nenhum retrato. Um quarto despojado como devem
ser os quartos dos que têm um mundo interior. Já reparou, mamãe? Quem
tem muita vida interior não precisa de cercar-se de bibelôs e badulaques
como tia Graciana.
— Mas o André é pobre por dentro, Raíza. Você se engana nesse
ponto, ele também não tem quase nada para enfeitar suas paredes. Mal se
lembra dos pais, não teve namoradas, nem amigos, nada.
— Nem um cachorro? Faz muita falta um cachorro, acrescentei (...).
Você também não gosta de imagens, hem, mamãe? Imagens de santos...
127
— As imagens dos meus santos estão aqui dentro, disse ela fechando a
gola do roupão no peito. E os retratos estão nos álbuns, acrescentou
evasivamente. (...)
— Teríamos primeiro que abrir o jogo, mamãe.
— Raíza o que é que você quer de mim? Diga depressa o que você
quer de mim, repetiu ela. A voz veio estraçalhada. Não vai me dizer? (VA,
p. 133-134).
O espírito investigativo que leva Raíza a tentar descobrir se a mãe é ou não
amante de André é suscitado com mais força. Mas, ao usar a expressão ―vida interior‖, a
narradora revela perceber, para além do ciúme e da busca pela atenção materna, uma
diferença entre quem se preocupa em desenvolver o intelecto e quem vive sob a necessidade
de subterfúgios para disfarçar a realidade. Como foi dito, André busca ter a mesma ―vida
interior‖ de Patrícia, porque isso lhe permitiria definir o rumo da própria vida. No entanto,
mesmo que tenha flashes de percepção dessa realidade, no plano intelectual Raíza não tem
como competir com a mãe e atingi-la. E por permanecer invisível ao rapaz, a personagem, na
ânsia de impor sua presença e ganhar-lhe a atenção, apela para a sedução do corpo. Com isso,
além de não alcançar seu objetivo, acaba provocando uma tragédia que põe fim ao triângulo,
já que o rapaz, em profunda crise existencial, suicida-se:
Abracei o travesseiro. O querido André... Eu devia saber que seria assim,
não, não fora meu amante, fora meu inimigo. E aquele beijo seco, arenoso.
E aquelas mãos ossudas, contundentes, tantos ossos, tantos. Ele tinha ossos
demais. E então?... O que é que eu fora buscar, afinal? O amor? Mas que
amor? Uma lembrança tão sem beleza a daquela posse transformada na mais
áspera das polêmicas: nem prazer tivera, nem sequer a certeza de que minha
mãe e ele eram amantes, continuava a dúvida pois o fato de ter-me aceito
não significava resposta, não significava coisa alguma. E então?... (VA, p.
155).
Nem mesmo a morte do seminarista põe fim à dúvida da narradora; no entanto,
faz a mãe voltar-se para ela. Patrícia, porém, permanece com o mesmo autocontrole que
sempre causou a admiração da irmã e da própria filha.
Apesar de a personagem escritora, após a morte de André, ter atitudes mais
afetivas com a filha, o conflito só acaba quando Raíza consegue entender a natureza
espontânea da mãe: ―Mergulhei depressa na água. Molhei o rosto e só então pude encará-la.
E ela não representava. Jamais representara‖ (VA, p. 172). Mais do que isso, Raíza vê na sua
semelhança com o pai o principal empecilho para a relação com a mãe: ―Todos ajudaram, só
eu fugi como um rato‖ (VA, p. 168); ―Meu pai fez então aquela cara perplexa, de quem não
128
tinha entendido bem. E enveredou para a história da princesa que queria um vestido da cor do
mar com seus peixinhos. Assim ele costumava fugir das perguntas difíceis‖ (VA, p. 171).
Raíza finalmente percebe que não é o trabalho ou o elemento masculino o que a
diferencia e afasta da mãe, mas a autenticidade de Patrícia. Essa nova fase de compreensão
não leva a narradora a lançar-se ao mar; contudo, o clima quente e sufocante da casa termina,
assim como o verão chega ao fim.
A palavra liberdade é muito usada por Lygia Fagundes Telles em suas entrevistas,
e, nos seus textos ficcionais, ela encontra-se nas entrelinhas. Ao libertar seus personagens de
seus destinos sociais para que possam viver sob a condição de seres humanos, a autora
representa a vivência da plenitude. Até a opção pela morte, como no caso de André, configura
uma forma de libertação.
129
6 A TESSITURA DA FILHA PARA COMPOR A FIGURA MATERNA
Em toda a produção de Lya Luft (1938), observamos uma profusão de imagens
difusas devida à mímesis de perturbações de ordem psicológica. A autora oferece um bom
material para uma análise psicanalítica dos sofrimentos humanos provenientes dos
relacionamentos familiares, principalmente da relação mãe e filha. A figura paterna, sem
participação efetiva, tende a ser evocada apenas de forma indireta, já que o foco principal
geralmente é a mãe, a quem uma narradora tenta desvendar. Esses elementos estão presentes
em A sentinela (1994)9, título que introduz um sentido de vigilância e isolamento referidos à
vida de Nora, a protagonista, que passou a vida inteira tentando entender os motivos que
levaram Elsa, sua mãe, a desprezá-la. Por meio de uma narrativa memorialista, a personagem
relembra os fatos passados, desde sua infância, em busca de uma identidade pessoal que lhe
permita libertar-se da obsessão pela mãe e dar prosseguimento à sua vida.
Trata-se de um enredo que mantém alguns pontos de contato com o de Dôra,
Doralina, de Rachel de Queiroz — as personagens Doralina e Nora retornam à casa de
origem depois de terem ficado viúvas e de viver uma experiência afetiva com o homem que
verdadeiramente amaram —, mas, no texto de Lya Luft, não há uma ruptura definitiva na
relação mãe e filha, e sim um registro de mágoa. As lembranças são originadas por um
processo de catarse pelo qual a personagem busca desenrolar os fios de sua vida. Cada
capítulo é introduzido por um subtítulo seguido de uma epígrafe, geralmente de cunho
existencialista, o que impele o leitor a uma reflexão. A intenção do texto é apresentar a mãe
como um ser humano comum, alguém que se envolve de forma aleatória com os outros e cujo
vínculo biológico com a filha em nada influencia sua relação com o mundo. A narração, mais
uma vez, fica a cargo da filha, que busca clarear o obscuro ambiente familiar.
Como ocorre em Verão no aquário, de Lygia Fagundes Telles, a história é
desencadeada a partir de um sonho, na verdade um pesadelo, no qual a protagonista revive a
tragédia de ver o pai morrer com a cabeça decepada, um cenário de terror vivenciado na
adolescência. Nas palavras de Jung (1981, p. 16), o sonho é ―um processo psíquico
absolutamente subjetivo de cuja natureza podemos tirar conclusões objetivas a respeito do
estado psíquico realmente existente.‖ Sendo assim, essa experiência onírica traz nuances de
esclarecimentos que podem auxiliar Nora a achar sua identidade familiar.
9
Doravante, após a citação dessa obra, será adotada a sigla AS, seguida do número da página.
130
Sob o viés simbólico, o fato de o pai ter a cabeça decepada é bastante
significativo, pois a cabeça representa autoridade, governo, ordem, razão, todos os atributos
do homem patriarcal. Segundo Elisabeth Badinter, a queda do poder patriarcal foi compatível
com o processo de democracia, firmado desde o século XVIII, com a Revolução Francesa,
pois somente ao matar o rei-pai, a plebe-mãe ganhou autonomia. Exatamente por ter sido ela,
por muito tempo, considerada menor, foi-lhe necessário guilhotinar a autoridade soberana, a
fim de que ―cada um tomasse realmente consciência da mudança de Estado. Realizado o ato,
a derrubada dos valores tornava-se efetiva.
O novo tríptico Liberdade, Igualdade e
Fraternidade substituiu o antigo: Submissão, Hierarquia e Paternidade‖ (1986, p. 170). No
Brasil, essa mutação foi bem mais tardia, porque os valores da tradição foram mais resistentes
ao compartilhamento de todos os espaços da sociedade. Mesmo quando quis voluntariamente
dividir ou ceder sua soberania junto à mulher, o homem foi acusado de fraqueza emocional.
É essa imagem de transformação do corpo social, decorrente da queda do cabeça do
patriarcado, que a autora faz emergir. Os traumas de Nora são desencadeados a partir da não
compreensão de um sistema ao qual a mulher não mais submete os seus sentimentos
espontâneos à inscrição social. Os ―fantasmas‖, que ela não sabe como eliminar, advêm da
concepção a respeito de seu pai que, na visão da narradora, não soube exercer o domínio
pertinente ao seu sexo e seguiu o sentimento da mulher. No decorrer da trama, ele é sempre
lembrado como alguém que nunca teve a direção nem da casa nem de si mesmo, sendo
totalmente dominado pela esposa, que comandava até mesmo a relação afetiva do marido com
as filhas.
O espaço em que a narrativa se desenvolve restringe-se à casa em que Nora viveu
na infância e à qual retorna, já adulta, para instalar sua empresa de tecelagem, a Penélope.
Contudo, a personagem esclarece que não quer fazer referência ao mito: ―Não desmancho de
noite o que foi feito de dia para adiar um compromisso; vou sempre em frente...‖ (AS, p. 16).
Infere-se que a inauguração da tecelagem na antiga residência contém um caráter altamente
simbólico, pois o trabalho de tecer se assemelha à formação do embrião, ―quando o tecido
está pronto, o tecelão corta os fios que se prendem ao tear e, ao fazê-lo, pronuncia a fórmula
de bênção que diz a parteira ao cortar o cordão umbilical do recém-nascido.‖ (Chevalier &
Gheerbrant, 1995, p. 872). Então, a casa, onde se desenvolveu a vida de Nora junto à família,
principalmente na infância, é o espaço mais adequado para atar as pontas da vida que ficaram
desorganizadas em meio a vários fios, impedindo-a de fazer um quadro claro de sua trajetória
131
existencial. Segundo os estudos da psicologia, as impressões geradas na fase infantil são as
mais fortes de toda a vida do indivíduo. Além disso, os relacionamentos familiares são
responsáveis pela forma como a pessoa se conecta com o mundo, pois intervêm no seu
comportamento, deixando marcas no inconsciente que precisam ser retomadas a fim de serem
cicatrizadas. No caso de Nora, esse processo de revisão do passado para uma reconstrução
psicológica se passa em um único dia, em que ela organiza a sua casa interior. E se o
desenvolvimento criativo da tecelagem tem efeito proximal de formação embrionária, é na
posição de um bebê intrauterino que a narradora se descreve ao acordar – ―acordo numa
claridade difusa, encolhida, punhos e dentes cerrados‖ (AS, p. 110) –, traduzindo a imagem de
alguém em estágio de reconhecimento de uma realidade que se encontra distorcida. Essa
distorção é previamente anunciada na epígrafe do capítulo, em que Lya Luft introduz um
trecho de Camille Paglia cujo conteúdo, de certa forma, ajuda a clarear o entendimento do
texto: ―(...) a realidade deve ser distorcida; isto é, corrigida pela imaginação.‖
O pesadelo de Nora com o Mateus é recorrente — assim como o de Raíza com
Giancarlo — e espectros familiares rondam seu ambiente doméstico. Porém, nada disso
intimida a narradora em sua reconstrução psicológica dos traumas do passado que a
mantiveram emocionalmente paralisada. A partir daí, ela passa a reavaliar sua trajetória
existencial e suas relações pessoais, deixando de postergar seu compromisso com sua vida.
Ou seja, a personagem passa por uma espécie de renascimento. E, se esse processo é difícil,
também é consolador: ―A sensação de conforto circula no meu sangue, torna meu corpo leve,
a pele arrepiada: é a sensação de ter voltado para casa, fechado um ciclo, concluído uma fase
importante de uma complicada tapeçaria‖ (AS, p. 12). Os acontecimentos do passado surgem
em lampejos, como num processo de regressão proposto por algumas linhas de estudos
psicológicos que visam à cura das neuroses. Os espectros, ou seres invisíveis que Nora
pressente como sendo reais, também a ajudam a realizar esse processo:
Abro a porta: no fundo do corredor, negro, contra o vitral de peixes e de
medusas, alguém parado, imóvel. Uma menina; um rapaz; delicado espectro
que esteve guardando esta casa e agora vem me dar boas-vindas, alguém que
não conseguiu se desligar daqui? (...) Fico imóvel também, sem medo. Rosa
comentou que Henrique tem andado pela casa de madrugada... mas se fosse
ele, avançaria para mim com o mesmo caminhar deslizante de uma menina
morta há muitos anos. O que me é tão familiar nessa figura andrógina no
corredor? (...) Fecho a porta devagar para não perturbar quem vaga pela
casa. (AS, p. 12).
132
Um ar de mistério perpassa as imagens difusas que vão sendo descritas pela
narradora; mas essas reproduções são entremeadas por questionamentos lúcidos acerca da
casa e das pessoas que ali habitaram ou que por ali passaram. Nora não se coloca como dona
da razão, nem mesmo quando faz cobranças à figura materna. Chega, inclusive, a
reconsiderar: ―(...) Ou sempre fui injusta com ela, que hoje vegeta na aridez de sua mente
obscurecida? Uma coisa é o que somos, outra o que vêem em nós: sei disso, porque, apesar
de todo nosso amor, meu filho e eu habitamos em zonas diferentes.‖ (AS, p. 17).
É certo que é do passado que emerge a reflexão, mas se percebe o esforço da
personagem para dar prioridade ao tempo presente, momento de equilíbrio das emoções
conflitantes. Em algumas passagens, Nora aparece descendo as escadas, como se imergisse no
interior familiar. O processo é gradativo, ela vai penetrando aos poucos na profundidade da
casa e tomando domínio do espaço: ―Ainda não é luz plena o que escorre casa adentro, mas a
indecisão do amanhecer. Sento-me no primeiro degrau e contemplo embaixo uma zona de
penumbra...‖ (AS, p. 13); ―Desço apenas alguns degraus, até o meio da escada onde me sento
outra vez‖ (AS, p.21); ―O sol nasceu. Desço os últimos degraus, sentindo com prazer o
assoalho encerado nas plantas de meus pés...‖ (AS, p. 33).
Cada personagem que marcou a vida de Nora vai sendo descrita a partir de
detalhes fixados em sua memória. Mas a realidade da vida presente, como ela mesma diz ao
acordar, está bem distorcida, já que as lembranças da infância influenciam a sua percepção
atual. Então, figurando no centro da narrativa, a memória de Nora é ―praticamente inseparável
da percepção, intercala o passado no presente e condensa também, numa intuição única,
momentos múltiplos de duração.‖ (BERGSON,1999, p. 77).
Sobre Lilith, a irmã mais velha de Nora que se suicidou aos 13 anos de idade, pesa
a acusação de ter roubado da outra a atenção dos pais e do primeiro amor: ―(...) assombrou
minha infância, roubou meus afetos, dominava a todos com sua indiferença: quem não seria
atraído por seus olhos amarelos de expressão perversa?‖ (AS, p. 12); ―Lilith ficava em casa:
era a filha amada, dois anos mais velha do que eu, quieta e dissimulada. Ela nunca era
mandada embora nem por um fim de semana‖ (AS, p. 14). O nome de Lilith remete à figura
do folclore hebraico-medieval, considerada a primeira mulher criada para Adão. Segundo
essa narrativa, Lilith era muito rebelde e, sem deixar subjugar-se, abandonou tudo para viver
fora do Jardim do Éden. No entanto, por ser egoísta e não aceitar que Eva fosse criada para
substituí-la, Lilith fez de tudo para que o casal pecasse contra Deus. Assim, essa figura mítica
133
é tida como o demônio que perturba os relacionamentos afetivos. Na criação de Lya Luft,
esses atributos também se fazem presentes, pois a filha mais velha de Elsa e Mateus não
valoriza a relação com a família e age de forma egocêntrica. Além de geradora da desarmonia
familiar, Lilith, segundo a trama imagética de Nora, é uma espécie demoníaca que fascina e
destrói as pessoas:
Lilith não parecia ter problemas: era excelente aluna, embora eu nunca a
visse estudar; seu quarto estava sempre arrumado; nunca discutia com nossa
mãe, e, mesmo que desobedecesse sempre, não levava castigo. Era perversa,
amava intrigas entre as meninas na escola, roubava pequenos objetos e
botava a culpa em outra, conseguia livrar-se com enorme facilidade. A
mente brilhante, muito acima de sua idade, dava-lhe um ar de adulto
escondido num corpo miúdo; sem ser bonita, era atraente, todos a elegiam a
mais bonita da aula ou da escola; e não havia explicação para isso. Pois eu
também a considerava inigualável. (AS, p. 20).
A descrição dos atributos de Lilith estabelece um contraponto com Nora,
definindo para o leitor dois pólos distintos: a mais velha é má e a mais nova é vítima. Porém,
pode-se observar que as características que identificam Lilith, apesar de serem socialmente
consideradas negativas, são mais evidenciadas e atraentes. Por esse caminho, a narrativa vai
desmontando aos poucos a ideia de que é o caráter bom ou mau do ser humano o que faz dele
um veículo de atração ou de repulsão social; ou seja, dissolve-se o maniqueísmo com que
tradicionalmente se representaram os personagens literários, na intenção de transformá-los em
modelos para os leitores. A própria narradora, mesmo impregnando sua história familiar com
uma visão individual, sente atração pela vilania da irmã. Aliás, sente fascínio por duas
personagens que, sob uma visão clássica, podem ser tomadas como vilãs: Elsa e Lilith,
mulheres cujo comportamento contraria a visão de feminilidade que é sinônimo de meiguice e
benevolência.
Amadurecida, Nora pode, enfim, tecer um julgamento mais imparcial acerca dos
fatos e elaborar seus próprios conceitos acerca da realidade. Isso demonstra que a
personagem, ao chegar aos 50 anos de idade, alcançou verdadeiramente a fase adulta da vida.
Com isso libera seus pais, Elsa e Mateus, deixando de cobrar-lhes pelo fato de terem voltado
suas atenções incondicionalmente para Lilith, a filha perversa, que ―não se importava com
nada, nem com nenhum de nós, construía o seu próprio mundo, onde, como quando
brincávamos de gruta, era sempre a rainha (AS, p. 18).
É igualmente a maturidade que permite Nora admitir a possibilidade de ter
fantasiado a realidade e as personagens do seu passado familiar, da mesma forma como
134
elabora as imagens de sua tapeçaria: ―Tudo nasce da minha fantasia, da memória; da funda
garganta do pensamento, onde nem eu penetro mas de onde sou partida todos os dias,
dormindo e acordada...‖ (AS, p. 15). Como na obra de Rachel de Queiroz, a narrativa de Lya
Luft também apresenta características impressionistas, em que se verifica a substituição do
relacionamento externo entre as pessoas e/ou eventos por um pensamento evocado na mente
do narrador. Assim, um dado objetivo da relação entre causa e efeito é substituído por uma
impressão pessoal. O termo ―talvez‖, utilizado por Nora em diversas ocasiões, dá esse tom de
interpretação imprecisa da natureza humana: ―Talvez Mateus tenha sentido alguma culpa por
realmente não me proteger, por deixar que Elsa me tratasse tão mal; por finalmente me botar
num internato, quando eu nem tinha saído direito da infância, tudo por exigência de minha
mãe.‖ (AS, p. 16); ―Talvez Olga, que não era filha dela, tivesse razão ao me dizer mais tarde
que Mateus mimava a mulher, parecia bobo diante dela porque a amava‖ (AS, p. 18); ―Elsa
não desistia, e quando ela metia uma coisa dessas na cabeça Mateus acabava cedendo, talvez
para agradar, talvez apenas para ter sossego‖ (AS, p. 19).
A descrição que Nora faz de Lilith é, portanto, impressionista, por ser feita com
base nas ―sensações‖ que traz do período infanto-juvenil. Addison Hibbard (1967) diz que o
impressionista é atraído pelas cores e, para desenhar um cenário, liga-as a sentimentos e
emoções do instante evocado em sua mente. Isso ocorre com Nora, que declara:
―Seguidamente imagino se a Lilith que eu via não era fruto dos meus medos, um mito criado
pela minha timidez e insegurança‖ (AS, p. 23). Essa possível construção imaginária da
narradora capta detalhes internos que induzem o leitor a compor uma figura ao mesmo tempo
bela e assustadora de Lilith:
Na aparência, Lilith não era das trevas: loura, magra, ágil, seu riso se ouvia
freqüentemente pela casa e eu sabia que estava se divertindo à custa de
alguém. Tinha uns ataques de mau humor: ficava num canto, numa sombra
interior, e algo saía de dentro dela, pelos olhos, sob os cílios, e me fazia mal.
Sentava-se no chão, pernas cruzadas, agarrada ao gato; inacessível.(AS, p.
23).
Conforme explica C. G. Jung (1981), geralmente a pessoa tem uma visão ingênua
e inconsciente dos seus parentes mais próximos devido à influência direta que estes podem vir
a exercer sobre ela. Isso porque não se tem ideia de que cada componente do núcleo familiar,
apesar da influência sanguínea, quer impor sua natureza humana, que é una. Porém, vivendo
135
sob o que Sigmund Freud (1997) chama de princípio de realidade, geralmente os
consanguíneos deixam aflorar somente as características que venham a convergir em
harmonia, ou então o mais fraco se adapta ao mais forte e se elimina o conflito. Assim, nesse
convívio do lar é gerada uma falsidade, erroneamente tomada como ―perfeição familiar‖, que
só é quebrada quando alguém não entra no ―jogo‖ e decide ―brincar‖ sozinho. É o caso de
Lilith que, na realidade, é uma reprodução de Elsa.
A concepção inicial de Nora acerca da relação entre pais e filhos é aquela que está
inscrita no inconsciente coletivo, ligada ao arquétipo, ou seja, a um ‗―typos‘ (impressão,
marca-impressão), um agrupamento definido de caráter arcaico que, em forma e significado,
encerra motivos mitológicos, os quais surgem em forma pura nos contos de fadas, nos mitos,
nas lendas e no folclore‖ (Jung, 2008, p. 54). Nora tem a visão das pessoas que lhe são
importantes em conformidade com os mitos, por isso age sob a influência delas. Quanto a
Lilith, para além de sua possível perversidade, é uma heroína, aquela que não teme a gruta,
assim como os heróis dos mitos gregos que se aventuram nas cavernas: ―Ninguém parecia
entender minha fascinação por Lilith, meu desejo de falar nela, de ser Lilith: temida, não
ignorada; indefinida talvez, mas não boba; astuta, não rejeitada. Lilith sabia instilar veneno
na alma das pessoas‖ (AS, p. 23). O coletivo não permite que o indivíduo confesse sentir
atração por atitudes que são convencionalmente reconhecidas como sendo ―más‖; de modo
que a admiração por pessoas com atitudes iguais à de Lilith é altamente condenada. Porém,
Lilith foi o ídolo de Nora na fase infantil:
Eu a admirava: atrevida, fingida, sabia conduzir as coisas de modo a que
tudo acabasse bem para ela: alguma maldade na escola, uma desobediência
grave em casa. Facilmente passava a culpa para mim; um dia lhe perguntei
como conseguia convencer os outros tão facilmente de que eu tinha a culpa
de coisas que muitas vezes nem presenciara. Ela falava nesses assuntos com
tranqüilidade, como se fossem naturais.
— Porque você tem essa cara de condenada — foi a desdenhosa
resposta. (AS, p. 52)
Nas festas de família, ou nos dias em que nossos parentes nos visitavam,
ou até em aniversários de crianças, ela não parecia presente; sentava-se
olhando tudo e todos, a um tempo séria e irônica; inventava alguma
brincadeira longe dos demais, e se ninguém quisesse acompanhar saía
sozinha, ou com seus seguidores: o torturado Lino e esta precária Nora, que
teria preferido ficar com tios e primos, mas não conseguia recusar.
(...)
Mas tudo o que eu queria era ser notada, era ser sua igual, que me fizesse
cúmplice, até mesmo de suas maldades. (AS, p. 54-55).
136
Apesar de Lilith ser representada como uma expressão do mal que exerce um forte
poder de atração sobre a irmã, o impacto maior que a trama provoca no leitor vem das ações
de Elsa em relação à Nora. O desenho que esta faz da figura materna desconstrói
completamente a ideia de mãe como aquela que sempre deseja o bem dos filhos e se dedica
incondicionalmente a eles. A propósito, se forem levadas em consideração as características
pessoais por critérios de gênero, veremos que os papéis sociais e as expressões emocionais
estão invertidos no romance:
Elsa e Mateus formavam um estranho par: nada combinava, nem
fisicamente. Ele era grandalhão, ela delicada; ele era afetuoso, ela
desinteressada; ele era paciente, ela sempre irritada. Mas meu pai lhe era
submisso, diante dela perdia a força — seu jeito imperioso se tornava dócil,
fazia brincadeiras bobas, deixava-se dominar: e eu sentia uma raiva surda,
pois sabia que muitos comentavam: ―Ela faz dele o que quer.‖ (...) por
deixar que Elsa me tratasse tão mal; por finalmente me botar num internato,
quando eu nem tinha saído direito da infância, tudo por exigência de minha
mãe. (AS, p. 16).
A palavra ―estranho‖ indica que os pais de Nora fogem aos padrões estabelecidos
para um casal e faz o leitor considerar o que seria um casal modelo para a sociedade.
Rousseau dizia haver uma rigidez quanto aos deveres relacionados aos sexos. Segundo o
filósofo, há uma interdependência entre os seres, mas as mulheres sempre procuram ser
agradáveis aos homens por carecerem mais deles do que eles delas. Assim, para Rousseau, se
elas querem dispor de respeito, ―é preciso que o demos a elas, que queiramos dá-lo a elas, que
consideremos que são dignas disso; elas dependem de nossos sentimentos, do valor que
damos a seus méritos, da importância que prestamos a seus encantos e a suas virtudes.‖ (2004,
p. 526).
A crença de que o comportamento de homens e de mulheres obedece a uma
imposição da natureza causa certo impacto sobre a narradora, porque frustra suas
expectativas. A palavra ―realmente‖, relacionada à função do pai — ―Talvez Mateus tenha
sentido alguma culpa por realmente não me proteger‖ —, introduz a ideia de um destino que
não se cumpriu, uma função que não se realizou, a assimilação de uma teoria social que não
se aplicou na prática. Incapaz de compreender o caráter social como um dado da cultura,
distinto da natureza, o indivíduo acaba traumatizado, como no caso de Nora. A essa questão
Lya Luft acrescenta a hipótese de culpa, geralmente atribuída por um observador externo ao
elemento que, como a mãe do romance, pratica atos que não se coadunam com aquilo que
ditam as convenções sociais.
137
Em A sentinela, como ocorre com as outras obras aqui analisadas, a maternidade,
considerada sob a percepção do final do século XX, surge desligada de qualquer compromisso
social que envolva a obrigatória ligação afetiva por parte da genitora. Em Júlia Lopes de
Almeida, o narrador onisciente registra a preocupação de Ernestina em se mostrar para a
sociedade como boa mãe. Rachel de Queiroz elabora uma trama em que a filha única narra o
convívio com uma figura materna bem próxima da representada por Lya Luft, mas que ainda
não confessa a filha como parte de sua dor existencial. Lygia Fagundes Telles representa o
comportamento da mulher com a maternidade sob a perspectiva de uma personagemnarradora que, também na condição de filha única, tem a impressão de ser fruto de um destino
cultural do qual as mães não puderam escapar. Nesse caso, a mãe não usa de subterfúgios
para disfarçar a impaciência com a filha, mas a acolhe em uma espécie de compaixão por sua
índole desajuizada.
Já na obra de Lya Luft a função materna não apresenta nenhum sentido de
sofrimento moral para a genitora. As filhas, nessa trama, são acontecimentos naturais, sendo
que só com a mais velha há uma relação de afeição, uma predileção que, como diz a
narradora, a mãe não se preocupa em disfarçar — ―nossa mãe reclamava debilmente, mas de
verdade nunca se queixava dessa filha‖ (AS, p. 13). Quanto à Nora, a mãe não se obriga a
dissimular nenhuma deferência especial, ao contrário, procura meios de se livrar da presença
física da menina, primeiro mandando-a para o sítio e depois para o colégio interno. Nem a
morte de Lilith, a filha predileta, leva Elsa a substituir uma filha pela outra em sua afeição;
Nora não consegue despertar na mãe a ―natural‖ capacidade de carinho atribuída à
maternidade:
Ninguém parecia se lembrar de mim; ninguém me consolava. Lino, já
adolescente, ainda torto e triste, ficou na cozinha com sua mãe; colegas e
professores me abraçavam rapidamente, mas postavam-se junto de Lilith;
meus pais não se aproximaram de mim nenhuma vez. Não tínhamos nada
em comum. (...) Lá estava Lilith: mais enigmática do que nunca, quase bela;
língua recolhida, cílios baixados. Onde está você agora, neste momento,
Lilith? Pode ouvir nosso pai chorando desse jeito horrível? Sabe que nossa
mãe desmaiou? Consegue ler meus pensamentos, de verdade, agora? Eu
sempre quis que você deixasse um lugar para mim na casa, mas não desta
maneira... (AS, p. 62).
(...)
Minhas tímidas iniciativas de consolar Elsa foram sempre repelidas, só
faltava ela dizer que era um atrevimento eu estar viva, comendo, bebendo,
indo à escola, quando a filha amada se fora. (...) Mas depois minha mãe
138
passou a ficar muito interessada em mim. Gritos, tapas, xingamentos, eram
meu inferno quase cotidiano (...). (AS, p. 67).
A impossibilidade de substituição de Lilith por Nora no afeto materno explica-se
pelo fato de que cada indivíduo possui características singulares, que, no campo das
afinidades, atraem ou repelem o outro. Contudo, mesmo sem desejar a morte da irmã, é
somente após esse acontecimento que Nora descobre isso, ao constatar que não possui
nenhum atrativo pessoal que possa despertar a atenção ou o carinho dos pais, principalmente
da mãe, o alvo maior de suas demandas afetivas. A personagem tem a impressão de que a
pulsão suicida de Lilith, que acabou levando-a à morte, parece ativar ainda mais a rejeição da
mãe em relação a ela. Em Lygia Fagundes Telles, o suicídio apresenta-se como um escape às
opressões, à falta de uma estrutura emocional para lidar com as próprias aflições. De certa
forma, o processo de introversão de André, o jovem seminarista, esclarece seu desinteresse
pelo mundo exterior. Mas em Lya Luft não há nenhuma justificativa para a autodestruição de
uma menina de 13 anos, extrovertida, amada pelos pais e admirada por todos. É importante
lembrar que, nas duas narrativas, a questão é apresentada por uma narradora que participa
ativamente da história na condição de filha que observa o desvelo de sua mãe em relação a
pessoas suicidas, confrontando-o com a falta de atenção a si dispensada. No caso da obra de
Lygia Fagundes Telles, ainda que André não seja filho biológico de Patrícia, subentende-se
que esta, ao dispensar a ele a atenção que a mãe não soube lhe dar, preenche a lacuna deixada
pela figura materna. Portanto, se Rousseau diz que a mãe cerca a alma do filho, protegendo-o
das intempéries, as duas autoras, contrariamente, apontam para o fato de não haver proteção
externa que livre o ser humano dos seus conflitos interiores.
Outro dado relevante da obra de Lya Luft é a demonstração de que não há nenhum
fator econômico, religioso ou social que determine o devotamento da mãe em relação à filha,
nem nenhum mecanismo interno que suscite naquela o senso de responsabilidade, pois a
vontade de se livrar do ―empecilho‖ é mais forte: ―Quando minha mãe se cansava de mim, eu
sabia: seria desterrada um fim de semana ou mais no sítio onde nossas roupas ficavam
desfraldadas, e eu me sentava num banco olhando a paisagem desolada.‖ (AS, p. 14).
A autenticidade de Elsa com relação às filhas é desencadeadora, então, de
complexos. Se não ocorre o infanticídio literal, ocorre o desterro, pelo qual a filha enjeitada é
também reificada pela mãe, que busca desfazer-se dela como quem se desfaz de um objeto
incômodo:
139
Morrendo, Lilith me pregou a última e maior peça: desatinada, a família
esquece de mim, como se eu estivesse também de castigo no canto, cara para
a parede; Elsa tinha crises nervosas, só de me ver parecia capaz de arrancar
meus olhos com as unhas; livrou-se de mim assim que pôde, e não deve ter
sido difícil convencer um Mateus mergulhado em dor a me despachar para o
internato como um pacote que estorva. (...) Mas Lilith continuaria a grande
presença: Elsa mandara pintar dela um retrato em tamanho quase natural,
baseado numa fotografia: Lilith imperava na sala, como outrora na gruta,
Serafim à frente, os dois com suas pupilas hirtas. (AS, p. 54).
A personagem materna de Lya Luft tem uma personalidade independente,
despreocupada com o julgamento alheio. Elsa busca a satisfação individual em detrimento de
todos os membros da família — incluindo aí Olga, a enteada. Essa mãe, representada como
alguém que não mais se prende às convenções sociais, pode ser tomada como uma pessoa má
aos olhos da sociedade, que relacionou a imagem materna ao conceito de complacência. É
uma mulher que não tem nenhuma persona que interfira em sua espontaneidade afetiva. Sem
máscara, a personagem é apresentada pela filha-narradora de forma meio monstruosa;
contudo, aponta para o leitor o que vem a ser uma personalidade desenvolvida, uma pessoa
que foge da medida social que categoriza os seres e não se importa com as consequências
geradas pelas atitudes individuais. De acordo com Jung (1981, p. 179),
O desenvolvimento da personalidade, desde seu começo até à consciência
completa, é um carisma e ao mesmo tempo uma maldição: como primeira
conseqüência, o indivíduo, de maneira consciente e inevitável, se separa da
grande massa, que é indeterminada e inconsciente. Isto significa isolamento
(...). O desenvolvimento da personalidade é uma tal felicidade que se deve
pagar por ela um preço elevado. Fala-se muito no desenvolvimento da
personalidade, mas pensa-se pouco nas conseqüências, as quais podem
atemorizar profundamente os espíritos dotados de menos vigor.
A narrativa revela que a personagem-narradora não é fruto do desejo materno, de
uma gestação programada; seu nascimento foi um acontecimento involuntário, uma
intromissão num triângulo que já estava fechado — para os alquimistas, essa figura
geométrica simboliza também o coração —, e Nora vem desfazer essa harmonia, causando na
mãe um incômodo que ela não consegue disfarçar. A inesperada e indesejada gravidez dessa
filha caçula desconstrói, mais uma vez, o mito do instinto materno, que ―naturalmente‖
levaria a mulher a amar qualquer ser gerado em seu ventre. O comportamento de Elsa revela
140
que, se a criança não está nos planos da mãe, não há nenhum mecanismo interno que ative
naturalmente a vontade de cuidar dela, um ser que surge de forma alheia à sua vontade. Elsa
representa o retorno da mulher a uma época – anterior à influência da teoria de Rousseau
sobre o comportamento social da mulher – em que a mãe assumia a incapacidade de conviver
com a criança gerada em si. O ato de enviá-la a um colégio interno é similar ao período em
que as mães enviavam os filhos para as nutrizes. Porém, o complicador da época retratada na
obra de Lya Luft é o fato de a função materna ser coadunada à afetividade.
Isso leva à descrição feita na obra de Elisabeth Badinter dos três tipos de mães
consideradas más na inscrição social: a indigna ou ―madrasta natural‖ – é a que não ama nem
faz questão de disfarçar algum carinho à criança por si gerada; a egoísta – é a que ama, mas
não é capaz de se sacrificar pelo
filho; e a trabalhadora, incluindo-se nesse grupo as
intelectuais — é a que se recusa a ficar restrita ao espaço doméstico e prioriza uma função
remunerada (daí vem a ideia de que a sociedade remunere as mães para convencê-las a ficar
em casa). A personagem Elsa está inserida no primeiro grupo; é um tipo de mãe que, no
início do século XX, seria, logicamente, execrada pela humanidade por ser considerada meio
monstro, meio criminosa, ou, ainda, um ―erro da natureza‖. Para não serem assim julgadas,
muitas mães disfarçavam a indiferença pelos filhos com demonstrações públicas de carinho.
Contudo, a narrativa de Lya Luft reporta-se a um drama familiar cujo início ocorre em
meados do século XX, introduzindo na trama uma mulher autêntica, totalmente
despreocupada com os rótulos e capaz de se livrar do que julga ser um empecilho à sua
plenitude, sem que disso sobrevenha qualquer sentimento de culpa posterior. A passagem em
que Nora fica sabendo que os pais decidiram enviá-la para o colégio interno ilustra essa
realidade:
Eu não tinha idéia do que ele queria comigo, mas falando baixo, revirando
nas mãos a bola de cristal que estava sempre em sua mesa, ele me disse o
que planejavam para mim: eu ia cursar o ano em outra escola; o internato, na
cidade vizinha, onde Olga passara ‗tantos anos felizes‘. (...) Eu pensava:
Olga nunca teve casa, ela não tinha mãe! (..) Não tinham me dito nada. Eu
nem fora consultada, tudo preparado na calada dos últimos meses, sem eu
saber? Traição: era o que eu sentia. (...) No dia seguinte, depois de chorar
quase toda a noite, descobri que até meu enxoval estava pronto: Elsa
preparara tudo sem me informar. Traição: a palavra retumbava em meus
ouvidos o dia todo e toda a noite. (AS, p. 68-69).
141
É interessante observar a diferença de sentido que há entre as palavras ―mãe‖ e
―genitora‖, que, segundo o dicionário, não são sinônimas. O primeiro caso remete à mulher
que dá à luz, cria, protege, cuida, dá assistência; o segundo, à que gera, é ascendente a uma
pessoa. O leitor, preso ao conceito de mãe construído culturalmente, que imbrica as duas
significações, tende, obviamente, a rotular essa mãe representada por Lya Luft de ―má‖.
Porém, é preciso considerar que entre o pensamento da narradora sobre seu período de
desterro na adolescência e a descrição que ela faz da genitora ao longo da narrativa há uma
contradição. A palavra ―traição‖, segundo o dicionário de Antônio Houaiss (2009, p.2726),
significa ―quebra da fidelidade prometida‖, ―infidelidade no amor‖, e Elsa não pode ser
encaixada pela filha em nenhum desses casos, já que, segundo a própria Nora, ela se comporta
como genitora e jamais demonstrou algum interesse por manter algum envolvimento afetivo
com a filha caçula, por mínimo que fosse.
Por apresentar uma narrativa autodiegética, o romance de Lya Luft ―revela-se
especialmente adequado para o devassamento da interioridade da personagem nuclear (...). As
mais sutis emoções, os pensamentos mais secretos, o ritmo da vida interior, tudo, enfim, o que
constitui a história da intimidade‖ (Silva, 2002, p. 772) da narradora tem o intuito de envolver
o leitor, de modo a levá-lo a se solidarizar com o drama narrado. Porém, se o leitor, enredado
pelo drama contido no depoimento de Nora, vê-se instado a reconhecer nos atos de Elsa uma
injustiça cometida contra a filha caçula, também deve reconhecer que seria uma iniquidade
acusá-la de ―traidora‖, já que, para isso, ela precisaria ter dado algum indício de ter adotado a
filha como alvo de afeição, e isso nunca ocorreu. A mãe representada na obra recusa até
mesmo a ocupação com a formação social da filha e é a escola interna que cumpre a
maternagem com o papel de formar a narradora para o exercício da cidadania. Contudo, não
substitui a lacuna emocional que Nora cobra ao longo da narrativa devido a enxergar os pais,
e principalmente a mãe, sob a expectativa de quem vê o amor à descendência como algo
intrínseco à natureza dos genitores. Isso explica a razão pela qual a imagem da ―mãe de
verdade‖ é recorrente no discurso da narradora:
Eu acabava de fazer 12 anos (...). O internato era o meu presente de
aniversário. Não me adaptei; não me deixei disciplinar; sonhava em ser
expulsa da escola. Mas eles foram mais obstinados que eu, mais pacientes.
Minhas notas continuaram péssimas; nem autoridade nem bondade me
comoviam. Mateus escrevia cartas iradas ou tristes; Olga escrevia e
telefonava, tentando me encorajar; Elsa se calava. Uma vez, uma única, nos
primeiros meses, mandou-me, por uma colega que fora passar uns dias em
142
nossa cidade, um bolo de chocolate. Era um bolo escuro, úmido, e muito
doce. Foi um dos meus momentos de fraqueza: eu, que vivia encarniçada,
fechada e dura, devorei o bolo sozinha, sentada sobre a cama na minha
pequena cela separada de dezenas de outras, no dormitório, por biombos de
pano branco. Comia e chorava, engolia enormes bocados daquele doce
como se quisesse enfiar minha mãe dentro de mim, para que fosse minha, e
me amasse, e me conhecesse. (AS, p. 70-71).
Segundo C. G. Jung (1981), os pais são o principal vetor, a fonte primária das
neuroses dos filhos. Esse drama, inserido por Lya Luft através da imagem descrita na citação
acima, causa impacto no leitor por levá-lo a imaginar a intensa carga emotiva gerada em Nora
em decorrência das relações familiares. A dor existencial da personagem é tão grande que, às
vezes, ela deseja ser outra coisa que não ela mesma: ―Quando ela [Elsa] vinha, com seu
passinho enérgico, de longe reclamando, criticando, eu ficava tesa e quieta, olhando para ela,
dura como se fosse uma pedra. Eu queria ser uma estátua de pedra, para que nada mais me
atingisse. Teria um punho enorme, com o qual a poderia esmagar‖ (AS, p. 76). Mas se Nora
aparentemente quer destruir a mãe, por julgá-la injusta, logo em seguida demonstra que seu
desejo é poder desvendá-la: ―Mas a realidade não era essa. ‗Pai, por que mamãe está sempre
zangada comigo?‘‖ (AS, p. 76).
Ao longo da narrativa, Nora se apresenta sob a condição de vítima, como alguém
que sofre diversos prejuízos por não ter segurança suficiente para contrariar a vontade da mãe.
A falta do apoio materno levou-a, por exemplo, a abdicar de sua aptidão musical e parar de
cantar, ainda que todas as outras pessoas admirassem o seu talento.
As atitudes de Mateus são condicionadas por uma intensa paixão pela mulher, de
modo que nada para ele está acima desse sentimento, nem mesmo as filhas. Em vez de
apresentar-se como um homem interessado em afirmar a sua virilidade, segundo os moldes
patriarcais de nossa cultura, Mateus se volta para Elsa por inteiro, de tal maneira que ela
interfere em todos os setores da vida dele, comandando suas relações de trabalho, amizades e
relacionamentos familiares:
Passei momentos deliciosos com meu pai, especialmente quando me deixava
ficar lendo ou vendo figuras em seu escritório, perto dele. Muitas vezes eu
nem virava as folhas: apenas ficava ali, segura e tranqüila sentindo o cheiro
das poltronas de couro, dos livros, da água-de-colônia dele. Mas Elsa podia
chegar a qualquer momento. Mateus nunca a mandava embora, ela
interromperia minha felicidade sem complacência. E Mateus não pareceria
aborrecido: ao contrário, levantaria para ela uns olhos carinhosos como
nunca voltava para mim; pegava a mão dela, beijava e quando ela me
143
criticava nunca me dava qualquer sinal de solidariedade. Assim, meu
coração se transformava num território minado por dúvidas quanto a tudo, e
todos. (AS, p. 77).
A morte de Mateus com a cabeça decepada, como já dito, simboliza a negação do
racional imposto ao gênero masculino; o amor cego pela mulher tira dele o comando da
família e de si mesmo. Lya Luft nos apresenta o novo modelo de homem que estava surgindo
num período de incipiente declínio do patriarcado. Assim, se o marido representado na trama
ainda é cobrado para resistir na posição de líder, demonstra ser inapto para isso. Está entregue
a um amor incondicional pela esposa, e essa disponibilidade irrestrita, na visão patriarcal,
prejudica-o. No romance de Júlia Lopes, o problema gerado pela incontinência amorosa da
protagonista deve-se à subserviência da mulher. Como declarou Pierre Bourdieu, ―a
submissão feminina parece encontrar sua tradução natural no fato de se inclinar, abaixar-se,
curvar-se, de se submeter (o contrário de ‗pôr-se acima de‘), nas posturas curvas, flexíveis, e
na docilidade correlativa que se julga convir à mulher‖ (1999, p. 38). Contudo tal
subserviência na obra de Lya Luft promove uma inversão dos papéis sexuais, e Nora, apesar
de pertencer a uma geração mais nova do que a de seus pais, demonstra dificuldade para
assimilar as mudanças que paulatinamente ocorriam na sociedade em relação à construção
cultural dos gêneros. Por isso, sua crença no ―pai herói‖, um homem forte e protetor, persiste:
Certo dia, ouvi-o dizer grosseiramente: — Ora, cale a boca ao menos uma
vez! — E ela foi correndo fechar-se no quarto, enquanto eu vibrava de
alegria maligna, cheia de culpa por estar tão contente: ao menos uma vez
meu pai não bancara o bobo, como algumas pessoas diziam. (...) Mais tarde
ele subiu a escada, bateu longo tempo na porta do quarto, falava baixinho,
pedia, até que a porta se abriu e os dois desapareceram naquela terra secreta,
só deles. (...) Apesar disso era Mateus quem me propiciava segurança:
bastava ele entrar em casa e, insone em meu quarto, eu me sentia melhor.
Meu mundo entrava em ordem quando meu pai chegava. Meus vários
fracassos do dia, a perseguição de Elsa, as loucuras de Lilith perdiam a
importância. (AS, p. 19).
Esse tipo de ser humano que Nora representa, resistente à compreensão das
relações familiares fora de modelos, mostra-se mais perdido em razão da falta de referências
que se instalou no final do século XX, período de pós-revolução do feminismo, quando não
havia mais uma cartilha comportamental para seguir. A crise do sistema patriarcal trouxe
modificações à identidade sexual e redefiniu o conceito de família. Segundo Manuel Castells,
144
―o que está em jogo não é o desaparecimento da família, mas sua profunda diversificação e a
mudança do seu sistema de poder‖ (2001, p. 259). Se há no relacionamento conjugal esse
mesmo processo de troca de comando, não há ainda paridade na relação, e um dos pares cede
aos desejos do outro. Na obra de Lya Luft, entretanto, essa mudança de posição não é imposta
por um novo sistema, e sim pela vontade individual de Mateus de se submeter, a despeito do
julgamento social. O diálogo entre Nora e Olga traduz bem essa realidade:
— Coitado do papai. Uma vez só falei com ele sobre isso, um dia em
que Elsa me chateara demais. (...) ela exercia uma influência enorme sobre o
nosso pai.
— Pois é, eu sei. Cansei de levar castigo dele por coisas que ela
inventava, exagerava... parecia feliz quando eu sofria injustiça, era como se
assim provasse o seu poder. Sei lá.
— Elsa era superficial, pouco inteligente... usava de um recurso
infame: a sedução. Por algum motivo Mateus gostava dela, um dia me disse
isso. ‗Eu gosto dela. Sei que não é fácil de lidar, mas gosto dela, aprendi a
ser feliz assim.‘ (AS, p. 43).
O conceito de felicidade não é unívoco; por isso, os motivos que levam um
indivíduo a sentir-se feliz podem não ser compreendidos pelo outro. É por isso que se tornar
indivíduo e desfazer-se da persona coletiva em prol de um caminho próprio, de uma escolha
pessoal, que inclui até relacionamentos questionáveis, resultam de um ato de coragem. O
romance de Lya Luft, como visto, representa ficcionalmente o homem que, consoante as
novas diretrizes do final do século XX, demonstra o desejo de sair de uma posição rígida de
autoridade e expor um lado mais sensível, incluindo as fraquezas emocionais comuns a todo
ser humano. Porém, como mostra Anthony Giddens, no que diz respeito aos elementos
emancipatórios, os homens não são beneficiados, pois ―a necessidade de ‗agir como homem‘
está fortemente inculcada — e, para a maior parte, tal conduta é esperada também pelas
mulheres — mas as pressões que ela provoca são intensas.‖ (1993, p. 165). Essa cobrança de
posição máscula faz parte do discurso de Nora em relação ao pai.
Aliás, toda a narrativa é construída a partir de personagens criadas com base em
construções idealizadas de seres humanos. Por isso, Elsa é apresentada como uma mulher
anormal, fria, calculista. Sob essa perspectiva, não se observa na imagem da mãe o instinto
materno, compreendido como ―produto de uma representação ideológica que se processa a
partir do medo à mulher, que precisaria ser atenuado e tranquilizado por sua transformação
em uma figura doadora, generosa, nutriz e, até, ‗mátria‘, no sentido de terra-mãe‖ (Pietrani,
145
2000, p.78).
Somente com base na ideia de destino instintivo é que se podem rotular
genitoras como Senhora e Elsa como ―monstros‖, em razão da falta de compromisso em
relação à maternidade. Já a mãe representada por Rachel de Queiroz, sendo fruto de uma
geração anterior e habitando numa região que valoriza as demonstrações de feminilidade,
causa mais impacto ao priorizar a sexualidade em detrimento dos cuidados com a filha, um
atributo do macho. Por sua vez, a figura geratriz representada por Elsa é descrita pela
descendente apenas como uma pessoa mais prática, sem o romantismo que se espera do
gênero feminino:
— Você não tem pena de vender essa casa? — perguntei quando Elsa
comunicou que o primeiro corretor viria.
— Nenhuma — olhou-me de frente, ar de menina obstinada, esse ar
que desde criança me irritava tanto: sabe que faz uma coisa errada, mas
teima, ainda que se arrebente, ainda que os outros sofram, bate pé e faz. (...)
— Mas, mãe, nasci aqui, papai morreu aqui, e a Lilith...
Ela me interrompe, abana a mãozinha:
— Tudo sentimentalismo, eu sou uma mulher prática. Sem seu pai a
casa perdeu o sentido.
— Mas, mãe, ele morreu há mais de dez anos.
— Para mim é como se tivesse sido ontem — mente, ela mente
sempre (...) — Não sou romântica como você, como seu pai era. Dinheiro é
a coisa mais importante do mundo, essa casa velha me sai muito cara. Além
do mais, você vai se casar, morar no apartamento do marido. Para que quer
a casa? (AS, p. 40).
Uma narrativa que abrange desde o arrefecimento do patriarcado até os anos 90,
não pode ser mais reveladora da crise que as mudanças de um sistema geram.
Nora
representa o tipo de pessoa apegada a um passado para o qual a mulher é regida pela natureza,
dominada pela emoção. Fechadas nesse esquema aprisionante, ―como poderiam as mulheres
escapar ao que se convencionara chamar de sua ‗natureza‘? Ou tentavam imitar o melhor
possível o modelo imposto (...) ou tentavam distanciar-se dele, e tinham que pagar caro por
isso.‖ (Badinter, 1985, p. 238). A representação da figura materna de Lya Luft toma a
segunda atitude, contudo está totalmente despreocupada com as condenações e, portanto, não
sofre um castigo social.
É importante observar que a naturalidade com que Elsa conduz suas ações em
relação à maternidade não ativa nenhum sentimento de ódio na narradora. O que há é uma
tentativa por parte desta de compreender o porquê das atitudes de sua genitora, que, guiandose por sua individualidade, opta por viver isolada da sociedade, a qual, após a queda do
146
patriarcado, teve suas regras peremptoriamente questionadas.
Isso leva a pensar que os
conceitos disseminados são válidos enquanto ditam normas que auxiliam na manutenção da
ordem social, mas são totalmente mutáveis, e a ideia de modelo ou de perfeição, que
antigamente era determinante para o indivíduo não ser alijado do meio social, acabou por
perder o foco. Não há possibilidade de impor ―a virtude‖; tampouco se podem persuadir os
indivíduos a adotarem uma conduta moralmente prestigiada, uma vez que as ―boas‖ atitudes
estão determinadas por diversos grupos sociais, completamente díspares. Segundo Zygmunt
Bauman (1998), hoje o indivíduo questiona até mesmo por que se deve incluir no preceito de
amar ao próximo e, mais do que isso, amar o seu familiar. Isso é inovador, porque sempre se
viveu sob a falsa ideia de que os laços de sangue geram o amor. Na representação de Lya
Luft, Elsa assume claramente a rejeição à filha ainda que tenha tido, para além do dado
sanguíneo, um vínculo intrauterino de nove meses. Essa manifestação de frieza em relação à
criança só seria concebível na figura da madrasta, e ainda assim como coisa do passado, sob
influência de histórias infantis, como os clássicos Cinderela e Branca de Neve. Nesse caso,
porém, a intenção pedagógica por detrás dessas histórias era a de lançar uma carga negativa
sobre as separações conjugais ou segundos casamentos, difundindo a ideia de que a segunda
esposa é má para as enteadas. Na obra de Lya Luft, não há a mesma motivação, pois Elsa
repete com a própria filha as maldades cometidas com Olga, sua enteada, filha de outro
relacionamento de Mateus.
Olga representa o indivíduo independente, mas que, sem uma figura materna que
lhe sirva de modelo, exerce a responsabilidade da maternagem até para Nora. Essa meia-irmã
de Nora é racional e compreende bem a diferença entre genitora e mãe: ―Ela te pariu mas
nunca adotou você como filha — diria Olga quando eu fosse adulta — para esse parto não
existe fórceps‖ (AS, p. 20). Essa consciência se opõe à visão obtusa da narradora, que tem
dificuldade para ampliar o conhecimento que lhe foi inculcado, a ideia preestabelecida e
disseminada como incontestável. Diz ela, em relação à mãe: ―Ainda quero extrair do seu
coração esse parto que ela não me deu, essa maternidade verdadeira; mas isso nada pode
arrancar dela‖ (AS, p. 29). Então, ―maternidade verdadeira‖ é a dos manuais, a que existe
somente no conceito social e caminha contrariamente à adoção espontânea, que é a forma
genuína de dedicação, porque se manifesta por escolha e, por isso, está longe de qualquer
coação social. Essa maternidade seria, então, mais verdadeira do que a biológica.
147
Não há dúvida, porém, de que é a falta de identificação de Elsa com a filha, ainda
que sob a perspectiva de maternidade assimilada por Nora, a propulsora do processo de
amadurecimento da protagonista. Aos poucos, ela vai elaborando uma nova definição para o
relacionamento afetivo, afastado da associação biunívoca entre mãe e filha biológica. Porém,
a demora em perceber que é órfã de mãe viva atrofia o senso de valor da personagem:
A última vez que a visitei, há pouco tempo, era dia dos meus 50 anos.
À noite eu ia comemorar, mas pela manhã resolvi fazer uma visita ao
apartamento onde Elsa vive reclusa, com uma pacientíssima dama de
companhia que suporta suas exigências e os problemas de uma velhice
estéril. Não precisava ter ido, mas Olga, que me conhece tanto, está certa
quando me censura por não crescer direito. — Mas ela é minha mãe! —
respondi, e Olga disse:
— Lembre o que lhe falei mais de uma vez: ela pariu você, mas não a
adotou como filha. (AS, p. 27).
(...) Ela [Olga] foi o que conheci de maternal na vida. Cresceu sem mãe,
foi rejeitada pela minha, que não aceitou esse estranho dote, fruto de um
namoro de juventude de Mateus. Decidiram então que ela ia ser educada no
internato, para onde foi quando eu nem tinha nascido e de onde saiu para
viver sua vida, sem precisar suportar a dor miúda de ser controlada por Elsa.
(AS, p. 17).
(...) Olga e eu começamos a ser realmente irmãs. Mais que isso: transpondo
a metade do sangue que não tínhamos em comum, ela se tornou minha mãe,
tanto quanto pôde. Seu coração vigoroso me adotou, ela me pariu ali
mesmo, sentada em minha cama, me embalando até eu conseguir dormir.
(AS, p. 62).
(...) mas naqueles anos Olga estava afastada, dando aulas, abrindo
consultório, e sendo mulher de Albano. Vinha para me ver, escrevia-me,
falávamos ao telefone: eu sabia que agora tinha uma espécie de mãe,
embora nada substituísse aquela verdadeira, que não gostava de mim. (AS,
p. 66).
A posição de Olga no enredo dá a ideia de que os dramas vivenciados no núcleo
familiar cooperam para o crescimento individual. No caso dessa personagem, a falta do
convívio familiar a impulsiona a ter uma vida socialmente racional, sem que isso signifique
frieza ou egoísmo. Os problemas amadurecem a filha mais velha de Mateus, levando-a a criar
uma forma independente de ver as pessoas. Com isso, não faz cobranças relacionadas à
presença da própria mãe, à falta de carinho da madrasta e de amizade com Lilith. Olga
demonstra que somente uma redefinição madura a respeito da relação entre os membros da
organização familiar permite ao ser humano sair espontaneamente da ―ciranda de pedras‖
148
deste núcleo e dar seguimento satisfatório à vida. A personagem revela uma visão bastante
realista acerca de Lilith e de Elsa, os dois maiores fantasmas de Nora:
— Eu a achava [Lilith] uma menina sempre presa na saia da mãe,
magrela, doentia. No fundo era uma chata. Esqueça. Pense em você hoje.
Livre-se dessas fumaças do passado, da infância, Nora. Elsa era histérica,
sua irmã meio maluca, esqueça. (AS, p. 22).
(...) Olga, muito mais velha do que nós, tinha uma vitalidade e um gosto de
viver só dela, não dependia de Elsa, zombava de minha mãe e de suas
patéticas tentativas de ser o eixo do mundo. (AS, p. 24).
Comparando-se as irmãs Nora e Olga, vê-se que a convivência em família nem
sempre é positiva para o ser humano. A falta de ligação constante com um lar alavanca a
acomodação do indivíduo ao mundo, já que o obriga a assumir o senso de responsabilidade,
de escolha dos caminhos a seguir. Assim, a criação no internato, longe dos laços afetivos,
conduz Olga, desde cedo, à consciência de si mesma, e a falta de parâmetros de regras
parentais gera uma relação com as outras pessoas livre de opressões. Essa independência, que
ela também permite aos outros, torna sua vida mais leve, já que enxerga a realidade sem
ressentimentos ou sem a cobrança de dívidas emocionais.
A narradora, presa ao passado, leva muito tempo sendo influenciada pelo núcleo
com o qual não tem nenhuma identidade afetiva: enxerga a imagem da irmã ―perversa‖
impressa no filho, Henrique; tenta com paciência inesgotável entender o desprezo da mãe por
si — ―diante dela eu voltava a ser menina acuada contra a parede‖ (AS, p. 28). Obcecada por
seus dois objetos de desejo, Elsa e João, não consegue valorizar quem a ama, Olga e Jaime, o
marido já falecido — ―Jaime era uma presença agradável (...). Mas não fui realmente feliz
com ele; talvez tivesse decretado que, depois de João, não haveria mais felicidade pessoal
para mim‖ (AS, p. 107).
A estagnação emocional de Nora não ocorre somente em relação à mãe, mas
também com João das Minas, a paixão da juventude. O namoro, que acabou quando ela tinha
23 anos, devido à pressão emocional exercida sobre o rapaz, que por sua vez desejava a
liberdade, é revivido anos mais tarde.
No entanto, nesse reencontro não há novamente
coincidência de interesses, pois enquanto Nora permanece na ilusão do amor, João quer apoio
para solucionar o conflito com a filha drogada.
149
Meio século de existência de Nora fica perdido, em razão dos investimentos
equivocados que faz na família de origem e, em conseqüência dessa estagnação, ―a energia
psíquica transborda em muitas direções, aparentemente inúteis. Assim, por exemplo, (...)
fantasias e lembranças, em si mesmas despidas de interesse, podem ser supervalorizadas,
obcecando a consciência (o piolho torna-se um elefante!)‖ (Jung, 1984, p. 5).
A narradora precisa de modelos e, sem Lilith e Elsa, Olga cumpre esse papel, já
que demonstra ter a força que a narradora não tem. Em diversos momentos, a narrativa
evidencia que a fraqueza de um ser é muito prejudicial a sua relação com o outro: Lilith se
aproveita da cara de condenada de Nora; Olga define a irmã caçula como alguém que busca
sempre ser a vítima, ao invés de ter uma atitude adulta; Henrique, antes de se afastar da casa
materna, mostra à mãe a falta de amor próprio que enxerga nela:
— E tem mais. Você precisa mudar, urgente, mãe. Ainda bem que
começou com os tais tapetes, porque senão um dia você acorda e vê que
morreu, que deixou de viver há séculos, e nem percebia. Porque você não
vive; está fora da realidade; tem uma relação horrível com as pessoas, e pior
ainda comigo. Sem falar em si mesma: você nem gosta de si mesma, mãe.
Já viu seu jeito de andar, toda encolhida? Seu jeito de olhar, como se
quisesse vasculhar cada um dos meus pensamentos? Seu modo de me
controlar com essa sua fragilidade falsa? Mãe, acorde! (AS,, p. 128).
Zygmunt Bauman (1998) chama a atenção para o fato de que, desde o preceito
bíblico ―amar ao próximo como a si mesmo‖, já está criada a ideia de primeiro ―eu‖ e depois
o ―outro‖. Nisso não há nada de egoísta, pelo contrário, porque se alguém não se ama, o que
sente pelo outro é posse, obsessão, menos amor. Porém, é compreensível que, para quem é
invisível a si mesmo, o fato de se apegar a idealizações e a forças externas é também uma
forma de proteção, pois liberta a pessoa da miséria e do abandono, ao menos por alguns
instantes.
Seguindo a ideia de Todorov (2010) segundo a qual há uma ligação significativa
entre a literatura e o mundo, é possível concluir que Lya Luft tem a intenção de valorizar a
tendência social, intensificada nos últimos vinte e cinco anos, de reformulação familiar do ser
humano. Nesse caso, os companheiros de vida não estão determinados a partir de uma
disposição preestabelecida, mas conforme a necessidade do indivíduo.
A personagem-
narradora de A sentinela só consegue ter uma visão nova e mais ampliada sobre sua paralisia
existencial com a cooperação de Olga, devido à maternagem contínua dessa meia-irmã. Esta,
150
bastante centrada, cumpre a função psicanalítica de impulsionar Nora a sair do aquário, com
sua visão restrita de mãe, e entrar no mar, em que há múltiplas possibilidades.
Quando [Olga] caminha, também seus passos ainda são os da guerreira
intrépida que me adotou quando eu parecia abandonada por todos.
Caminhamos juntas seguidamente: ela, ‗para não enlouquecer‘; eu, para
estar com ela; essas conversas se tornaram essenciais para mim. ‗Olga, você
é o meu superego‘, digo às vezes, e sempre ela responde, lacônica: ‗Vá à
merda.‘
— Esse amor de criança carente na sua idade é coisa de psiquiatra. Vá
se tratar, eu já disse. Desde que você era pequena eu tinha vontade de te
sacudir, dar uns tapas, para que você acordasse. Elsa não é nada.
— É minha mãe — digo, obstinada — Você tem ódio dela?
— Era só o que faltava. Elsa nem existe. (AS, p. 31, grifos nossos).
Negar-se a atuar como referência é outra característica da atualidade, pois servir
de exemplo significa ter a responsabilidade de não errar, de atender às expectativas do outro.
Receber o título de superego não é elogio, mas uma forma de colocar a pessoa em uma
moldura que tolhe sua espontaneidade como indivíduo — ―Deus me livre de ser a razão da
vida de quem quer que seja, é escravidão‖ (AS, p. 50) —, e se encaixar nessa definição é
aceitar a possibilidade de representar a coerção ou a lei comportamental para alguém. Tornarse superego é perder a liberdade de seguir o próprio desejo: ―Olga estava bebendo demais,
fumando feito doida, mas se eu reclamava soltava apenas sua fórmula predileta: — Foda-se‖
(AS, p. 165). Porém, mesmo sem querer, Olga se torna uma espécie de espelho diante do qual
Nora vai observando a necessidade de se tornar independente.
Olga passa a ser a ―mãe‖ de Nora e isso, para a narradora, não é apenas simbólico,
pois ―um conceito ou uma figura são simbólicos quando significam mais do que indicam ou
expressam. Eles têm um aspecto abrangente ‗inconsciente‘ que nunca se deixa exaurir ou
definir com exatidão‖ (Jung, 2008, p. 189). Nora limita a sua compreensão de maternidade a
tal ponto que passa a agir baseada em sua idealização em relação ao filho: ―Olga acha que me
preocupo demais com ele: ‗Nora, filho é uma ferida aberta no flanco, por onde entra muita
alegria e muita dor. Quem tem medo disso não deve ter filho. Assim você espanta esse
menino‖ (AS, p. 17). Apesar de a maternagem de Olga ser a maior forma de exemplaridade, a
obsessão de Nora pelo filho é um desdobramento da necessidade que ela tem de Elsa, ou seja,
a ―maternidade verdadeira‖ buscada em Elsa é transferida para o filho. Isso gera um novo
problema, pois Nora não percebe que o filho não é uma extensão dela e que possui
compreensão de mundo e exigências afetivas diferentes da sua — ―eu seria uma mãe de
151
verdade, em tudo diferente daquela mulher infantilizada que me havia parido com tamanha
indigência‖ (AS, p. 110). A ―maternidade verdadeira‖ que Nora cobra de Elsa e a ―mãe de
verdade‖ não fazem parte da necessidade existencial de Henrique; mais uma vez, a artesã
perde tempo de sua vida.
Segundo C. G. Jung (1981), a transferência é uma substituição, e, quando se é
muito apegado(a) aos pais, como é o caso da protagonista do romance de Lya Luft, costumase transmitir à família descendente características do tipo de ligação mantida com o núcleo de
origem, reproduzindo-se o mesmo ambiente psíquico. Isso explica o fato de Nora vivenciar
com o filho a mesma neurose, em relação ao controle emocional, que ela viveu com seus pais:
Henrique preenchia um extraordinário vazio em mim. Para alguém eu
finalmente era especial, esse alguém não me rejeitaria nunca. Essa pessoa
me amaria acima de tudo, sem traições. (...) Chegou o tempo em que
Henrique não era mais um bebê rosado que eu pegava no colo, levando para
onde queria, nem um menininho doce, a quem eu conduzia. Começou a se
rebelar, e quando se obstinava não cedia. Olhava-me firme com os olhos de
Mateus, e resistia. Não gritava, não se jogava no chão esperneando como eu
via fazerem outras crianças: fechava-se, mudo, uma miniatura de Lilith,
escapando para um mundo impenetrável para mim. (AS, p. 116/118).
O termo ―transferência‖ inclui os variados processos que determinam uma ligação
e pode se transformar em empecilho a um relacionamento entre duas pessoas. Lembremos
que, no início da narrativa, a personagem já retomou o olhar para si e está bem, mas o
processo regressivo da narrativa permite ver a narradora como, ao invés de vítima, um modelo
cerceador de indivíduo que, através do seu discurso, transmite a sensação de sufocamento. A
situação com o filho é pior, porque se nota uma ideia de direito ao cerceamento de seus
gostos, trabalho, sexualidade e isso, como consequência, produz um afastamento entre eles.
O fato é que também os filhos chegam a uma fase em que precisam, mesmo errando, tomar
decisões para ganhar autonomia, e a superproteção impede o empreendimento de se tornar
indivíduo. Nesse caso, é preciso adentrar um simbólico campo de batalha — é pertinente
prestar atenção aos verbos usados na citação acima: ―rebelar‖, ―não ceder‖ e ―resistir‖ —, mas
a luta pode ser apenas introspectiva, uma tentativa de se controlar psicologicamente.
Na narrativa, não há embate de nenhum personagem com a narradora, mas o dela
com todos os outros, pois enquanto ela se determina ao aprisionamento, os outros
demonstram a sede de liberdade. Não combinam com o estado de dependência, já que o
processo de dissociação entre os seres é que produz a falta do outro. No entanto, a forma
152
egoísta com que se toma posse do outro — independente de ser filho, namorado, marido,
esposa, etc. —, por medo da solidão, destrói a convivência.
A dificuldade da narradora de se individualizar é registrada no discurso de
Henrique: ―Mãe, não é clarineta, é sax. Saxofone. Que eu toco há anos e você ainda não
aprendeu. Faz música, brilha, não tem teclado, pra você é clarineta. Sax, dona Nora, sax‖
(AS, p. 50). Não é tudo igual, e a inépcia em perceber a diversidade é o principal ponto de
sofrimento de Nora, pois até o projeto de ser ―mãe de verdade‖ exclui o respeito pelos desejos
do filho. Essa proposta de Nora parte daquilo que ela apreendeu sobre o que é ser mãe, mas,
principalmente, do que almeja para si com essa função: queria a dedicação de Elsa e, por
isso, se dedica a Henrique nos mesmos moldes. Essa questão envolve a dificuldade de fazer o
outro acatar a conta a ser cobrada por esse serviço de ―maternidade verdadeira‖:
Mas eu me sentia a um tempo traída e fracassada. Imaginava uma relação
quase perfeita com meu filho, e via Henrique escapar entre meus dedos.
(AS,p.122).
— Filho não se controla, se educa, se ama, se acompanha, se estimula.
Você devia pegar uma foca para amestrar. — Olga sabia ser cruel. (AS, p.
123).
— O amor pelo filho tem de ser incondicional, isto é, aceitar a pessoa
do jeito que ela é. Família é o lugar onde a gente devia se sentir bem,
entendido e amado até naquilo que os outros não aceitam, nem entendem.
Isso é o que nós duas não tivemos, mas eu tentei, tento, dar a Pedro. Albano
também, na verdade nós três tentamos isso, juntos — ela suspirou, o assunto
parecia lhe causar alguma dor. — Eu, se fosse você, tomava mais cuidado.
(AS, p. 124).
Como se percebe, Olga é o contraponto de Nora; é dessa personagem que parte o
equilíbrio da família, pois Mateus, Elsa, Lilith e a narradora são representações da desmedida:
o pai é submisso demais, Elsa é fria demais, Lilith é concêntrica demais e a artesã ama
demais.
Para Nora, o núcleo familiar que dá certo é o de Olga, porque é baseado na
percepção de que o espaço alheio não deve ser invadido. Então, essa personagem representa a
razão coadunada ao coração, tornando-se o modelo perfeito, simbolizado na profissão que
exerce, a medicina: ―Entre os índios da pradaria (EUA), o poder da medicina é a força
essencial que preside à aquisição da sabedoria do corpo e do espírito, busca que constitui o
objetivo essencial da vida.‖ (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1995, p. 600). Assim, a
médica consegue tratar de Nora, fazendo-a despertar de seu estado letárgico, que não lhe
permite olhar para si nem para suas ações de supervalorização do outro em relação a si. Três
153
situações contribuem para a cura:
o cuidado da irmã, a própria experiência com a
maternidade e a atenção que dá às palavras da irmã com relação ao valor das pessoas e das
coisas. Tudo isso traz uma nova ordem de significação para Nora:
— Mãe, hoje é 16 de março. Sabe que dia é?
Ela repete devagar:
— Dezesseis de março.
— Isso. Procure lembrar o que aconteceu nesse dia, há muitos anos.
Meio século.
Ela olhou para a porta, quer ajuda da dama de companhia. Em vez de
aclamá-la, repito como se tivesse ao menos esse direito, querer que ela se
lembre do meu dia:
— Mãe, há 50 anos, à noite, meu pai levou você para o hospital. O
que aconteceu lá?
O olho dela se ilumina:
— Lilith!
Penso em desistir, me sinto patética, mas volto à carga:
— Não, mãe, Lilith nasceu dois anos antes! Nessa noite, o que
aconteceu?
Desvia os olhos de mim, esforça-se por recordar, mas é difícil. Quando vou
me levantar, diz na sua vozinha esganiçada:
— Nessa noite, entrou em minha vida uma intrusa — diz, e volta a me
fitar com o olho de passarinho.
Estará realmente caduca, ou só quer me ferir?
Viro-me e saio do quarto, do apartamento; no elevador tenho de conter o
choro. Não me despedi: estamos tão distanciadas que nenhum adeus é
possível. (AS, p. 29).
A claridade difusa e a realidade distorcida são dissipadas para dar lugar à aparição
de Nora para si mesma, já que ela abre mão das duas pessoas que mais ocuparam a sua vida:
a mãe e João. A partir desse instante, ela aprende que, sem amar a si mesma, é impossível
amar ao próximo: ―João tentando apaziguar a culpa e quem sabe voltar até mim; mas não sei
se ainda o quero, não sei se estou disposta; não sei de nada. Talvez por não precisar mais
tanto dele, eu agora esteja preparada, mas não sei‖ (AS, p. 188). A narradora se torna adulta
e, ainda que tardiamente, consegue recompor os prazeres que foram sufocados, como a
aptidão para a música.
A transformação de Nora ocorre, como na obra de Rachel de Queiroz, pela criação
— Doralina combina palavras para tecer o texto, e Nora harmoniza as cores para compor um
quadro —, o que permite a organização mental. O retorno à residência antiga da família
possui cunho sentimental, mas é, principalmente, um processo de renascimento, porque a casa
passa a não ser mais um abrigo de pessoas ligadas pelo vínculo sanguíneo, mas pelo trabalho:
―Penélope [ a empresa de tapeçaria] inaugura amanhã oficialmente. Igual a ela, tenho feito e
154
refeito meu entendimento do mundo; escolhi fios bons e ruins, errei nas direções algumas
vezes, quase desisti, recomecei‖ (AS, p. 177). Não há uma ligação direta com o mito grego de
Penélope quanto à elaboração do tecido artístico, mas quanto a refazer a vida, o que ocorre
quando Nora reelabora seus conceitos e passa a conduzir-se de forma independente, deixando
de transferir para os outros a responsabilidade pela angústia que sente diante das frustrações:
―Cada um tem de encontrar o jeito a trilhar; aprender a ser senhor dos seus rumos.‖ (AS, p.
117).
É o mesmo tipo de reconstrução que faz o eu lírico do poema ―Revejo a luz gelada
das manhãs perdidas‖, de Antônio Carlos Secchin (―Revejo a luz gelada das manhãs perdidas/
e os sonhos que mandei para o endereço errado‖), que finaliza com a descoberta de um
desconhecido ser que surge derivado do momento de reflexão sobre a vida, mas alheio ao
desejo espontâneo do eu lírico: ―Espanto o pó e dor que descem dessas vozes / rolando sem
parar pela memória acima. / O espelho só me ensina a ruína do desejo. / Sei que é meu esse
olhar em que eu não mais me vejo.‖ (AS, 2007, p. 146). É interessante o rolamento das vozes
que se dá memória acima, apontando a necessidade do caminho inverso para o surgimento de
um novo ser. Para a protagonista de A sentinela, a inversão realizada em prol de um exame
escrupuloso da vida é muito positiva, pois ela se reconstrói ao fechar o ciclo de certezas, de
conceitos pré-determinados:
Estou no coração de um ciclo que se fecha; eu sou o mar com peixes e
medusas e sou a viagem também. Não há garantias, não existe segurança:
alguma vez é preciso a audácia de se jogar; de delirar, como Henrique, neste
momento, jogando alto sua música na noite, com pedaços de entranhas, de
pensamento, de coração. Meu filho parindo a si mesmo como mãe alguma é
capaz de fazer. (AS, p. 188).
A imagem do ser que dá a luz a si mesmo é belíssima, pois marca o
(re)nascimento do indivíduo, sem marcas específicas, sem predestinação; e é nesse momento
que Nora também se reconstrói, sem medo.
O drama, sob a narração homodiegética de Nora, passa a ser narrado na voz
heterodiegética, como se fosse uma espécie de olhar externo que observa a mudança que se
processou na personagem. Esse narrador mostra que o mistério da casa não se desfaz, as
coisas não são esclarecidas, mas a artesã deixa tudo de lado, está receptiva ao novo que se
anuncia, já que, ainda que se trate de um momento obscuro, ela se põe na janela a cantar, a
criar o seu mundo. Morre e renasce a um só tempo no instante em que ganha voz própria.
155
7 O (DES)ACERTO DA MATERNIDADE NO SÉCULO XXI
Como já dito na introdução, Livia Garcia-Roza é a mais recém-ingressa escritora
brasileira, dentre os nomes arrolados neste trabalho. Mesmo assim, não deixa de ter uma
extensa produção em que a família norteia as narrativas. O conflito da relação mãe-filha está
evidenciado em duas de suas obras: Meus queridos estranhos (1997) e Solo feminino: amor e
desacerto (2002)10. Os dois romances, narrados também sob a perspectiva homodiegética,
ironizam a condição materna.
Na primeira obra, a narradora descreve a angústia vivida com a filha,
principalmente após a viuvez. A inquietação interna é desencadeada por amar o primeiro
marido e ter o pensamento fixo nele mesmo após sua morte. Além disso, ela enfrenta
dificuldades para criar a filha adolescente sozinha, por manter um relacionamento difícil com
ela. É interessante chamar a atenção para o título da obra, composto por palavras que se
excluem, já que ―queridos‖ se refere à pessoa de predileção e não combina com o outro
adjetivo, ―estranhos‖, que determina algo incômodo, sem identificação com seu referente.
Mais uma vez, é nítida a alusão aos laços de família.
Não se sabe o nome da narradora da obra, mas se trata de uma musicista que é
filha de uma senhora de oitenta anos e mãe de uma adolescente, Mariana, fruto de seu
casamento com Manoel Evangelista Manhães. Após a separação e o subsequente falecimento
desse homem, ela se casa com João Astolfo Quentin Xavier, violoncelista da orquestra, que é
o contraponto da desordem emocional da narradora.
A falta de entrosamento dessa
clarinetista com as pessoas que a cercam é o mote da narrativa, que começa com o sonho da
narradora revelador do que é a vida como mulher:
Um banquete de mulheres. Mamãe presidia a mesa principal, com sua
cabeleira ruiva que, ora sim, ora não, bailava fagulhando no ar. Vestia
lençol branco e tinha as unhas pintadas de azul-celeste. Pressenti que era
uma festa de comemoração da loucura. (...) A entrada principal estava
tomada por uma infinidade de meninas impedindo a passagem. As mães as
levavam. Para se tornarem mulheres, precisavam do batismo da loucura. A
mulher, anunciada ao microfone como a avó, pegou um punhal e mergulhouo no ventre. Várias tentaram a morte com o guardanapo. Pouco pano não dá
conta da dor. (MQE, p. 7-8).
10
Doravante, após as citações dessas obras, serão adotadas, respectivamente, as siglas MQE e SF, seguidas do
número das páginas.
156
Essa é a terceira obra literária em que o sonho é a chave que abre caminho para a
narrativa. Os sonhos são precisos autorretratos da atividade psíquica em curso e constituídos
por motivos pessoais não reconhecidos pela consciência. Porém, os processos inconscientes
trazidos por imagens fantasiosas proporcionam um conhecimento do meio em que se vive —
isso já está em Lygia Fagundes Telles e Lya Luft —, geralmente para promover alguma
mudança pessoal, o que não ocorre na presente obra.
A narrativa de Lívia Garcia-Roza suscita a reflexão de que, como diz Simone de
Beauvoir, tornar-se mulher não é tarefa fácil, pois, conforme analisado nas outras narrativas, a
cultura incide mais sobre esse gênero, tolhendo a capacidade espontânea de pensar e agir.
Isso ocorre porque são criados empecilhos para dificultar o processo de individuação da
mulher, por meio de elementos sub-reptícios que a vituperam. Por isso, na obra em questão, o
sonho é revelador de que somente batizada na loucura — ―‗estar louco‘ é um conceito social.
Usamos restrições e convenções sociais a fim de reconhecermos desequilíbrios mentais‖
(Jung, 2008, p. 51) — a menina consegue moldar-se à construção social de mulher. A função
materna, então, é conduzir a filha a esse processo. Mas a narradora não sabe como assumir a
função: ―...me deitei desorientada. Não sei por que me senti assim, acho que foi porque deixei
Mariana sem ação. Não consigo ser mãe sem fazer ameaças. Que falta Manoel faz‖ (MQE,
p. 41). Retornamos um século depois à mesma angústia de Angela, afilhada de Júlia Lopes de
Almeida: como ser mãe? O pai é evocado aqui como uma autoridade, ideologicamente
intrínseca ao homem patriarcal, e, anos após a sua morte/queda, ainda deixa resquícios da
ideia de imposição de respeito — mesmo que sua presença não seja física, como ocorre com
Sara, personagem de Júlia Lopes de Almeida, e Doralina, de Rachel de Queiroz. Por isso, um
novo casamento significa repor essa representação de comando: ―Estava mais tranquila, tinha
encontrado alguém com quem dividir a eterna preocupação: Mariana. Nunca consegui dar
conta dela sozinha.‖ (MQE, p. 91).
Assim, tal qual em D. Júlia, a filha permanece sendo fonte de conforto e agonia.
Porém, na narrativa do século XIX, a ideia é de que a mulher devia ter como único homem o
marido e pai de sua filha, pois ele permanecia no controle do lar mesmo depois de morto. Em
Livia Garcia-Roza, o ideal é a presença do homem fisicamente. Independe até mesmo de
contrariar a filha.
Se ser mulher dói, como é visto no sonho, a dor existencial é maior do que se
pode imaginar, devido à própria inadequação em cuidar do outro, principalmente quando isso
157
representa uma responsabilidade, como o é a filha: ―Estava chegando à conclusão de que não
tinha a menor competência para viver, muito menos para ser mãe e de uma menina
desequilibrada‖ (MQE, p. 46); ―Mariana tem prazer em me irritar. (...) Custo a crer como
tenha posto no mundo essa filha‖ (MQE, p. 47); ―Vai chegar o dia em que não conversarei
mais com Mariana‖ (MQE, p. 49); ―Escolhi um nome tão suave para essa menina e saiu essa
fúria... Terrível ser mãe, não dá para desistir‖ (MQE, p. 93). No entanto, vê-se que a mulher
da narrativa, estando sob a dupla perspectiva de mãe e filha, mesmo incomodada com a
criação materna que recebeu, tenta reproduzi-la com a filha; contudo, o serviço da
maternidade da geração anterior era baseado em uma determinação objetiva que a musicista
não consegue ter:
O telefone tocou: mamãe. Liga em cada hora... O que fazer com uma filha
desesperada? Nada. Não dei para nada mesmo, nem sei como tocava
clarinete. Comecei cedo, com mamãe e metrônomo ao lado. Além do
aparelho ligado, ela batia a mão na coxa ao som do compasso. Tortura
matinal. Mamãe, bem, mamãe... (MQE, p. 58)
Não se compreende a vida fora da continuidade familiar, mas, como a estrutura da
natureza humana é inicialmente de liberdade com relação ao outro, nem todos os indivíduos
conseguem adequar-se à ligação estreita que ocorre no convívio parental. Têm-se três
gerações de mulheres na narrativa, e é interessante um foco sobre a relação da musicista com
a mãe. O conflito é gerado por tensões causadas devido à incompatibilidade de ideias entre as
pessoas e ocorre, principalmente, porque quem está na posição de autoridade não aceita que o
dominado aja diferente de seu modelo. Na obra literária em questão, enquanto a narradora se
mostra fechada desde a juventude, sua mãe — no tempo da narração, uma octogenária — é
descrita, na mesma fase, como sendo adepta de um comportamento libertino. Esse, aliás, é
um dado inovador, já que se tem a ideia de uma indisposição sexual da mulher daquela
geração, decorrente da compreensão de que seu corpo, sob a tutela patriarcal, é destinado à
procriação e não ao prazer. Porém, se vê que um sistema não domina tais comportamentos no
plano individual, mas é uma inscrição coletiva, no que diz respeito ao relacionamento entre
homem e mulher. A senhora não aceita o jeito de sua filha e a faz sentir-se um ―estranho no
ninho‖.
A obra de Livia Garcia apresenta três representações de sexualidade das gerações.
A primeira é a da senhora octogenária:
158
Quando menina, tive cada coisa... Mamãe falava para todo mundo que eu
era esquisita. E isso porque eu tinha sido concebida dentro de uma
camionete velha e quebrada. Além disso, contou que engravidara num dia
treze, sexta-feira, em noite de eclipse de lua. Segundo ela, tudo confluiu
para que eu tivesse nascido desse jeito. Deu no que deu. Essa esquisitice
sou eu. Ela conta que na época do seu namoro com papai não havia motel,
então eles transavam em qualquer lugar. Num dia de festa em casa, em que
virou umas batidinhas, contou que transaram em escada de edifícios, atrás de
arbustos na praça, dentro d‘água, no mar. Acamavam-se em qualquer lugar,
nem sei como não foram flagrados. (MQE, p. 130).
O caráter psicanalítico é presente na obra da autora, que teve a ciência freudiana
em sua formação inicial.
Talvez por isso não se possa fugir de uma explicação do
comportamento que relaciona a confusão mental dos personagens à desordem externa. Notase, então, que o comportamento da mãe marca a narradora, quando é levado em conta o
discurso que apresenta os motivos da ―esquisitice‖ sob a luz da psicanálise, que considera a
criança com ―uma psique extremamente influenciável e dependente, que se movimenta por
completo no âmbito nebuloso da psique dos pais, do qual só relativamente tarde consegue
libertar-se‖ (Jung, 1981, p. 54). Mesmo assim, o próprio psicanalista esclarece que não é bom
maximizar a importância das atuações dos pais para explicar as neuroses das crianças, pois
não existe regularidade para as reações.
Já a relação da narradora com o marido, pai de Mariana, é tão irrealizada na vida a
dois que Manuel prefere morar sozinho. A musicista, nega o comportamento libertino da mãe
e não reduplica seus exemplos, no que diz respeito à valorização do prazer sexual, e o
casamento se torna, para ela, apenas uma forma de equilíbrio, enquanto o marido busca
satisfazer-se.
Também não é a mãe que influencia a situação de Mariana com o namorado —
―nada do que ensinei ficou em Mariana. Tudo em vão‖ (MQE, p. 61) —, já que a menina cria
mecanismos para manter o vínculo afetivo com ele. O comportamento desequilibrado da
narradora diante da paixão, que a faz tornar o outro dono de todo o espaço de sua vida, a
ponto de não conseguir desvincular-se, é a única característica apresentada como ponto de
contato entre a narradora e a adolescente, pois as duas se desestabilizam com a perda:
O carro deslizava rumo à desgraça que ia ser a minha vida. Tive um
pensamento súbito de abrir a porta e me jogar na rua. Achei que o puzzle
não sairia perfeito, ia sobrar muito de mim e essa sobra ia ficar no asfalto
159
gritando o nome dele. (...) Entrei em casa atrás do travesseiro e das pílulas,
acho que tomei várias, não me lembro. (MQE, p. 10)
(..) Quando cheguei do ensaio, encontrei-a deitada no tapete da sala. A
caixinha de madrepérola ao lado, vazia. Não me lembrava quantas pílulas
havia. Minha vida é um horror! Liguei em prantos para Xavier. Enquanto
estava no aparelho pedindo socorro, vi, ao lado de Mariana, um papel.
Desliguei o telefone e fui ler. ‗Mãe, Felipe terminou o namoro.‘ (MQE, p.
44-45).
No entanto, se inicialmente as formas de posicionamento diante da vida são
expressas de maneira análoga, mesmo sem a mãe se perceber imitada, vê-se na continuidade
da narrativa que a perda do namorado produz mudança na jovem que, com a reconciliação,
toma com perspicácia as rédeas da relação. Não é mais a afetividade infantilizada que
predomina, mas a sedução e a confluência do desejo que mantêm o vínculo. Praticamente se
vê aí uma retomada do que a avó já tinha experienciado: ―‗Sabia que eu e Felipe transamos
todos os dias?‘ / ‗Não quero saber dessas coisas, não, Mariana; reserve-as para o seu
namorado.‘ / ‗Não está interessada na saúde sexual de sua filha?‘‖ (MQE, p. 177). A
emancipação é prematura, mas é da vida moderna essa urgência das satisfações dos desejos
pessoais.
É exatamente a busca por critérios individuais de realização o que impede ainda
mais a comunicação entre mãe e filha e propicia um paulatino afastamento entre as duas.
Porém, essa narrativa também mantém a ideia de que o convívio em família é desejável para a
maioria das pessoas, mas a primazia é o encontro de seres afins para atar os vínculos
existenciais. Essa ligação, no entanto, não ocorre sob a noção de força dos laços sanguíneos,
mas sim da paridade de respeito ao indivíduo.
O casamento, então, se é um meio de
companheirismo, tem um investimento emocional baseado na cooperação mútua para que se
chegue à satisfação. Assim, o enlace resulta da identificação entre as pessoas e não da relação
de família, com objetivo de proteger bens materiais através da formação de uma descendência
comum. Dessa forma, os parentes quase não influenciam a vida do casal e ocorre mudança na
compreensão de família:
Tantos medos e ainda não falei do maior: família. Agora que estava prestes
a fazer essa loucura, é bom que fale. Não sei por que precisava me casar. Já
tenho confusão, pra que mais? (...) Não acho que tenha feito família
casando com Manoel. Casamos, somente Mariana nasceu bem depois, nada
além. Outra coisa é família. Tenho muito medo. Não sei como as pessoas
160
aguentam ver sempre os parentes. Como não escorre mãe dos ouvidos,
purgam irmão pelos olhos, pinga um avô do nariz. Eu não posso ver todos
os dias a mesma pessoa; passo muito mal. (MQE, p. 67-68).
Mamãe reclamava que eu não tinha avisado ao restante da família. Mais
família? (...) Xavier fez questão de tirar uma foto da família reunida.
Família? (MQE, p. 81).
Não se pode mesmo falar em um conceito único de família ao longo da história
das sociedades. Porém, o Ocidente sofre inúmeras mudanças, principalmente após a queda do
patriarcado. Conforme nos indica Elisabeth Roudinesco (2003, p. 19), é importante distinguir
a família segundo três grandes períodos de sua evolução:
Numa primeira fase, a família dita ‗tradicional‘ serve acima de tudo para
assegurar a transmissão de um patrimônio. Os casamentos são então
arranjados entre os pais sem que a vida sexual e afetiva dos futuros esposos,
em geral unidos em idade precoce, seja levada em conta. (...) Numa
segunda fase, a família dita ‗moderna‘ torna-se o receptáculo de uma lógica
afetiva cujo modelo se impõe entre o final do século XVIII e meados do XX.
Fundada no amor romântico, ela sanciona a reciprocidade dos sentimentos e
os desejos carnais por intermédio do casamento. Mas valoriza também a
divisão do trabalho entre os esposos, fazendo ao mesmo tempo do filho um
sujeito cuja educação sua nação é encarregada de assegurar. (...)
Finalmente, a partir dos anos 1960, impõe-se a família dita ‗contemporânea‘
— ou ‗pós-moderna‘ —, que une, ao longo de uma duração relativa, dois
indivíduos em busca de relações íntimas ou realização sexual. A
transmissão da autoridade vai se tornando então cada vez mais problemática
à medida que divórcios, separações e recomposições conjugais aumentam.
A família de ascendência ou contiguidade conflituosa, mas que durante muito
tempo foi preservada para não haver desgaste de patrimônio moral-afetivo e material, é um
tema muito questionado na ficção de autoria feminina. Talvez Clarice Lispector tenha sido a
autora que mais evidenciou os problemas dos ―laços‖ de família em toda a sua produção.
Sem dúvida, a complexidade deste grupo foi maior para a mulher, que sempre teve a
responsabilidade de manter a harmonia do espaço doméstico, mas nem mesmo nele exerceu
autonomia ou teve voz ativa. Segundo Elódia Xavier, em Declínio do Patriarcado: a família
no imaginário feminino (1998), Lispector questionou as relações artificiais da família,
enquanto instituição, base da sociedade, evidenciando o quanto a mulher tentou enquadrar-se
no modelo de esposa ideal imposto pelo patriarcado. Isso porque essa estrutura nuclear é
tipicamente aquela cuja unidade é estabelecida devido à pressão social exercida sobre seus
161
membros. Porém, Burgess e Locke (1945) esclarecem que qualquer organização social,
inclusive a família, precisa de um conjunto de leis que definam os direitos e as obrigações dos
membros, além de impor limites aos não-membros.
A reconfiguração espontânea e desenfreada dos grupos traz a perda do caráter de
instituição para a família hodierna.
Os problemas do relacionamento, que antes eram
dissimulados, também perdem a especificidade privada e passam a ser confessados no
coletivo. O convívio familiar, então, não tem nenhum compromisso mantido por medo ou
para se preservar de um julgamento externo — nem mesmo as religiões cristãs conseguem
conter os desenlaces —, pois a relação só permanece ―enquanto ambas as partes considerarem
que extraem dela satisfações suficientes, para cada uma individualmente‖ (GIDDENS, 1993,
p. 69). Na narrativa de Livia Garcia, os diversos personagens, quando insatisfeitos com o
outro — seja com esposa, mãe, pai —, optam por um meio de isolamento ou arranjo de um
novo modo de coexistência harmônica:
(...) Nos conhecemos aos vinte anos e não mais nos separamos. No decorrer
do casamento tínhamos vivido situações difíceis, ocasionadas em boa parte
pelos desarranjos da minha cabeça. Havia algum tempo, no entanto,
atravessávamos um período de tranqüilidade. Até recentemente, quando
Manoel disse que precisávamos conversar. (MQE, p. 9).
(...) Acho que esgotei minha capacidade de perguntar. Ele respondia sempre
o mesmo: queria morar sozinho. Insistia que não era eu, mas o casamento...
(a vida de casado era comigo!). (MQE, p. 11)
.
Ao contrário do que ocorria com a mulher casada sob os moldes patriarcais, que
se acomodava ao casamento por depender da provisão econômica do homem, a narradora do
romance ganha o próprio sustento, firmando-se como alguém auto-suficiente.
Então, a
relação com o marido não se baseia nessa justificativa; no caso, a resistência de sair da função
de esposa deve-se à acomodação emocional da narradora, que se contrapõe à natureza
inquieta de Manoel. O dramático da narrativa é que a protagonista não compreende que a
tranquilidade do casamento não é sinal de inexistência de conflitos, mas do esgotamento de
possibilidades de cessão mútua, que acaba por culminar na separação definitiva.
Já o encargo materno se mostra mais complicado, porque se, como diz a
narradora, a família não é formada com o casamento, o(a) filho(a) gera esse vínculo. Porém,
a descendência é decorrente da relação com o homem que, atualmente, divide
responsabilidades. No entanto, se a conexão entre um casal é feita a partir de escolha visível,
162
que leva em consideração possíveis entrosamentos físicos e morais, o mesmo não ocorre com
o ser que resulta dessa junção. A incompreensão disso gera o conflito, pois a narradora do
romance, que já não consegue lidar com a dissociação do marido, tem mais dificuldade ainda
em aceitar as diferenças que a filha tenha de si.
Para ela, a menina também é uma
propriedade da qual não aceita se desfazer, e, apesar de todos os problemas gerados por sua
presença em casa — ―Ouvi o tchau de Mariana ao longe, ia dormir na casa da avó. Vinte e
quatro horas de sossego‖ (MQE, p. 59) —, enquanto mãe, pretende prorrogar-se no controle
da menina por mais tempo. Mas isso não ocorre.
A separação do casal nuclear da narrativa coincide com a fase em que a
adolescente está em processo de atingir a independência. Isso deve ser desejável, pois ―a
ligação muito forte aos pais constitui impedimento direto para a acomodação futura no
mundo. O adolescente está destinado para o mundo, e não para continuar a ser sempre apenas
filho de seus pais‖ (Jung, 1981, p. 59). Porém, a clarinetista de Livia Garcia, assim como a
artesã de Lya Luft, representa a resistência à perda de domínio: ―Pronto, Mariana se
apaixonou. (...) Minha filha estava crescendo demais.‖ (MQE, p. 31).
Na relação entre mãe e filha representada nesta narrativa, se vê um conflito gerado
pelo fato de o desejo de estar junto se mesclar com o ciúme recíproco que sentem da
influência dos respectivos relacionamentos afetivos, como se eles ameaçassem o lugar
pertinente a cada um, o qual não se mistura ou confunde:
(...) Estava lavada em lágrimas. Levantando os braços me puxou, perdi o
equilíbrio e caí por cima dela. (...)
— Mãe, pelo amor de Deus... acho que vai acontecer alguma coisa...
estou com um pressentimento... Não vai embora, não vai, por favor —
sacudia-me as mãos.
— Procura ficar calma, minha filha, só vou passar dez dias fora...
— Dez dias! (MQE, p. 83).
(...)
— Se tudo der certo, daqui a dois anos caso com Mariana e vamos
morar em São Paulo, não é tutti-frutti? — Ela despencou nos braços do
rapaz. Os dois riram e se socaram (...). Xavier ensaiava no quarto que
improvisou para ele. Eu zanzava, sem encontrar pouso. Não conseguia
pensar em viver longe de minha filha. São Paulo? (MQE, p. 100-101).
No decorrer da leitura, nota-se que a filha vai ganhando mais autonomia com
relação à figura materna, enquanto que a linguagem usada pela narradora-mãe vai
demonstrando uma situação de desorganização psicológica — ―um lixo ambulante‖ (MQE, p.
163
10); ―fácil a gente se sentir merda‖ (MQE, p. 13); ―tinha medo de ir findando devagarinho,
sumindo, me esfumando‖ (MQE, p. 18); ―quando acho que vou me matar, tomo dois
comprimidos‖ (MQE, p. 20); ―não demorou muito e eu estava em prantos no ombro de
Xavier‖ (MQE, p. 37), ―cheguei a me ver estrangulando Soraia‖ (MQE, p. 48), dentre outros
trechos — e indicando que o não equilíbrio se torna empecilho para a organização das
relações com a filha e com o segundo marido. Uma pessoa em estado de perda constante da
estabilidade emocional, segundo Freud (1997), se torna um dependente do outro e/ou de
substâncias químicas. Isso porque a frustração cotidiana, vivida nos diversos grupos da
sociedade, ao se manifestar de forma mais intensa, causa transtornos violentos que
intensificam a confusão pessoal, principalmente quando se relaciona ao conflito que gera
incomunicabilidade entre mãe e filha:
— Você vai se casar e morar em São Paulo?
— Se tudo der certo...
— E o que você vai ficar fazendo lá?
— Filhos.
(...) Fugiram-me as palavras. Mariana continuou:
— Você acha que vou querer que meu filho seja único como eu?
Com esforço, consegui perguntar:
— Foi tão ruim assim?
Com a cara dentro do armário, respondeu ‗Horrível!‘ E começou a trocar de
roupa. Tive muita vontade de chorar no meio do seu quarto. Saí, sem
Mariana sequer me dirigir o olhar.
(...)
Muito difícil. Filho é bom que fique na lembrança. (MQE, p. 106)
A obra vai levantando questões que são pontuais à vida cotidiana em meio a um
grupo social como a família. Depreende-se, por exemplo, a ideia de que a pessoa que sabe
lidar com a individualidade é mais realizada, pois não espera agrados do outro, pelo contrário,
tira proveito dos momentos vividos, procurando harmonizar o ambiente.
Assim, o
personagem Xavier é ícone dessa harmonia e busca conservar-se moderado em todas as
situações de conflito com a clarinetista, a enteada Mariana e com a própria filha, Gisela. Na
criação imagética do violoncelista, Livia Garcia-Roza produz um homem perfeito: sensível,
que gosta de música e animais, liga para deixar um beijo antes de deitar, envia flores, sabe
falar e calar na hora certa, é pai e avô realizado. Além disso, não questiona a formação
familiar exigindo a presença do pai de seu neto, mas é um apoio para a realização pessoal da
filha, estando ela próxima ou longe de si. É um homem que exerce a maternagem, pois não é
164
mencionada a mãe de Gisela, a não ser pelo olhar crítico da narradora — ―é seca, dura, fria;
não deve ter recebido carinho. Sobre sua mãe não se ouve sussurro. Estranho.‖ (MQE, p. 95)
—, e consegue manter a função de cuidar da filha que, mesmo longe, não perde o diálogo com
o pai: ―Xavier vive tão bem com a filha e eu tão mal com a minha. Mariana está se tornando
uma pessoa que eu não aprecio mais.‖ (MQE, p. 119). O discurso desconstrói a ideia da
família sustentada emocionalmente pela mulher e deixa transparecer que o relacionamento
ideal entre ascendente e descendente independe do sexo — o pai também serve à educação
dos seres —, mas ocorre sob o objetivo principal de se empreender a individualidade. Por
isso, Xavier é ícone da liberdade, pois deixa a filha tomar o rumo que quiser, mas ela também,
ainda que não goste, por exemplo, da mulher escolhida por ele, não interfere na decisão
paterna.
A musicista é a representação da mãe que, mesmo tendo presença física, não tem
condição de orientar a filha para a individualidade por também não saber vivê-la. Assim,
reproduz a cultura e os conceitos que aprisionam as relações ao ligar o procedimento duro de
Gisela à hipotética falta de presença e carinho maternos. Esse pensamento é um contrassenso;
já a companhia da narradora não impede o comportamento rebelde da filha, o que representa a
obtusidade da pessoa em confrontar o discurso teórico com a prática existencial. Então, a
falta de ponderação com as assertivas, isentas de criticismo, torna a narradora mais
inconveniente.
A complexidade da situação é que, sem ver a identidade como um dado cultural
introjetado — ―a idéia que eu fazia de filha não se concretizou em Mariana‖(MQE, p. 122) —
e não achar um meio para si, já que não encontra comunhão com a mãe, a enteada ou o
marido, a solidão passa a ser uma realidade, mesmo a musicista estando rodeada por pessoas.
O fato é que o ser humano, enquanto ser social, procura encontrar seus pares e formas
diversas que sirvam de, como diz Sigmund Freud (1997), ―amortecedor de preocupações‖
para se compartilhar o cotidiano. Na obra literária em questão, Mariana encontra isso com
Felipe e o cachorro; a avó, com os parentes; Xavier está com a filha, o neto, o violoncelo e
tenta envolver a clarinetista, que se mantém isolada. Porém, o fato de se viver preso a um
tempo pretérito é empecilho para as realizações do presente. Assim como, na obra de Lya
Luft, Nora não aproveita o carinho de Jaime por causa do passado com João, a narradora de
Livia Garcia se priva de receber os sinais de gentileza do homem com quem vive e ofende-o
com a obsessão por Manoel, mesmo após a morte deste: ―Uma amiga de Manoel me trazendo
165
em casa. Voltou os olhos para o instrumento. Sempre que o assunto resvala para o passado,
silencia‖ (MQE, p. 150). A diferença entre o casal de músicos fica mais evidente porque a
clarinetista vivifica seguidamente o marido morto, comparando-o ao atual, enquanto o
violoncelista não deixa ressuscitar o que está no passado: ―Não sou avó do menino. Por falar
nisso, não se fala nela nem no pai de Calvin. E os dois são vivos, dizem.‖ (MQE, p. 129).
Para ele, o aproveitamento do hoje se torna mais relevante, já que a ruptura com o que fica
para trás é uma necessidade quando se pretende que a vida siga seu fluxo sem haver ameaças
à harmonia do cotidiano. Assim, o músico não se utiliza de subterfúgios para mascarar nem
mesmo o marasmo do dia-a-dia. Sob a perspectiva de Jung, o personagem de Garcia-Roza
representa o indivíduo que alcança a personalidade, pois não permite que as ilusões atuem
retirando a imagem concreta da vida:
Xavier e eu, se não estávamos na orquestra, ficávamos em casa quase o
tempo todo. Almoçando, jantando, dormindo, tocando, assistindo às
chegadas e saídas de Mariana. Subidas e descidas com Tchimo. Estávamos
como nossos instrumentos, escuros e graves. Comecei a ter vontade de ver
gente. Falei sobre isso com ele, que sorriu e pediu o meu ‗lá‘. Sempre
afinado com a realidade. Manoel seria capaz de sair pulando e rindo comigo
pela mão, direto para o bar. Por que eu não gostava de estar com as pessoas
quando estava casada com ele? (MQE, p. 121).
A narrativa apresenta como principal motivo de influência à satisfação da vida o
não aproveitamento das oportunidades de convívio com as pessoas.
Segundo o que se
depreende da narração, Xavier possui essa consciência, pois representa um indivíduo centrado
que não deseja ter o que não está ao seu alcance. Não há nesse fato um caráter passivo, como
a visão que a narradora induz, mas sim de autopreservação. Assim, não precisa fugir da
realidade, o que Freud considera ocorrer quando se quer amenizar a dor existencial
desencadeada pelas frustrações.
A narrativa de Lívia Garcia-Roza leva o leitor a prestar atenção na desordem
psicológica da perspectiva de quem narra as próprias decepções e medos. A indefinição da
narradora quanto aos desejos potencializa o confuso discurso, que se desorganiza ainda mais à
medida que a musicista procura justificar o motivo de suas angústias. O trecho ―era noite
fechada quando acordei gritando Xanoel‖ (MQE, p. 93) é revelador disso, com a mistura dos
nomes dos maridos. No entanto, é a própria percepção da narradora que impulsiona a leitura
a partir de uma análise psicológica: ―Sonhei com uma orquestra de camarões, vestidos todos
166
eles a rigor. Acordei esquisita, mais do que o habitual. Quando pioro, a fala sofre. Já me
surpreendi falando como num livro, letra de música, dublagem; várias linguagens falam em
mim quando estou mais perturbada‖ (MQE, p. 103). A perturbação mental é decorrente da
visão concêntrica, mas a análise obsessiva por se tornar o ponto central da atenção vai
isolando cada vez mais a narradora:
Não me lembro de ter me sentido assim. A tristeza virou raiva, feia.
Repentinamente, me vi saindo de mim, indo até a cozinha e torcendo as
orelhas do cachorro. Em seguida, partindo o violoncelo de Xavier ao meio
e, finalmente, entrando no quarto de Mariana, arrancando os fones dos seus
ouvidos, catando o som, jogando tudo no chão e pisando até não sobrar coisa
alguma. Já podia estar de volta ao meu corpo e à sala. (MQE, p. 120).
Estou cercada de pessoas que não me entendem. Mariana, a cada dia mais
distante, desafiante, rascante. Xavier, Gisela ao telefone; ou fora dele.
Felipe não é coisa minha. O cachorro, além de não ser meu, é um animal.
Dona nem trabalha na minha casa, mas gosta mais do chão e do tanque do
que de qualquer coisa. Plenamente satisfeita com seu papel, nada lhe cria
tormento. Mamãe... bem, mamãe... (MQE, p. 121).
Um tipo elaboração discursiva como a da narradora tem a tendência de vitimizar o
emissor da mensagem a fim de despertar no receptor uma sensação de injustiça. Na obra de
Garcia-Roza, o empecilho maior para as relações é a falta de disposição para o diálogo e de
sensibilidade para perceber que se está isolado dentro do contexto familiar que, na atualidade,
se sustenta com base na parceria. A queda do sistema patriarcal não promoveu o levante de
outro tipo de dominação das relações para substituir o lugar do homem, mas fez com que os
membros dos diversos grupos da sociedade sejam compostos por coordenação, ou seja, todos
podem agir com independência e são considerados com o mesmo grau de importância do
outro. O núcleo doméstico não significa, atualmente, uma composição de família, pois, ao
contrário, enfatiza a diversidade que procura o tempo todo se impor a fim de ter respeito
conforme suas peculiaridades. Segundo a visão imbricada na narrativa, o contrário disso leva
o indivíduo a se sentir sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas:
A vida, vazia. Mamãe telefona quase todos os dias. (MQE, p. 14).
[Manoel] Dos filmes americanos antigos ele sabia de cor cenas inteiras, além
das marcações. Tem uma memória prodigiosa. Ficava impressionada
quando, tomando chope com os amigos, ele recitava diálogos inteiros,
enquanto eu entornava Coca-Cola. Essa parte da nossa vida é sem saudade.
Depois de horas no bar, havia sempre o último chope; (...) De vez em
167
quando eu arriscava um ‗vamos‘, baixinho; ele, embolachado, me fazia
carinho e continuava. (MQE, p. 18)
Longas semanas imbecis: de segunda a sexta Xavier está com a filha,
sábados e domingos sai com o neto para passear. Bela coisa arranjei para
minha vida. Verdade que ele me convida para sair com Calvin também, mas
eu não acho a graça que ele acha nas coisas do menino. Não acho tanta
graça assim na vida, muito menos em gente, pode ter o tamanho que for. Ao
contrário, acho tudo uma tristeza bem graúda. (MQE, p. 129).
Sob a rejeição ao fato de que relacionamento pautado por interesses comuns e
companheirismo é preponderante para manter a vontade de continuar junto, a narradora do
romance de Livia Garcia, apesar de, aparentemente, querer ser entendida como vítima, como
se vê nas citações acima, ―aborda‖ o leitor com a assertiva de que, além de se reconhecer
perturbada, tem consciência de que seu isolamento começa a se dar devido à sua falta de
adaptação às escolhas do outro.
A relação de divergência com a filha é ainda mais intensa, pois a musicista só
percebe a situação de isolamento em que se encontra quando é desprezada pela adolescente,
que não compartilha com a mãe decisões importantes da vida, como aborto, casamento,
compra de enxoval ou mudança de estado. Esse menosprezo pela participação materna
iconiza a completa falta de entrosamento entre as partes a quem socialmente é creditada uma
ligação ininterrupta. Todos os outros relacionamentos podem ser mudados, mas o vínculo
emocional entre mãe e filho(a) é para sempre.
O conflito é suscitado, então, devido à incapacidade da mãe para educar a
adolescente a partir do diálogo, que, baseado na argumentação, permite que as partes refutem
as ideias do outro: ―Mariana disse que odiava motel. E eu com isso? (...). Mas a conversa
foi adiante, ela queria saber se podia transar em casa; como não tinha a quem consultar, disse
que sim. Sempre que não sei o que dizer para Mariana, concordo; tem dado tão errado...‖
(MQE, p.100). A falta de diálogo observada na mãe com relação aos maridos não serve de
ponto de referência para a filha, que caminha em sentido oposto a isso, já que sabe conversar
com o futuro cônjuge e decidir junto com ele os rumos a respeito dos dois: ―Mariana vai se
casar com esse rapaz e morar em São Paulo? Os dois foram para o quarto abraçados. Minha
vida essa precipitação. Podia ter dito a Felipe que eu não daria permissão para ela se casar.
Será que eu tinha de dar?‖ (MQE, p. 100); ―Mariana estava comprando o enxoval com Felipe.
Nem nesse momento queria que eu participasse‖ (MQE, p. 135).
168
Sendo assim, a personagem materna de Livia Garcia-Roza é diversa da de Lygia
Fagundes Telles, que busca orientar a filha para fazer suas escolhas de forma consciente até
sobre o relacionamento afetivo. Na obra analisada neste capítulo, a filha não busca saber a
opinião da mãe para nada.
Além disso, a responsabilidade com a adolescente e o
conservadorismo pessoal impedem que temas como sexualidade e aborto sejam suscitados, de
forma a transformar o mero vínculo biológico em amizade mútua, o que é desejável para se
manter uma ligação atemporal entre mãe e filha:
Mariana entrou, esbaforida, olhos fascinantes.
— O que é?
— Estou grávida e agora não vou tirar. Nem eu, nem Pipo, vamos
mesmo nos casar.
Experimentei um estremecimento profundo.
Viver com Mariana é
sobressalto constante.
(...)
Tá vendo, mãe, só você fica desse jeito, todo mundo está achando legal...
Alisou o corpo e me devolveu um olhar sonhador. Está com cara de grávida.
Falei na avó, que ela fosse cuidadosa ao contar para ela. Riu, antes mesmo
de eu acabar de falar, dizendo que a avó já sabia e estava muito feliz.
Quando comecei a falar sobre maternidade, responsabilidade... balançou a
cabeça rindo, dizendo que para mim é que deve ter sido difícil ser mãe.
Difícil? (MQE, p. 173-174).
A obra representa a cultura desse início de século XXI e demonstra que a
tendência é por um certo tipo de facilidade em relação aos vínculos. Mas a influência da mãe
com relação à filha está quase nula. Crianças e/ou adolescentes estão cada vez mais
autônomos e, se assume a posição de pessoa destinada a uma maternidade instituída, a mãe
perde rápido a função junto à filha.
O lugar de modelo destinado à mulher é completamente desconstruído na obra,
pois o agente é o homem. Depreende-se dessa forma que, independente de quem assume o
papel socioeducativo, é essencial a compreensão de que a vida hodierna exige mais uma
disposição a respeitar a capacidade de individuação dos seres em formação, como faz Xavier
com a filha, que se torna para o leitor um exemplo de maternagem perfeita. Já a musicista
perde completamente a função junto a Mariana:
A primeira foto que Mariana fez questão de tirar foi junto com o noivo e o
cão. (...) De repente, perdi Mariana de vista. Saí procurando. (...)
Perguntei a um dos garçons. Disse que a noiva estava se preparando para
sair. Nem nessa hora me chama? (...) (MQE, p. 186).
169
— Mariana soube o sexo do bebê e nem avisou... e isso é nome que
ela ponha no menino, Xavier? — disse, com olhos encharcados. (MQE, p.
189).
Vê-se, assim, que a representação materna em Meus queridos estranhos, pontuada
de recriminações e cobranças, cria uma distância entre mãe e filha maior do que a geográfica
— existente entre Rio de Janeiro e São Paulo —, pois ela não justifica a incomunicabilidade,
já que a filha de Xavier, morando em Roma, mantém mais constante contato com o pai.
Ao contrário dessa obra, narrada sob perspectiva da mãe, em Solo feminino: amor
e desacerto (2002) temos o conflito familiar a partir da visão da filha que problematiza a
relação com a mãe, inclusive como conflito de gerações entre duas mulheres adultas: uma
criada em uma sociedade com regras rígidas para o sexo feminino e outra que, influenciada
por um novo momento sociocultural, com trânsito da mulher no espaço público e liberdade
sexual, vive o descontrole de seus impulsos. Em uma situação díspar como essa, há uma
relação de afetividade que fica sufocada pelo desencontro de ideias.
No título do romance, a palavra ―solo‖ nos reporta, ao mesmo tempo, à terra e ao
canto de apenas uma voz. Essas duas significações são próprias para a questão proposta na
narrativa, pois a maternidade, na perspectiva ideológica e existencial, somente pode ser vivida
pela mulher, ou seja, é um terreno que apenas ela pisa e, por isso, pode expor com
propriedade. Então, por meio de uma narradora-protagonista, Garcia-Roza leva o leitor a
refletir a respeito dessa relação de amor entre mãe e filhos, inscrita no senso comum, que
resulta nos desacertos existenciais.
É elaborado um drama em que o leitor acompanha os fatos narrados
exclusivamente sob a óptica de Gilda, moça de 26 anos que se sente mal diante da perene
vigilância da mãe: ―Não há uma vez que eu esteja no telefone que mamãe não venha passear
os ouvidos por perto‖ (SF, p. 5). Quando chega a casa à noite, encontra a senhora à espera:
―Entrei no breu da sala, e quando procurava o interruptor, mamãe apareceu com suas gengivas
moles e movimentadas, dizendo para ela mesma que eu tinha bebido de novo... Ela esperava
que eu me desemaranhasse e eu não disse nada‖ (SF, p. 8). Ao relatar sua disposição ao
acordar diz: ―Assim sou ao alvorecer: tranqüila, leve, simpática, menos com mamãe. Mas
isso é outra história. Mamãe me alucina.‖ (SF, p. 10).
Fica nítido que cada uma possui uma visão do corpo da mulher na sociedade.
Conforme a tipologia utilizada por Elódia Xavier em Que corpo é esse?
O corpo no
170
imaginário feminino (2007), a personagem-tipo, representante da mãe na narrativa de Livia
Garcia-Roza, aprendeu a viver com o corpo imobilizado, ou seja, assimilou o comportamento
que, na dominação patriarcal, aprisionou a sexualidade da mulher. Já a figura representativa
da filha tem o corpo erotizado: ―Trata-se de um corpo que vive sua sensualidade plenamente
e que busca usufruir desse prazer, passando ao leitor, através de um discurso pleno de
sensações, a vivência de uma experiência erótica‖ (XAVIER, 2007, p. 157). Essa diferença
de utilidade do corpo transmite-nos a sensação de como as construções culturais impostas,
principalmente, pelas mudanças dos espaços sociais destinados aos seres, sufocam a relação
familiar, no caso em questão, de mãe-filha.
Os termos utilizados para apresentar a irritabilidade da moça vão chegando à
ironia, no sentido de trazer um possível questionamento, enquanto descreve a cena:
Ao enfiar a chave na porta, ela se abriu pelo lado de dentro. Há de chegar o
dia em que eu consiga entrar na minha própria casa sem que ninguém me
espione pela janela e em seguida corra para abrir a porta. Mamãe me olhava
com uma cara comprida, queixosa, balançando forte a cabeça, reclamando da
hora.(...) ela disse: que tristeza, agora não há noite que chegue sem você
cheirar a bebida. Dirigiu-se lentamente para o corredor, dizendo: que
caminho você está escolhendo, que caminho... Entristecida, la madre.
No dia em que mamãe soube que José Júlio era casado, me entregou a
todos os santos conhecidos e aos parentes que tinham morrido. Aliás, não
sei com que direito ela entrega minha alma... Por isso mesmo me sobra
apenas o corpo, disse, e ela se benzeu. Continuou a cantilena, podia esperar
tudo de mim, menos que sua temporã (temporã) enveredasse pelo mau
caminho. Era uma desonra para ela, que me criara com tanta dedicação e
carinho. (SF, p. 14-15).
Segundo o pensamento filosófico, que foi mais definido a partir de Descartes, o
homem e a mulher possuem os mesmos elementos que formam o ser humano: corpo e alma.
No entanto, por ser eterna, a alma é superior ao corpo, perecível, que a aprisiona. Esse
componente material do ser humano serve à reprodução, mas, devido à sua incapacidade de
controle, deve ser dominado pela alma. As relações entre homem e mulher ficaram dispostas
da seguinte maneira: ele é semelhante à alma e ela, ao corpo. Na narrativa, a personagem
materna crê nessa superioridade entre as partes e na serventia do corpo para a reprodução.
Por isso, apela para a ajuda do marido, já morto no princípio da narrativa, para auxiliar na
difícil tarefa de livrar a filha incontinente da desonra. A responsabilidade de mãe é cumprida
à risca pela senhora dessa narrativa de Livia Garcia: ensina o bom caminho às filhas, e isso
implica travar a prática sexual fora do casamento e, mais ainda, manter a moça dentro de casa
171
para fazê-la moralmente agradável à sociedade e, assim, ter condições de encontrar um
marido. A mãe cria as três filhas para ter a mesma invisibilidade dela e consegue bom
resultado com a mais velha e a do meio, mas a caçula foge ao modelo.
Para o tipo de mãe representado na narrativa, ter uma filha que bebe, chega tarde a
casa e namora homem casado é desvio demais. A mulher, na perspectiva patriarcal, fracassa
quando não consegue obter o êxito de ter na filha uma reprodução de si, já que não existe
nada pior para a geração sob domínio da ideologia patriarcal do que o descontrole do corpo da
mulher. A sua máxima contenção é cobrada e, para seu controlar, são usados mecanismos
disciplinantes que, sem deixar marcas físicas, produzem submissão e ao mesmo tempo
utilidade. Assim, para a reprodução, a disciplina sociocultural torna o corpo apto e aumenta
sua capacidade produtiva ao máximo. Mas, para a satisfação individual, age para diminuir
sua potência e o torna profano, tirando-lhe a necessidade da satisfação sexual e reificando-o
para torná-lo especifico à procriação. No entanto, uma das marcas da liberdade da mulher é a
destituição de regras sociopolíticas para o controle de seu corpo.
O corpo da mulher impresso por duas histórias distintas é evocado na obra e
centro do conflito, pois Gilda e a mãe estão sob influências sociais diferentes. A senhora
cumpre fielmente o papel das mulheres de sua época: casa e tem três filhas: Geralda (Dadá),
Geny (Nina) e Gilda, a narradora. A mais velha, apesar de viver uma vida infeliz, tem
marido, filhos e uma boa situação financeira, o que já satisfaz à senhora. A do meio vive
deprimida por ter um homem inconstante e irresponsável, mas está sempre chorando suas
mágoas junto à mãe em uma atitude dócil. A caçula é a única que se opõe completamente ao
destino materno:
Conversei um pouco com mamãe, quer dizer, ouvi-a enveredar pelo seu
assunto predileto: nós, filhas – desde o começo. Dizia que Dadá sim, casou
bem, está feliz, tranqüila, com o marido e os filhos, nada lhe falta; Nina já
não teve a mesma sorte, a fixação em Sérgio não é nada boa, mamãe acha
que ela está obsedada. E eu sou uma fonte perene de preocupação. (SF, p.
49).
A filha temporã nasce em um período de crescimento social da mulher pós pílula
anticoncepcional, escolarização a níveis superiores e inserção no mercado de trabalho. É
natural, portanto, que não consiga se enquadrar na norma de forçada domesticidade que a mãe
lhe tenta impor, tolhendo sua liberdade como faz com o ―infeliz do canarinho aprisionado na
172
área‖ (SF, p. 9). A narradora não consegue submeter-se à crença na inerência da união
conjugal que, como explica Foucault:
Embora fosse contestada por algumas escolas filosóficas e nos cínicos em
particular, tinha sido habitualmente fundamentada sobre uma série de razões:
o encontro indispensável do macho e da fêmea para a procriação; a
necessidade de prolongar essa conjunção numa ligação estável para
assegurar a educação da progenitura; o conjunto das ajudas, comodidades e
prazeres que a vida a dois, com seus serviços e suas obrigações, pode
proporcionar; e finalmente, a formação da família como o elemento de base
para a cidade. (1985, p. 153)
Sob a doutrina do patriarcado, essa conjunção assimilada pela sociedade é
dramática, por tirar das mulheres a condição de indivíduo, tornando-as seres sem identidade
própria. A narrativa apresenta o nome de quase todos os personagens, até do pai da narradora,
já morto, temos conhecimento do nome, Genival. Isso é importante ser marcado porque o
nome individualiza os seres de uma classe. Portanto, o fato de a mãe não ser nomeada, assim
como as mães de Meus queridos estranhos não o são, coloca um foco sobre a igualdade que a
geração dela tem em sua função existencial. Não há alteridade, pois o regime disciplinar, ao
promover a internalização do comportamento de forma simbólica — sem usar instrumentos
físicos, mas imperceptíveis —, faz com que, após um período, os procedimentos pessoais
sejam vistos como intrínsecos.
Já as mulheres do tempo da narradora partem para o que Anthony Giddens chama
de sexualidade plástica, ou seja, ―descentralizada, liberta das necessidades de reprodução‖
(1993, p. 16). Esta é a principal causa do conflito entre mãe e filha: um corpo em busca do
prazer para a senhora é um despropósito total. A individualidade da moça é representada
também através de seu comportamento com o corpo erotizado. No momento em que não se
satisfaz, descarta o parceiro e parte para outra relação, vivendo a sensualidade de forma plena
com o exclusivo objetivo de chegar ao, atualmente alardeado, orgasmo.
Sob a perspectiva hodierna de realização afetiva, existe pouca possibilidade da
crença no amor ―até que a morte nos separe‖. Não há a ―busca do romance‖, descrita por
Sharon Thompson como a relação que liga a sexualidade a um encontro amoroso definitivo.
A ideia de permanência do relacionamento é igualmente inexistente, pois se quer estabelecer a
relação não mais como um bem coletivo e, sim, individual. Conforme Anthony Giddens:
173
O termo ‗relacionamento‘, significando um vínculo emocional próximo e
continuado com outra pessoa, só chegou ao uso geral em uma época
relativamente recente. Para esclarecer o que está em jogo aqui, podemos
introduzir a expressão relacionamento puro para nos referirmos a este
fenômeno. Um relacionamento puro não tem nada a ver com pureza sexual,
sendo um conceito mais restritivo do que apenas descritivo. Refere-se a uma
situação em que se entra em uma relação social apenas pela própria relação,
pelo que se pode ser derivado por cada pessoa da manutenção de uma
associação com outra, e que só continua enquanto ambas as partes
considerarem que extraem dela satisfações suficientes, para cada uma
individualmente, para nela permanecerem. Para a maior parte da população
sexualmente ‗normal‘, o amor costumava ser vinculado à sexualidade pelo
casamento, mas agora os dois estão cada vez mais vinculados através do
relacionamento puro. (1993, p. 68-69).
Esse relacionamento está presente no princípio da narrativa de Lívia Garcia-Roza.
Tal qual a personagem jovem da obra anteriormente analisada, vive-se em um tempo em que
a (in)satisfação é confessada sem o menor constrangimento pelas mulheres. A crítica quanto
ao desempenho do homem é presente em seu discurso: [José Júlio] ―sobe a escadinha aos
pulos, me puxando pela mão, dizendo um monte de elogios, corre em direção à cama, me
empurra contra ela e cai em cima de mim: se desabotoando, aflito... Tenho sempre impressão
de gincana quando vamos transar‖ (SF, p. 22). A personagem está bem segura do que
pretende e nem se importa com o estado civil do homem com quem se relaciona, o que
também é próprio de um período em que a importância está na qualidade do ato sexual. O
importante é a relação resultar em prazer, o que Gilda deixa claro até para a família e,
principalmente, para a mãe, de quem quer tirar a ilusão do casamento convencional. Morar
juntos é a forma atual de reconhecimento se a relação sexual é ou não satisfatória em um
período de convivência sob o mesmo teto. Para a personagem, por exemplo, essa experiência
é decisiva para compreender o desencontro com o parceiro, já que ele mantém o costume do
homem patriarcal que não assume nem mesmo suas disfunções devido a não se preocupar
com o prazer da mulher:
Meia hora depois, tínhamos tomado até o cafezinho. Ninguém come mais
rápido do que José Júlio, estou aprendendo a engolir comida. Assim que
saímos do restaurante, deu pressa nele para chegarmos em casa. Mal
entramos, arrancou meu vestido e, correndo comigo para o quarto, me
empurrou contra a cama e caiu sobre o meu corpo, nos embolamos e, pouco
depois, comecei a sentir uma aflição gostosa quando José Júlio se
desmanchou sobre mim. Não sei o que acontece! (SF, p. 58).
174
A descrição do ato sexual é ao mesmo tempo de desespero, por transmitir a
frustração, e ironia, por tornar o sexo semelhante ao alívio de uma excreção do homem, para o
qual a mulher é uma espécie de receptáculo de um dejeto. É a representação de uma prática
de mera junção física e de comum aceitação para a mulher sob a (o)pressão patriarcal, mas
rejeitada pela do presente século que se recusa a ser objeto de uso alheio. No entanto,
conforme vemos em Anthony Giddens, é difícil para os homens — criados sob a crença de
serem soberanos — admitirem que as mulheres hodiernas ―esperam tanto receber quanto
proporcionar prazer sexual, e muitas começaram a considerar uma vida sexual compensadora
como um requisito chave para um casamento satisfatório‖ (1993, p, 21-22). Para o tipo de
homem representado por José Júlio, é difícil introjetar esse fato, já que, por muito tempo, não
lhe importava saber se a mulher deitada ao lado o queria ou se apenas se submetia a ele.
Sendo assim, podia ―dormir até com uma morta. O coito não poderia realizar-se sem o
consentimento do macho e é a satisfação do macho que constitui o fim natural do ato‖
(BEAUVOIR, 1980, p. 112, vol. 2). Essa sensação de desinteresse marca a personagem de
Livia Garcia-Roza, que descreve o fato de ter desejo e ser ignorada:
Apesar do meu corpo ter começado a dar ares de agitação, fiquei quieta em
casa, esperando José Júlio, que logo depois chegou, aos trambolhões,
dizendo que Aurora desaparecera e fora difícil localizá-la. (...) José Júlio
continuou falando de Aurora, depois... desabou no sofá, roncando. Da
Aurora ao crepúsculo em minutos... Que vida, que merda, eu, em
turbulência corporal, e José Júlio arrasado. Fui me deitar, com os ouvidos
surdos de Ne me quitte pas. Pouco depois, tonto feito um zumbi, José Júlio
apareceu no quarto e tombou ao meu lado. Me restavam os sonhos. (SF, p.
76).
Encontrar alguém que tenha sua identidade sexual e faça chegar ao orgasmo não é
tarefa fácil tendo um homem como o representado por José Júlio, que, além de não ter
compreensão da necessidade afetiva da moça, permite que a interferência da família dele
atrapalhe a relação. O objetivo da personagem é conseguir o que Giddens chama de amor
confluente que, por ser ativo e contingente, entra em conflito com a ideia do amor romântico,
único e definitivo. Sendo assim, ―quanto mais o amor confluente consolida-se em uma
possibilidade real, mais se afasta da busca da ―pessoa especial‖, e o que mais conta é o
―relacionamento especial‖ (1993, p. 72). Isso porque a mulher não aceita mais a hierarquia e
175
exige reciprocidade na relação. Esse tipo de amor coloca a atração erótica no centro e torna o
prazer sexual elemento-chave para manter ou acabar com a convivência do casal.
Apesar de a obra de Garcia-Roza marcar o período pós anos sessenta, que é o
ápice da libertação da mulher, devido à pílula de contracepção ter trazido a opção de
desvincular sexo e procriação, José Júlio representa a crença sociopatriarcal de que a mulher
casa para gerar filhos, não é sensível à sedução, não se preocupa com as necessidades afetivas
da parceira, nem consegue acreditar quando Gilda categoricamente rejeita a maternidade. Ela
rejeita essa função, pois deseja tornar-se uma mulher bem distante do modelo da geração de
sua mãe, que era treinada para se entregar passiva ao homem e ficar feliz por dar descendentes
a ele. A narradora é a imagem do necessário distanciamento dessa imposição, e isso significa
um desprezo à expectativa materna quanto à função da mulher e sua anuência à frustração
sexual. A experiência com uma criança também é inserida como ponto de observação para se
optar por deixar o papel de mãe bem longe dos planos conjugais:
— Bianca é criança, chuchu... — Rindo, continuou: — Quando nosso
filho nascer, você vai ver...
— Jamais terei filho algum!
— Hein?
Cospem, babam, mordem... José Júlio me interrompeu com sua risada e em
seguida dormiu. (SF, p. 78).
A partir da descoberta da pílula anticoncepcional, a geração pós 60 obteve uma
conquista social precípua, que foi o controle do corpo para a gestação. Com isso, a mulher
passou a não se submeter a qualquer coisa para estar com um homem, e o(a) filho(a), para
quem almeja a plena liberdade — caso da antropóloga Mirian Goldenberg, mostrado no início
deste trabalho —, tornou-se um peso. Gilda quer um homem não para sustentá-la, pois
conquista o próprio provimento através do trabalho. Também não precisa dele para procriar.
Zigmunt Bauman (2007) mostra como estão as relações inter-humanas. Segundo ele, com
muita facilidade, como homens e mulheres descartam igualmente seus pares, há uma
fragilidade dos vínculos humanos que produz uma nova característica emocional da paixão,
que começa e termina da noite para o dia e traz consigo a insegurança. A liberdade sexual
deixa os laços cada vez mais frouxos para serem desatados a qualquer momento em que um
dos dois se sinta insatisfeito com o relacionamento. A protagonista de Solo feminino: amor e
desacerto os desfaz rapidamente.
176
A narradora decide voltar para a casa materna, mas isso não significa manter-se
sob o comportamento exigido pela senhora. Ao contrário, continua seguindo em sentido
oposto ao desejo materno, mas não com a intenção de contestar a senhora simplesmente e,
sim, porque não abre mão de se conhecer como mulher que, na concepção contemporânea,
deve experienciar as várias possibilidades para chegar à plenitude do prazer. A ansiedade
para chegar a isso é tão grande que Gilda se dispõe a dar uma chance ao chefe, um senhor a
quem sempre desprezou, e justifica seu desespero: ―Antes de tirar a roupa em frente ao
espelho, me vi desfeita, beirava os vinte e sete, e nem uma única vez tivera prazer sexual,
estava mal...‖ (SF, p. 102).
Gilda é a representação mesmo de Eros, pois ―está sempre em busca de seu
objetivo, sendo uma força insatisfeita e inquieta. Esse estado de perturbação, marcado pelo
desejo que só se satisfaz ilusoriamente, se relaciona com o sentido de descontinuidade do ser,
concebido por George Bataille.‖ (XAVIER, 2007, p. 157). Ora, com a liberação sexual da
mulher, intensificam-se dia a dia publicidades relacionadas a como alcançar o orgasmo. As
revistas apresentam uma chamada de capa que divulga, por meio de propaganda comercial ou
matéria jornalística, uma nova descoberta para se ter o máximo da relação sexual, como se
houvesse um padrão para isso. Garcia-Roza faz a representação dessa mulher da atualidade,
angustiada por se sentir na obrigação de chegar à plenitude de seu corpo, buscando com a
sexualidade, que sempre lhe foi interditada, a libertação do ―espartilho‖. Por isso, a autora
aponta para outro tipo de escravidão, ligada a um investimento em algo muito subjetivo —
como o é o alardeado orgasmo —, que pode levar a pessoa a atitudes exageradas e, em caso
de não realização, a crises depressivas.
Na narrativa, Gilda não só busca a prática sexual, como também procura falar
sobre o assunto se informando com outras mulheres. A pesquisa para saber se é a única que
não chega ao orgasmo começa com sua irmã, Nina, a quem expõe o motivo de seu
relacionamento com José Júlio ter fracassado. A irmã não se surpreende, porque também
passou pelo mesmo problema e ―só alcançara as nuvens (alcançara as nuvens) ao se imaginar
menina nos braços de Sérgio. E todas as vezes era assim. Ela ia ficando menor, então,
ascendia aos céus‖ (SF, p. 103). É notável a ironia que a autora emprega à pesquisa pessoal
feita pela narradora que ―entrevista‖ outras pessoas sobre o assunto. No trabalho, conversa
com Susie para saber como consegue chegar ―lá‖ e descobre que a moça simplesmente não
chega. Escreve uma carta para saber como era com a irmã mais velha. ―Dias depois, Dadá
177
respondeu que, para ser sincera, não fazia a menor idéia do que era um orgasmo com
Hermano; de vez em quando, costumava usar o chuveirinho do bidê. O corpo saltitava durante
um tempo depois passava‖ (SF, p. 112). A conversa se estende à vizinha surda, à empregada
da casa e à própria mãe, que logicamente não aceita conversar sobre o assunto, mas não gera
resposta positiva. Enfim, Gilda descobre que não é a única irrealizada plenamente.
Apesar de os trechos que narram a investigação de Gilda provocarem o riso do
leitor, é dramático perceber que o conflito com a mãe, que se relaciona ao comportamento
incontido do corpo da narradora, é em vão. As mulheres que, como Olympe de Gouges,
lutaram pela liberdade de tantas opressões contidas na domesticidade de seu corpo não
tiveram de fato na independência sexual mais do que a presença física do homem.
A
diferença é que as outras mulheres representadas na narrativa estão insatisfeitas, mas
conformadas. Isso porque a obstinação em cumprir a meta de encontrar o prazer — sensação
um tanto subjetiva —, no entanto, leva a uma diversidade de experiências sexuais que trazem
o mesmo resultado de frustração. A narradora do romance de Livia, por exemplo, encontra
Rui, que não consegue nem concretizar a relação devido à constante lembrança de um amor
que destruíra a sua vida; Bruno é um esportista que busca o bem-estar físico, e para isso
pratica mountain biking, trekking, caminhada por trilhas, escalada, canoagem, asa-delta e
rapel. Mais uma decepção:
Ficamos nus, e ele mergulhou em cima de mim, comentando que dava várias
seguidas e, como um réptil veloz, introduziu-se no meu corpo, começando a
se movimentar freneticamente; passados alguns minutos, disse, agora de
lado, pouco tempo depois, agora do outro, menos tempo ainda, na beira da
cama. Parando subitamente, ele comentou que o esporte fazia o sangue
correr mais rápido nas veias. Iria pedir um refrigerante, recomeçaríamos
logo a seguir. (...) Comecei a me vestir, alegando cansaço e dor de cabeça.
Que pena, ele disse. Deus meu... (SF, p. 125)
A pesquisa feita com as mulheres e os homens dão como resultado a mesma
resposta: os seres do século XXI permanecem acomodados em seus territórios sexuais. Por
isso, mulheres como as representadas pelas irmãs da narradora não mudam suas situações,
pois, mesmo sendo humilhadas e sem se satisfazer plenamente, estão, para a ainda persistente
cobrança social, afetivamente amparadas. Nesse caso, há um outro tipo de realização, que é
ter a presença do homem:
Depois de virar outros copos de cerveja, Dadá, olhos cheios d‘água, contou
que o único interesse de Hermano era em Rubia, estava encantado com ela.
178
Mal parava em casa... Voltando, mamãe perguntou por que Dadá chorava, e
Nina disse que era cansaço, estresse da viagem. E eu falei que Dadá estava
sendo corneada, no momento, na nossa própria casa. Mamãe disse que não
sabia a quem eu puxara, devia ser à avó paterna espanhola, que tinha esse
sangue descontrolado nas veias, que eu estava sempre a um passo do
exagero, do destempero, da explosão, enquanto minhas irmãs sofriam
dignamente, choravam tranquilamente. (SF, p. 81).
O discurso materno da obra de Livia Garcia é intermitente, mas a representação é
clara quanto à função de proteger o corpo. Todas as críticas são voltadas para o
comportamento sexual.
Para alcançar um objetivo educativo, não é necessário exercer
nenhuma influência física de coerção ao outro, mas se vai conseguindo aos poucos
enfraquecer a resistência através da palavra que, coadunada às más experiências, vai agindo
para desfazer o comportamento rebelde:
(...) ela falou que precisávamos conversar, antes do horário das novelas.
Detesto conversas com mamãe. Mas ela já dera a partida. A cada dia se
preocupava mais e mais comigo, estava ficando velha, energias perdidas,
nervos gastos, e não via um desfecho para minha vida. Desfecho? Não
perguntei para não alimentar a conversa, senão iria longe, sei como é.
Continuou: mal ou bem, Nina e Sérgio se entendiam (acho que quando se diz
mal ou bem, é sempre mal, também não acrescentei), Dadá era casada
(correto, o tempo do verbo), enquanto eu não me acertava com ninguém,
pulava de namorado em namorado, e, apesar de ser a mais bonita das três,
não conseguia encontrar quem prestasse. (...) Fiquei sozinha na sala,
despencada no sofá, e uma tristeza medonha me invadiu, não consegui nem
calçar os sapatos, uma fraqueza nas pernas... Mamãe me deixa totalmente
sem forças, tem o dom de me arriar. (SF, p. 141).
Contra um projeto subjetivo, mas obstinado e considerado um prejuízo ao serviço
materno, como é o representado pela narradora do romance, é realizado um trabalho psíquico
bem eficaz – que o indivíduo não consegue executar, devido às dificuldades em vislumbrar
algum resultado positivo.
Assim sendo, com relação ao prazer da mulher, se o empreendimento relacionado
à sua sexualidade sempre foi alvo de reprovação, o prazer individual foi ainda mais
reprovável.
No entanto, ―a masturbação é amplamente recomendada como uma fonte
importante de prazer sexual e ativamente encorajada como um modo de melhorar a resposta
sexual por parte de ambos os sexos‖ (GIDDENS, 1993, p. 26). Isso porque, nesse processo
de autoconhecimento, percebe-se que qualquer realização de desejos depende muito mais de
179
si mesmo do que do outro e, no romance de Livia Garcia-Roza, isso é representado, pois é um
sonho erótico que leva Gilda a atingir a meta de seu projeto:
(...) lentamente, me rodando, martelando, variando, enquanto nossos corpos
se emaranhavam nas algas que coordenavam esforços para dançar um cháchá-chá. Súbito, comecei a desprender bolhas, e o tubarão prosseguia no
compasso das ondas, num vaivém flutuante interminável, saltando mares,
quando, de repente, um tremor se espalhou pelo meu corpo, dando lugar a
espasmos; gesticulando tentáculos, gritei:
— Diós! Diós!
— Felizmente você está chamando quem vai te salvar filha!
— Puta que pariu!
Mamãe saiu instantaneamente do quarto; pela primeira vez isso me acontece
e ela corta desse jeito... ainda sentia uns espasmos fracos quando ela fechou
a porta. Vou morar sozinha!
No café da manhã, mamãe perguntou por que eu estava malhumorada. Não iria dizer que ela havia cortado a trepada, a única na qual
chego ao fim. (SF, p. 161)
A partir da experiência pessoal de prazer, a pessoa pode autodefinir-se enquanto
ser que vive a sexualidade independente de pressões, seja da educação patriarcal, que
restringe o corpo da mulher à domesticidade, ou da pós-feminista, que o ―aprisiona‖ a
idealizações da sexualidade.
Essa obra literária sugere, assim, que a plenitude sexual é própria também do
processo para alcançar a individualidade e, portanto, não se pode conceituá-la. Se, por um
lado, tornar-se indivíduo está determinado pela ideia de singularidade e diferenciação, esse
progresso existencial não é agressivo ao contexto social. ―O desenvolvimento da
individualidade é simultaneamente um desenvolvimento da sociedade. (...) nunca pode
efetuar-se apenas mediante a relação pessoal; ela requer também a relação da psique com o
inconsciente coletivo e vice-versa.‖ (Jung, 1984, p. 154).
A experiência positiva da narradora do romance desencadeia um novo olhar dela
para com a mãe. A relação de enfrentamento perde o objetivo, já que advinha da necessidade
de o indivíduo firmar a emancipação dos laços familiares e sociais.
No entanto, essa
afirmação não exclui a afetividade entre as pessoas, e sim a dominação.
Para isso, sendo a batalha necessária, um outro drama se instaura. Na obra
representada, o fato de o amor ter sido abafado pela divergência entre as duas mulheres,
quando a narradora se restabelece não há mais possibilidade de refazer os laços entre mãe e
filha:
180
— Mãe... escuta, mãe... eu preciso te falar do Luiz. Tanta coisa
aconteceu, que não consegui contar que vou ser feliz, te dar alegria, está
ouvindo, mãe? Mostra que me escuta, aperta os dedos da minha mão... —
Ela movimentou os olhos, escutou. — Não vou mais te dar desgosto, e
também não vou acabar daquele jeito, aos farrapos como você falou...
também preciso dizer que não transei com ele, apesar de que você não gosta
desse assunto, torce para dar certo, para eu ser feliz... (...)
Continuei falando, dizendo o quanto ela ficaria contente de me ver
feliz, tinha certeza de que dessa vez ela teria orgulho de mim, sua temporã, e
não precisaria mais se preocupar comigo, porque eu não daria o menor
motivo... beijei sua testa, o que queria dizer, as rugas (quanta preocupação,
meu Deus...), passando a mão em seu cabelo — nuvem esgarçada sobre a
sua cabeça. (SF, 221- 222).
O amor e o desacerto novamente estão presentes, pois a morte da mãe já é a
ruptura de um laço difícil de desfazer, mas acontece no momento em que a narradora começa
a compreender e respeitar a atitude materna: ―Foi um custo me desgrudarem da mamãe, mas
conseguiram; Luiz me esperava na sala, me abraçou, mas eu não escutava o que ele dizia,
porque subitamente o mundo, como uma imensa gaiola, se rompeu numa algazarra infinita de
pássaros‖ (SF, p. 223). Não é à toa que se remete à imagem da maternidade como gaiola, que
é uma prisão, mas também a proteção.
As obras de Lívia Garcia-Roza reproduzem um drama que marca as mudanças
ocorridas com a ascensão da mulher no espaço público. As mães representadas em Meus
queridos estranhos e Solo feminino: amor e desacerto se mostram perdidas em suas funções,
porque as filhas não as têm como referência, conforme esperavam. Nas duas obras, os
desencontros dos objetivos existenciais causam o transtorno entre mãe e filha. Isso porque a
neurose da mãe para acertar em sua orientação para a vida da filha, a busca incessante da
jovem pelo subjetivo prazer sexual e a contramão da vigilância constante da senhora trazem o
estranhamento e o prejuízo afetivo para o relacionamento mútuo dessas mulheres.
Sendo assim, a colocação de duas pessoas ligadas por laços familiares em posição
oposta — não apenas temporal, mas principalmente no âmbito das regras sociais — vem a ser
uma tradução angustiosa do serviço de mãe que, enquanto preocupada em ser modelo social e
incutir comportamento, perde uma possível relação de amizade com a filha.
181
CONCLUSÃO
Júlia Lopes de Almeida, Rachel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Lya Luft e
Livia Garcia-Roza.
Essas escritoras brasileiras publicaram romances que representam a
figura materna sob a perspectiva humana, e não sob a forma de divindade criadora que
transmite amor incondicional aos seres por si gerados.
Registre-se que, com exceção da obra de Júlia Lopes de Almeida, as narrativas
são apresentadas sob o ponto de vista homodiegético de uma narradora, filha ou mãe, que
apresenta suas inquietudes com relação à função materna. Mesmo a escritora do século XIX
reproduz igual sensação, ao ver-se diante de uma responsabilidade social que priva seus
projetos pessoais.
Essas representações expõem a angústia de personagens femininas que,
independente de sua posição na relação familiar, precisam manter a aparência de laços
afetivos em uma relação que, muitas vezes, é meramente biológica. É necessário, portanto,
retomar a palavra ―angústia‖ sob a perspectiva de Kiekegaard (1813-1885), que definiu esse
sentimento como advindo de uma sensação de ameaça pelo fato de a pessoa, ao projetar
continuamente o futuro, se deparar com o fracasso. Essa falta de êxito dos relacionamentos
entre mãe e filha produz, desde Balzac, sofrimentos emocionais às mulheres, devido a não se
enquadrarem no destino social de amar e cuidar dos filhos(as) por elas gerados(as).
Uma das possíveis razões de o conflito na relação entre mãe e filha ser
representado ao longo de séculos é a tentativa de desconstrução da maternidade tal como é
concebida no meio social, de modo a aplacar a angústia gerada por essa relação. Isso porque
há um incômodo atemporal por parte da mulher, e hoje, mesmo após sua contribuição para a
sociedade através do trabalho intelectual, ela ainda é cobrada e acusada de negligenciar o
cuidado com os filhos, principalmente de não servir de modelo para a filha, acabando com a
função precípua da maternidade. As escritoras dão voz a essa mulher que, por vezes, quer ser
reconhecida como indivíduo que pensa, mais do que como corpo que gesta. Por isso, o
serviço materno se torna assunto central de diversas obras, e, nas analisadas neste trabalho,
vão se tornando mais claros os vários diálogos com o contexto.
Em Júlia Lopes de Almeida, é possível ver um engendramento pelo qual a
mulher-mãe jamais se pode desviar de sua função ou permitir, sob qualquer hipótese, que um
homem, diverso do provedor de sua descendência, se interponha em seu lar. No entanto,
182
percebe-se que os conselhos veiculados nos textos não-ficcionais da escritora têm como
objetivo evitar o desgaste social da mulher, já que, em A viúva Simões, ela mostra que não há,
de fato, uma proteção incondicional da mãe pela filha, principalmente quando o que está em
jogo é o amor por um homem.
Com exceção de A viúva Simões, de Júlia Lopes de Almeida, e Meus queridos
estranhos, de Livia Garcia-Roza, as histórias são narradas por filhas, que revivem a
experiência passada em companhia materna. Por meio de uma narração homodiegética e sem
sequência cronológica, elas interpretam o restrito espaço da casa, e, mesmo quando ampliam
este território — como é o caso de Dôra, Doralina, de Rachel de Queiroz —, as relações
domésticas emergem com frequência.
As obras de Júlia Lopes de Almeida, Rachel de Queiroz e Lygia Fagundes Telles
problematizam a presença de um homem no cerne do embate entre mãe e filha. As duas
primeiras escritoras, ao representarem o triângulo, demonstram que a realização do desejo
afetivo é que se torna incondicional e desfazem a teoria assimilada na sociedade de que a
mulher é sexualmente passiva, assim como também desfaz a ideia de que as mães deixam de
lado qualquer desejo pessoal em favor da prole. Na narrativa de Lygia, a dúvida vivida pela
filha quanto a haver ou não um relacionamento afetivo entre Patrícia, a mãe, e André, o
seminarista — assemelhando-se com os indícios buscados pelo Bentinho machadiano para
descobrir se foi traído ou não, e ficando sem resposta —, é secundária, e o(a) leitor(a) também
termina sem saber o que, de fato, ocorreu. No entanto, parece que o objetivo maior de Lygia
Fagundes Telles é apresentar o trabalho intelectual como forma de a mulher – forçada, por
circunstâncias alheias, a inserir-se no espaço doméstico sem a menor aptidão para suas
funções – expurgar as frustrações existenciais.
As mães, representadas por essas três
escritoras, chamam a atenção pelo fato de, do ponto de vista sexual ou não, preferirem cuidar
e agradar a elas mesmas, e, se isso inclui o homem, elas não se privam de tê-lo em prol de
proteger a filha.
As filhas representadas por Júlia Lopes de Almeida, Rachel de Queiroz, Lygia
Fagundes Telles e Lya Luft se chocam ao perceber outras preferências na figura materna que
não elas mesmas. Lya Luft representa também a mãe que age com a filha apenas como
genitora, sem nenhum vínculo afetivo. Já a relação entre mãe e filhas representada nas
narrativas de Livia Garcia-Roza expressa uma visão mais recente da maternidade, pois mostra
a disposição das jovens por firmarem desde cedo sua individualidade.
183
É interessante notar, em todas as narrativas analisadas, que a acomodação da
mulher à função materna não é natural.
Todas as autoras viveram a experiência da
maternidade e, por isso, como diz Lygia Fagundes Telles, falam com propriedade do tema,
explicam-se ou ―desembrulham-se‖. Assim, é de bastante pertinência analisar essas obras a
partir do contexto e da perspectiva histórica em que se inserem. Concomitantemente, isso
significa tirar do ostracismo a produção da escritora brasileira, que também precisa ser
considerada como um objeto de análise digno de ser estudado, porque traduz a mulher em sua
condição de ser humano. Como aponta a crítica feminista Mary Louise Pratt (1994), é
necessária muita reflexão a respeito da diferença entre a representação da mulher nas obras de
autorias feminina e masculina. Isso porque os temas abordados pelas escritoras apresentam a
mulher enquanto sujeito cultural, histórico e político a partir da experiência do ser, enquanto
que o escritor cria uma imagem ideológica que atende ao modelo descrito na construção da
sociedade.
É importante registrar, ainda, que a autoria feminina se torna peculiar por
tematizar a questão da mulher que vai além do desejo de passividade, de estar a serviço da
alteridade imposta — resultado do que Maria Rita Kell (1994) chama de negociação entre as
elaborações da realidade psíquica e as regras impostas pela realidade externa.
Cumpre destacar que a presente pesquisa não pretendeu esgotar a complexidade
do tema aludido nem as possibilidades teóricas que ele suscita, em suas várias correntes
interpretativas. Buscou-se tão somente pontuar, por meio das obras selecionadas, que a
maternidade – historicamente vinculada a uma suposta ―natureza‖ feminina – foi
culturalmente construída para atender aos propósitos ideológicos do patriarcado, mas, apesar
das mudanças na sociedade, resiste até os nossos dias e a literatura de autoria feminina
acompanhou historicamente esse fato. Por isso, ao analisar o tema da maternidade sob a ótica
das próprias mulheres, foi possível avaliar o modo pelo qual a psique feminina desenvolve e
conceptualiza seus corpos e suas funções sexuais/reprodutivas e como sua percepção é
intrinsecamente condicionada por determinantes sociais.
Desvendar os temas pertinentes ao universo da mulher, como a maternidade, é
torná-la, de fato, visível. Se a literatura é apropriada, como diz Tzvetan Todorov, para agir
sobre o mundo, as obras literárias das escritoras não podem ser vistas como fenômeno
isolado, mas, ao contrário, como produtos históricos que expõem uma ideologia que
aprisionou a mulher ao longo dos séculos.
184
REFERÊNCIAS
Obras literárias:
ALMEIDA, Júlia Lopes de. A intrusa. Rio de Janeiro: Departamento Nacional do Livro;
Fundação Biblioteca Nacional, 1994.
______. A viúva Simões. Atualização do texto, introdução e notas por Peggy Sharpe.
Florianópolis: Mulheres, 1999.
BALZAC, Honoré de. A mulher de trinta anos. São Paulo: Martin Claret, 2009.
GARCIA-ROZA, Livia. Solo feminino: amor e desacerto. Rio de Janeiro: Record, 2002.
______. Meus queridos estranhos. Rio de Janeiro: Record, 2005.
LISPECTOR, Clarice. ―Amor‖. In: Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 19-29
LUFT, Lya. O ponto cego. 5ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.
______. A sentinela. 5ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.
QUEIROZ, Rachel de. Dôra, Doralina. 20ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2004.
SECCHIN, Antonio Carlos. Revista Poesia Sempre: Fundação Biblioteca Nacional, ano 15, n. 26,,
p. 146, 2007.
TELLES, Lygia Fagundes. Ciranda de pedra. 11ª ed. rio de Janeiro: J. Olympio, 1981.
______. Verão no aquário. 6ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980.
______. As meninas. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
______. As horas nuas. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
Obras gerais:
ALMEIDA, Júlia Lopes de. Livro das noivas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1896.
______. Livro das donas e donzelas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1906.
______. Maternidade. Rio de Janeiro: Olivia Herdy de Cabral Peixoto, 1925.
______. ―Um maço de cartas‖. In: Revista Feminina. São Paulo: Empresa Feminina
Brasileira, 1916.
ACIOLI, Socorro. Rachel de Queiroz. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2003.
BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Trad. Waltensir
Dutra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
185
_________. Um é o outro. 2ª ed. Trad. Carlota Gomes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1986.
BARBOSA, Lourdinha Leite.
Protagonistas de Rachel de Queiroz:
descaminhos. São Paulo: Pontes, 1999.
caminhos e
BARTHES, Roland. O prazer do texto. 4ª ed. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva,
2004.
BATAILLE, Georges. El erotismo. 3ª ed. Trad. Antoni Vicens e Marie Paule Sarazin.
Barcelona: Tusquets Editores, 2002.
BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
______. Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Trad.
Rosenberg y Jaime Arrambique. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.
Mirta
______. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. 2ª ed. Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1980. 2 v.
______. A velhice. 3ª ed. Trad. Maria Helena Franco Martins. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1990.
BILAC, Olavo. Melhores poemas / seleção de Marisa Lajolo. 4ª Ed. São Paulo: Global, 2003.
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1999.
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 32ª ed. São Paulo: Cultrix, 1999.
______. O enigma do olhar. 4ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.
BURGES, E. & LOCKE, H. The Family. New York: American Book Company, 1945.
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 2ª ed. Trad.:
Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
CAMPOS, Maria Consuelo. ―Gênero‖. In.: JOBIM, José Luís (Coord.). Palavras da
crítica. Rio de Janeiro: Imago, 1992.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 6ª ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1980.
CARDOSO, Sérgio (org.). Os sentidos da paixão. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
186
CASTELLO BRANCO, Lucia. O que é erotismo. São Paulo: Circulo do Livro, 1990.
CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura — o poder da
identidade. 3ª ed. Trad. Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra.
CAVALCANTE, Ilane Ferreira. ―Relações familiares em Verão no aquário e As meninas,
de Lygia Fagundes Telles‖. In.: DUARTE, Constância Lima; DUARTE, Eduardo de Assis
& BEZERRA, Kátia da Costa (Org.). Gênero e representação na literatura brasileira. Belo
Horizonte: Pós-Graduação em Letras Estudos Literários: UFMG, 2002.
COELHO, Nelly Novaes. ―O desafio ao cânone: consciência histórica versus discurso-emcrise‖. In.: CUNHA, Helena Parente (Org.). Desafiando o cânone: aspectos da literatura de
autoria feminina na prosa e na poesia (anos 70/80). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990,
p. 9-14.
________. A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São Paulo: Siciliano, 1993.
COLASANTI, Marina. ―Por que nos perguntam se existimos‖. In.: SHARPE, Peggy (Org.).
Entre resistir e identificar-se: para uma teoria da prática da narrativa brasileira feminina.
Goiás: UFG; Florianópolis: Mulheres, 1997.
COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
COSTA, Maria Osana de Medeiros. A mulher, o lúdico e o grotesco em Lya Luft. São Paulo:
Annablume; Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro, 1996.
COUTINHO, Edilberto. ―Três mulheres e uma constante – Lygia Fagundes Telles, Maria
Alice Barroso e Clarice Lispector‖. In.: Criaturas de papel. Rio de janeiro, Civilização
Brasileira, 1980.
DUARTE, Constância Lima. ―A mulher e a literatura‖. In.: AUAD, Sylvia M. Von
Atzingen Venturoli (Org.). Mulher: cinco séculos de desenvolvimento na América (capítulo
Brasil). Belo Horizonte: Federação Internacional de Mulheres da Carreira Jurídica,
CREZ/MG, Centro Universitário Newton Paiva, IA/MG, 1999.
________. ―Lya Luft e a identidade feminina‖. In.: AUAD, Sylvia M. Von Atzingen
Venturoli (Org.). Mulher: cinco séculos de desenvolvimento na América (capítulo Brasil).
Belo Horizonte: Federação Internacional de Mulheres da Carreira Jurídica, CREZ/MG,
Centro Universitário Newton Paiva, IA/MG, 1999.
DUARTE, Eduardo de Assis. ―Rachel de Queiroz: mulher, ficção e história‖. In.: AUAD,
Sylvia M. Von Atzingen Venturoli (Org.). Mulher: cinco séculos de desenvolvimento na
América (capítulo Brasil). Belo Horizonte: Federação Internacional de Mulheres da Carreira
Jurídica, CREZ/MG, Centro Universitário Newton Paiva, IA/MG, 1999.
ENGEL, Magali. ―Psiquiatria e feminilidade‖. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das
mulheres no Brasil. 9ª ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2009, p. 323-361.
187
ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Trad.
Leandro Konder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987.
FALCI, Miridan Knox. ―Mulheres no sertão nordestino‖. In: PRIORE, Mary Del (org.).
História das mulheres no Brasil. 9ª ed., 2ª. reimpressão. São Paulo: Contexto, 2009, p. 241277.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade, 3: o cuidado de si. 6ª ed. Trad. Maria
Thereza da Costa Albuquerque e José A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
______. História da sexualidade: o uso dos prazeres. 9ª ed. Trad. Maria Thereza da Costa
Albuquerque e José A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 2001.
______. História da sexualidade: a vontade de saber. 14ª ed. Trad. Maria Thereza da Costa
Albuquerque e José A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 2001.
______. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 25ª ed. Trad. Raquel Ramalhete.
Petrópolis: Vozes, 2002.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Trad. José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de
Janeiro: Imago, 1997.
GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas
sociedades modernas. Trad. Magda Lopes. São Paulo: Unesp, 1993.
GROSZ, Elisabeth.
UNICAMP, 2000.
―Corpos reconfigurados‖.
In.:
Cadernos Pagu (14).
Campinas:
HEILBORN, Maria Luiza. ―Gênero, sexualidade e saúde‖. In: Saúde, Sexualidade e
Reprodução — compartilhando responsabilidades. Rio de Janeiro: UERJ, 1997, p. 101-110.
HIBBARD, Addison. Writers of the Western World.
Houghton Mifflin, 1967.
2ª ed. by Horst Frenz.
Boston,
HOLANDA, Heloisa Buarque de. ―Feminismo em tempos modernos‖. In: HOLANDA,
Heloisa Buarque de (Org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura.
Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 8 – 19.
_________. Rachel de Queiroz. Rio de Janeiro: Agir, 2005.
_________. Pós-modernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.
HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.
HUNT, Lyun. ―Revolução Francesa e vida privada‖. In: PERROT, Michelle (Org.).
História da vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Trad.: Denise
Bottmann e Bernardo Joffily. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
188
JUNG, Carl Gustav. O desenvolvimento da personalidade. Trad. Frei Valdemar do Amaral.
Petrópolis: Vozes, 1981.
_________. O eu e o inconsciente. Trad.: Dora Ferreira da Silva. Petrópolis: Vozes, 1984.
_________. Psicologia do inconsciente. 13ª ed. Trad. Maria Luiza Appy. Petrópolis:
Vozes, 2001.
_________. A vida simbólica. Trad.: Araceli Elman e Edgar Orth. 4ª ed. Petrópolis: Vozes,
2008.
KONDER, Leandro. A questão da ideologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
LAMAS, Berenice Sica. O duplo em Lygia Fagundes Telles: um estudo em literatura e
psicologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.
LAURETIS, Teresa. Tecnologia do gênero. In: HOLANDA, Heloisa Buarque de (Org.).
Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994,
p. 206 – 239.
LEAL, Virgínia Maria Vasconcelos. ―O feminismo como agente de mudanças no campo
literário brasileiro‖. In.: STEVENS, Cristina. Mulheres e literatura – 25 anos: raízes e
rumos. Florianópolis: Mulheres, 2010.
LEITE, Ligia Chiappiani Moraes. O foco narrativo. 5ª ed. São Paulo: Ática, 1991.
MACHADO, Ana Maria. Recado do Nome: leitura de Guimarães Rosa à luz do Nome de
seus personagens. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003.
MARTINS, Wilson. ―Rachel de Queiroz em perspectiva‖. In: DE FRANDESCHI, Antonio
Fernando (Org.). Rachel de Queiroz. Cadernos de literatura brasileira. São Paulo: Instituto
Moreira Salles, n. 4, setembro, 1997, p. 69 – 86.
NERY, Hermes Rodrigues. Presença de Rachel: conversas informais com a escritora Rachel
de Queiroz. São Paulo: FUNPEC, 2002.
OLIVEIRA, Katia. A técnica narrativa em Lygia Fagundes Telles. Porto Alegre: Ed. da
UGRS, 1972.
PAZ, Otávio. A dupla chama. Amor e erotismo. 2ª ed. Trad.: Wladyr Dupont. São Paulo:
Siciliano, 1994.
PERROT, Michelle. ―Figuras e papéis‖. In: PERROT, Michelle (org). História da vida
privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Trad. Denise Bottmann e Bernardo
Joffily. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 107-168.
PESSANHA, José Américo Motta. ―A água e o mel‖. In: NOVAES, Adauto (org.). O
desejo. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 91-123.
189
PIETRANI, Anélia Montechiari. O enigma da mulher no universo masculino machadiano.
Niterói: EdUFF, 2000.
PRAVAZ, Susana. Três estilos de mulher: a doméstica, a sensual, a combativa. São Paulo:
Brasiliense, 1992.
QUEIROZ, Maria Eli de. "As mulheres de Rachel de Queiroz". In: Revista Brasileira n.64.
Rio de Janeiro: ABL, out./dez. 2010.
REICH, Wilhelm. Psicologia de Massas do Fascismo. Trad. Maria da Graça M. Macedo.
São Paulo: Martins Fontes, 1970.
RIO, João do. O momento literário. Rio de Janeiro: H. Carnier, 1904.
ROCHA-COUTINHO, Maria Lúcia. Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas
relações familiares. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
ROCHA, Josélia. ―Variações poéticas sobre um mesmo corpo: Cristina da Costa Pereira,
Sílvia Jacintho, Rosália Milsztajn, Wanda Brauer. In.: CUNHA, Helena Parente (Org.).
Além do cânone: vozes femininas cariocas estreantes na poesia dos anos 90. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2004.
RODRIGUES, José Carlos. Tabu do corpo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.
ROUANET, Sérgio Paulo. Mal-estar na modernidade. São Paulo: Companhia das Letras,
1993.
ROSSEAU, J. J. Julia, ou, A nova Heloisa: carta de dois amantes habitantes de uma
cidadezinha ao pé dos Alpes. Trad. Fulvia M. L. Moretto. Campinas, SP: Ed. da UNICAMP,
1994.
_________. Emílio ou Da Educação. 3ª ed. Trad. Roberto Leal Pereira. São Paulo: Martins
Fontes, 2004.
ROUDINESCO, Elisabeth. A família em desordem. Trad. André Telles. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2003.
SAMARA, Eni de Mesquita. A família Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1986.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão:
Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1995.
tensões sociais e criação cultural na
SHARPE, Peggy. ―Maternidade: uma visão política de Júlia Lopes de Almeida. In.:
AUAD, Sylvia M. Von Atzingen Venturoli (Org.).
Mulher:
cinco séculos de
desenvolvimento na América (capítulo Brasil). Belo Horizonte: Federação Internacional de
Mulheres da Carreira Jurídica, CREZ/MG, Centro Universitário Newton Paiva, IA/MG, 1999.
190
________. (Org.). Entre resistir e identificar-se: para uma teoria da prática da narrativa
brasileira feminina. Goiás: UFG; Florianópolis: Mulheres, 1997.
SHOWALTER, Elaine. A crítica feminista no território do selvagem. In: HOLANDA,
Heloisa Buarque de (Org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura.
Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 23 – 54.
SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e. Teoria da Literatura. 8ª ed. Coimbra: Livraria
Almedina, 2002.
SOIHET, Rachel. ―Comparando escritos: Julia Lopes de Almeida e Carmen Dolores. In:
Entre o estético e o político: a mulher nas literaturas clássicas e vernáculas. Santa Catarina:
Ed. Mulheres, 2006.
STEVENS, Cristina (org.). Maternidade e feminismo: diálogos interdisciplinares. Santa
Catarina: Ed. Mulheres, 2007.
STEVENS, Cristina M. T. & SWAIN, Tânia Navarro (Org.). A construção dos corpos:
perspectivas feministas. Florianópolis: Mulheres, 2008.
TELLES, Lygia Fagundes. ―Como é perigoso escrever‖. In: Revista brasileira. Rio de
Janeiro, v. 5, n. 20, p.33-42, jul./set. 1999.
________. ―A disciplina do amor‖. In: DE FRANDESCHI, Antonio Fernando (Org.).
Rachel de Queiroz. Cadernos de literatura brasileira. São Paulo: Instituto Moreira Salles, n.
5, março, 1998.
THERBORN, Göran. Sexo e poder: a família no mundo (1900 – 2000). Trad.: Elisabete
Dória Bilac. São Paulo: Contexto, 2006.
TODOROV, Tzvetan. A literatura em perigo. Trad.: Caio Meira. 3ª ed. Rio de Janeiro:
DIFEL, 2010.
VENÂNCIO, Renato Pinto. Maternidade negada. In.: DEL PRIORE, Mary (Org.).
História das mulheres no Brasil. 9ª ed. São Paulo: Contexto, 2009, p. 189 – 222.
VILAÇA, Nísia & GÓES, Fred. Em nome do corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
VOLTAIRE. Dicionário filosófico. Trad.: Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2008.
XAVIER, Elódia (Org.). Tudo no feminino: a mulher e a narrativa brasileira contemporânea.
Rio de janeiro: Francisco Alves, 1991.
_______. Declínio do patriarcado: a família no imaginário feminino. Rio de Janeiro:
Record: Rosa dos Tempos, 1998.
________. Que corpo é esse? O corpo no imaginário feminino.
Mulheres, 2007.
Florianópolis:
Ed.
191
YALOM, Marilyn. A história da esposa: da Virgem Maria a Madonna: o papel da mulher
casada dos tempos bíblicos até hoje. Trad.: Priscilla Coutinho. Rio de Janeiro: Ediouro,
2002.
ZALCBERG, Malvine. A relação mãe e filha. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
Dissertações e teses
ARAÚJO, Antonio Augusto Pessoa de. Rachel de Queiroz — Dôra, Doralina: texto e
contexto. Mestrado em Literatura Brasileira. Brasília: Universidade de Brasília, 1988.
COSTA, Maria Osana de Medeiros. Ideologia e contra-ideologia na obra de Rachel de
Queiroz. Mestrado em Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade
Católica, 1973.
LERIDA, Romagnoli. A relação entre a mulher contemporânea e a mulher personagem na
obra de Lya Luft. Mestrado em Literatura Brasileira. Rio Grande do Sul: Pontifícia
Universidade Católica, 1990.