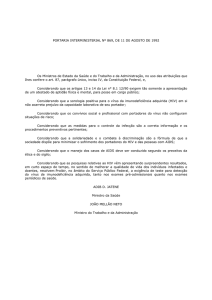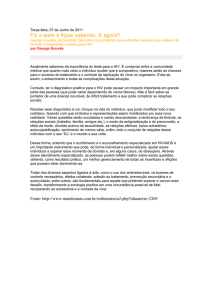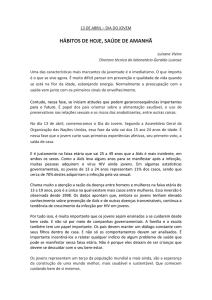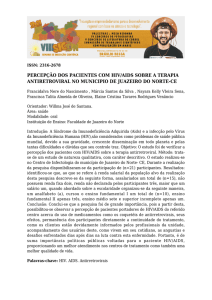Curso de Bacharelado em Enfermagem
Artigo de Revisão
A ADOLESCÊNCIA E O HIV/AIDS: CONHECIMENTOS, PRÁTICAS E PERCEPÇÕES
ADOLESCENCE AND HIV / AIDS: KNOWLEDGE, PRACTICES AND PERCEPTIONS
Elizete Guedes Palma1, José de Arimatéia de Souza Dutra1, Mauro Trevisan2
1 Alunos do Curso de Bacharelado em Enfermagem
2 Mestre, docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem
Resumo
Introdução:A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) passou a afetar também os adolescentes, principalmente em função da
precocidade das relações sexuais e do uso de drogas. Para fazer frente a essa realidade o sistema de saúde desenvolve políticas
públicas específicas, mas ainda não é suficiente, pois nem sempre elas são implementadas de forma adequada. Objetivo: Descrever
os conhecimentos, práticas e as percepções dos adolescentes para prevenção do HIV/AIDS e analisar as formas de contribuição que
as equipes de saúde podem oferecer aos adolescentes e o HIV/AIDS, para que haja aceitação e adesão ao tratamento, bem como
enfrentamento do preconceito existente na sociedade.Metodologia: Revisão bibliográfica descritiva e pesquisa de campo quantitativa,
realizada em uma escola pública situada em Águas Lindas de Goiás-GO, com 280 alunos do Ensino Médio, na faixa etária de 14 a 21
anos, dos turnos vespertino e noturno, sobre suas práticas sexuais e seu conhecimento do HIV/AIDS. A enquete foi realizada por meio
de um questionário, contendo 12 perguntas fechadas. Resultados: Os alunos que participaram da pesquisa representam 63,2% dos
que estão matriculados no Ensino Médio da escola pesquisada e concordaram em participar, por meio de Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) e autorização da Direção. As respostas foram tabuladas e convertidas em gráficos, elaborados no
programa Excel. Para a discussão recorreu-se à literatura relacionada diretamente a cada tópico do questionário. Conclusão: Os
adolescentes iniciam a vida sexual precocemente e desinformados a respeito das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).
Todos têm conhecimento sobre a existência da AIDS, principalmente por informações recebidas na escola. O sistema de saúde local
pouco tem contribuído para melhorar essa situação. Como se trata de cidade com apenas 19 anos de emancipação política sugere-se
pesquisas sobre as políticas públicas locais de enfrentamento do HIV/AIDS pelos adolescentes e suas famílias.
Palavras chave: HIV/AIDS; Adolescência; Enfermeiro.
Abstract
Introduction: A Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) has also affect teenagers, mainly due to the precocity of sex and drug
use. To address this reality the health system develops specific policies, but it is still not enough, because they are not always
implemented properly. Objective:Describe the knowledge, practices and perceptions of adolescents for prevention of HIV / AIDS and
analyze forms of contribution that health teams can offer teenagers and HIV / AIDS, for which there is acceptance and adherence to
treatment, as well as coping prejudices existing in society.Methodology: Descriptive literature review and quantitative field research
conducted in a public school located in ÁguasLindas de Goiás-GO, with 280 high school students, aged 14-21 years, afternoon and
night shifts, on their practices sex and their knowledge of HIV / AIDS. The survey was conducted through a questionnaire containing 12
closed questions. Results: Students who participated in the survey represent 63.2% of those enrolled in high school and researched
the school agreed to participate by signing the Informed Consent Form (ICF) and authorization of the Director. The responses were
tabulated and converted into graphs, prepared in Excel. For the discussion turned to the topic directly related to each of the
questionnaire literature. Conclusion: The teenagers start having sex early and uninformed about Sexually Transmitted Diseases
(STDs) life. All are aware of the existence of AIDS, mainly by information received at school. The local health system has contributed
little to improve this situation. As it comes to city with only 19 years of political emancipation is suggested research on local public
policies addressing HIV / AIDS among adolescents and your families.
Keywords: HIV / AIDS; Adolescence; Nurse.
Contato: [email protected]; [email protected]
Introdução
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS) é uma doença de características próprias.
Sua fisiologia já foi descoberta, mas, devido à
grande mutação do vírus HIV (Vírus da
Imunodeficiência Humana), ainda não existe uma
vacina eficaz, ou seja, não tem cura. Sua forma
de transmissão carrega estigmas, como a
homossexualidade, a promiscuidade, usuários de
drogas, profissionais do sexo; e pessoas
marginalizadas
e
discriminadas.
Muitos
adolescentes
foram
contaminados
pela
transmissão vertical (transmissão da mãe HIV
positivo para o seu bebê pelo parto,
amamentação ou durante a gestação, caso não
haja prevenção), mas sentem se discriminados
como aqueles que adquiriram pela transmissão
horizontal (transmissão por sangue, sêmen e
secreções vaginais, através de relações sexuais
desprotegidas, agulhas compartilhadas por
usuários de drogas, transfusão de sangue
contaminado e objetos perfuro cortantes não
esterilizados), pois essa responsabilidade é da
2
gestante. (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011;
BRASIL 2013).
O fato de ser portador de uma doença
estigmatizante e crônica pode levar o adolescente
a modificar completamente a sua vida em uma
fase em que está passando por diversas
mudanças e em que a imagem corporal e a vida
sexual são de grande importância. Para ele não é
fácil receber o diagnóstico positivo de HIV/AIDS e
conviver com o tratamento e seus efeitos, além
de correr o risco de sofrer preconceito de seus
pares e até mesmo dos familiares (GUIMARÃES,
2013).
Conforme o Manual de rotinas para a
Assistência ao Adolescente Vivendo com
HIV/AIDS, também do Ministério da Saúde,
“desde a identificação dos primeiros casos de
AIDS no Brasil, a epidemia da infecção pelo HIV
continua desafiando a sociedade, o sistema de
saúde e seus profissionais, tanto no âmbito da
prevenção como na assistência” (BRASIL, 2006,
p. 9).
Os primeiros casos da doença foram
identificados em São Francisco, nos Estados
Unidos, em 1981, entre homossexuais do sexo
masculino que apresentavam Sarcoma de Kaposi
e pneumonia por Pneumocystis carinii, doenças
oportunistas que atacam o indivíduo, em função
da baixa imunidade. Até 2007 a taxa de infecção
era de 14 mil pessoas por dia, com 20 milhões de
mortes desde a detecção dos primeiros casos. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) estima
que até 2030 cerca de 70 milhões de pessoas
serão infectadas, caso não sejam tomadas
medidas eficazes de prevenção e de tratamento
da doença (PINTO et al., 2007).
Acredita-se que o vírus desencadeador da
doença,
que
foi
chamado
Human
Immunodeficiency Virus (HIV), tenha origem em
um vírus que era endêmico em regiões da África
Central. Esse vírus infectava macacos e chegou à
população humana graças ao uso da carne dos
animais como alimento. O HIV, identificado em
1983, é um retrovírus do gênero Lentivirus, que
possui duas fitas idênticas de ácido ribonucléico
(RNA), a enzima transcriptase reversa (TR) e um
envelope fosfolipídico (RODRIGUES, 2009).
Dois tipos virais distintos do HIV foram
identificados. O HIV-1 é o tipo associado com a
doença nos Estados Unidos, Europa, África
Central, e outras partes do mundo, enquanto o
HIV-2 foi detectado na parte ocidental da África,
muito semelhante ao primeiro tipo e subdividido
em sete subtipos. O HIV possui alta variabilidade
genética, devido à transcriptase reversa, fazendo
com que a cada ciclo reprodutivo ocorram
mudanças no seu genoma, o que sempre
dificultou a formulação de medicamentos para
combatê-lo (SUCUPIRA; JANINE, 2006).
Segundo o Ministério da Saúde, a
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS),
tornou-se uma pandemia no inicio da década de
1980, quando as pessoas foram infectadas pelo
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Após
adquirirem as doenças oportunistas, em função
da baixa imunidade, faleciam em decorrência da
AIDS (BRASIL, 2010).
O vírus HIV não afeta somente os adultos,
mas também os adolescentes. Os limites
cronológicos da adolescência são definidos pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e
19 anos e pela Organização das Nações Unidas
(ONU) entre 15 e 24 anos, critério este usado
principalmente para fins estatísticos e políticos.
Nas normas e políticas de saúde do Ministério da
Saúde do Brasil, os limites da faixa etária de
interesse são as idades de 10 a 24 anos. No
Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA, Lei n. 8.069/1990), considera criança a
pessoa até 12 anos de idade incompletos e define
a adolescência como a faixa etária de 12 a 18
anos de idade (BRASIL, 2004).
É nesta fase de transição entre a infância e
a vida adulta, caracterizada pelos impulsos do
desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual
e social e pelos esforços do indivíduo em
alcançar
os
objetivos
relacionados
às
expectativas culturais da sociedade em que vive
que ocorrem as mudanças corporais da
puberdade, quando o indivíduo consolida seu
crescimento e sua personalidade, obtendo
progressivamente sua independência econômica,
além da integração em seu grupo social
(EISENSTEIN, 2005).
A adolescência é uma etapa da vida de
grandes transformações biológicas, psíquicas e
sociais. O comportamento sexual do adolescente
é um marco normal do desenvolvimento e quando
inicia sua atividade sexual pode estar vulnerável
ás doenças sexualmente transmissíveis (DST) e
AIDS. Fatores que colocam adolescentes e
jovens em maior risco para as DST são a idade
precoce de início da vida sexual, uso incorreto ou
inconsistente de preservativos e experimentação
de álcool e outras drogas (BRASIL, 2013).
A infecção pelo HIV na adolescência é um
tema difícil de ser abordado para a família,
mesmo com políticas que visam superar o
preconceito. A doença é vista de forma negativa e
há
dificuldade
de
aceitação,
ocorrendo
enfretamento social, com diminuição da
autoestima. Muitas famílias tratam o diagnóstico
positivo como um segredo a ser guardado, por
vergonha e medo da reação da sociedade. A
adolescência é uma fase de mudanças físicas e
psicológicas, onde o jovem busca a aceitação, a
liberdade e a vivência da sexualidade e um
diagnóstico positivo de AIDS pode comprometer
muito a sua vida (SPINARDI et al., 2008).
No final da última década os jovens entre
15 e 24 anos representavam aproximadamente
45% de novas infecções pelo HIV no mundo,
sendo que no Brasil a taxa de incidência (por
100.000 habs.) de casos de AIDS notificados no
3
sexo masculino, em 2008, foi de 2,2 e para o
sexo feminino foi de 2,8. A taxa nacional em 2010
era de 9,5. O início precoce da vida sexual, em
média aos 15 anos de idade, foi considerado a
principal causa da contaminação, responsável por
grande número de indivíduos atingidos pelo HIV
na faixa de 25-29 anos de idade, visto que a
doença se manifesta de sete a dez anos depois
da exposição ao vírus (MAFRA-TOLEDO et al.,
2011).
Os adolescentes se contaminam com o HIV
no início da vida sexual principalmente por não
perceberem sua vulnerabilidade ao vírus e à
doença, quando deixam de incorporar os
conhecimentos adquiridos sobre o assunto às
relações com os parceiros, não adotando práticas
preventivas, por não acreditarem estarem sujeitos
ao problema. A contaminação é vista como algo
externo e não como uma possibilidade pessoal e
real (FERREIRA et al., 2009).
Essa falta de percepção ainda se alia ao
consumo de álcool e uso de drogas ilícitas, em
situações de promiscuidade, aumentando as
chances de contaminação. A falta de um projeto
de vida, principalmente entre os jovens das
classes sociais mais pobres, também facilita a
contaminação, pois não encaram a vida como um
valor a ser preservado. É preciso viver
intensamente o momento e a prevenção é
deixada de lado (ZAMIN, 2012).
Uma vez contaminados pelo HIV os
adolescentes encontram muitas dificuldades para
lidar com o problema. As principais dificuldades
expostas pelos mesmos referem-se aos horários
de tomar os antirretrovirais (TARV), o gosto
desagradável,
falta
de
informação
da
necessidade de tomar os TARV, desinformação
do seu diagnóstico, falta de comunicação sobre
HIV/AIDS. Entre os cuidadores primários, outro
fator encontrado é a transferência de
responsabilidade em tomar os TARV do cuidador
para o adolescente (ADÃO; CARACIOLO, 2007).
Os conflitos sobre a própria doença, pois
se trata de uma doença incurável, e por ser
cercada de estigmas e preconceitos, faz com que
os adolescentes não tomem a medicação em
ambiente que não seja o seu lar. Quanto maior é
o conhecimento a respeito do seu diagnóstico,
dos benefícios das medicações, sobre os exames
e o que seus valores representam, a
comunicação clara sobre o HIV/AIDS, melhora os
resultados na adesão ao tratamento (GUERRA;
SEIDL, 2010).
Contudo, muitas famílias optam por não
divulgar que o adolescente foi contaminado pelo
HIV e procuram fazer com que esse jovem adote
plenamente o tratamento, justamente para não
manifestar os sintomas que identificariam a
existência da doença para o seu grupo social.
Esse jovem pode não sofrer o preconceito, mas
sofre com o silêncio, por não poder confidenciar
suas dificuldades para os amigos (MOTTA et al.,
2013).
Por outro lado, divulgando ou não, o jovem
contaminado está preso às rotinas do tratamento,
complexas
e
contínuas.
Geralmente
os
adolescentes preferem tomar os TARV em casa,
para terem privacidade. Quando não podem fazêlo dessa forma, procuram esconder o
medicamento dos amigos ou retiram a
identificação das embalagens, para evitar a
discriminação. Diante dessas dificuldades os
adolescentes necessitam da assistência dos
profissionais de saúde, mas não é fácil buscá-los
(SUET, 2010).
O Ministério da Saúde estabelece uma
série de situações, desde o diagnóstico do
HIV/AIDS até a transição do tratamento da
infância para a adolescência ou desta para a fase
adulta, momentos em que os profissionais de
saúde têm muito a contribuir. Na revelação do
diagnóstico recomenda-se que os profissionais de
saúde tratem cada caso individualmente, levandose em conta o contexto, social, familiar e cultural
do adolescente (BRASIL, 2013).
A comunicação deve ser processual, pois
saber que se é portador de doença incurável gera
muitas inquietações, como o medo da morte, do
preconceito e da discriminação. Assim, o
adolescente precisa receber todo o suporte
emocional necessário, mas não se deve guardar
segredo sobre o diagnóstico e sim comunicá-lo de
forma humanizada (RABUSKE, 2009).
Um dos maiores desafios da equipe de
saúde é conseguir a adesão plena do
adolescente e de seus familiares ao tratamento
antirretroviral.
A
não
percepção
da
vulnerabilidade e o desejo de ser igual aos pares
podem levar o adolescente a não aderir à terapia,
de forma que possa evitar a replicação do vírus.
Os profissionais precisam levar até o adolescente
os conhecimentos necessários sobre a doença e
a medicação, sua necessidade e seus efeitos,
estabelecendo, para isso, uma relação de
confiança. As informações devem ser estendidas
aos familiares, pois o tratamento, para ser eficaz,
implica em mudança de rotinas e aquisição de
novos hábitos. Trata-se, portanto, de um trabalho
de educação em saúde (RIBEIRO, 2011).
Como o tratamento da AIDS passou por
diversos avanços desde que o vírus foi
identificado, ela se tornou praticamente uma
doença crônica, não exatamente fatal, fazendo
com que as equipes de saúde possam
conscientizar os adolescentes portadores a
buscarem melhor qualidade de vida. Isso envolve
a continuidade da vida sexual e implica em
estabelecer relações, revelar o diagnóstico e
tomar medidas preventivas (BARATA, 2006).
O adolescente e seu parceiro (a) devem
ser orientados sobre os riscos da não prevenção
e sobre como levar uma vida sexual plena,
saudável e segura, apesar da doença. O
4
profissional deve esclarecer ao adolescente que
isolar-se não é a melhor opção para a sua vida,
bem como relacionar-se sexualmente apenas
com jovens que também sejam soropositivos
(BRASIL, 2010).
Como está passando por uma fase de
crescimento corporal, o adolescente com
HIV/AIDS precisa ser encaminhado para
avaliação nutricional, com profissional que
também faz parte da equipe de saúde. O
nutricionista orienta a dieta a ser seguida pelo
jovem, para manter o ritmo do crescimento,
corrigir falhas como sobrepeso e obesidade (o
uso de TARVs modificam o metabolismo lipídico e
a resistência periférica à insulina), minimizar os
efeitos colaterais dos medicamentos e trabalhar o
conceito positivo de imagem corporal, sempre
buscando contar com o apoio dos familiares
(RODRIGUES et al., 2009).
É preciso encaminhar o adolescente que
chega à fase adulta para um atendimento
compatível com sua idade e esse é um processo
que precisa ser conduzido cuidadosamente pela
equipe de saúde. A transição deve ser gradual,
feita de forma individual e planejada, buscando-se
a maior interação possível com a nova equipe de
atendimento, com total compartilhamento de
informações (COSTA; BERNAL; HALLAL, 2013).
Os familiares também
devem
ser
envolvidos no processo, pois se trata de sair de
uma zona de conforto e assumir novas relações
com outros profissionais. O adolescente pode
rejeitar os novos profissionais e comprometer
completamente o tratamento, razão pela qual a
transição tem sido um dos maiores desafios das
equipes de saúde, quando se trata de
adolescentes com HIV/AIDS (MACHADO; SUCCI;
TURATO, 2010).
A partir dessas informações, foi realizada
uma pesquisa quantitativa, para responder ao
seguinte problema: “O que o sistema de saúde
tem feito para informar os adolescentes sobre o
HIV/AIDS em Águas Lindas de Goiás-GO?” O
objetivo geral do estudo foi analisar as formas de
contribuição que as equipes de saúde podem
oferecer aos adolescentes na prevenção e
acompanhamento do HIV/AIDS, para que haja
aceitação e adesão ao tratamento, bem como
enfrentamento do preconceito existente na
sociedade. A abordagem do tema para os
profissionais de saúde, especialmente o
enfermeiro, é relevante, para que possam se
inteirar de todos os aspectos do problema, para
oferecerem uma assistência humanizada e de
qualidade aos adolescentes que procuram
esclarecimentos na prevenção e no tratamento.
Metodologia
A pesquisa é de natureza descritiva e
quantitativa, apresentada em forma de revisão
bibliográfica de vários livros e artigos, realizada
na biblioteca da Faculdade ICESP PROMOVE e
em sítios eletrônicos, como a Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS); e respectivamentede pesquisa
de campo, realizada com alunos do Ensino Médio
de uma escola pública, em Águas Lindas de
Goiás/GO.
Os descritores para a pesquisa dos artigos
foram: HIV/AIDS, adolescência, enfermeiro. Os
critérios de inclusão dos textos na revisão
bibliográfica foram: relação direta com o tema;
publicação entre 2004 e 2014 (primeiro
semestre), excluídos material de natureza
histórica; apresentação em língua portuguesa ou
tradução oficial; e apresentarem pesquisas de
campo sobre o tema, para a parte da análise dos
dados. Foram selecionados 20 textos para a
revisão bibliográfica e 15 textos para a
fundamentação teórica da pesquisa de campo,
além dos textos institucionais.
A pesquisa de campo foi realizada entre
agosto e novembro de 2014, através da aplicação
de questionários para alunos da escola
selecionada. Com critérios de inclusão como ter
idade entre 14 e 21 anos e estar presente na
escola no momento da pesquisa, além de
aceitarem participar do estudo, mediante a
assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE); e também da autorização do
Diretor, após serem esclarecidos sobre sigilo,
confidencialidades e anonimato das respostas. A
população de adolescentes que cursam o Ensino
Médio é de 443 alunos e a amostra selecionada
foi de 280 alunos, que estavam presentes no dia
da pesquisa e concordaram em colaborar.
O questionário é composto por 12 questões
fechadas de múltipla escolha, onde os jovens
podem expressar os seus conhecimentos,
práticas e as percepções sobre o tema abordado.
A décima questão prepara para a intervenção dos
pesquisadores na escola, ao final do estudo, no
sentido de informar aos entrevistados os
resultados
encontrados
e
repassar-lhes
orientações a respeito da relação entre
adolescência e HIV/AIDS, por meio de palestra.
A autorização para a aplicação do
instrumento de coleta de dados é necessária,
visto que se trata de pesquisa com seres
humanos. O estudo foi autorizado pelo o comitê
de ética, Número CAAE 029411/14, conforme a
Resolução 196/96 versão 2012, que garante aos
participantes a confidencialidade e a privacidade
de suas respostas (BRASIL, 2012). Não foram
utilizadas imagens dos participantes e a coleta de
dados foi autorizada pela direção da escola,
mediante solicitação dos pesquisadores.
A pesquisa também seguiu as normas do
Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa (NIP), 2014,
da Faculdade ICESP/PROMOVE.
5
Resultados e Discussão
Os 280 alunos que compuseram a amostra
estudam nos turnos vespertino (71) e noturno
(209). A sua distribuição por sexo, faixa etária e
turno é mostrada no Gráfico 1:
Gráfico 1: Sexo, faixa etária e turno da amostra
pesquisada
100%
60%
50%
40%
60%
65%
35%
40%
0%
59,30%
39,60%
1,10%
Fonte: Pesquisa Acadêmica, 2014.
Conforme se observa, as mulheres são em
maior número que os homens nos dois turnos. A
maior parte dos alunos que responderam ao
questionário é do turno noturno 59,30%, também
é maioria na faixa etária entre os 17 a 19 anos
para este turno, mas no turno vespertino
predomina a faixa etária de 14 a 16 anos com um
total de 39,60% de alunos. Somente três alunos,
do turno noturno, estão na faixa etária de 20 a 21
anos.
Oficialmente, segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente, a adolescência
abrange a fase de 12 anos completos até 18 anos
completos (BRASIL, 2004). Para a OMS,
compreende o período entre 10 e 20 anos de
idade. Como os alunos que constituem a amostra
da pesquisa ainda estão cursando o Ensino
Médio, cuja terminalidade é prevista para os 17
anos, os alunos até 21 anos foram incluídos, caso
desejassem participar. Havia uma informação
prévia, do Diretor da escola, de que os alunos do
turno noturno estavam razoavelmente dentro da
faixa etária para o grau de ensino que cursam.
Nesse momento da vida, a maioria dos
jovens começa a namorar e inicia a vida sexual. A
faixa etária entre 15 a 24 anos é considerada a
mais propícia para que o jovem contraia uma
doença sexualmente transmissível (DST) ou o
HIV/AIDS. Nos Estados Unidos, onde a
notificação de todas as DSTs é compulsória,
estima-se que o percentual de jovens atingidos
seja de 25%. No Brasil, a notificação é obrigatória
somente para sífilis e AIDS e, em razão disso,
não se tem estatísticas precisas do número de
jovens que contraíram as DSTs no município de
Águas lindas de Goiás-GO. Sabe-se, no entanto,
que a AIDS, por exemplo, já migrou dos grupos
de risco para os jovens heterossexuais
(TAQUETTE; VILHENA; PAULA, 2004).
Os fatores que levam os jovens a
adquirirem DSTs/AIDS são de natureza biológica,
psíquica e social. Nas meninas, o epitélio
cilíndrico do colo do útero está mais exposto,
facilitando a contaminação pela atividade sexual,
que muitas vezes é antecipada pela baixa idade
da menarca. O jovem busca a construção de sua
identidade social e sexual e, para isso, varia
bastante de parceiros e sentem se invulneráveis
diante dos riscos que essa troca representa,
deixando-se influenciar por comportamentos
grupais. A baixa escolaridade e o baixo nível
socioeconômico também contribuem para a
disseminação dessas doenças, devido à falta de
conhecimentos sobre as doenças e sua
prevenção. A predominância dos papeis
masculinos e femininos, bem como o uso de
drogas também contribui para a contaminação
dos jovens pelas DSTs/AIDS (TAQUETTE;
VILHENA; PAULA, 2004).
Diante dessas informações, o Gráfico 2
apresenta a situação civil dos alunos, a situação
sexual e o uso ou não de camisinha durante as
relações sexuais.
Gráfico 2: Situação civil, sexual e preventiva dos alunos
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
49,60%
33,20%
53,50%
46,50%
53,30%
36%
7,90%
9,30%
10,70%
Fonte: Pesquisa Acadêmica, 2014.
Dos alunos solteiros (49,6%), a maioria não
teve relações sexuais (46,5%). Estes, portanto,
não constituem um grupo de risco para o
HIV/AIDS. A não ser que consumam drogas
injetáveis, tenham feito transfusão de sangue
contaminado ou exerçam profissões de risco,
como a Enfermagem. Os demais alunos (53,5%)
constituem grupos de risco, diretos ou indiretos,
em relação às DSTs/AIDS.
O grupo de alunos que estão casados ou
vivendo juntos com os seus parceiros correm
risco de contrair HIV/AIDS na medida em que
6
seus conhecimentos sobre métodos preventivos
forem insuficientes e a crença de que o
casamento heterossexual os deixa imunes às tais
doenças e, em consequência disso, não usem a
camisinha. A confiança na fidelidade do cônjuge
representa outra forma de risco. É relativamente
frequente que em relações extraconjugais o
preservativo não seja utilizado, o mesmo
ocorrendo nas relações sexuais no casamento.
São muitas as mulheres infectadas por seus
maridos supostamente monogâmicos. É a
vulnerabilidade cultural, que pode se tornar ainda
maior se a escolaridade e a situação econômica
forem baixas (MAIA; GUILHEM; FREITAS, 2008).
Situação semelhante vive os alunos que
estão namorando sério e mantêm relações
sexuais com os seus parceiros, pois pode ocorrer
uma traição, sem o uso de preservativo. Como o
HIV/AIDS pode ser contraído tanto por intercurso
sexual quanto por transfusão de sangue
contaminado ou uso de drogas injetáveis com o
compartilhamento entre usuário infectado, não é
preciso que haja traição para que algum dos dois
se contamine. Quem está namorando sério deve
ficar atento se o parceiro apresenta feridas na
boca ou nos genitais e não se relacionar sem o
preservativo. Se o homem for soropositivo, já
existem métodos de fertilização in vitro que
permitem uma “purificação” do sêmen, gerando a
possibilidade de terem filhos sem o vírus HIV.
(GARCIA, 2007).
É relativamente pequeno o número de
alunos que estão “só ficando”, mas representa um
grupo de risco. “Ficar”, na linguagem do jovem
significa:
ocasionalmente. É como se a cada relação
sexual, com parceiro fixo ou não, esses dois
grupos jogassem uma “roleta russa”, onde
apostam suas vidas. O não uso do preservativo,
principalmente
o
masculino,
decorre
de
comportamentos culturais, como não gostar e
confiar no parceiro e de um fator temporal, que é
a imprevisibilidade das relações de quem “só está
ficando”.Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL,
2013), há uma tendência de aumento no número
de caso de HIV entre os jovens de 15 a 24 anos,
e estas condutas contribuem para esse aumento
(MARTINS et al., 2006).
O número de alunos que ainda não têm
experiência sexual é relativamente alto (46,5%),
inclusive entre os jovens de 17 a 19 anos. Esse
fato demonstra que a educação influencia o
comportamento sexual. Quanto mais informação
o jovem tem, mais tarde se inicia no sexo. O
trabalho dos governos, inserindo a educação
sexual no currículo escolar, muito tem contribuído
para evitar as DSTs. No Brasil, desde os anos
1990, as campanhas de prevenção do HIV/AIDS
visam principalmente educar os jovens para o uso
do preservativo. No entanto, os jovens sem
escolaridade, de mais baixa renda ou que vivem
em contextos de vulnerabilidade ainda estão
sujeitos a contrair o vírus e desenvolver a doença.
(PAIVA et al., 2008).
O próximo tema do questionário envolve:
as crenças que os alunos possuem sobre a
sexualidade, os possíveis comportamentos de
risco que assumem; e os conhecimentos que têm
sobre
o
HIV/AIDS.
Esses
dados
são
apresentados no Gráfico 3:
[...] um aprendizado no que se refere à aproximação
do outro. No "ficar" o jovem se experimenta e se
conhece na relação com o sexo oposto. O "ficar" é
então um ensaio para o próximo passo: o namoro.
Existe o "ficar" sem relações sexuais, e o "ficar" com
relações sexuais (MARTINS, 2012, p. 2).
Gráfico 3: Crenças, comportamentos e conhecimentos
sobre DST, HIV/AIDS e as formas de prevenções
A busca pela identidade leva o adolescente
ao
desenvolvimento
de
relacionamentos
amorosos, mas por falta de maturidade, expõe-se
a maiores riscos. A sexualidade pode não ter sido
ainda incorporada totalmente como parte da
individualidade e o adolescente não tem noção de
sua vulnerabilidade, pois pode ser que ainda lhe
falte capacidade cognitiva para lidar com eventos
hipotéticos futuros. Para ser aceito por seus pares
pode se envolver em comportamentos de risco,
no sexo ou no uso de drogas. No Brasil, cerca de
quatro milhões de jovens tornam-se sexualmente
ativos a cada ano, a maioria em relacionamentos
de “ficar”, onde as relações sexuais, visto que
ocasionais, podem ocorrer sem nenhuma
proteção (BRASIL, 2006).
Observa-se ainda que 53,5% (150) dos
alunos já tiveram relações sexuais. Desses,
53,3% usam camisinha regularmente, como
forma de prevenção de DSTs e gravidez, mas
10,7% nunca usam e 36% usam apenas
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
40,71%
35,30%
29,28%
9,28% 12,14%
Fonte: Pesquisa Acadêmica, 2014.
As principais convicções manifestadas
pelos
alunos
referem-se
à
dicotomia
homem/mulher típica de uma sociedade que
ainda é machista: aonde a mulher deve chegar
virgem ao casamento, mas o homem deve ter
experiência sexual, pois precisa de sexo mais do
que a mulher e entende mais do assunto do que
7
ela. Pesquisa conduzida com estudantes de
Medicina revelou que as crendices permanecem
na vida adulta, principalmente entre os homens
(LIMA; CERQUEIRA, 2008).
Entre os alunos pesquisados neste estudo,
esse dado se confirmou entres os homens do
turno vespertino, que estão na faixa etária de 14 a
16 anos. Já no turno noturno a diferença
estatística entre homens e mulheres, que
manifestaram crenças, não foi significativa. Os
estereótipos sexuais que estabelecem padrões a
serem seguidos por cada gênero começam no
meio familiar e religioso. São construções sociais,
culturais
e
históricas,
transmitidas
e
compartilhadas pelas pessoas e reforçadas pela
educação machista e patriarcal, que ainda é
observada na sociedade brasileira, apesar de
todos os avanços e da educação escolar, que
procura desconstruir os mitos relacionados à
masculinidade e feminilidade (REIS; MAIA, 2008).
Os comportamentos de risco que 9,28%
dos alunos pesquisados assumiriam estão
relacionados à promiscuidade, ou seja, sexo com
conhecidos e amigos e ainda com estranhos que
acabaram de conhecer, além da possibilidade de
diversos parceiros antes do casamento. Nesse
caso, as diferenças estatísticas entre homens e
mulheres e nas duas principais faixas etárias
consideradas não foi significativa.
Estudos conduzidos com adolescentes
mostram que o uso de bebidas alcoólicas, drogas
ilícitas e lícitas geralmente contribuem para
aumentar as chances de que essas atitudes
ocorram, principalmente em relação ao número
de parceiros sexuais e a não adesão ao uso da
camisinha, com predominância entre os homens.
A adolescência é uma fase exploratória e o jovem
muitas vezes busca sensações novas e assume
perigos que em outra fase da vida não se exporia:
como se relacionar sexualmente com um
estranho que acabou de conhecer, sem nenhuma
proteção. A escolarização contribui para evitar
esses comportamentos de risco (CRUZEIRO et
al., 2010).
Sobre o conhecimento das DSTs foi
considerada a resposta que demonstrasse saber
todas que faziam parte da lista. Todos os alunos
pesquisados marcaram a AIDS, mas foram
poucos os que marcaram a Hepatite B, além de
confundirem doenças como caxumba com DST e
tomarem um sintoma e sinal, como o corrimento e
mau cheiro, também como DST. As doenças
como sífilis e gonorreia são bastante conhecidas
pelos alunos.
Os diagnósticos de DSTs, principalmente a
AIDS, têm aumentado nos últimos anos
especialmente entre os mais jovens na faixa de
13 a 16 anos, principalmente em decorrência das
primeiras experiências sexuais, que ocorrem
precocemente e de forma despreparada e
desinformada. As pesquisas sugerem que, apesar
de toda a informação veiculada pela mídia, os
jovens que iniciam sua vida sexual não possuem
informações básicas a respeito de quais são as
DSTs e como se prevenir para não serem
contaminados. Diante da desinformação se
expõem desnecessariamente a comportamentos
de risco como a promiscuidade e não usar o
preservativo (OLIVEIRA et al., 2009).
O percentual de alunos que têm
conhecimentos sobre prevenção das DSTs e
transmissão do HIV pode ser considerado baixo,
de acordo com o observado no Gráfico 3 (35,30%
e 29,28%, respectivamente). Um grande erro dos
alunos é considerar que durante o período
menstrual não pode ocorrer a contaminação e
não é preciso usar o preservativo. Também
manifestam diversos erros em relação à
transmissão do HIV, como a doação de sangue, o
convívio social, frequência em piscinas e
banheiros, aperto de mão e beijo na boca.
As pesquisas demonstram que na
atualidade a transmissão heterossexual do HIV se
tornou a mais frequente, principalmente entre os
jovens e mulheres casadas. Somente o contato
direto com sangue, sêmen, secreções vaginais e
leite materno têm sido implicados como fontes de
infecção. As outras possibilidades, como saliva,
lágrimas e urina, apesar de terem traços do vírus
não são consideradas fontes de transmissão,
bem como as fontes ambientais (picadas de
mosquitos) ou inanimadas (banheiros e piscinas).
Os indivíduos infectados pelo HIV não precisam
se distanciar do convívio social ou deixarem de
frequentar os lugares onde sempre foram. O que
precisam fazer é tomar cuidado com infecções
oportunistas, devido à baixa imunidade, para não
desenvolverem outras doenças, que poderiam ser
fatais. Por isso, é essencial que se submetam à
terapia antirretroviral (BRASIL, 2013).
Quanto à feminizacão do HIV/AIDS, é
preciso considerar que na sociedade brasileira as
mulheres casadas,
que vivem maritalmente
ou praticam sexo regularmente com seus
parceiros, têm pouco poder de decisão sobre
métodos preventivos, seja a camisinha ou o
anticoncepcional. Diante disso, é muito alto o
número de mulheres contaminadas em idade
reprodutiva, a partir da adolescência. Essas
mulheres têm grandes possibilidades de
transmitirem o vírus para seus filhos, de forma
vertical, seja na gravidez, no parto ou pela via da
amamentação, caso não haja prevenção. Por
isso, o conhecimento sobre as formas de
transmissão do HIV e prevenção das DSTs é
fundamental para as adolescentes, no início de
sua vida sexual (GALVÃO; CERQUEIRA;
MARCONDES-MACHADO, 2004).
Foi questionado aos adolescentes sobre os
meios pelos quais adquiriram os conhecimentos
sobre HIV/AIDS. Foram analisados os agentes
educadores considerados obrigatórios, como o
sistema de saúde, a escola e a família. Os
resultados estão no Gráfico 4:
8
Gráfico 4: Fontes de conhecimentos dos adolescentes
sobre HIV/AIDS
75,30%
80,00%
60,00%
40,00%
7,50%
28,90%
41,42%
20,00%
0,00%
Fonte: Pesquisa Acadêmica, 2014.
Os jovens que admitiram não terem tido
orientação sobre HIV/AIDS possivelmente não a
obtiveram pelas fontes formais, mas no restante
do questionário demonstraram que possuem
conhecimentos básicos. É importante considerar
que a escola está cumprindo o seu papel de
formadora de comportamentos, pelo alto índice
de alunos que nela obtiveram orientação, durante
as aulas. Preocupa que um percentual
relativamente baixo de alunos tenha tido acesso a
essas informações pelo sistema de saúde. O
material do Ministério da Saúde sobre o assunto é
muito rico e específico para os jovens. Como não
foram obtidas informações sobre esse tema com
a Secretaria Municipal de Saúde de Águas Lindas
de Goiás-GO, é preciso investigar como as
políticas públicas direcionadas à orientação dos
jovens sobre sexualidade são implementadas no
município.
O Brasil é considerado um dos países
mais modernos nas políticas de enfrentamento do
HIV/AIDS. A primeira organização instituída foi o
Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS (Gapa), em
1985, uma Organização Não Governamental
(ONG). A primeira política pública foi o Programa
Estadual de DST/AIDS de São Paulo, sendo que
o programa nacional foi criado em 1985 e em
1986 foi instituída a notificação obrigatória. Entre
1993 e 2002, o programa nacional funcionou em
forma de convênios com estados e municípios e
depois desse período os entes públicos passaram
a receber verbas específicas para a prevenção,
assistência e promoção dos direitos humanos dos
portadores do HIV/AIDS. O principal financiador
do programa é o Banco Mundial. São
disponibilizadas
informações,
drogas
antirretrovirais e assistência ambulatorial e
hospitalar às pessoas com HIV/AIDS, de forma
ampla e inclusiva, com redução significativa da
mortalidade e morbidade, bem como dos custos
hospitalares, em função das doenças oportunistas
(SOUSA et al., 2012).
Águas Lindas de Goiás-GO é uma cidade
com apenas 19 anos de emancipação política e
nem todos os serviços públicos funcionam a
contento, mas não se justifica que um programa
de tal relevância aparentemente não esteja sendo
desenvolvido de forma adequada. O mesmo se
pode dizer em relação à orientação familiar. A
família deve ser o primeiro agente orientador de
crianças e jovens em relação à sexualidade, mas
devido ao modelo cultural brasileiro isso
geralmente não acontece. Os pais têm vergonha
de tratar desse assunto com os filhos e no
máximo orientam as meninas sobre contracepção
na adolescência. Os meninos aprendem com os
amigos ou na internet, instâncias onde as
informações nem sempre são corretas e podem
também ser preconceituosas.
Por isso, é importante envolver as
famílias nas políticas públicas de prevenção do
HIV/AIDS, por meio de metodologias que facilitem
o diálogo entre pais e filhos, para que os temas
sejam discutidos e encaminhados com liberdade.
A baixa escolaridade familiar pode dificultar essa
estratégia, mas sem dúvida a discussão ampla
junto aos serviços de saúde ajuda no
protagonismo da família na orientação sexual dos
jovens, melhora as relações e promove a
participação de todos nas decisões. Essa
pesquisa é fundamental para que possa haver
mudança
de
comportamento
entre
os
adolescentes,
como
aqueles
que
foram
mencionados (promiscuidade e relacionar-se com
estranhos), incentivando-os a se tornarem
sujeitos de sua própria sexualidade (LUNA et al.,
2012).
A escola, como espaço de formação,
pelos números observados, tem cumprido o seu
papel. Mesmo que se considere que os
conhecimentos dos alunos são insuficientes é
preciso lembrar que a maior parte deles foi
adquirida na escola. Um estudo realizado no
interior de São Paulo mostrou a relevância da
presença do enfermeiro na escola, para auxiliar
os professores no tratamento dos temas
relacionados à sexualidade. O estudo também
destacou que a mídia apenas informa
quantitativamente, mas não traz discussões sobre
as dinâmicas dos relacionamentos e as práticas
de sexo seguro. Assim, os jovens se dirigem aos
amigos ou buscam informações na internet, o que
não é considerado suficiente para a sua
formação. De qualquer forma, é preciso valorizar
o trabalho da escola e inserir o enfermeiro nesse
contexto (LIMA; PAGAN, 2010).
Os adolescentes foram questionados
quanto a serem portadores do vírus HIV, se tem
parentes e amigos com o vírus, e se pertencem a
grupos de risco. As respostas são apresentadas
no Gráfico 5:
9
Gráfico 5: Riscos e vulnerabilidades para o HIV/AIDS
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
6,42%
5,71% 6,07%
4,64%
6,07%
0,71%
Fonte: Pesquisa Acadêmica, 2014.
Os dois alunos que declararam serem
soropositivos marcaram que possuem o vírus
HIV, mas não desenvolveram sintomas da AIDS.
São mulheres, o que confirma a vulnerabilidade
atual desse sexo ao HIV. As duas estão
namorando sério, uma tem entre 14 e 16 anos e a
outra tem entre 17 e 19 anos. A mais nova admite
que usa a camisinha apenas algumas vezes, mas
a outra afirma usar sempre, mas também afirma
pertencer a um grupo de risco, o que a coloca,
com grande possibilidade, entre usuários de
drogas injetáveis. A mais nova pode ter sido
contaminada por um parceiro, visto que admite ter
feito
sexo
com
pessoa
possivelmente
contaminada. Seus conhecimentos sobre DSTs e
mecanismos de contaminação pelo HIV são
baixos. A mais nova teve apenas orientação
familiar e a mais velha teve informações por meio
da escola e da internet.
Essas jovens precisam aderir à TARV,
mas os estudos que destacam as estratégias
para que tenham esse comportamento ainda são
escassos. A adesão implica em negociação entre
a equipe de saúde e o paciente, quanto a tomar
remédios, fazer exercícios, seguir uma dieta e
não apenas seguir as ordens do primeiro.
Geralmente o adolescente, com sua autoestima
comprometida, nega a enfermidade, sendo que a
desinformação e a falta de apoio social
completam as dificuldades para o tratamento.
Essas dificuldades envolvem os horários para
tomar a medicação, efeitos colaterais e
resistência à ingestão da medicação. Na
adolescência, as dificuldades são permeadas
pelo questionamento e pela rebeldia (GUERRA;
SEIDL, 2010).
Foi observada uma contradição nas
respostas dos adolescentes quanto a pertencer
ou não a um grupo de risco, visto que 53,5% dos
alunos já tiveram relações sexuais e, destes,
46,7% não usam a camisinha ou fazem uso dela
ocasionalmente. Portanto, esse percentual
pertence a um grupo de risco. No entanto,
somente 6,07% se vê pertencendo a um desses
grupos. Essa é uma problemática importante para
a adolescência, quanto ao risco de contaminação
pelo HIV e desenvolvimento da AIDS. Os jovens
não acreditam que possa acontecer com eles e,
por isso, não se previnem adequadamente.
Essa negação torna as mulheres,
principalmente, ainda mais vulneráveis ao HIV.
Elas acreditam no relacionamento monogâmico,
no uso de drogas injetáveis apenas para
recreação ou que as relações sexuais durante o
período da menstruação eliminam a possibilidade
de infecção. Mas não se podem estigmatizar as
mulheres, pois os homens também assumem
comportamentos de risco, principalmente o de
fazer sexo no primeiro encontro ou ter várias
parceiras sexuais ao mesmo tempo. O que é
necessário é que ambos usem preservativo, não
usem drogas e não assumam comportamentos
que podem colocá-los diante do risco de infecção.
E, para isso, ambos precisam de informação, que
deve cada vez mais ser fornecida pelo sistema de
saúde, formando um elo consistente com escola e
família (D’OLIVEIRA; COUTO; CARDOSO, 2007).
Considerações Finais
A população jovem, na faixa etária de 14
a 24 anos, tem sido cada vez mais vítima da
infecção pelo HIV, vírus que provoca a Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Nessa
população, as mulheres são ainda mais
vulneráveis, uma vez que confiam em uma
suposta fidelidade do parceiro - seja marido ou
namorado - e convivem sem restrições com
parceiros usuários de drogas injetáveis. Sendo
muitas vezes elas mesmas também que fazem
uso, inclusive das drogas lícitas, como o álcool.
Assim, a prevalência da AIDS saiu do grupo de
risco inicial: os homossexuais do sexo masculino,
para atingir a população de forma indiscriminada.
Passado o momento inicial de pânico, a década
de 1980, as pessoas se desinteressaram pela
informação sobre a doença e reduziram os
métodos preventivos.
Estratégias essas que, dentre as quais o
preservativo masculino é o principal, fazem parte
de políticas públicas de saúde, sendo a brasileira
considerada uma das mais avançadas do mundo.
O problema é que a partir do século XXI o
Governo Federal deixou de fazer convênios com
os Estados e Municípios e passou a repassarlhes as verbas, para que desenvolvam seus
próprios programas preventivos. Muitos investem
adequadamente tais recursos, esclarecendo e
tratando da população infectada pelo HIV, mas
em outros, os programas, se existirem, não
contam com uma estrutura que funcione
corretamente.
Diante dessa realidade, o estudo
realizado se propôs saber “O que o sistema de
saúde tem feito para informar os adolescentes
10
sobre o HIV/AIDS, em Águas Lindas de GoiásGO?” Para responder a esse problema foram
abordados 280 alunos, entre 14 e 21 anos de
idade, de uma escola pública localizada no
município citado, todos cursando o Ensino Médio.
A
pesquisa
revelou
algumas
situações
preocupantes, como a falta de informação desses
jovens sobre as DSTs, de maneira geral:sobre os
comportamentos considerados de risco para a
infecção pelo HIV e formas de contágio.
Apesar dessa desinformação a pesquisa
verificou que a escola está cumprindo o seu papel
como educadora em saúde, pois das instruções
que os alunos possuem a maior parte foi
adquirida na escola, ou em conversas familiares.
Outras formas de obtenção dos meios de
prevenção são as conversas com amigos e a
internet. O sistema de saúde foi um dos que
menos forneceram aos alunos informações sobre
o HIV/AIDS. Dessa forma, a resposta ao
problema de pesquisa é que em Águas Lindas de
Goiás-GO sua estrutura de saúde pouco tem
contribuído para informar os jovens e evitar o
contágio pelo HIV.
A pesquisa perguntou aos jovens se eles
tiveram acesso ao Posto de Saúde ou aos
Agentes Comunitários de Saúde e menos de 30%
responderam afirmativamente. O fato é que a
população só procura o posto de atendimento
local em último caso. Preferem buscar tratamento
no Distrito Federal, pois em sua comunidade
faltam médicos além de existir apenas um
hospital, pequeno e mal aparelhado, sem os
serviços mais avançados que a população
precisa. A escola, que está fazendo a sua parte,
não tem como contar com os profissionais de
saúde da área, para ajudá-la na tarefa de
informar os jovens sobre os perigos das DSTs,
principalmente a AIDS.
A pesquisa revelou duas alunas
infectadas pelo HIV, ainda sem apresentar os
sintomas da AIDS, e 13 jovens que podem estar
infectados, pois assumiram que fizeram sexo com
pessoas
contaminadas
ou
apresentam
comportamentos de risco como: a promiscuidade
e não usar o preservativo em suas relações
sexuais. Diante desses dados, ela sugere que
sejam feitos novos estudos com a população
jovem do município e ainda com o sistema
municipal de saúde, para verificar como tem
estruturado o atendimento à população, em
termos de prevenção das DSTs, principalmente o
contágio pelo HIV e o possível desenvolvimento
da AIDS.
Conclui-se que para evitar o agravamento
dessa situação, é fundamental que o sistema de
saúde
capacite
seus
profissionais
para
desenvolverem um trabalho preventivo, em
conjunto com as famílias, educando os jovens,
para que evitem os comportamentos de risco,
sem deixar de passar pelas experiências da
juventude,
e
se
protejam
das
DSTs,
principalmente da AIDS, que ainda não tem cura.
A família, a escola e o sistema de saúde formam
um triângulo com toda capacidade de informar os
jovens sobre como evitar essas doenças e terem
uma vida sexual saudável. Além do papel de
orientar os já contaminados a não transmitirem o
vírus aos filhos, questão que vem gerando muitas
preocupações. Dessa forma, o sistema de saúde
municipal precisa cumprir a sua função e
estabelecer relações de apoio tanto às famílias e
à escola, quanto os adolescentes, contaminados
ou não.
11
Referências
1. ADÃO, VM; CARACIOLO, J.M.M. Fatores que influenciam a adesão aos antirretrovirais. In:
CARACIOLO, JMM; SHIMMA, E (Coord.). Adesão – da teoria à prática: experiências bem
sucedidas no estado de São Paulo. São Paulo: CRT DST/AIDS, 2007.
2. BARATA, G.F. A primeira década da AIDS no Brasil: o Fantástico apresenta a doença ao
público (1983-1992). Dissertação (História Social). São Paulo: USP, 2006.
3. BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990). 3. ed. Brasília: CONANDA, 2004.
4. ______. Ministério da Saúde. Manual de rotinas para assistência de adolescentes
vivendo com HIV/AIDS. Brasília: MS/SVS, 2006.
5. ______. Ministério da Saúde. HIV: Estratégias para utilização de testes rápidos no Brasil.
Brasília: MS/SVS, 2010.
6. ______. Ministério da Saúde. Recomendações para profilaxia da transmissão vertical do
HIV e terapia antirretroviral em gestantes: manual de bolso. Brasília: MS/SVS, 2010.
7. ______. Fundo das Nações Unidas para a Infância. O direito de ser adolescente:
oportunidade para reduzir vulnerabilidades e superar desigualdades. Brasília: UNICEF, 2011.
8. ______. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96 versão 2012. Brasília, 23 out.
2012. Disponível em:
<http://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/aquivos/resolucoes/23_out_versao_fina
l_196_ENCEP2012.pdf>. Acesso em 23 jun. 2014.
9. ______. Ministério da Saúde. Recomendações para a atenção integral a adolescentes e
jovens vivendo com HIV/AIDS. Brasília: MS/SVS, 2013.
10. ______. Ministério da Saúde. Aids: etiologia, clínica, diagnóstico e tratamento. Brasília:
MS/SVS, 2013.
11. COSTA, A.R.; BERNAL, H.; HALLAL, R. (Orgs.) Protocolo
terapêuticaspara adultos vivendo com HIV/AIDS. Brasília: MS, 2013.
clínico
e
diretrizes
12. CRUZEIRO, A.L.S. et al. Comportamento sexual de risco: fatores associados ao número de
parceiros sexuais e ao uso de preservativo em adolescentes. Ciênc. saúde coletiva, 2010;
15(suppl.1): 1149-1158. Disponível em:
<http://www.scielosp.org/pdf/csc/v15s1/023.pdf>. Acesso em: 16 out. 2014.
13. D'OLIVEIRA, A.F.; COUTO, M.T.; CARDOSO, M.A. Mulheres vivendo com HIV/Aids parceiras
de usuários de drogas injetáveis. Rev. Saúde Pública, 2007; 41(suppl. 2): 31-38. Disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v41s2/5942.pdf>. Acesso em: 21 out. 2014.
14. EISENSTEIN, E. Adolescência: definições, conceito e critérios. Adolesc. Saúde, 2005; 2(2):
6-7. Disponível em: <http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=167>.
Acesso em:3 mar. 2014.
15. FERREIRA, F.A.R. et al. Sexualidade, adolescente e vulnerabilidade ao HIV. Anais XV
Encontro Nacional da ABRAPSO, Maceió, 30 out./2 nov. 2009. Disponível em:
<http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/213.%20sexualidade
%20adolescente%20e%20vulnerabilidade%20ao%20hiv.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2014.
16. GALVAO, M.T.G.; CERQUEIRA, A.T.A.R.; MARCONDES-MACHADO, J. Medidas
contraceptivas e de proteção da transmissão do HIV por mulheres com HIV/Aids. Rev. Saúde
12
Pública, 2004; 38(2): 194-200. Disponível em:
<http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v38n2/19778.pdf>. Acesso em: 18 out. 2014.
17. GARCIA, M. Meu namorado tem AIDS. O que faço? Papo de Homem, Dr. Health, 14 nov.
2007. Disponível em: <http://papodehomem.com.br/meu-namorado-tem-aids/>. Acesso em:
12 out. 2014.
18. GOMES, A.M.T.; SILVA, E.M.P.; OLIVEIRA, D.C. Representações sociais da AIDS para
pessoas que vivem com HIV e suas interfaces cotidianas. Rev. Lat. Amer. Enf., 2011;
19(3):485-492. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n3/pt_06>. Acesso em: 26
abr. 2014.
19. GUERRA, C.P.P.; SEIDL, E.M.F. Adesão em HIV/AIDS: estudo com adolescentes e seus
cuidadores primários. Psicol. estud., 2010; 15(4): 781-789. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722010000400014>.
Acesso em: 20 out. 2014.
20. GUIMARÃES, P.G. Adolescentes vivendo com HIV/AIDS: impasses no tratamento. Tese
(Ciências da Saúde). Belo Horizonte: UFMG, 2013.
21. LIMA, M.C.P.; CERQUEIRA, A.T.A.R. Crenças sobre sexualidade entre estudantes de
Medicina: uma comparação entre gêneros. Rev. bras. educ. med., 2008; 32(1): 49-55.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbem/v32n1/07.pdf>. Acesso em: 16 out. 2014.
22. LIMA, E.B; PAGAN, A.A. Sexualidade, saúde e educação: um panorama do contexto escolar.
GEPIADDE,
2010;
4(8):
89-109.
Disponível
em:
<http://200.17.141.110/periodicos/revista_forum_identidades/revistas/ARQ_FORUM_IND_8/F
ORUM_V8_06.pdf>. Acesso em: 20 out. 2014.
23. LUNA, I.T. et al. Ações educativas desenvolvidas por enfermeiros brasileiros com
adolescentes vulneráveis às DST/AIDS. Ciência y Enfermería, 2012; XVIII(1): 43-55.
Disponível em: <http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v18n1/art_05.pdf>. Acesso em: 18 out. 2014.
24. MACHADO, D.M.; SUCCI, R.C.; TURATO, E.R. Experiência de implantação de um programa
de transição de adolescentes vivendo com HIV/AIDS para a clinica de adultos. Rev. Brasil.
Cresc. eDesenvolv. Humano, 2010; 86(6): 465-472. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0021-75572010000600004&script=sci_arttext>.
Acesso em: 10 mar. 2014.
25. MAFRA-TOLEDO, M. et al. Elementos de vulnerabilidade individual de adolescentes ao
HIV/AIDS. Rev. bras. enferm., 2011; 64( 2 ): 370-375. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672011000200024&lng=pt&n
rm=iso&tlng=pt>. Acesso em:6 mar. 2014.
26. MAIA, C.; GUILHEM, D.; FREITAS, D. Vulnerabilidade ao HIV/Aids de pessoas
heterossexuais casadas ou em união estável. Rev Saúde Pública, 2008; 42(2): 242-248.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v42n2/6357.pdf>. Acesso em: 12 out. 2014.
27. MARTINS, R. O ficar ou namorar na adolescência. Rosângela Psicóloga, 2012. Disponível
em: <http://www.rosangelapsicologa.com/site_pagina.php?pg=textos&texto=35>. Acesso em:
12 out. 2014.
28. MARTINS, L.B.M. et al. Fatores associados ao uso de preservativo masculino e ao
conhecimento sobre DST/AIDS em adolescentes de escolas públicas e privadas do Município
de São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, 2006; 22(2):315-323. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v22n2/09.pdf>. Acesso em: 12 out. 2014.
29. MOTTA, M.G.C. et al. O silêncio no cotidiano do adolescente com HIV/AIDS. Rev. bras.
enferm., 2013; 66(3): 345-350. Disponível em:
13
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003471672013000300007&script=sci_arttext>. Acesso
em:7 mar. 2014.
30. OLIVEIRA, D.C. et al. Conhecimentos e práticas de adolescentes acerca das DST/HIV/AIDS
em duas escolas públicas municipais do Rio de Janeiro. Rev. Enferm. Esc. Anna Nery,
2009; 13(4): 833-841. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n4/v13n4a20.pdf>.
Acesso em: 17 out. 2014.
31. PAIVA, V. et al. Idade e uso de preservativo na iniciação sexual de adolescentes brasileiros.
Rev
Saúde
Pública,
2008;
42(Supl1):
45-53.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v42s1/07.pdf>. Acesso em: 12 out. 2014.
32. PINTO, A.C.S. et al. Compreensão da pandemia de AIDS nos últimos 25 anos. DST – J.
Bras. Doenças Sex. Transm.,
2007; 19(1): 45-50.
Disponível em:
<http://www.dst.uff.br//revista19-1-2007/7.pdf >. Acesso em: 25 mar. 2014.
33. RABUSKE, M.M. Comunicação dos diagnósticos de soropositividade para o HIV e de
AIDS para adolescentes e adultos: implicações psicológicas e repercussões nas relações
pessoais e familiares. Tese (Psicologia). Florianópolis: UFSC, 2009.
34. REIS, K.C.F.; MAIA, A.C.B. Estereótipos sexuais e educação sexista no discurso de
mães. São Paulo: Ed. UNESP, 2008.
35. RIBEIRO, A.C. Ser-adolescente que tem HIV/AIDS em seu cotidiano terapêutico:
perspectivas para o cuidado de enfermagem. Dissertação (Cuidado e Educação em
Enfermagem e Saúde). Santa Maria: UFSM, 2011.
36. RODRIGUES, T. HIV/AIDS: relato sobre a epidemia, terapias antiretrovirais disponíveis
e fatores relacionados à aquisição de resistência. Monografias Brasil Escola, 2009.
Disponível em: <http://monografias.brasilescola.com/saude/hiv-aids-relato-sobre-epidemiaterapias-antiretrovirais-.htm>. Acesso em: 25 mar. 2014.
37. RODRIGUES, J.B. et al. Avaliação e educação nutricional em crianças com HIV/AIDS em
uma casa de apoio. Rev. Saúde, v. 35, n. 2, p. 7-11, Santa Maria, 2009. Disponível em:
<http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs2.2.2/index.php/revistasaude/article/view/4145/3231>.
Acesso em: 23 jun. 2014.
38. SOUSA, A.M. et al. A política de AIDS no Brasil: uma revisão de literatura. J. Manag. Prim.
Health Care, 2012; 3(1):62-66. Disponível em:
<http://www.jmphc.com/ojs/index.php/01/article/download/38/34>. Acesso em: 19 out. 2014.
39. SPINARDI, J.R. et al. Adolescer com HIV: saber, conhecer, conviver. Adolesc. Saúde, 2008;
5(2): 7-14. Disponível em: <http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=54#>.
Acesso em:4 mar. 2014.
40. SUCUPIRA, L.C.A.; JANINI, L.M.R. Subtipos do HIV. Tendências em HIV/AIDS, v. 1, n. 2, p.
7-14, 2006. Disponível em:
<http://www.centrodegenomas.com.br/Arquivos/1/tendencias2.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2014.
41. SUET, M.M. Estudo da adesão à terapêutica antirretroviral em adolescentes infectados
pelo vírus da imunodeficiência (HIV) em um hospital de grande porte na Cidade do Rio
de Janeiro. Dissertação (Saúde Pública). Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2010.
42. TAQUETTE, S.R.; VILHENA, M.M.; PAULA, M.C. Doenças sexualmente transmissíveis na
adolescência: estudo de fatores de risco. Rev. Socied. Brasil. Medic. Tropical, 2004; 37(3):
210-214. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v37n3/20296.pdf>. Acesso em: 12
out. 2014.
14
43. ZAMIN, C. Educação sexual nas escolas – a necessidade de uma política pública:
Estudo de Caso no Município de Araricá. Especialização (Gestão em Saúde). Porto Alegre:
UFRGS, 2012.
15
APÊNDICE A
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A DIREÇÃO DA ESCOLA
Ao Ilmo. Sr. Diretor do Colégio Estadual Maria do Carmo Lima
Águas Lindas de Goiás, ___ de ______________ de 2014.
Prezado Senhor,
Nós, Elizeth Guedes Palma e José de Arimatéia de Souza Dutra, acadêmicos do Curso de
Bacharelado em Enfermagem, das Faculdades ICESP/PROMOVE, vimos solicitar de V. Sa. a
autorização para realizar uma pesquisa com os adolescentes (15 a 17 anos), que cursam o Ensino
Médio, sobre estratégias de enfermagem para a prevenção do HIV/AIDS.
Esclarecemos que o preenchimento dos questionários atenderá à finalidade de elaboração de
um trabalho acadêmico de conclusão de curso, a ser apresentado perante Banca Examinadora da
instituição de ensino superior. Trata-se de pesquisa de natureza quantitativa, cujo objetivo geral é
analisar as formas de contribuição que as equipes de saúde podem oferecer aos adolescentes com
HIV/AIDS, para que haja aceitação e adesão ao tratamento, bem como enfrentamento do preconceito
existente na sociedade.
Os resultados obtidos com o estudo podem auxiliar na orientação de estratégias de
enfermagem aos adolescentes, considerando-se sua vulnerabilidade nos espaços de convivência, em
especial no ambiente escolar. Essas estratégias se voltam para a prevenção da disseminação do
vírus HIV, bem como para o cuidado que os adolescentes precisam ter ao desenvolverem a AIDS,
tendo em vista a melhora na expectativa da qualidade de vida e saúde.
A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades
ICESP/PROMOVE, obedecendo às normas da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde.
Para quaisquer esclarecimentos, V. Sa. pode entrar em contato com os pesquisadores, pelos
telefones (61) 8592-3556 e (61) 8637-8551.
Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos ao seu inteiro dispor para o
que se fizer necessário, inclusive para divulgação dos resultados da pesquisa junto aos alunos, com
as devidas orientações sobre sexualidade e prevenção do HIV/AIDS, no final do ano de 2014, após a
apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para a Banca Examinadora.
Atenciosamente,
____________________________________________________
ELIZETE GUEDES PALMA
Acadêmica de Enfermagem
____________________________________________________
JOSÉ DE ARIMATÉIA DE SOUZA DUTRA
Acadêmico de Enfermagem
AUTORIZAÇÃO EMITIDA EM: _____ de ____________________ de 2014.
ASSINATURA E CARIMBO DO DIRETOR DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR:
__________________________________________________________________
Nome do Diretor
Diretor do Colégio Estadual Maria do Carmo Lima
Águas Lindas de Goiás - GO
16
APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS ADOLESCENTES
Eu, (somente iniciais do nome)________________, de ______ anos de idade, do sexo
____________________, declaro que concordei em participar de uma pesquisa sobre estratégias de
enfermagem para a prevenção do HIV/AIDS, realizada pelos acadêmicos das Faculdades
ICESP/PROMOVE, Elizete Guedes Palma e José de Arimatéia de Souza.
Estou consciente de que no questionário serão abordados assuntos sobre a minha
sexualidade e que meu nome será mantido em sigilo, bem como turma e horário em que estudo no
Colégio Estadual Maria do Carmo Lima, em Águas Lindas de Goiás - GO, razão pela qual concordei
em participar, dispensando autorização de um responsável, a não ser o Diretor da escola.
Responderei às perguntas do questionário em sala de aula e poderei tirar dúvidas com os
responsáveis pela pesquisa, podendo interrompê-la a qualquer momento, desistindo de participar do
estudo. Também posso entrar em contato com os pesquisadores pelos telefones (61) 8592-3556 e
(61) 8637-8551.
Fui informado(a) de que os resultados da pesquisa poderão ser divulgados na escola, no final
do ano de 2014, como forma de receber orientação sobre a prevenção do HIV/AIDS.
Águas Lindas de Goiás, ____ de ___________________ de 2014.
17
APÊNDICE C
QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA DE CAMPO
Prezado(a) aluno(a), contamos com a sua inestimável colaboração para que possamos desenvolver
uma pesquisa sobre o HIV/AIDS na adolescência, que hoje constitui um grave problema de saúde
pública. Para isso, precisamos de suas respostas sinceras para as perguntas a seguir. O sigilo das
respostas está garantido, pois não precisamos que escreva o seu nome.
1 – Você é, e a qual faixa etária você pertence:
( ) Homem
( ) Entre 14 e 16 anos ou ( ) Entre 17 e 19 anos
( ) Mulher
2 - Atualmente você está:
( ) solteiro(a)
( ) casado(a) ou vivendo junto
( ) namorando sério
( ) só “ficando”
3 – Você já teve relações sexuais?
( ) Sim
( ) Não
Se já teve relações sexuais, costuma fazer uso da camisinha? (Se não teve, deixe em branco)
( ) Sim
( ) Não
( ) Algumas vezes
4 – Você já ouviu falar ou já leu sobre o vírus HIV, que provoca a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS), uma doença que ainda não tem cura?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não me lembro
5 – Sobre as suas crenças a respeito da sexualidade, escreva nos parênteses os números abaixo:
1- Sim, se você concorda 2 – Não, se você discorda
3 - Se você não sabe
( ) A mulher deve chegar virgem ao casamento.
( ) O homem deve chegar ao casamento com experiência sexual.
( ) Relação sexual com camisinha diminui o prazer.
( ) Os homens necessitam de relações sexuais mais vezes do que as mulheres.
( ) Os homens entendem mais de sexo que as mulheres.
( ) A mulher pode ter relações sexuais com vários homens antes de casar.
( ) É natural a mulher tomar iniciativa de ter relações sexuais.
( ) Só o homem deve tomar a iniciativa de ter relações sexuais.
( ) É natural ter relações sexuais no namoro.
( ) É natural ter relações sexuais com amigos(as) e conhecidos(as).
( ) É natural ter relações sexuais com estranhos (conheceu naquele momento).
( ) Mesmo que uma pessoa esteja usando métodos para evitar filhos, precisa usar
camisinha quando for transar com alguém, para evitar as doenças sexualmente
transmissíveis.
( ) É possível pegar AIDS ao se praticar sexo oral ou anal, sem ter praticado o sexo
vaginal.
( ) É possível dizer que uma pessoa tem HIV/AIDS simplesmente olhando para ela.
( ) Quando a menina está menstruada, não tem risco de pegar AIDS e nem de
engravidar e, por isso, pode ter relação sexual sem camisinha.
6 – Quais das doenças abaixo são transmitidas por meio da relação sexual?
( ) Sífilis
( ) Catapora
( ) Hepatite B
18
(
(
(
(
(
(
) Dengue
) Corrimento com mau cheiro
) Gonorréia
) Caxumba
) Verruga ou Crista de galo ou HPV
) HIV/AIDS
7 – Sobre seus conhecimentos a respeito de que forma uma pessoa pode pegar
AIDS? (Responda de acordo com a numeração abaixo):
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
1 - Sim
2 - Não
3 - Não sei
) Se não usar camisinha durante as relações sexuais.
) Compartilhamento de seringas e agulhas no momento do uso de drogas.
) Se doar sangue.
) Se receber uma transfusão de sangue.
) Se apertar a mão de uma pessoa que tem HIV/AIDS.
) Se usar o mesmo banheiro de uma pessoa que tem HIV/AIDS.
) Através do leite materno, quando a mãe tem HIV/AIDS.
) Através da picada de inseto (mosquito ou pernilongo).
) Na gravidez, quando a mãe tem HIV/AIDS.
) Se conviver socialmente com uma pessoa que tem HIV/AIDS.
) Se tocar no sangue de uma pessoa que tem HIV/AIDS que teve um acidente.
) Ao fazer tatuagem ou furar a pele com objetos não esterilizados e contaminados
com o HIV, como pode acontecer com os técnicos de enfermagem e
enfermeiros.
) Ao freqüentar uma piscina.
) Ao usar o banheiro onde esteve uma pessoa com HIV/AIDS.
) Ao compartilhar esponjas e sabonetes que tenham sido usados por uma
pessoa com HIV/AIDS.
) Ao beijar na boca de uma pessoa com HIV/AIDS.
8 – Você já teve orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e
sobre a AIDS?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
) Nunca tive.
) Sim, na escola.
) Sim, no Posto de Saúde.
) Sim, em livros.
) Sim, na internet.
) Sim, em revistas.
) Sim, com amigos.
) Sim, com familiares.
) Sim, em jornais.
) Sim, na televisão.
) Na comunidade, por meio de Agentes de Saúde.
9 – Pense e responda (lembre-se: ninguém da escola vai ler sua resposta):
1 - Sim
2 - Não
( ) Sou portador do vírus HIV, mas não desenvolvi a AIDS.
( ) Sou portador do vírus HIV e já tenho sintomas da AIDS.
( ) Tenho amigos que são soropositivos (têm o vírus HIV).
( ) Tenho parentes que são soropositivos (têm o vírus HIV).
( ) Já perdi amigos e/ou parentes devido ao HIV/AIDS.
( ) Já transei com alguém que pode ter me contaminado com o HIV, mas nunca fiz
o exame para ter certeza.
( ) Pertenço a um grupo de risco (usuários de drogas, homossexuais, profissional
do sexo, faço sexo sem camisinha).
19
10 – Você gostaria de conhecer os resultados desta pesquisa e, em função deles,
receber orientações mais detalhadas sobre HIV/AIDS?
(
(
(
(
(
) Sim, considero esse conhecimento muito importante.
) Sim, apesar de já ter conhecimento suficiente.
) Não, o que sei já me basta.
) Não, apesar de considerar que outras pessoas precisam desse conhecimento.
) Não, pois considero que os conhecimentos oferecidos pela escola, família, mídia
e outras fontes são suficientes.
OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO!!!