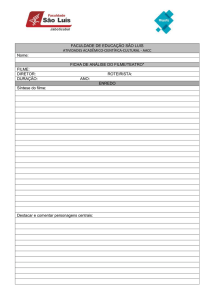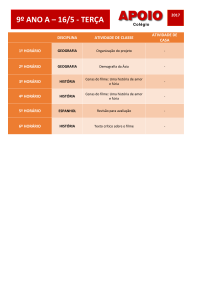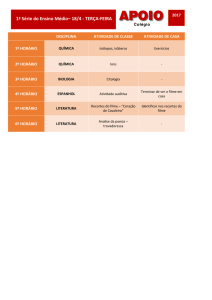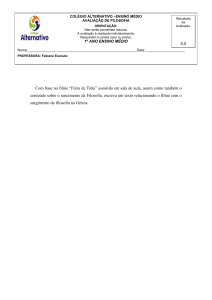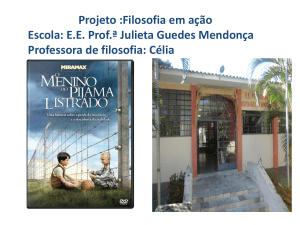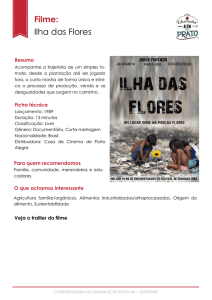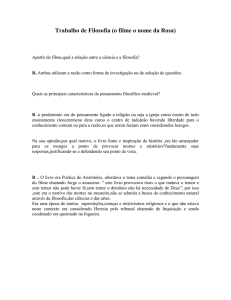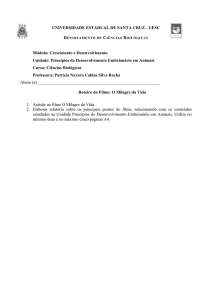1
DESLOCAMENTOS E PERTENCIMENTOS
Henri Arraes Gervaiseau1
A maioria dos documentários que integram a nossa mostra exploram relações
existentes entre os sujeitos, os grupos étnicos, as comunidades nacionais, e os
territórios geográficos, em diversos períodos da história contemporânea, em vários
continentes. Tal escolha envolve a convicção de que a experiência existencial do
espaço exprime uma estrutura essencial do ser humano, enquanto ser situado em
relação com um meio, imerso no espaço de um território, com o qual se defronta,
quando busca direcionar a sua existência.
Para além deste recorte que remete a uma dimensão antropológica, a
situação do homem no mundo, a curadoria da mostra, se preocupou em oferecer ao
público uma seleção representativa da diversidade das abordagens existentes, no
tratamento cinematográfico das questões acima mencionadas, no campo do
documentário. Houve também a preocupação em permitir ao publico ter acesso,
neste quadro, a obras muito recentes, algumas delas ainda inéditas no Brasil, e de
propiciar a oportunidade da (re) descoberta de alguns filmes ainda pouco vistos entre
nós, e que consideramos de grande importância dentro da história do cinema
documentário moderno e contemporâneo. Qualquer seleção de obras para a
organização de uma mostra é sempre limitada, portanto muitos filmes de
realizadores consagrados ou desconhecidos que poderiam virtualmente integrar a
nossa programação ficaram de fora.
A partir do advento do cinema moderno, que surge dos escombros da
Segunda Guerra, se delineiam novos caminhos para a produção que historicamente
foi sendo denominada de documentária, e se configuram novas abordagens, de cunho
mais ensaístico, no que concerne filmes envolvendo deslocamentos espaciais e que
de um modo ou de outro, tematizam a relação dos individuos com os seus territórios
de origem. Nas abordagens cinematográficas mais instigantes se configura uma
maior compreensão da dimensão antropológica do deslocamento espacial e das
experiências existenciais de distanciamento das pessoas dos territórios em que
originariamente se situavam. A travessia de espaços sociais e geográficos distantes
põe em jogo experiências de alteridade e favorece a emergência de narrativas a
respeito da vivência da travessia do percurso.
Tais experiências de alteridade tornam-se particularmente intensas nos casos
de filmes em que o realizador é, ele mesmo, o principal personagem da narrativa, e
encontra-se implicado no percurso de uma travessia cujo movimento primeiro
remete a um involuntário processo de deslocamento e distanciamento do seu
território de origem.
Tal é o caso do filme Reminiscências de uma viagem a Lituania (1972) de
Jonas Mekas, primeiro filme da nossa mostra que evoco, na medida em que esta
instigante obra me parece poeticamente demonstrar o quanto o sentimento primevo
1 Henri Arraes Gervaiseau é cineasta e professor da ECA-USP. É curador chefe da (a) Mostra
Documentário, território expandido. Tem artigos publicados em revistas brasileiras e estrangeiras
sobre autores tais como Pierre Perrault, Jean Rouch, Haroun Farocki, Jean-Luc Godard, Eduardo
Coutinho. É autor de O abrigo do tempo. Abordagens cinematográficas da passagem do tempo (SP:
Alameda, 2012). Entre os seus documentários, premiados no Brasil e no exterior, destacam-se: Tem
que ser baiano ? (1994); Terra Prometida (1997); Em trânsito (2005), Entretempos (2012). Henri
dedica-se atualmente a pesquisa O documentário como meio de expressão da experiência do
deslocamento, bem como a realização do longa metragem Um dia atrás do outro, primeiro filme da
sua Trilogia do deslocamento.
2
do pertencimento a um território comum de origem norteia a existência da pessoa,
enquanto integrante de uma comunidade.
Envolvido em atos de resistência a ocupação alemã durante a guerra, Jonas
foge da perseguição nazista e da Lituânia, o seu país de origem. Transita, por um
período de aproximadamente quatro anos, por diferentes campos para Displaced
Persons (DP), neologismo forjado pelos aliados no pós Segunda Guerra Mundial,
para designar civis que se encontravam, em função da guerra, fora das fronteiras
nacionais dos seus países de origem2. Jonas consegue emigrar para os EUA em 1949,
e ao chegar a Nova Iorque, compra uma pequena câmera Bolex 16 mm, com a qual
constitui, a partir de então, um diário filmico. Vinte e três anos depois de sua
chegada nos EUA, é autorizado, pela primeira vez, a retornar a Lituânia, onde
reencontra após décadas de ausência, familiares, entre os quais se destaca a sua mãe.
No inicio do filme, introduz uma série de registros, em preto e branco, dos primeiros
tempos de sua chegada, nos anos 50, em diferentes situações privadas, ou
envolvendo integrantes da comunidade lituana em exílio em Nova Iorque. Na maior
parte do filme, entretanto, vemos registros coloridos da sua viagem de volta a
Lituânia no inicio dos anos setenta. Se o primeiro tipo de imagem pode, numa
apreciação mais convencional e limitada, ser associada a filmagens amadoras, o
segundo pode ser genericamente enquadrado dentro de estratégias de gravação mais
próprias ao cinema dito experimental, na medida em que no decorrer de sua viagem
de retorno a Lituânia, Mekas produz imagens que operam por saltos e não duram,
muitas vezes mais do que dois ou três fotogramas. Ambos tipos de registros,
fugidios, de espaços, situações e personagens, encontram­se associados a falas em
voz over, eminentemente subjetivas, de cunho memorialítisco, enunciadas pelo
Jonas, a respeito de sua experiência inicial de exilio no EUA e da sua travessia muito
posterior de volta a Lituânia. O decorrer sincopado das imagens provoca uma
instabilidade na representação das situações documentadas e a interrelação
construida pela montagem com falas referentes a uma multiplicidade de tempos
vividos pelo enunciador acaba constituindo uma instigante figuração audiovisual do
intricado processo de reminiscência vivenciado pelo diretor nesta tardia volta ao país
natal.
No filme do Mekas, para além do uso, rarefeito, de algumas menções escritas
em cartelas, há pouca intervenção, na montagem, que altere a aparência visual dos
registros documentais originalmente produzidos por ele, ao contrário do que
acontece no filme mais recente O Êxodo do Danúbio (1998), do renomado diretor
hungaro Peter Forgacs, composto a partir de registros amadores, realizados em super
oito, em 1939 e 1940, por Nándor Andrásovits, capitão do navio Erzsébet Királyni
(Rainha Elizabete). A rota deste cruzeiro originariamente de lazer, ao longo do
Danúbio, após a anexação da Áustria, da ocupação da Tchecoslováquia e da
assinatura do pacto soviético-alemão, se desdobra em duas direções. Por um lado,
em 1939, refugiados judeus da Aústria, Eslovaquia e Hungria partem da Eslovaquia
rumo a Palestina. Por outro, alemães da Bessarábia, atual Moldavia, efetuam um
caminho inverso, fugindo da ocupação soviética, se dirigem para a Alemanha do
Terceiro Reich. Através de uma grande diversidade de procedimentos estilisticos, de
2 Pouca gente sabe hoje que entre 1945 e 1951, cerca de sete milhões de refugiados originários da
Europa do Leste, reagrupados na sua maioria na Alemanha, receberam, tal qual Jonas, a alcunha de
Displaced Person (DP).
3
natureza reflexiva, Forgacs estabelece interrelações entre experiências díspares do
êxodo, vivenciadas por terceiros, cinquenta anos antes, e solicita o envolvimento
emocional do espectador. Coloração e congelamentos de imagens, zooms e
panorâmicas, utilização de música extra-diegética, uso de comentários lacônicos e de
legendas, não são poucas as formas de intervenção do cineasta sobre as imagens
amadoras do capitão, para poeticamente evocar, de modo retrospectivo, instantes da
vida de seres anônimos, pertencentes a comunidades desterritorializadas na aurora da
Segunda Guerra Mundial, como se o futuro destes seres e os rumos da história ainda
pudessem encontrar-se abertos.
No curso do filme Do Leste, que a critica Ivone Margulies qualifica de
documentário etnográfico experimental, dirigido pela belga Chantal Akerman,
contrariamente, não há falas, entrevistas, narração ou cartelas explicativas, ou
qualquer congelamento de imagem. Planos fixos e longuissimas tomadas em
travelling são usadas para que o espectador possa ter a sensação de efetuar uma
grande viagem através do Leste europeu, depois da queda do muro de Berlin e do
desmantelamento da União Soviética. Segundo Akerman, filha de judeus poloneses
sobreviventes do holocausto, o seu objetivo era filmar países que tiveram uma
história comum após a guerra, marcados por essa história nas próprias dobras do
chão. Iniciando o trajeto no final do verão, na Alemanha Oriental, o filme termina
no inverno, em Moscou, após percorrer uma multiplicidade de cidades, campos, e
estradas. No percurso da travessia dos territórios, que implicitamente constitui uma
viagem da diretora a terra dos seus ancestrais, descobrimos fisionomias silenciosas e
gestos cotidianos de seres anônimos. Em cenas exteriores, recorrentes, vemos
multidões em filas ou em compasso de espera, em estações de trem. Lentos
movimentos de câmera estabelecem um elo entre estas cenas e aquelas que ocorrem
no interior de casas, em que vemos moradores envolvidos em tarefas prosaícas do
dia a dia, ou parecendo, simplesmente, posar para a câmera. Nesta instigante e
formalmente rigorosa obra, é notável a atenção aos modos de junção das pessoas em
espaços públicos. Como sublinhou a critica Anita Leandro, em artigo sobre as
cartografias do êxodo da Akerman, as imagens de multidões de pessoas carregadas
de bagagem, ou que vemos percorrer a pé estradas desertas e cobertas de neve, na
ultima década do século XX, nos remetem a imagens de deportação relacionadas a
Segunda Guerra Mundial.
O tempo de aparição da maioria dos planos, no filme Nós (1969), do cineasta
armênio Artavazd Peleshian, é curto, ao contrário do que ocorre com os planos do
filme da Akerman. Neste filme, Peleshian, não tematiza nenhum êxodo ou migração
mas transfigura cenas de situações prosaicas do dia a dia na capital do país e imagens
de arquivo da época do genocidio armênio pelos turcos, para construir o sentimento
trágico de pertencimento a um território, a um povo, a uma nação. O filme constitui
um vigoroso poema cinematográfico, livre de qualquer fala ou comentário textual, e
é estruturado como uma composição musical, com os seus temas, variações,
leitmotiv e recorrências. Uma das sequências mais vibrantes deste filme em preto e
branco é a da chegada dos exilados no aeroporto e do reencontro dos mesmos com os
seus familiares. Aqui, como em muitos momentos, a alternância dos planos
configura verdadeiras e singelas coreografias visuais.
O filme de Werner Herzog, Lições da escuridão (1992), constitui, de algum
modo, um contraponto ao do Pelechian. Se o filme do realizador armênio situa-se ao
rés do chão e exalta, liricamente, o sentimento de pertencimento de uma comunidade
a um território, a uma potência, mesmo que trágica, de destino comum, o do
realizador alemão, explora imagens de um território em chamas que aparenta ser
4
uma terra de ninguém, um território ao qual ninguém pertence. Como sublinhou
Paola Prestes, no seu texto para o presente catálogo, trechos de obras musicais que
possuem uma conotação fúnebre são articuladas, no decorrer da narrativa, com
planos aéreos, oferecendo uma perspectiva quase divina sobre um confronto entre
seres que não parecem pertencer a este planeta e elementos da natureza que disputam
territórios simbólicos. Através da abordagem escolhida pelo diretor, o território
incendiado do Kuwait transforma-se num cenário de filme de ficção cientifica sobre
o fim do mundo. Vale lembrar que, encurraladas por uma coalizão de trinta e dois
paises, as forças armadas iraquianas se retiraram do Kuwait, em fevereiro 1991,
espalhando pelo chão aproximadamente 20 milhões de toneladas de petroleo,
ateando fogo em 732 poços, provocando incêndios que levaram meses para serem
apagados. Herzog constroi uma representação estilizada e apocaliptica deste evento
histórico que o documentário encomendado pelo Discovery Channel deveria retratar
e discutir.
A importância central para o personagem protagonista do filme, enquanto
integrante de uma comunidade, do sentimento de pertencimento a um território
comum de origem, situado no continente africano, é algo compartilhado por quatro
filmes integrantes de nossa mostra, de épocas e abordagens bem diferentes.
O título do filme Ori (1989), de Raquel Gerber, provém do iorubá e remete a
um elo central do ser humano com o mundo espiritual dos orixás. O documentário,
fruto de onze anos de investigação da cineasta brasileira, elaborado em parceria com
a historiadora e ativista Beatriz Nascimento, problematiza a relação entre Brasil e
África. O texto em off de Beatriz Nascimento, assumidamente ensaistico, articula
poeticamente registros dispares de paisagens africanas e brasileiras, de eventos e
discussões do movimento negro brasileiro entre 1977 e 1988, de bailes blacks em São
Paulo, e de ensaios de escola de samba. Também aponta para a necessidade que sente
a enunciadora, de linhagem afro-descendente, da afirmação do seu pertencimento a
um território simbólico de origem que é o do quilombo, historicamente marcado
como o de um espaço comunitário de refúgio e resistência de escravos fugitivos. No
filme, a palavra quilombo é ressignificada e passa a designar uma diversidade de
espaços de vivência e de lugares de memória afro-brasileiras, tais como o terreiro, a
favela. as congadas, ou ainda até a cultura hip hop.
Uma das cenas mais emblemáticas do filme Pitanga (2016) de Beto Brant e
Camila Pitanga, sobre Antonio Pitanga, é a do dialogo do ator com Gilberto Gil.
Pitanga, ao lembrar de um convite para representar diversos filmes brasileiros
(Barravento e Ganga Zumba) em festivais situados na África, comenta da
necessidade existencial premente que sentiu de conhecer, no inicio dos anos
sessenta, o território de origem dos seus ancestrais e resume para seu amigo atento a
trajetória desta travessia para ele essencial. O documentário revela através de uma
série de situações de encontro com familiares, amigos e colegas de profissão, facetas
pouco conhecidas do público deste protagonista central da história do cinema
brasileiro, que ampliou em muito os territórios de atuação artistica do negro
brasileiro e se mostra plenamente consciente da importância da herança afrobrasileira e da luta por uma maior igualdade social no nosso país.
Se o filme de Beto Brant e Camila Pitanga propicia a Antonio Pitanga a
ocasião de rememorar a sua busca pelos caminhos da terra dos seus ancestrais, no
filme A vida na terra (1998), Abderrahmane Sissako, vivencia ele próprio, com a
realização do seu filme, uma viagem de volta a terra natal. Sissako, cabe lembrar, é
um cineasta mauritano que viveu a maior parte de sua infância e juventude no Mali,
país de seu pai, do qual saiu aos 22 anos para estudar no VGIK (Instituto
5
Cinematográfico Estatal Russo), em Moscou, deixando posteriormente a cidade
russa para se estabelecer em Paris. Com a realização do seu filme, Sissako encontra
um meio original de incorporar a sua experiência de deslocamento. Parte para
Sokolo, uma pequena aldeia no Mali, onde mora seu pai. Vive ao mesmo tempo em
que representa para a câmera, naquele território de origem, uma experiência efetiva
de regresso. Atua no decorrer da narrativa, com batas coloridas e estampadas, junto
com uma jovem atriz negra, em situações encenadas, nas quais circula de bicicleta,
vestido com batas coloridas e estampadas. A figura ficcional e circulante do homem
de bicicleta estabelece um elo entre uma série de registros aparentemente factuais da
vida cotidiana do lugar, registros que compõem a maior parte do filme. Como afirma
Amaranta César, no seu texto para o catalogo da nossa mostra: <<O regresso
enquanto dispositivo é, então, uma afirmação de um engajamento: do filme na sua
vida, do filme na vida do lugar, mas, sobretudo, da sua vida na vida deste lugar.
Trata-se, pois, de um filme-regresso que se constitui como uma maneira não apenas
de testar o precário elo de pertencimento a uma comunidade, mas de reafirmá-lo.>>
Aqui, efetivamente, como no caso da citada obra do Mekas, a experiência de volta a
terra do cineasta encontra-se inscrita no coração do processo de realização do filme,
e oferece possibilidade para afirmação do elo de pertencimento a uma comunidade.
Entretanto, no caso de Reminiscências de uma viagem a Lituânia, a afirmação de tal
elo é mais ambígua, na medida em que a própria viagem traz a memória o trauma da
violenta ruptura involuntária do vinculo originário com a terra-mãe.
Uma dupla desterritorialização é sofrida por Ventura, operário aposentado,
negro alto, de postura hierática, no filme Juventude em marcha (2006), do cineasta
português Pedro Costa3. Em primeiro lugar, Ventura, enquanto imigrante do Cabo
Verde, em Portugal pós Salazar, se encontra afastado do seu território de origem. Por
outro lado, vê abalado o seu sentimento de pertencimento a comunidade de
Fontainhas, com a destruição do assim denominado bairro de imigrantes da periferia
de Lisboa. Realojado, assim como outros integrantes daquela comunidade em
conjunto habitacional, Ventura se sente estranho no novo lugar de moradia. Através
de um longo processo de filmagem, e do estreitamento da relação de confiança e de
parceria entre diretor e personagem, bem como de um acompanhamento atento do
dia a dia do Ventura, este foi levado a reencenar cenas do seu cotidiano. O referido
processo se estendeu de segunda a sábado durante um ano e meio, totalizando cerca
de 340 horas de filmagens, com muitas tomadas para cada plano. A estilização da
experiência existencial do Ventura através de sucessivas reencenações de situações
vividas e de falas proferidas é reforçada pelas opções de mise-en-scène do diretor,
pelo seu modo singular de composição do quadro, de distribuição das zonas de luz e
de sombra em espaços muitas vezes exiguos, e pelos ângulos escolhidos de
posicionamento da câmera, frequentemente em contra plongée. Como bem observou
Mateus Araujo, no seu texto para o presente catalógo, tais opções de encenação do
diretor mostram a sua preocupação em construir uma beleza capaz de dignificar a
pobreza sem traí-la nem recalcá-la. Sabiamente, Pedro Costa, cineasta de fronteira,
declarou a proposito deste filme, que não era uma ficção nem tão pouco um
documentário, e que quis, com ele, documentar uma sensibilidade humana, a do
Ventura, enquanto integrante de uma comunidade em vias de desaparição. Se a
narrativa construída pelo cineasta português não nos deixa entrever qual será o devir
3 O titulo do filme, que remete a um hino revolucionário de luta contra o colonialismo português na
Africa, constitui um enigma para o espectador, pois no decorrer da narrativa não vemos nenhuma
juventude em marcha em prol de transformações sociais libertadoras .
6
do seu personagem principal, o seu desenrolar potencializa no presente da filmagem
uma expressão da força espiritual de sua trajetória de vida. Adotando uma estratégia de abordagem radicalmente diferente do Pedro
Costa, o cineasta chinês Lixin Fan, precisou também conquistar a confiança das
pessoas que escolheu como personagem do seu filme Último trem para a casa
(2009). O título do filme remete a luta do casal formado por Zhang Changhua e
Chen Suqin, que reside e trabalha durante o ano na cidade de Guangzhou, próxima a
Hong Kong, para conseguir um lugar em um trem que os leve de volta para a sua
casa na vila de Huilong, na provincia de Sichuan, onde moram os seus dois filhos, a
menina Qin e o menino Yang, criados pela avó desde pequenos. Segundo estimativas
recentes aproximadamente duzentos milhões de chineses, todos os anos
empreendem, assim como o casal de protagonistas do filme, suas jornadas de volta
para a casa, por ocasião do ano novo lunar, principal feriado nacional na China.
Através de uma longa convivencia de três anos, o diretor soube ganhar a confiança
da familia, acompanhando, de modo discreto e observacional, com a sua câmera, nos
moldes da tradição do cinema direto americano dos anos sessenta, cenas do dia a dia
e da intimidade dos pais em Guangzhou. É dado ao espectador acompanhar as
viagens do casal de volta para casa, bem como cenas da convivência da avó com os
netos, tensos reencontros familiares em Huilong, e a tumultuosa e conflituosa partida
da filha de casa. Percebemos de modo muito concreto como a migração do casal,
motivada por razões socioeconômicas, em função da falta de oportunidades no
campo, afeta as relações familiares, ao priva-los da convivência com os filhos.
Laços de pertencimentos encontram-se rompidos em função das consequências
trazidas pelo deslocamento.
A realização do recente documentário Gulistan, terra de rosas (2016) da
cineasta turco-canadense Zaynê Akyol, também envolveu a construção de uma
relação de confiança, marcada porém aqui, não por uma distância respeitosa como
no caso do filme de Lixin Fan, mas por um compartilhamento afetivo sutil, fruto de
um sentimento comum de pertencimento a comunidade nacional kurda, despossuida
dos seus territórios. Gulîstan, o nome que figura no título, era o nome da babá da
diretora. Como observa Carla Maia, no seu texto para o catálogo da nossa mostra,
“Terra de rosas” é o significado do nome Gulîstan, um forte significante para um
filme que se passa entre mulheres guerrilheiras, que pertencem a um povo de
aproximadamente 40 milhões de pessoas que não possui território nem Estado
próprio. Após um periodo de convivência no Canadá, para onde Zaynê Aykol, ainda
criança, também tinha partido, com os seus pais, Gulîstan volta para Turquia. Se alista
então no PKK, organização engajada na luta armada desde 1984, que briga por um
Curdistão autônomo, contra o Estado Islâmico e pela garantia dos direitos dos curdos
nos territórios ocupados, sobretudo na Turquia e no Iraque. Anos depois da morte em
combate de Gulistan, em 2000, a jovem diretora volta a sua terra natal para entender o
sentido do engajamento desta figura tão importante em sua vida. Sentindo-se
implicada nesta luta, Zaynê decide filmar de modo observacional, mas extremamente
sensivel e próximo, o cotidiano das guerrilheiras, e particularmente situações de
espera. No curso do desenrolar da narrativa, a diretora trava alguns instigantes e
emocionantes dialógos com diversas mulheres, e particularmente com Sozdar,
veterana guerrilheira, figura central do documentário. Como escreveu Carla Maia,
<<a beleza das imagens vem menos da composição cuidadosa do que das cicatrizes
que ferem o quadro – o tempo dilatado dos planos revela as marcas visíveis de uma
história de traumas e lutas, adivinhada nos rostos das mulheres, nos relatos de vida,
nas frases ouvidas entre conversas na hora da refeição>>.
7
Enquanto as protagonistas do filme de Zaynê Akyol lutam pela libertação dos
territórios do seu povo, ocupados por países estrangeiros, a ação dos colonos no
filme Os colonizadores (2016) do realizador israelense Shimon Dotan, consolida a
ocupação, pelo Estado de Israel, de territórios palestinos. A semelhança do
importante documentário de João Moreira Salles, Noticias de uma guerra particular,
o poderoso e convincente filme do diretor israelense é uma obra de fatura mais
clássica na qual predomina uma lógica informativa que organiza a narrativa no que
diz respeito as representações que faz do mundo histórico. Como aponta Carlos
Alberto de Mattos no seu texto para o catálogo da nossa mostra, Shimon Dotan fez
um trabalho de fôlego ao recolher um extraodinário material de arquivo e ao ouvir
alguns poucos palestinos, simples moradores da região ou integrantes de associação
de direitos humanos, mas sobretudo líderes da implantação de grandes colônias,
rabinos que cultivam a profecia fundadora, um organizador de atentados,
comandantes militares e colonos comuns que expressam suas convicções
expansionistas com os pés cravados na terra, e justificam frequentemente as suas
ações invocando um mistico pertencimento imemorial das terras palestinas ao povo
judeu.
Se o foco, no filme israelense concentra-se na figura dos colonos, invasores
de um território estrangeiro ocupado pelo Estado do qual são cidadãos, o filme
Martirio (2016), de Vincent Carelli mostra como os Guarani­Kaiowa, quando
sobrevivem, vivem como deportados de guerra em seu próprio país. O documentário,
aponta as raízes históricas, a realidade atual, e as complexas ramificações nacionais e
internacionais de um dos mais longos e sangrentos conflitos de terra existentes no
país, localizado no Mato Grosso do sul. O longa metragem, fruto de uma
convivência de décadas do realizador, com o grupo, retrata a permanente
desapropriação sofrida pelos Guarani­Kaiowa de seus territórios e a incansável
resistência dos índios. Denuncia os incontáveis assassinatos de que são vitimas,
perpetrados por pessoas a serviço de fazendeiros, cujos interesses são firmemente
defendidos em Brasilia por deputados e senadores fortemente vinculados aos
diversos setores do agronegócio, como mostram as assombrosas imagens de arquivo
existentes dos debates parlamentares. Como sublinha Leandro Saraiva no seu texto
para o catálogo da nossa mostra, no filme, o passado emerge na narrativa, pontuando
e pondo em perspectiva o presente trágico, no qual 12 mil Guarani-Kaiowá, de um
total de mais de 50 mil, vivem em situações de abandono e franca violência, em
acampamentos de retomada, resposta desesperada ao conluio entre o poder público e
o agronegócio. Os outros 40 mil ou estão nas poucas e minúsculas reservas, campeãs
de suicídio e doenças, ou se encontram vagando, sem teto nem direitos. Destas
reservas, muitos Guarani-Kaiowá, escapam, pontua Saraiva, para retomar seus
“tekoha”, espaços da vida tradicional, que nas imagens do presente vemos retalhados
por cercas, soja e estradas, mas que os legítimos donos da terra reconhecem, com
uma resistência inspirada por seus pajés, como seu território de origem e direito, nos
quais se localizam novos cemitérios indígenas, criados em restos de mata, em beiras
de estrada, onde estão enterradas as últimas vítimas desta luta secular. No filme, de
cunho ensaístico, Vincent Carelli testemunha o que vivenciou e observou, na sua
longa travessia, iniciada em 1988, junto com os Guarani-Kaiowa, e toma firmemente
posição frente as incertezas do tempo presente para aquele grupo indígena e para a
sociedade brasileira como um todo. Não parece haver horizonte de espera para os
Guarani-Kaiowá, ameaçados de exterminio, em função da precariedade das suas
condições de vida, dos assassinatos em série dos quais são vitimas, e dos suicidios.
8
Pela primeira vez, desde o final da Segunda Guerra Mundial, no ano passado,
o numero de refugiados no mundo ultrapassou a cifra de cinquenta milhões de
pessoas. Segundo dados da ONU, em 2015, haviam sessenta e cinco milhões e
trezentos mil refugiados no mundo, em função de persecuções, conflitos, violência
generalizada ou violações de direitos humanos. Destes sessenta e cinco milhões e
trezentos mil refugiados, quarenta milhões e oitocentos mil pessoas eram de pessoas
deslocadas dentro das fronteiras dos seus proprios países, como acontece com os
Guarani-Kaiowa.
No seu filme, O plantão (2016), Alice Diop, jovem realizadora francesa,
descendente de imigrantes senegaleses, criou um dispositivo simples e frutífero de
aproximação do sofrimento humano espiritual e físico vivenciado por pessoas
expatriadas que tiveram de deixar os seus territórios de origem. O documentário se
passa inteiramente no espaço circunscrito do consultório de um médico generalista,
assistido por uma psiquiatra, ambos funcionários do Plantão de Acesso aos Cuidados
de Saúde, do Hospital Avicenne, situado num municipio da região parisiense
denominado Bobigny. Uma vez por semana, durante um ano, Diop acompanhou os
atendimentos dados pela dupla a imigrantes recém chegados na França. E as
gravações subsequentes do documentário se estenderam também por um ano. Na
maior parte das cenas, a câmera foi colocada atrás do médico, para poder captar a
imagem do paciente, sem contracampos. Significativamente a diretora, declarou,
após o término da montagem do filme, que durou mais de seis meses, que a presença
da câmera propiciava maior intensidade aos atendimentos. Como sugere Marcius
Freire no seu texto para o catálogo da nossa mostra, o consultório em que os
pacientes foram filmados parece ser um dos únicos limitados refúgios, que o exílio
lhes reservou para aliviar suas dores e ser escutado.
Se o filme de Alice Diop se concentra no espaço circunscrito e fixo de um
consultório e focaliza recém chegados no território francês, o ultimo filme do
veterano realizador francês Raymond Depardon, Os habitantes (2016) busca retratar
aqueles que já podem ser considerados como seus habitantes. Efetivamente os
moradores aos quais alude o título do filme, que surge logo após os créditos de
abertura, são aqueles que habitam o território francês. Três minutos depois de
acompanhar, através de dois longos travellings, a circulação de um trailer branco
vintage numa estrada arborizada e na entrada um vilarejo, é o que somos levados a
entender, graças a um breve comentário dito em voz over pelo diretor. A semelhança
do que ocorre em muitos filmes de Eduardo Coutinho, Depardon explicita, neste
inicio da sua narrativa, o original dispositivo que criou para a sua mais recente obra :
<<Viajo pelas estradas da França, de Norte a Sul, de Charleville-Mézières à Nice,
de Sète à Cherbourg. Vou parar diante de residências, pontos comerciais e praças
de prefeituras. Vou ao encontro dos franceses, para ouvi-los conversar. Sobre o que?
Ainda não sei. Não farei perguntas. Vou deixá-los à vontade, registrar suas
conversas, sotaques e jeitos de falar. Arrumei um trailer velho, pus uma câmera
dentro dele, instalei alguns microfones e convido pessoas encontradas na rua
minutos antes para continuarem a conversa em nossa presença, sem nenhuma
pressão, em total liberdade.”>> No dispositivo criado, o diretor se encontra
escondido atrás de um biombo, para deixar as pessoas mais a vontade. Apenas duas
pessoas são convidadas, a cada vez, a conversar entre si. Seres anônimos de diversas
idades, condições, origens étnicas, crenças e gêneros, que formam duplas bastante
heterogêneas, dialogam frente a câmera, abordando os mais variados assuntos,
muitas vezes de cunho bastante pessoal. O desenrolar do filme acaba revelando a
grande diversidade cultural, religiosa e étnica da França atual e abre espaço para a
9
expressão de novas modalidades de pertencimento, de cunho intercultural. Além
disso, como aponta Anita Leandro, no seu texto para o catálogo da nossa mostra,
Depardon, atento à variação dos timbres das vozes, à entonação das palavras, à
modulação silábica, às pronúncias das letras e ao som do silêncio ao redor, prolonga,
neste filme, o gesto de Eduardo Coutinho em sua eterna busca de uma estética da
fala. Se o filme de Depardon produz, ao cabo do seu desenrolar, a sensação da
existência na França, de uma diversidade étnica, no seu mais recente documentário,
intitulado Em Jackson Heights (2016), Wiseman efetua um mergulho mais
circunscrito no bairro nova-iorquino de Jackson Heights, situado a menos de meia
hora de metrô de Manhattan, acaba sugerindo a existência naquele território
americano de uma sociedade multiétnica. Jakson Heights é um dos bairros de
Queens, um dos cinco distritos da cidade de Nova York, distrito cosmopolita no qual,
segundo consta, 167 linguas diferentes podem ser ouvidas nas ruas –mas nas quais
predomina o espanhol. Último dos grandes documentaristas a surgir no final da
década de sessenta dentro da tradição do cinema direto americano, genericamente
caracterizado como observacional por nunca recorrer a entrevistas, comentários em
voz over, letreiros e cartelas, Wiseman lida aqui, conforme sublinha no seu texto
para o catálogo da nossa mostra, Richard Peña com o que é provavelmente o maior
debate nos Estados Unidos hoje em dia : a imigração. No decorrer do filme alternamse cenas em salão de cabeleleiro, curso de dança, bar gay, sinagoga, igreja, escola
corânica, em festas e desfiles de rua, bem como em diversas e longas reuniões de
associações latinas, judaicas, muçulmanas, homosexuais. Se o filme revela, através
de diversos exemplos, a força da rede assocativa local, também aponta para a ameaça
iminente que paira sobre a vida social do bairro, com o processo de gentrificação em
curso, estimulado pela especulação imobiliaria.
Antes de concluir o presente percurso das obras que compõem a nossa
programação, gostaria de enfatizar, que para além da diversidade de abordagem dos
filmes, todos trabalham de um modo ou de outro, uma questão central: a intrincada e
sofrida relação existente entre deslocamento de um território e o sentimento de
pertencimento a uma comunidade. Efetivamente a terra de origem, o território que
cirscunscreve a existência de um grupo, e particularmente, a existência de uma
comunidade nacional, é um termo de referência central pelo qual se define o
pertencimento e a própria existência de qualquer ser humano.
10
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS :
Costa, Pedro : Documentar uma sensibilidade humana. Entrevista concedida
a Pedro Butcher, in Cinética. Outubro 2006.
Acessível em :
http://revistacinetica.com.br/entpedrocosta.htm. Acessado em 1/11/2016
Leandro, Anita : Cartografias do Êxodo, in : Revista Devires, Vol. 7, N.1.
Jan. /Jun 2010. p.94-111
Margulies, Ivone : Nada acontece. O cotidiano hiper-realista de Chantal
Akerman. SP : EDUSP, 2016.
Mourão, Patricia (org): Jonas Mekas. SP : Centro Cultural Banco do Brasil.
Pro-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. USP. 2013.
Sayad, Abdelmalek : O retorno, elemento constitutivo da condição do
imigrante, in : Revista Travessia. Publicação do Centro de Estudos Migratórios. Ano
XIII. Número especial, janeiro 2000, p.7-32.

![[1] 22 Data Turma PROFESSOR / DISCIPLINA CONTEÚDO](http://s1.studylibpt.com/store/data/005822284_1-b8968d744c7aa0f9c190b787ff6cd1f8-300x300.png)