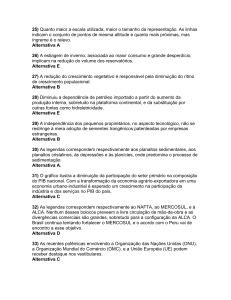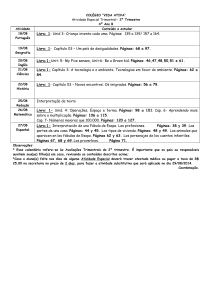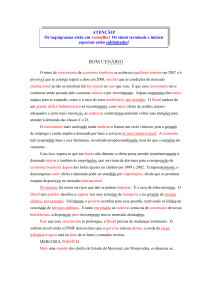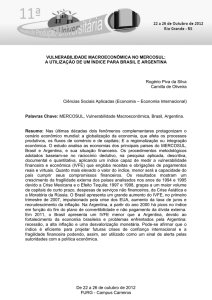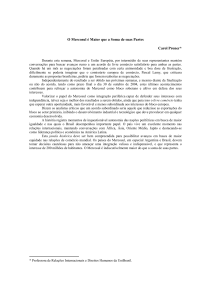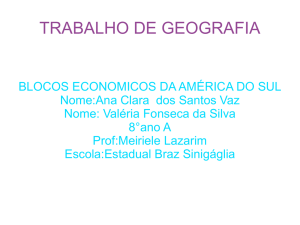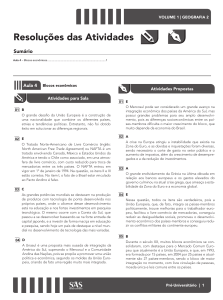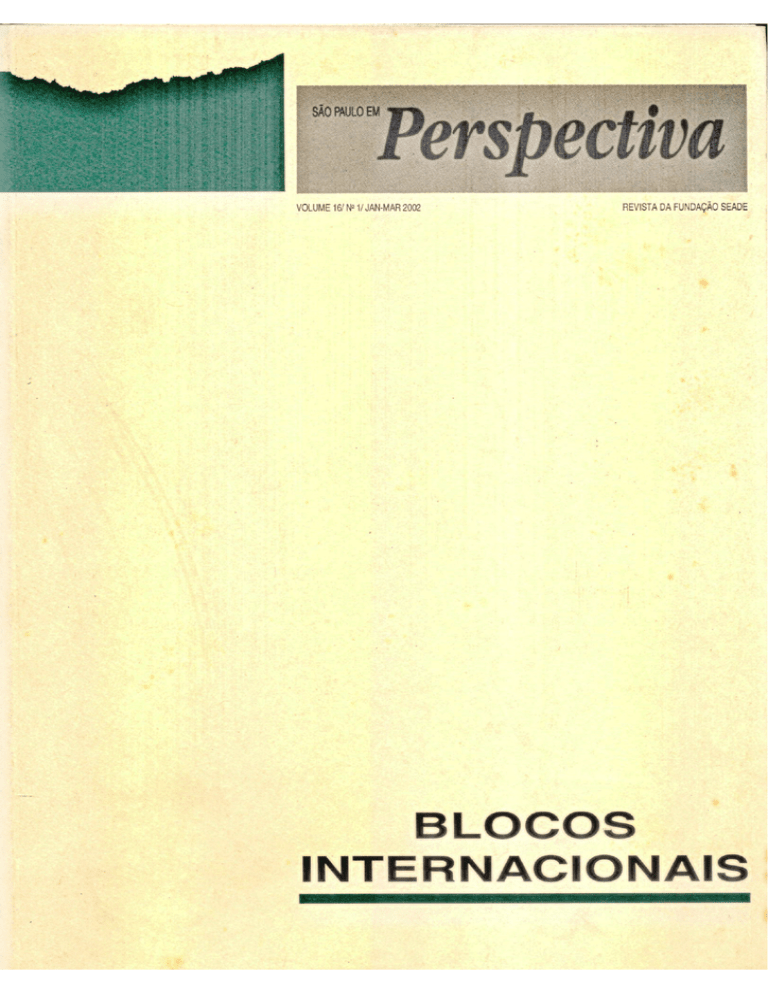
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1): 3-16, 2002
O BRASIL E OS BLOCOS REGIONAIS: SOBERANIA E INTERDEPENDÊNCIA
O BRASIL E OS BLOCOS REGIONAIS
soberania e interdependência
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
Resumo: Ensaio histórico sobre o desenvolvimento da economia mundial, com ênfase no papel desempenhado
pelos blocos de comércio na construção da interdependência econômica contemporânea e pelos processos de
integração na diminuição relativa da soberania nacional. Análise conceitual e empírica sobre esses processos
e seu desempenho como entidades relevantes da economia mundial do começo do século XXI.
Palavras-chave: economia internacional; integração e blocos de comércio; Mercosul.
Abstract: Historical essay on the development of the world economy, with emphasis on the role played by
trading blocks in the creation of economic interdependence. Also examined is the process of integration how
it contributes to the relative reduction of national sovereignty. This is a conceptual and empirical analysis of
these phenomena and their relevance to the world economy at the dawn of the twenty-first century.
Key words: world economy; integration and trading blocks; Mercosul.
U
ma questão historicamente pertinente, para todos
os que se interessam pela evolução de longo prazo da economia mundial, seria inquirir em que
medida, neste início de século XXI, ela difere de modo
significativo de sua equivalente funcional de 100 anos
atrás. Quais seriam os elementos de ruptura e quais aqueles de continuidade que uma apresenta em relação à outra, com base nessa perspectiva histórica secular? Uma
primeira mudança de impacto, de natureza mais cultural
do que propriamente econômica, poderia ao mesmo tempo ser considerada como apresentando características de
continuidade: o capitalismo está novamente sozinho. Depois de um “breve” intervalo de 70 anos, em sua extensão
máxima, o modo de produção alternativo, baseado na apropriação supostamente coletiva dos meios de produção,
deixa o cenário da realidade para tornar-se uma simples
referência histórica e talvez mesmo, dentro de mais algum tempo, um mero objeto de “arqueologia industrial”.
tanto, prevalecer sobre os momentos de ruptura. O fim do
socialismo e a retomada do processo de globalização teriam recolocado o capitalismo na mesma postura de preeminência ideológica e de dominação material absoluta que
ele já ostentava em 1900. Estaríamos assistindo, no que
se refere algumas das características desse velho capitalismo, a um revival de valores em princípios que pareciam ter sido aposentados pelo welfare state de meados
do século XX. Entretanto, haveria algo de fundamentalmente novo na organização social do modo de produção
capitalista, desde que o laissez-faire da belle époque foi
deixado de lado pelos requerimentos dirigistas da Primeira
Guerra Mundial?
O papel do Estado na economia, obviamente, e provavelmente também o padrão-ouro monetário, sacrificado
no altar emissionista do papel-moeda sem lastro aparente, constituem dois desses pontos de ruptura. Entretanto,
do ponto de vista estrutural, algo mais mudou no cenário
econômico mundial? Aparentemente pouca coisa, a julgar pelo modo de funcionamento e pelos botões de comando da economia capitalista. Com efeito, apesar dos
inúmeros choques e transformações estruturais por que passou a economia mundial no decorrer do longo século XX
DOMINAÇÃO DO CAPITAL: DÉJÀ VU AGAIN?
A economia internacional voltou a ser basicamente de
mercado e os elementos de continuidade parecem, por-
3
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
tiva, organização da produção e dos mercados, trabalho
assalariado e sistemas contratuais, não fosse pelo reforço
das atividades do terciário – hoje quase dois terços da economia nos países desenvolvidos – que Marx ignorava totalmente por considerá-las como “não produtivas”. Algo
mudou, por certo, no panorama geográfico da economia
mundial, o que é revelado pela incorporação das últimas
terrae incognitae ao movimento do capital, territórios antes
reservados ao modo de produção socialista que, ao desaparecer depois de setenta anos, se tanto, de vida “inútil”,
sempre foi marginal nos campos da tecnologia, das finanças, do comércio e da inovação.
Ainda mais autocentrado e autárquico do que as economias comandadas pelos regimes fascistas do entre-guerras, o socialismo manteve-se – ou foi mantido – à margem da economia mundial. Ainda assim, os sistemas
baseados no planejamento estatal centralizado exerceram
certa influência no pensamento econômico do século XX,
contribuindo para moldar políticas econômicas que tiveram certa ascendência no imediato pós-guerra, como a indução pública dos investimentos, o controle estatal da
oferta de “bens públicos” e os novos monopólios nacionais nas esferas de transportes, comunicações, energia,
notadamente. Não obstante isso, o planejamento indicativo e o controle estatal praticados em certas economias
capitalistas na segunda metade do século foram mais em
razão do legado do período de guerra, quando setores inteiros da economia possuindo algum significado estratégico tiveram de ser mobilizados e controlados pelo Estado, do que a algum compromisso ideológico com os
sistemas econômicos de tipo nacional-socialista ou comunista. Vale lembrar, também, que a suposta herança
keynesiana dos anos 30, teve escassa influência nos padrões de políticas públicas do período anterior à Segunda
Guerra Mundial, vindo a florescer, basicamente, nos sistemas de welfare state do pós-guerra. As mudanças políticas então introduzidas, tendo em vista o maior controle
governamental sobre o instrumental macroeconômico (demanda agregada, política fiscal, taxa de juros, movimentos de capitais), respondiam mais a preocupações de ordem prática dos políticos e estadistas, acossados pela
memória da depressão dos anos 30, do que às contribuições teóricas do grande pensador econômico britânico.
Em todo caso, no mesmo momento em que o keynesiasmo passou a enfrentar certo declínio intelectual e político, sob o impacto do aríete ideológico do tatcherismo e
da reaganomics, inspirados diretamente em Hayeck, jogavam-se algumas pás de terra no caixão do modo de pro-
econômico, atores relevantes e processos produtivos permanecem basicamente os mesmos do que um século atrás.
O grupo de economias dominantes, por exemplo, que
respondia pela maior parte dos fluxos internacionais de
bens, serviços e capitais em 1900, continua, com poucas
exceções, a dar as cartas do jogo econômico neste início
de século XXI, da mesma forma que o sistema produtivo
continua a ostentar, grosso modo, os mesmos princípios
organizacionais e institucionais. Vejamos, em primeiro lugar, os elementos de continuidade mais de perto.
Na Europa, com exceção do desaparecimento do Império Austro-Húngaro, que nunca teve características econômicas bem marcadas, os centros de poder econômico
são praticamente os mesmos. A Alemanha, que já tinha
ultrapassado, em 1900, a economia então dominante, a
da Grã-Bretanha, volta a integrar, depois da “segunda
guerra de trinta anos”, o pelotão das economias dominantes, apesar de amputada de cerca da metade de seu
território e população e de reduzida à condição de anã
política durante a maior parte do período. Na Ásia, a ascensão do Japão a grande potência econômica foi obviamente confirmada, ainda que as promessas de liderança
tecnológica e financeira tenham sido seriamente questionadas na última década do século XX. Cem anos atrás, a
Rússia e a China eram economias marginais em escala
planetária e assim permanecerão durante quase todo o
período: a União Soviética teve muito mais importância
na esfera política do que na econômica e o gigante asiático recuperava muito lentamente, no último quarto do
século XX, sua condição de maior economia do planeta,
que o Império do Meio ostentou até o começo do século
XVIII. Os Estados Unidos, convertidos de grande exportador de produtos primários em primeira potência industrial, já na passagem do século XX, permanecerão nessa
condição durante todo o período, acrescentando, a partir
dos anos 30, o título de primeira potência financeira, ao
operar-se, no seguimento da suspensão da conversibilidade da libra em 1931, a passagem à hegemonia financeira do dólar nos mercados financeiros (capitais para
empréstimos e investimentos diretos).
Da mesma forma, o velho capitalismo concentrador e
desigual, cujos “horrores econômicos” levaram Karl Marx
a propor um modo alternativo de produção, volta a manifestar-se em toda a sua pujança criadora e destruidora ao
mesmo tempo, retomando aliás o ciclo da internacionalização que tinha sido tão bem analisado, em 1848, pelo
autor principal do Manifesto do Partido Comunista.1 Nada
mudou, praticamente, em relação a especialização produ-
4
O BRASIL E OS BLOCOS REGIONAIS: SOBERANIA E INTERDEPENDÊNCIA
tino-americano) ou por acordos intergovernamentais, de
tipo econômico ou político, o termo, em sua acepção restrita, refere-se aos agrupamentos de caráter comercial resultando de um projeto integracionista. São exemplos de
blocos regionais a União Européia (UE), o Mercosul e o
Nafta, bem como dezenas de outras entidades menos conhecidas. Mesmo se antecedentes existem na antigüidade
– Liga Ateniense – ou no começo da Idade Moderna –
Liga Hanseática, por exemplo –, trata-se de fenômeno
recente, coincidindo com a emergência da ordem internacional pós-Segunda Guerra. O processo de formação dos
blocos regionais contemporâneos coincide com o desenvolvimento dos processos de integração econômica, cujo
primeiro exemplo bem-sucedido foi o Mercado Comum
Europeu criado pelo tratado de Roma de 1957, convertido depois em Comunidade Européia e mais recentemente
(1992) em União Européia, contendo inclusive dispositivos sobre moeda única.
O conceito de integração econômica aplica-se a entidades de natureza política diversa, com realidades econômicas diferenciadas entre si, mas será melhor percebido se considerado como um processo em etapas sucessivas:
área de preferências tarifárias, que comporta a simples
redução seletiva de tarifas entre dois ou mais sócios, sem
obrigações complementares como política comercial; zona
de livre-comércio, que liberaliza completamente o intercâmbio entre membros em um prazo determinado, conservando entretanto cada qual sua própria estrutura tarifária
em relação a terceiros países; união aduaneira, que compreende, ademais, a definição de uma tarifa externa comum; mercado comum, que liberaliza completamente o
fluxo de fatores produtivos e de pessoas, além de obrigar
a adoção de políticas comuns nas áreas comercial, industrial, agrícola e de concorrência, entre outras; união econômica e monetária, que pode comportar, como no caso
da UE, a abolição das moedas nacionais em favor de um
meio circulante comum a seus membros.
Os blocos regionais organizados em torno de um acordo de integração, como a UE, o Mercosul e o Nafta, apresentam a dupla característica de serem discriminatórios
em relação aos países não-membros – isto é, excluindo
estes últimos das vantagens e benefícios recíprocos concedidos aos membros, configurando, portanto, uma exceção ao princípio da nação-mais-favorecida (NMF) administrado pelas regras do GATT – e de contribuírem,
progressivamente, para o aumento da interdependência
econômica global, ao anteciparem e prepararem processos mais complexos e geograficamente mais amplos de
dução socialista, falecido mais em virtude da inanição aguda
causada por sua inoperância econômica do que pelo vírus
da democracia política. Assistiu-se, a partir de 1989, não
tanto a um “fim da História”, mas a um “fim da Geografia”, uma vez que o levantamento das barreiras artificiais
ao deslocamento do capital fez surgir, no mesmo movimento, um único “exército industrial de reserva”, obviamente representado pela China e seus milhões de coolies
do novo capitalismo manchesteriano do século XXI.
Com efeito, o impacto da incorporação dos ex-países
socialistas aos circuitos da economia internacional não
seria muito grande como produto global (15%, se tanto,
do PIB mundial, em razão de sua baixa produtividade) e
menos ainda, em fase inicial, como aumento do comércio
(basicamente produtos primários, já que os manufaturados “socialistas” tinham competitividade nula), mas as conseqüências seriam mais relevantes no que tange a divisão
internacional do trabalho, com uma expansão em torno
de 35% da população economicamente ativa. Esse incremento do exército industrial de reserva se refletiria no aumento da participação da China nos fluxos de comércio
internacional, à medida que ela (ainda formalmente socialista) passa a dirigir para o exterior a produção derivada dos investimentos diretos estrangeiros (grande parte deles da diáspora chinesa no sudeste asiático) que ela passa
a acolher em volume expressivo nos anos 90.
Em que pese, no entanto, a manutenção de um mesmo
número definido de atores globais e a persistência de padrões relativamente similares de produção, comércio e finanças, a economia globalizada e interdependente do começo do século XXI apenas aparentemente se assemelha
àquela do início do século anterior. A grande diferença
manifesta-se no campo geopolítico (ou talvez no domínio
geoeconômico), pois o movimento de globalização retomado no último terço do século XX é acompanhado pelos
processos de regionalização, destacando-se, nos últimos
40 anos, a formação, consolidação e expansão do bloco
europeu – comunidade européia do carvão e do aço, mercado comum, Comunidade, depois União Européia –, que
é, de certa forma, o herdeiro coletivo das potências coloniais européias do final do século XIX.
BLOCOS REGIONAIS:
CONCEITO E MANIFESTAÇÕES EMPÍRICAS
Embora a designação de “bloco regional” possa ser
aplicada a qualquer grupo de países vinculados pela
contiguidade geográfica (blocos asiático, africano ou la-
5
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
ção, em 1991, ele ainda não conseguiu realizar plenamente
sua zona de livre-comércio ou implementar de maneira
integral sua união aduaneira. Os demais exemplos conhecidos de integração combinam elementos de livre-comércio com os de uma simples área de preferências tarifárias,
a primeira etapa da construção integracionista.
O modelo europeu de cooperação econômica e de integração comercial – que na verdade começou em 1951
com a Comunidade Européia do Carvão e do Aço (Ceca)
– exerceu forte influência em toda a América Latina, tendo inspirado diversos experimentos integracionistas desde os anos de 1960, a começar pela Associação LatinoAmericana de Livre Comércio (Alalc), criada pelo Tratado
de Montevidéu desse ano e substituída, vinte anos depois,
pela Aladi, que a despeito do ambicioso objetivo integracionista que ostenta no nome não passa de uma simples
zona de preferências tarifárias. É no âmbito da Alalc-Aladi
que se desenvolvem as experiências sub-regionais de
integração, a começar pelo Grupo Andino (criado com o
Pacto de Cartagena de 1969), convertido em Comunidade Andina em 1996 (sem que, no entanto, sua pretensão
em atingir a fase do mercado comum tenha sido sequer
vislumbrada), e sobretudo a do Mercosul, o mais importante bloco de países em desenvolvimento que pretendem,
tendencialmente, alcançar um mercado comum. A Aladi,
que oferece cobertura jurídica – do ponto de vista das regras do GATT e dos compromissos multilaterais comerciais – a todos os países da região, reagrupa quase toda
América do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), mais
o México (que solicitou uma derrogação de suas obrigações em relação à cláusula NMF, pelo fato de ter aderido
ao Nafta) e, desde 1998, Cuba.
No ano de 1960, criou-se a Associação Européia de
Livre Comércio (Efta) com vistas a oferecer uma perspectiva de liberalização dos intercâmbios aos países que não
aderiram, em 1957, ao projeto comunitário dos tratados
de Roma, em especial o Reino Unido e os países escandinavos. A Efta agrupou, no início, todos os outros países
capitalistas europeus que não pertenciam à Comunidade
Européia, mas quase todos eles decidiram aderir, aos poucos, ao sistema comunitário, à exceção da Suíça, da Noruega e da Islândia. Data dessa mesma época, o Mercado
Comum Centro-Americano (MCCA), que nunca realizou
seu objetivo nominal, contentando-se com acordos de livre-comércio com seus vizinhos maiores, como México,
Venezuela, Colômbia e também o Chile. México, Venezuela e Colômbia encontram-se por sua vez vinculados,
liberalização comercial e de abertura econômica no quadro do sistema multilateral de comércio, atualmente regido pela Organização Mundial do Comércio (OMC). A
multiplicação desse tipo de acordo comercial nas duas
últimas décadas do século XX obrigou inclusive essa organização a constituir, desde 1996, um Comitê sobre Acordos Regionais de Comércio, com vistas a monitorar seu
desenvolvimento, a examinar sua consistência com as regras do GATT-OMC e a evitar a generalização de práticas excludentes e discriminatórias. Como exemplos dessas práticas podem ser citados os regimes especiais
aplicados a determinados ramos da economia – como a
Política Agrícola Comum da UE, por exemplo, altamente
distorcida das regras multilaterais de comércio –, que resultam em reservas de mercado e dispositivos contrários
ao princípio do tratamento nacional, outro dos fundamentos do GATT, com a reciprocidade.
No regime do GATT, os blocos regionais são regidos
pelo art. 24, que estabelece as condições pelas quais esses agrupamentos (em geral sob a forma de zona de livrecomércio ou de união aduaneira) podem ser progressivamente constituídos como exceção à cláusula NMF
(geralmente no prazo de dez anos), devendo cobrir “substancialmente todo o comércio” entre os membros, sem introduzir maiores barreiras tarifárias e restrições não-tarifárias do que as existentes no comércio desses países com
terceiros, anteriormente à criação do novo bloco. Em 2000,
existiam no mundo cerca de 130 agrupamentos regionais,
e 90 deles tinham sido notificados à OMC depois de sua
criação, isto é, 1995. Desse número, seis blocos tinham
sido declarados em conformidade com as regras do GATTOMC, mas apenas dois estavam ainda vigentes.
A UE, a mais exitosa experiência de integração econômica conhecida, estabeleceu desde seu início o objetivo
do mercado comum (livre circulação de bens, serviços,
capitais e pessoas), atingido de forma acabada apenas em
1993, mas convivendo durante muito tempo com espaços
econômicos reservados aos nacionais de seus países constitutivos (monopólios estatais ou exceções nacionais em
matéria de transportes aéreos, sistemas bancários, meios
de comunicação de massa, por exemplo). Já o Nafta é uma
simples zona de livre-comércio, embora reforçada por dispositivos liberalizantes abrangentes, cobrindo serviços,
investimentos, concorrência, compras governamentais e
propriedade intelectual. O Mercosul pretende ser um mercado comum, ainda que em uma modalidade intergovernamental e não sob o formato do direito comunitário como
no caso da UE. Entretanto, dez anos depois de sua cria-
6
O BRASIL E OS BLOCOS REGIONAIS: SOBERANIA E INTERDEPENDÊNCIA
da em união monetária (entre onze membros apenas, em
sua fase inicial, entre 1999 e 2001), encontrava-se negociando o ingresso de mais de uma dezena de países da
Europa central e meridional e assinou um acordo-quadro
de cooperação com o Mercosul (1995), que poderá evoluir para uma zona de livre-comércio. Da mesma forma, o
Mercosul multiplicou, em sua fase de união aduaneira (a
partir de 1995), os acordos de associação com outros países (Chile e Bolívia, em 1996 e 1997; África do Sul, em
2000) ou grupos de países (Comunidade Andina, em 1998,
sem sucesso porém, repetindo-se a iniciativa em 2000 para
implementação a partir de 2002).
A CAN partilha de muitas das preocupações do Mercosul
nas negociações levadas a efeito no quadro do chamado
processo hemisférico, cujo objetivo é a constituição, a partir de 2005, de uma área de livre-comércio do Alasca à Terra do Fogo, concebida segundo o modelo do Nafta. As negociações, lançadas em Miami, em 1994, entre 34 países da
região (à exceção de Cuba), foram de fato iniciadas com
base na reunião de cúpula de Santiago (1998) e ratificadas
em Quebec (2001); se exitosas, elas podem levar à
implementação da Alca depois de 2005, embora subsistam
vários imponderáveis econômicos – acesso a mercados de
produtos agrícolas ou medidas antidumping, por exemplo –
e políticos – correspondência com movimentos e processos
similares de liberalização no âmbito da OMC, iniciativas
semelhantes da UE em direção ao Mercosul. Esse bloco,
com apoio da CAN, logrou obter, em 1997, na conferência
ministerial de Belo Horizonte, que a eventual formação da
futura Alca se fizesse segundo o modelo da adição dos esquemas comerciais existentes na região – conceito de
building-blocks –, e não pela simples diluição ou integração individual dos países latino-americanos ao acordo do
Nafta, como pretendiam então os Estados Unidos.
desde 1995, no chamado Grupo dos Três (G-3), que visa
à constituição de uma zona de livre-comércio num prazo
de dez anos.
Ainda no hemisfério americano, cabe reconhecer que
o maior agrupamento de todos, o já citado Nafta – assinado em 1992, em vigor desde 1994 entre os Estados Unidos, o Canadá e o México – pode ser estendido a outros
países, como revelado em algumas concessões feitas a
países do Caribe e da América Central e, sobretudo, na
decisão tomada pelos Estados Unidos em novembro de
2000 a fim de negociar um acordo de livre-comércio com
o Chile, país que já mantém acordos similares com outros
dois membros do Nafta, o México (1992) e o Canadá
(1998). Dois pequenos grupos regionais atraem mais a
atenção do que efetivamente pesam na balança da região:
a Comunidade do Caribe (Caricom), criada em 1995 com
o objetivo de constituir um mercado comum, mas que não
logrou sequer ser uma zona de livre-comércio; e a Associação dos Estados do Caribe (AEC, 1994), da qual fazem parte inclusive Cuba, os centro-americanos, México
e Venezuela, e que se dedica mais à concertação e à cooperação econômica e política.
Na região da Ásia-Pacífico, destacam-se: a Associação
das Nações do Sudeste-Asiático (Asean), criada na época
da guerra fria (1967) para fortalecer a cooperação política
entre países anticomunistas, mas que admitiu, recentemente
o Vietnã ainda formalmente comunista e que tenta negociar uma zona de livre-comércio passando por um sistema
de preferências tarifárias; a Closer Economic Relations
(CER), zona de livre-comércio entre Austrália e Nova
Zelândia que pode evoluir para uma união econômica; e a
Asia Pacific Economic Cooperation (Apec), fórum de diálogo que associa quase todos os países da bacia do Pacífico (inclusive no hemisfério americano) em um programa
de liberalização de comércio e de cooperação econômica.
Na África, a despeito de tantos experimentos, ao longo dos
anos, quanto na América Latina, o único bloco regional
com viabilidades comerciais – mas inúmeros obstáculos
políticos momentâneos – parece ser representado pela
Southern African Development Community (SADC), composto por uma dúzia de nações meridionais sob a liderança da África do Sul, e que visa à constituição de um mercado comum em médio prazo.
Na última década do século XX, os dois processos aparentemente contraditórios – mas basicamente complementares – da globalização e da regionalização avançaram de
maneira constante e aparentemente bem-sucedida. A UE,
instituída pelo Tratado de Maastricht (1992) e constituí-
COMÉRCIO: LIBERALISMO, PROTECIONISMO,
MULTILATERALISMO E REGIONALISMO
Os fluxos de comércio explodiram ao longo do século
XX, saindo do quadro dos tratados bilaterais típicos daquele século – com cláusulas condicionais e limitadas de
nação-mais-favorecida – para o âmbito dos acordos multilaterais regidos pelo GATT a partir de 1948. Poucas nações, a exemplo da Grã-Bretanha – entre 1856 e a Primeira Guerra Mundial –, praticavam o livre-comércio, mas
as barreiras tarifárias e não-tarifárias eram bem menos importantes no século XIX do que vieram a ser na passagem
para o século XX e, sobretudo, depois da grande crise de
7
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
ou dos direitos compensatórios – ou institucionalizado e sistemático, como no caso da “Política Agrícola Comum” da
União Européia, baseada em mecanismos complexos de proteção à produção local – via subsídios à produção e restrições quantitativas, como quotas e picos tarifários contra as
importações – complementada pela competição desleal no
comércio externo, mediante subvenções ilegais às exportações. Geralmente aplicado ao setor agrícola ou no caso de
algumas indústrias tradicionais não competitivas – siderúrgicas, têxteis, calçados –, o neoprotecionismo dos países
desenvolvidos subtrai aos países emergentes e em desenvolvimento o benefício que eles poderiam retirar do comércio exterior enquanto fator indutor de crescimento e de
transformação estrutural de suas economias.
Alguns mecanismos compensatórios foram desenvolvidos a partir dos anos 50 e sobretudo nos 60 para integrar de forma mais completa os países em desenvolvimento
na economia mundial. Eles se manifestam no sistema geral de preferências – pelo qual os países industrialmente
avançados fazem concessões tarifárias àqueles menos
avançados, sem exigir compensações em troca – e em alguns acordos concessionais que tendem a reproduzir antigas relações de dependência formalmente abolidas com
a descolonização. A conferência das Nações Unidas sobre comércio e desenvolvimento – UNCTAD – tentou consagrar, nos anos 60 e 70, formas mais avançadas de relacionamento comercial, financeiro e tecnológico entre
países ricos e pobres que pudessem institucionalizar, por
meio de acordos multilaterais, o princípio do tratamento
diferencial e mais favorável em favor dos últimos, mas os
primeiros sempre manifestaram preferência por arranjos
mais flexíveis, caracterizados pela concessionalidade unilateral e seletiva (inclusive do ponto de vista político).
Práticas discriminatórias e modalidades pouco transparentes de acesso a mercados continuam, portanto, a marcar o
comércio internacional, a despeito do grande progresso
que se logrou quando, no final da Rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais, se passou, em 1995,
do regime mais “permissivo” do GATT-1947 para os
mecanismos mais estritos do GATT-1994 e da OMC.
Não obstante isso, o tratamento discriminatório manifesta-se sobretudo sob a forma dos esquemas de integração, geralmente entre países vizinhos. Os blocos regionais de comércio adotam como ponto de partida a
contigüidade geográfica para desenvolver mecanismos
preferenciais de acesso aos mercados dos países-membros,
mas a maioria limita-se a esquemas pouco elaborados, ao
estilo das zonas de livre-comércio como o Nafta (embora
1929. Depois do protecionismo dos anos 30, o comércio
internacional cresceu a ritmos sustentados no pós-guerra,
atuando como indutor de modernização tecnológica e de
ganhos de competitividade. De fato, o ritmo de expansão
do comércio internacional, nesse período, apresentou taxas consistentemente superiores ao crescimento do produto global, evidenciando o aumento da especialização, a
diminuição dos custos de transportes e uma estratégia de
market sharing por parte das empresas transnacionais.
Elas são, na verdade, as grandes responsáveis, a partir
dos anos 50, pelo aumento do comércio mundial, que, à
diferença do início do século XX, não mais se reduzia à
troca de produtos acabados entre economias nacionais, mas
passou a ser cada vez mais dominado pelo intercâmbio de
produtos semi-acabados e de componentes, que são exportados, não mais para “países”, mas para outras firmas,
muitas vezes afiliadas ou subsidiárias das primeiras. A
partir do quarto final do século XX, um terço, senão mais,
do comércio internacional passou a ser realizado entre as
próprias firmas multinacionais, em geral no sentido Norte-Norte, já que o comércio Norte-Sul continua a ser dominado por um padrão mais tradicional de trocas, envolvendo matérias-primas e commodities contra manufa turados e outros produtos de maior valor agregado.
Por outro lado, uma parte desse intercâmbio também
começou a ser realizado ao abrigo de sistemas preferenciais, como são os esquemas de integração e os blocos de
comércio, seja no formato mais simples das zonas de livre-comércio, seja nos mais sofisticados de tipo mercado
comum ou união monetária. Esses arranjos econômicos,
sancionados ou não pelo sistema multilateral de comércio regido pelo GATT, começaram a ser feitos, em certa
medida, para contornar obstáculos não-tarifários que passaram a ser erigidos à medida que as rodadas de negociações multilaterais do GATT foram reduzindo, em níveis
geralmente insignificantes, as tarifas aplicadas a bens industriais pelos países mais avançados. Em determinado
momento, o desarme tarifário deu lugar a discussões sobre obstáculos não-tarifários e outras medidas não quantificáveis – chamadas de “zona cinzenta” – cujo impacto
cresceu valendo-se do momento em que novos competidores agressivos, como os países emergentes da periferia
capitalista, passaram a oferecer uma gama mais ampla de
produtos de melhor qualidade nos mercados mundiais.
O protecionismo comercial pode ser ocasional e sujeito
a lobbies setoriais que fazem pressão pela defesa de empregos em determinadas indústrias – como nos EUA, onde ele
em geral assume a forma de abusivas medidas antidumping
8
O BRASIL E OS BLOCOS REGIONAIS: SOBERANIA E INTERDEPENDÊNCIA
pode-se perguntar em que o desenvolvimento dessa modalidade restrita de interdependência econômica contribui para o fortalecimento de sua economia e como a
irrupção da proposta da Alca pode, ao contrário, enfraquecer a “soberania” econômica do Brasil e colocar em
perigo as fundações do Mercosul. Registre-se que as
questões mencionadas já comportam uma opção de princípio pelo Mercosul e uma recusa apriorística da Alca,
como parece ocorrer com a maior parte dos atuais comentaristas da economia brasileira.
Com efeito, muitas das questões que cercam o debate
sobre as vantagens e desvantagens da Alca para o Brasil e
o Mercosul vêm sendo contaminadas por uma espécie de
parti pris ideológico, ou seja, uma posição de princípio
que, por um lado, tende a recusar, em caráter absoluto, os
fundamentos e as implicações econômicas da zona de livre-comércio hemisférica, aceitando, por outro lado, a estratégia política de “menor custo” do Mercosul para a economia brasileira ou a opção pela associação desse bloco
com a supostamente mais benigna União Européia. São
politicamente realistas ou economicamente racionais tais
pontos de vista e correspondem aos interesses bem pensados da sociedade brasileira, que parece ter chegado a
uma nova etapa de sua transição para a modernidade?
Essa não é a postura assumida neste ensaio, que propugna um exame ponderado de cada um dos elementos
em jogo, que tem em vista exclusivamente a formulação
da melhor estratégia possível de inserção econômica internacional do Brasil. Caberia discutir cada um dos argumentos favoráveis ou contrários à Alca, tentando separar
o que se apresenta como realidade econômica decorrente
da liberalização, ou seu possível desdobramento, do que
se poderia classificar como posicionamento político em
relação ao projeto proposto pelos EUA para o continente.
Outra distinção importante a ser feita é a que se refere ao
que se poderia chamar de “componentes estruturais da
Alca” – seus elementos “imanentes”, em linguagem
kantiana – e a simples mecânica do processo negociador,
que vem-se desenvolvendo desde a segunda metade dos
anos 90 e promete estender-se até o início de 2005, pelo
menos, segundo o que foi acordado em nível ministerial
em Buenos Aires e ratificado na cimeira de Quebec, em
abril de 2001.
Com efeito, até a conclusão dessas negociações, cujos
contornos específicos dependem muito do conteúdo do
mandato negociador a ser atribuído pelo Congresso ao
Executivo dos Estados Unidos, torna-se difícil especular
sobre benefícios e ameaças da Alca para a economia do
ele contemple arranjos reforçados em serviços, investimentos e propriedade intelectual). Alguns blocos comerciais avançam a ponto de se converter em mercados comuns (como pretende ser o Mercosul, que ainda precisa
completar sua união aduaneira) e apenas um, a União
Européia, consolidou seu mercado comum e deu passos
decisivos para converter-se em união econômica e monetária, tendo adotado inclusive uma moeda comum, o euro.
Os blocos comerciais tornaram-se importantes atores
da economia internacional, justificando-se que a OMC
tenha decidido instituir, um ano após sua criação, um comitê dedicado a monitorar suas atividades, de maneira a
assegurar que esses arranjos – que, por sua natureza discriminatória, podem desviar fluxos de intercâmbio – preservem a compatibilidade com as regras do sistema multilateral. Em todo caso, na passagem do século XX para o
XXI, o processo de liberalização comercial poderia ser
impulsionado tanto pelas rodadas multilaterais administradas pela OMC, cuja estrutura é formalmente igualitária, como pelos mecanismos geograficamente restritos dos
blocos comerciais.
Entre eles, o Mercosul – uma bem-sucedida experiência político-econômica e o mais importante esquema de
integração entre países em desenvolvimento – parece ameaçado de ser colocado em situação de diluição comercial
antecipada sob pressão da Alca (Área de Livre-comércio
das Américas), projeto que envolve todo o hemisfério (com
exceção de Cuba). Criado pelo Tratado de Assunção de
1991, o Mercosul juntou numa mesma união aduaneira –
com a perspectiva de se avançar para um mercado comum
– as economias da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do
Uruguai, aos quais se associaram, mediante um acordo de
livre-comércio de 1996, Chile e Bolívia. Como resultado
de uma reunião de chefes de Estado dos países da América do Sul em Brasília, em setembro de 2000, negociações
estavam sendo travadas para a conformação de um espaço
econômico integrado nesse continente até 2005, unindo os
países do Mercosul e os da Comunidade Andina.
ALCA: FIM DA SOBERANIA ECONÔMICA
BRASILEIRA E DESAPARECIMENTO
DO MERCOSUL?
Admitindo-se que a opção pelo estabelecimento de um
espaço integrado em seu imediato entorno geográfico,
tal como evidenciado na experiência do Mercosul, constitui uma das principais vertentes da estratégia brasileira de inserção econômica internacional na atualidade,
9
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
A Alca é desejável, benéfica ao Brasil, funcional para
seus objetivos de desenvolvimento econômico e social?
– A Alca representa uma espécie particular no gênero integracionista, tratando-se de um processo de liberalização controlada dos mercados e de abertura administrada
da economia que já vem sendo aplicado pelo Brasil desde
que ele assumiu compromissos negociais nesse sentido em
princípios dos anos 60 (criação da Alalc) e, com maior
ênfase, com base nos esquemas bilaterais de integração
com a Argentina (1986-88) e, de forma quadrilateral, com
os demais parceiros do Mercosul (1991). Os cálculos sobre custos e benefícios desse gênero de abertura foram
conduzidos de forma mais ou menos empírica pelos responsáveis políticos e econômicos em cada uma dessas
oportunidades e julgados compatíveis com as necessidades de desenvolvimento do Brasil, ainda que em nenhum
dos casos se tenha alcançado a liberalização total e a
integração completa dos mercados.
Do ponto de vista estrito do desempenho ótimo das
oportunidades econômicas, toda experiência de integração, ainda que na forma simplificada da eliminação de
barreiras aduaneiras sob um regime de livre-comércio, é
desejável, quanto a uma situação de plena autonomia econômica, pois que corresponde a uma etapa inicial de
liberalização de mercados e de inserção nos circuitos da
interdependência mundial, mesmo em um âmbito geográfico mais restrito. Os economistas, procedendo a uma simulação teórica de caráter extremo, recomendariam aliás
uma liberalização unilateral erga omnes, isto é, conduzindo à plena integração com o mundo, pois que permitindo nesse caso o livre fluxo de fatores e uma alocação
ótima das dotações econômicas. Esse tipo de exercício
ricardiano não foi contudo tentado por nenhum país da
era moderna, tendo apenas se manifestado de maneira mais
ou menos abrangente sob o capitalismo de vanguarda da
Inglaterra vitoriana. Desde então, as experiências de
liberalização têm sido conduzidas sob forma condicional
e restrita, tendo alcançado maior desenvolvimento na
Europa ocidental, nos diversos esquemas ali conhecidos
desde o final dos anos 40 (no Benelux, na Ceca, na Comunidade Européia, na Aelc, na União Européia, notadamente). Todos esses exemplos têm confirmado empiricamente os pressupostos teóricos traçados pelos economistas sobre os benefícios da liberalização ampliada.
Não deveria, portanto, ser diferente para o Brasil, tanto no formato mais restrito do Mercosul como no esquema ampliado de uma futura Alca, ainda que não se possa
arriscar previsões mais positivas quanto a seu caráter fun-
Brasil e para o esquema do Mercosul. Pode-se no entanto
antecipar, com base nas evidências até aqui demonstradas, que o legislativo e os negociadores americanos vêem
a construção da Alca como mero resultado da derrubada
de barreiras latino-americanas aos produtos e serviços dos
EUA, cabendo-lhes bem pouco fazer com suas próprias
barreiras, senão a eliminação geral, com as exceções de
praxe, das tarifas em geral baixas aplicadas na importação de produtos. Essa não tem sido a visão da diplomacia
brasileira, que procura colocar na mesa de negociações
outros elementos importantes com vistas a lograr um acordo final mais equilibrado, não apenas em relação ao acesso a mercados – em que são evidentes diversos focos
setoriais de protecionismo americano – mas também no
que se refere a normas e disciplinas de política comercial,
terreno no qual são igualmente claras as restrições aplicadas a produtos estrangeiros no mercado americano.
Um ponto precisa ficar claro no debate que se vai seguir. A compreensão do que seja um acordo de livre-comércio varia muito de perspectiva, segundo se faça uma
análise acadêmica dos resultados da abertura econômica
e da liberalização dos mercados ou se parta de evidências
mais empíricas resultantes de um processo negociador
concreto. Na primeira visão, de modo geral de cunho economicista, a liberalização comercial, quaisquer que tenham
sido sua amplitude e distribuição entre parceiros, é vista
como positiva, pois que conduzindo a uma alocação ótima de recursos e uma utilização mais eficiente da dotação em fatores. Na segunda perspectiva, pode-se dizer que
não existe, para a maior parte dos negociadores, essa figura utópica do “livre-comércio”, um conceito puramente imaginário que só se materializa nos escritos dos teóricos acadêmicos, mas na verdade dotado de pouco
embasamento prático; para eles, trata-se de lograr a melhor situação possível de reciprocidade no processo de
abertura comercial, administrando áreas de liberalização
progressiva em função das vantagens percebidas ou aparentes. Trata-se de um dilema teórico-prático que não poderá ser resolvido no presente texto, que tem apenas o objetivo
de oferecer alguns elementos de reflexão sobre as opções do
Brasil e do Mercosul na presente fase de discussões sobre a
consolidação interna e o aprofundamento do bloco sub-regional em face da opção hemisférica representada pela Alca.
A discussão pode ser organizada em torno de algumas
perguntas fundamentais, as mesmas que vêm sendo repetidamente colocadas pelos representantes dos meios de
comunicação aos negociadores e estudiosos acadêmicos
do processo hemisférico.
10
O BRASIL E OS BLOCOS REGIONAIS: SOBERANIA E INTERDEPENDÊNCIA
uma situação de mercado plenamente unificado. De maneira que o Mercosul sobreviveria e até poderia aumentar
seu grau de coesão interna ao enfrentar o desafio de uma
zona de livre-comércio envolvente, mesmo se no caso da
Alca trata-se, potencialmente, de uma “super” zona de livre-comércio, compreendendo aspectos pouco usuais nesse
gênero de exercício (como compromissos em matéria de
propriedade intelectual, política da concorrência, compras
governamentais e outros compromissos setoriais não estritamente comerciais). Na prática, é evidente que o “mercado comum do Sul” não passa, atualmente, de uma zona
de livre-comércio deficiente e incompleta, pois que prejudicada pela existência de alguns setores restritos à abertura interna recíproca e de outros funcionando sob regime de comércio administrado. Sua união aduaneira “em
fase de implementação” é consistente com os pressupostos teóricos e empíricos desse tipo de esquema, pois que
tendo de conviver com exceções nacionais à tarifa externa comum, regimes comerciais específicos a algumas situações nacionais “temporárias e excepcionais” e de fato
carente de uma administração aduaneira uniforme e dotada de regras claras (falta de um código aduaneiro ou disposições quanto à arrecadação fiscal, por exemplo).
Ainda assim, mesmo que o comércio intra-Mercosul seja
absorvido e dissolvido no esquema mais amplo da Alca, o
Mercosul tenderá a sobreviver como construção institucional, pois que resultando de uma decisão política no mais alto
nível, que aponta para sua progressão contínua, ainda que
lenta e por vezes intermitente, em direção de um mercado
comum e talvez até mesmo de uma união econômica, a exemplo da Europa de Maastricht (pelo menos no que se refere à
união monetária). Os perigos que cercam sua evolução comercial derivam mais dos desafios competitivos associados
ao pólo econômico dominante e da força centrífuga do dólar
dos EUA, do que da Alca em si, que seria pouco relevante se
fosse hipoteticamente subtraída a potência hegemônica. Contudo, mesmo nessa situação extrema de eventual inoperância econômica do Mercosul em razão da preeminência absoluta dos EUA no esquema hemisférico, o projeto sub-regional
do Cone Sul tende a sobreviver, pois que ele compreende
bem mais do que simples compromissos liberalizadores, estendendo-se a entendimentos sociais, administrativos e de
políticas setoriais outras que as meramente econômicas (justiça, turismo e cultura, ciência e educação, previdência social, entre várias outras), o que justificaria a continuidade
desse projeto político e societal.
Resumindo: a Alca representa um enorme desafio para
a continuidade e para a afirmação da personalidade do
cional, ou não, para seus objetivos de desenvolvimento
econômico e social. Em princípio, a resposta é positiva,
ainda que de forma indireta, uma vez que a integração e a
liberalização produzem situações de maior eficiência
alocativa, conduzindo ipso facto ao aumento da produtividade, à expansão do emprego e à elevação dos níveis de
remuneração. Deve-se no entanto observar que o processo de liberalização comercial, estrito senso, não tem como
missão histórica “produzir” desenvolvimento, isto é, provocar transformações estruturais na formação social que
envolve o sistema econômico, mas tão-somente produzir
maior eficiência produtiva, o que por si só não gera distribuição de riqueza ou justiça social. A agenda desenvolvimentista é algo mais amplo que a forma de organização social da produção, implicando em um complexo jogo
de fatores políticos e sociais que ultrapassam em muito as
possibilidades transformadoras da abertura econômica e
comercial.
Resumindo: a Alca pode ser benéfica para o Brasil, mas
não se deve esperar que ela resolva todos os nossos problemas de desenvolvimento econômico e social no curto
ou médio prazo; estes só podem ser encaminhados internamente, com a mobilização de outros vetores de transformação estrutural – educação, capacitação profissional,
investimentos em ciência e tecnologia, modernização
institucional, etc. –, não de maneira exógena quando de
um impulso originado no entorno econômico externo.
Mercosul e Alca são compatíveis entre si?; a Alca não
pode simplesmente dissolver o Mercosul e condená-lo
ao desaparecimento enquanto experimento sub-regional? – Em princípio, Alca e Mercosul são plenamente compatíveis entre si e até complementares, uma vez que os
esquemas de livre-comércio, mesmo baseados em processos negociais autônomos e independentes, tendem a se reforçar mutuamente e a produzir eficiências dinâmicas que
potencializam os ganhos alocativos. No que se refere especificamente ao caso desses dois esquemas americanos,
pode-se argumentar que uma zona de livre-comércio maior
tende a absorver e a diluir a menor, que foi o que ocorreu,
comparativamente (no gênero união aduaneira), entre o
Benelux e a Comunidade Européia no decorrer dos anos
70 e 80.
Esse não deveria ser o destino, porém, do Mercosul,
que corresponde a uma etapa superior da família integracionista, suplementando seu compromisso de livre-comércio com as obrigações de uma união aduaneira (tarifa externa comum, política comercial comum) e visando
alcançar, num horizonte histórico ainda indeterminado,
11
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
e de serviços, em grande medida voltados para os próprios mercados nacionais. Mais uma vez neste caso, a Alca
coloca ao Mercosul o desafio de seu próprio aprofundamento interno, preservando áreas de preferência sub-regional em um cenário mais amplo de liberalização progressiva no plano hemisférico. A homogeneidade cultural
e a intensidade de vínculos intra-Mercosul deve atuar em
seu benefício, estimulando negócios no âmbito sub-regional mesmo em face de oportunidades ou desafios potenciais no cenário continental mais vasto.
Alternativamente, os perigos presumidos ou efetivos
para o Mercosul derivados do esquema da Alca poderiam
ser pressentidos de acordo com as assimetrias fundamentais que caracterizam as economias do hemisfério, não
apenas como dimensão bruta (a chamada economia de
escala), mas essencialmente em razão dos diferenciais intrínsecos de produtividade e de capacidade de penetração
mercadológica. Ainda aqui, os perigos são mais supostos
do que reais, uma vez que algumas vantagens comparativas naturais e dinâmicas dos países do Mercosul podem
servir de contrapeso ou atuar em seu benefício, no confronto com a potência avassaladora do gigante do Norte.
É de se esperar, por exemplo, que mesmo depois de empreendido sério esforço de modernização produtiva e de
aggiornamento tecnológico por parte dos países do
Mercosul, os diferenciais de produtividade permanecerão
importantes em relação àqueles observados em setores de
serviços e ramos industriais nos quais os EUA já detêm
uma liderança incontestável. Mesmo nesse caso, os diferenciais de custos de mão-de-obra para serviços associados, particularidades dos mercados locais, diferenças ou
especificidades culturais, assim como o simples fator da
proximidade geográfica atuarão em benefício do Brasil e
do Mercosul para ampla gama de bens e serviços, produzindo portanto atração de investimentos e transferência
de tecnologia em um horizonte de tempo indeterminado
depois de começada a implantação da Alca.
Em análise puramente econômica, aliás, a “ameaça” das
assimetrias não apresenta a mesma relevância estrutural,
se pensada fora de um esquema de capitalismo “nacional”.
Com efeito, os economistas deduzem uma situação de
maior racionalidade econômica intrínseca quando um país
industrialmente menos desenvolvido associa-se, em esquema de livre-comércio, a um parceiro mais poderoso, não
quando dois ou mais países igualmente “subdesenvolvidos” empreendem a construção de um “mercado comum”.
Daí as freqüentes críticas de economistas “liberais” ao
esquema do Mercosul, manifestando eles a opinião de que
Mercosul, mas a sua dissolução só se daria por expressa
decisão e vontade dos dirigentes políticos dos países-membros, não em função da criação e implementação plena de
uma zona de livre-comércio hemisférica, que de forma
alguma eliminará, ao contrário até estimulará, o desenvolvimento de outras vertentes integrativas entre os países-membros e associados do Mercosul. Este tem um capital político e uma cultura própria que jamais serão
alcançados no plano hemisférico, por mais poderosa e
abrangente que venha a ser a Alca no domínio econômico
e comercial.
O projeto da Alca não representa uma ameaça fundamental às economias do Brasil e do Mercosul, pelo fato
de que sua vocação liberalizadora vai além da agenda
tradicional de uma zona de livre-comércio, ou devido
a que os elementos de assimetria estrutural são extremamente relevantes quando confrontados ao cenário
mais homogêneo da América do Sul ou à dimensão mais
modesta de todas as outras economias hemisféricas, à
exceção dos EUA? – Sem dúvida que a pauta negociadora da Alca vai muito além do que vinha sendo aceito como
a agenda “normal” de uma zona de livre-comércio – compreendendo apenas liberalização do intercâmbio de bens,
mais algumas disposições de caráter aduaneiro para evitar triangulação indevida –, abrangendo serviços, propriedade intelectual, compras governamentais, investimentos
e outros aspectos menos relevantes, segundo um programa de abertura e de regulação que já se convencionou chamar de “OMC plus”. Pode-se no entanto argumentar que
a Alca apenas antecipa, ou acelera, esses aspectos pouco
usuais das “velhas” zonas de livre-comércio e que tanto o
Brasil como o Mercosul encontrariam a mesma pauta de
reivindicações liberalizantes numa próxima rodada de
negociações comerciais multilaterais ou se decidissem
empreender esforço similar com outros esquemas regionais (como a CAN, a UE ou outros grupos de países).
Nem tudo porém é tão-somente uma questão de tempo, já que a ambiciosa agenda da Alca certamente coloca
desafios de monta aos países do Cone Sul, em especial no
que se refere aos diferenciais de competitividade nos diferentes setores que serão presumivelmente incorporados
ao esforço liberalizador hemisférico (serviços, compras
governamentais, investimentos, por exemplo). Todavia,
deve-se observar que os mesmos temas encontram-se previstos no exercício interno ao Mercosul, processo extremamente complexo e tematicamente diversificado, a despeito mesmo do pequeno número de países engajados e
da dimensão mais modesta de seus aparelhos produtivos
12
O BRASIL E OS BLOCOS REGIONAIS: SOBERANIA E INTERDEPENDÊNCIA
“restauradora” das condições “normais” de competição por
parte dos governos nacionais. Sem embargo, os perigos
são mais aparentes do que reais, uma vez que o próprio
setor privado encontrará soluções pragmáticas a tais
assimetrias, que representam outras tantas oportunidades
para ganhos temporários antes que a liberalização regional converta-se em verdadeiro processo de globalização.
Nesse caso, o excesso, ou a tentativa, de regulação governamental pode dificultar, mais do que facilitar, o processo de superação das assimetrias existentes.
Meio ambiente e normas laborais são fatores limitantes e negativos no esquema de negociações hemisféricas?; tais cláusulas vão bloquear a expansão do comércio ou o livre fluxo dos investimentos? – Tais normas, a
exemplo das barreiras técnicas e outras medidas não-tarifárias que limitam ou obstaculizam o pleno acesso aos mercados, podem efetivamente constituir fatores limitantes a
uma verdadeira liberalização hemisférica, pois que confirmando, se implementadas com base em uma visão exclusivamente nacional da questão, o sistema de “arquipélago de economias” que caracterizou, durante muito tempo,
a economia internacional. A dificuldade não está tanto na
fixação de determinado padrão, supostamente mais elevado, para equacionar problemas no campo trabalhista e na
proteção do meio ambiente – algo continuamente tentado
nos foros multilaterais –, mas em sua utilização abusiva,
de forma unilateral, para bloquear a livre movimentação
de bens, serviços e de capitais e tecnologias, inclusive
mediante o recurso a sanções de natureza comercial. Essa
possibilidade deve ser simplesmente vetada na mesa de negociações, pois que correspondendo a uma reação protecionista dos que desejam “fazer girar para trás a roda da
história”, ou seja, impedir que o capital dissemine-se pelo
planeta, aproveitando as melhores chances de custo-benefício para uma alocação “ótima” de recursos.
Parece ocorrer, nesse particular, uma curiosa colusão
de interesses e de propósitos entre sindicalistas do Norte
e seus contrapartes do Sul, entre ONGs de ecologistas das
duas pontas do continente americano, entre refratários
pragmáticos (por definição de direita) e opositores ideológicos (geralmente de esquerda) ao livre-comércio, ademais da já conhecida (e pouco santa) aliança entre
antiglobalizadores de todos os quadrantes do hemisfério.
Normas laborais e ambientais converteram-se no terreno
comum de luta de todos os que se posicionam contrariamente à Alca, seja pelos nobres motivos da defesa efetiva
do meio ambiente e dos direitos humanos, seja por aqueles bem mais interessados (e por vezes mais mesquinhos)
o Brasil deveria abrir-se diretamente aos EUA num exercício de comércio preferencial, pois tal situação conferiria mais vantagens a sua economia menos avançada, ademais de permitir o desenvolvimento das especializações
produtivas. Na prática, como já constatamos, as situações
de livre-comércio nunca são perfeitas, persistindo espaços
de liberalização restrita e diversos mecanismos de proteção
setorial que inviabilizam o pleno jogo da movimentação de
fatores idealizada pelos economistas teóricos.
Não se trata de uma questão que possa ser resolvida in
abstracto, podendo apenas ser equacionada no terreno
concreto das negociações para a definição das regras da
futura zona de livre-comércio hemisférica, assim como no
domínio bem mais prático (e microeconômico) das associações produtivas que serão promovidas voluntariamente pelas próprias empresas, independente da vontade dos
governos. Com efeito, as empresas, conhecendo o cenário ambiental em que terão de atuar em determinado setor, antecipam-se às medidas governamentais de “imposição” de novas regras, construindo alianças táticas e acordos
pragmáticos com competidores e parceiros em seu setor
de atividade, atuando assim para reduzir de modo progressivo tais assimetrias. Esse processo será tão mais rápido
quanto mais desregulado e aberto for o mercado setorial
em questão.
Não é certo, por exemplo, que empresas brasileiras e as
do Mercosul sejam invariavelmente menos atuantes do que
as dos EUA em todos os setores abertos à competição, assim
como não é seguro que o diferencial mercadológico em
favor das empresas multinacionais seja válido em todas as
situações de acesso e de penetração em novos mercados.
Segmentação da demanda, disponibilidade de fatores, apresentação dos produtos, identificação cultural e sobretudo
capacidade adaptativa e imaginação criadora podem atuar
em proveito de empresas locais em certas áreas de bens e
serviços. O Brasil, historicamente, já demonstrou possuir
uma enorme capacidade de “digestão” de novas tendências e de novas técnicas produtivas, não havendo razão para
acreditar que ele não saberá responder ao desafio que a
Alca coloca para o seu sistema produtivo e para a sua capacidade inovadora. A passividade e o fatalismo nunca
foram traços da personalidade brasileira.
Resumindo: a Alca possui, sem dúvida, certo potencial “destruidor” de empregos, em função das diferenças
reais ou presumidas, de escala e de produtividade, entre
as economias hemisféricas, assim como pelo fato de ela
estender-se a uma gama tão ampla de setores que ultrapassa, por vezes, a capacidade “balanceadora” e a missão
13
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
toda a determinação possível para eliminar as práticas mais
danosas à liberdade de comércio nos terrenos em que ele
apresenta uma competitividade “natural” bastante superior à do parceiro supostamente mais poderoso. Os EUA,
com efeito, já declararam que pretendem deixar intocada,
no processo de negociações da Alca, sua panóplia de
medidas de defesa comercial, numa postura contraditória
com o espírito de qualquer negociação multilateral, na qual
todos os elementos possuindo incidência nos fluxos de
comércio devem ser honestamente objeto de exame e eventual discussão quanto a sua adequação ao novo espaço
econômico integrado.
Esse posicionamento tem menos a ver com a suposta
consistência desses mecanismos nacionais de defesa comercial com as regras do GATT do que com o elemento
de chantagem política exercido pelo Congresso contra a
liberdade de ação dos negociadores do Executivo dos
EUA. Trata-se de elemento puramente político, não sustentável em qualquer critério econômico de competição
leal e de abertura negociada de mercados, e inteiramente
dependente do exercício de uma efetiva capacidade
negocial que deve poder manifestar-se no caso do Mercosul
e do Brasil em particular.
Resumindo: um acordo de livre-comércio hemisférico
no qual determinados componentes da agenda permanecem unilateralmente inegociáveis – uma reprodução econômica do conhecido aforismo orwelliano segundo o qual
no “socialismo comercial” todos são iguais, mas alguns
são “mais iguais do que outros” – não parece corresponder aos princípios aprovados em Belo Horizonte, em 1997,
quanto ao equilíbrio de resultados e ao compromisso
indivisível em benefício de todos.
A Alca conduzirá à desnacionalização da economia brasileira? Subsistirão políticas setoriais em nível nacional,
diminuirá a margem de liberdade alocada à política econômica governamental? – A eventual “desnacionalização”
– não de setores, mas de frações de mercados setoriais – com
base na venda ou fusão de empresas brasileiras a gigantes
estrangeiros não será diferente ou em todo caso maior do
que já ocorre no âmbito do processo de globalização atualmente em curso, que foi voluntariamente assumido pelo Brasil
como um desafio importante a ser vencido, não como uma
ameaça a ser evitada. Em nenhum dos processos conhecidos
de ativa interdependência econômica, como são os existentes no âmbito da OCDE e a fortiori no seio da UE, diminuiu
o papel do Estado ou se enfraqueceu a economia nacional,
pela simples razão de que o capital estrangeiro passou a participar com maior intensidade dos esquemas produtivos in-
da defesa do emprego local ou de uma idílica produção
saudável (e subsidiada), em fazendas familiares supostamente protegidas da concorrência selvagem introduzida
pelas variedades geneticamente modificadas. O mais estranho, certamente, é ver sindicalistas do Sul defendendo
empregos no Norte – uma vez que a introdução de normas laborais tem precisamente como objetivo impedir a
“fuga” do capital, e portanto a transferência de empregos
ao sul do Rio Grande – ou ecologistas, normalmente contrários à desigualdade inerente às estruturas econômicas
internacionais, promovendo o protecionismo agrícola nos
países desenvolvidos ou a manutenção involuntária de populações inteiras de coletores-extrativistas nas regiões tropicais em níveis próximos da miséria absoluta.
A formulação tentativa e a promoção ativa de normas
e padrões ambientais e laborais mais avançados, quando
combinada aos estímulos adequados para a livre circulação de fatores, inclusive da mão-de-obra, pode no entanto atuar como elemento de melhoria nos padrões de vida
da maioria da população, sobretudo nos países ainda em
desenvolvimento, servindo para elevar a produtividade do
trabalho e a performance geral das economias mais atrasadas. Sua vinculação a acordos de comércio tem a virtude, porém, de bloquear a disseminação desses mesmos padrões que seus promotores querem ver implementados,
uma vez que dificulta a mobilidade do capital e a transferência de tecnologia pela simples razão de inibir os fluxos de comércio, em lugar de estimulá-los.
Resumindo: um sistema de códigos de conduta, de caráter voluntário, mas de adesão progressiva, para padrões
ambientais e laborais pode permitir superar situações de
bloqueio “psicológico” que vêm contribuindo para contaminar o ambiente negociador da Alca. Quanto ao Brasil, consciente das limitações, mas também dos enormes
progressos realizados nessas áreas, não parece ter algo a
temer baseado na fixação de metas mais ambiciosas nos
terrenos social e ambiental. A fixação de metas indicativas
para a adesão progressiva dos países, mais do que a determinação de padrões uniformes para todos numa escala
sincrônica de tempo, pode servir para reconciliar o capital e o trabalho, assim como ecologistas e empresas.
Práticas abusivas de salvaguardas comerciais e de
antidumping, assim como políticas deliberadamente
distorcivas das condições de comércio, a exemplo das
medidas de apoio interno na área de agricultura, podem falsear os resultados da Alca, tornando o exercício liberalizador meramente retórico e desequilibrado? – Certamente, o Brasil e o Mercosul devem atuar com
14
O BRASIL E OS BLOCOS REGIONAIS: SOBERANIA E INTERDEPENDÊNCIA
cesso de “preparação” da economia brasileira para “enfrentar a concorrência externa” – período de tempo que é
sempre indefinido e invariavelmente dependente de condições “ótimas” de políticas macroeconômicas, comercial
e industrial, que nunca se realizam na prática –, mas no
próprio bojo da globalização, seja ela restrita ao hemisfério ou ampliada em escala planetária. Processos de “acumulação primitiva” nunca ocorreram de fato, a não ser nas
análises ex-post que tendem a racionalizar a experiência
histórica e a oferecer como “modelo” o que nunca passou
de um processo único e original como desenvolvimento
socioeconômico de determinada formação nacional.2
O Brasil estaria isolado se decidisse permanecer fora
da Alca? – Trata-se de uma decisão inteiramente política, de acordo com uma hipótese extrema, mas que será
tomada com base numa análise econômica e diplomática no curso do processo negociador. A Alca não é o único processo negociador de que participam ou participarão o Brasil e o Mercosul, bastando mencionar o processo
bi-regional com a União Européia, os entendimentos no
contexto da África austral e a opção preferencial no âmbito da América do Sul. As opções para o Brasil e para o
Mercosul não estão fechadas, como alguns cenários mais
pessimistas parecem antecipar. É bem mais provável,
aliás, não existir uma Alca, por razões que não teriam
nada a ver com a oposição ou relutância brasileira (mas
mais provavelmente com a relutância do Congresso e do
próprio Executivo dos EUA), do que ser concluída uma
Alca sem a participação do Brasil.
Uma revisão de meio século do multilateralismo econômico e político revela que nenhum país de dimensões
“respeitáveis”, seja ele “atrasado”, seja desenvolvido, permanece isolado no cenário internacional. A experiência histórica da China, da Índia, da Rússia, e dos próprios países
desenvolvidos ocidentais, a começar pelos EUA e passando pelos grandes da Europa – hoje unidos no mais exitoso
experimento de integração já conhecido – confirma que o
isolamento é uma fase temporária e passageira de qualquer
processo de emergência e consolidação de novas estruturas de poder econômico e político mundial. A posição do
Brasil em relação ao sucesso – ou fracasso – das negociações da Alca não deveria fugir a essa regra não escrita da
diplomacia contemporânea. O Congresso dos EUA, aliás,
teria provavelmente maior responsabilidade nesse eventual
fracasso, do que uma suposta “intransigência” do Itamaraty
ou do Governo brasileiro. Muito depende, em todo caso,
da capacidade negociadora da diplomacia brasileira no
terreno da barganha concreta em torno da Alca, bem como
ternos e dos circuitos locais de produção e distribuição. Ao
contrário, as “pequenas” empresas locais adquirem dimensão nacional e, então, passam a atuar no plano internacional,
constituindo um “capitalismo multinacional” que foi até agora
o apanágio dos países mais avançados. Ocorreu assim nos
casos de Portugal e Espanha, assim como da Itália, e não há
porque descartar que tais processos venham a ocorrer igualmente no âmbito do Brasil e do Mercosul.
O Brasil tem, por certo, um crônico problema de déficit em transações correntes e de desequilíbrio na balança
de pagamentos, que acompanharam todo o seu processo
de industrialização. Entretanto, tais fragilidades estão
igualmente associadas ao ambiente geral dos negócios,
mais do que à ausência de capacidade reguladora do Estado, que assumirá formas novas num cenário mais previsível de planejamento microeconômico. O fato de que parceiros estrangeiros passem a atuar em setores antes vedados
ou mais limitados à presença de multinacionais não se traduz necessariamente numa desintegração automática das
cadeias produtivas, antes numa integração destas a circuitos mais amplos nos planos hemisférico ou mundial.
É evidente, por outro lado, que qualquer acordo internacional que se faça em áreas ainda inéditas de regulação
multilateral ou regional, como é o caso da Alca – que parece apontar para um instrumento relativamente “intrusivo”
como políticas setoriais ou de mecanismos regulatórios –
redunda numa diminuição da esfera da soberania absoluta dos Estados nacionais e na redução ulterior dos poderes regulatórios dos legisladores econômicos e, na outra
vertente, num aumento do grau de interdependência das
economias e da margem de liberdade alocada aos agentes
econômicos privados. Contudo, isso é próprio das tendências atuais tanto do regionalismo, como do multilateralismo
econômico, assim como da própria agenda negociadora
internacional, das quais participa o Brasil em plena consciência de causa e tendo sempre como critério absoluto
de atuação o interesse nacional na matéria. Entre esses critérios não se situa o de privilegiar o capital estrangeiro
em detrimento do capital nacional, mas em atribuir a ambos um ambiente regulatório relativamente uniforme quanto às regras gerais de exercício da atividade, o que é conhecido em terminologia “gattiana” como tratamento
nacional.
Resumindo: a internacionalização da economia brasileira e a constituição de firmas nacionais de dimensão internacional – algo presumivelmente desejado, mesmo pelo
mais ferrenho opositor da Alca e do capitalismo norteamericano – se dará, não no quadro de um suposto pro-
15
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
do estadista, que precisam responder às preocupações de suas respectivas clientelas, sempre inquietas com qualquer tipo de penetração estrangeira na economia nacional.
de sua capacidade “explicativa” em direção dos públicos
externo e interno. Nesse particular, o Brasil – dotado de
uma diplomacia econômica que deita raízes nas primeiras
décadas do século XIX – pode considerar-se bem servido
e dispondo de enormes vantagens comparativas em relação a vários outros países do continente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, P.R. de. Formação da diplomacia econômica no Brasil:
as relações econômicas internacionais no império. São Paulo,
Senac-Funag, 2001.
NOTAS
________ . Velhos e novos manifestos: o socialismo na era da
globalização. São Paulo, Juarez de Oliveira, 1999.
1. A retomada do ciclo da globalização capitalista, numa paródia ao
Manifesto de 1848, foi analisada no livro de Almeida (1999).
2. Este último ponto apresenta certa importância (teórica) do ponto de
vista da sociologia do desenvolvimento econômico, mas tem pouca
relevância prática do ponto de vista do negociador governamental ou
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA: Doutor em Ciências Sociais. Autor de
Formação da Diplomacia Econômica no Brasil ([email protected]).
16
ENTRE DOIS AMORES
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1): 17-29, 2002
ENTRE DOIS AMORES
OLIVEIROS S. FERREIRA
Resumo: Da dupla perspectiva das “alianças” e do Modo de Reprodução Ampliada do Capital (MRAC), as
alianças são vantajosas apenas quando os países que as fazem estão no mesmo grau de maturação do MRAC,
ou contribuem para que novos associados atinjam o estágio dos mais desenvolvidos. O acordo do Mercosul
igualou do mais forte aos mais fracos. Já o ingresso na Alca e um acordo com a União Européia são alianças
em que o Brasil será a parte mais fraca.
Palavras-chave: capitalismo; relações internacionais; Mercosul.
Abstract: According to the double theories of “alliances” and the Amplified Capital Reproduction Mode
(MRAC), alliances are advantageous only when their members enjoy the same level of MRAC development,
or when they contribute to elevating new member nations to the same level as the most developed members.
The Mercosul agreement brought the strongest member down to the level of the weakest. The FTAA, however,
and the agreement with the European Union, are alliances in which Brazil would be the weakest member.
Key words: capitalism; international relations; Mercosul.
“O
Brasil e os blocos internacionais” é um tema
que pode ser tratado de diferentes perspectivas. O que não impede que seja visto com
a perspectiva das “alianças”, já que a adesão a este ou
aquele bloco econômico – supõe-se que o que interessa
discutir seja a pertença do Brasil a um qualquer deles –
tem todas as características de uma aliança e deva obedecer o mais possível às normas que regem a conduta de
quantos se abalançam a fazer esse tipo de associação. Possivelmente por deformação intelectual, parte-se do princípio de que a associação só se dará entre Estados,
malgrado todas as considerações que se possam tecer para
diminuir sua importância em um cenário globalizado.
As relações entre as nações, quer as especificamente
estatais, quer aquelas de que participam outros atores que
não os Estados – atualmente, este é o caso, quando as
empresas transnacionais ocupam posição de relevo no
comércio internacional e são objeto da preocupação intelectual de quantos as fazem protagonistas do jogo político e diplomático internacional a igual título que os Estados – dão-se hoje em cenário planetário. Com isso, não se
quer dizer que as relações econômicas entre a Inglaterra e
seu Império e os demais países que comercializavam com
a Ilha-mundo não cobrissem praticamente todo o mapamúndi, embora não se pudesse dizer que o sistema produtivo fosse o mesmo em Calcutá e Manchester. Com esse
“planetário”, demonstra-se que o Modo de Reprodução
Ampliada do Capital (MRAC) – que define o sistema produtivo em quase todos os países representados nas Nações Unidas –, é hoje dominante no mundo, muito mais
do que o era até a Primeira Guerra Mundial. Esse fato pode
ser constatado sem grande dificuldade, sobretudo após a
Perestroika e de tudo o que veio depois dela na Europa
Centro-Oriental e na antiga União Soviética, das transformações que se estão processando no Sudeste Asiático (em
especial na antiga Indochina, particularmente no Vietnã)
e do progresso econômico da China e seu empenho em
ingressar na Organização Mundial do Comércio. Mais do
que isso, porém, o cenário planetário – para não dizer a
globalização –, faz que, nas relações entre as nações, o
destino de cada Estado esteja sendo jogado, com paradas
mais ou menos altas, em qualquer recanto do mundo por
menor que seja a distância (em milhas marítimas ou terrestres) que separe esse terruño (como diria um espanhol)
dos Estados hegemônicos ou que sejam pretendentes à hegemonia no sistema internacional. Esse fato não deve
17
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
processos produtivos ineficientes da perspectiva do modo
de produção (a negação desse fato é o atraso da indústria
do aço nos Estados Unidos), nos países em via de desenvolvimento o protecionismo retardou a plena vigência do
MRAC e o estabelecimento de relações sociais e políticas impregnadas de seu espírito racional. Ao mesmo tempo – e para essa contradição é necessário atentar-se – verificou-se o surgimento de outros obstáculos à difusão do
MRAC, cada vez mais difíceis de serem transpostos, com
a consolidação da União Soviética, a ocupação de parte
da Alemanha e de toda a Europa Oriental pelos exércitos
soviéticos, a vitória do Partido Comunista na China e o
triunfo do processo de descolonização em muitos países
da África e da Ásia. O bloco socialista, apesar dos contatos econômicos que manteve com o chamado Ocidente,
de certo modo isolou-se de um processo que tende a ser
global (como Marx já apontava no Manifesto), embora a
economia no bloco continuasse, como querem alguns,
presa à produção de mercadorias. Ainda que isso se desse, é preciso ter presente que o sistema político-econômico que vigorou em todo o Comecon, na China e nos países ásio-africanos que aderiram ao modelo soviético (com
as variações nacionais necessárias), reduziu o espaço geográfico necessário à expansão do MRAC – presente o esquema de Luxemburgo –, o que levou a que sua expansão, sobretudo quando expressa nos fluxos monetários,
fosse limitada ao espaço geográfico conhecido como
“Mundo Livre”. O mundo era “livre” do ponto de vista
ideológico e para a condução da guerra fria. Na realidade, no espaço social em que, no “Mundo Livre”, dava-se
a produção de mercadorias e a realização do valor nelas
contido, conviviam sistemas sociais inteiramente distintos e até antagônicos tomando como referência o que
Schumpeter dizia ser próprio do capitalismo: um sistema
econômico que produz, como tipo e no limite lógico de
sua ação social, a democratização, a individualização e a
racionalização dos comportamentos dos indivíduos. Em
outras palavras, no chamado “Mundo Livre”, podiam encontrar-se, como até hoje se encontram, sistemas sociais
em que os indivíduos ainda estão presos a constrangimentos não-estatais – para não falar de uma exacerbação da
coação estatal – e não agem como seres economicamente
racionais. Para dizer de outro modo, conviviam, no espaço geográfico em que se dava a acumulação do capital no
“Mundo Livre”, sistemas produtivos típicos do MRAC e
sistemas que ainda não tinham conseguido aproximar-se
do que seria o tipo-ideal desse modo de produção: democracias e ditaduras; sistemas sociais em que a ação social
obliterar a consciência do outro. Neste cenário, se as principais ações diplomáticas objeto da maioria das análises
dos estudiosos são aquelas desenvolvidas pelos Governos
hegemônicos ou desejosos de ocupar essa posição tendo
em vista seu poder e sua posição geopolítica, não se deve
esquecer o papel que é representado por Estados menos
importantes do ponto de vista de poder, inclusive militar,
mas que ocupam posição de relevo no mapa que configura a chamada nova divisão internacional do trabalho. Em
outras palavras, no estudo das associações ou dos blocos
econômicos internacionais, interessa ver qual a relação que
os países com menor poder (e neste momento interessa
ter sempre presente não apenas o poder militar, mas também as potencialidades ou condições econômicas reais)
têm com os hegemônicos.
Para uma mais correta compreensão do sistema em que
o Brasil se insere e no qual deverá concertar suas alianças, pesando fatores de força e de fraqueza, é necessário
tecer algumas considerações de ordem geral sobre o sistema econômico-financeiro internacional e fazer um pouco de história – sem ser economista ou historiador. Tomase como idéia geral, como se percebe, a classificação que
Raymond Aron faz dos diferentes cenários: o europeu até
1917; o cenário internacional em que se dão as relações
interestatais desde a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial até a rejeição da Sociedade das Nações pelo Congresso norte-americano e desse momento
até 1941; e o planetário, que é atual desde o ataque japonês aos Estados Unidos. Dessa perspectiva, o que se classifica de cenário planetário pode ser apresentado como as
“forças profundas” – de que afirma Renouvier –, mas com
uma ressalva. No pós-guerra 1939/45, há dois processos
que não podem ser esquecidos: um, o predomínio incontestável dos Estados Unidos, que perdurou anos – enquanto
a Europa Ocidental e o Japão não se recuperavam –, cerca de 50% do PIB mundial e que, ainda que perdendo essa
posição, continuam a maior potência econômica do planeta; outro, a continuação do processo de autonomia capitalista de algumas “nações atrasadas” (no sentido em que
Rosa Luxemburgo define esse processo em A acumulação do capital). Não se deve esquecer que nesse período
houve a ocorrência de fatos que constrangeram o triunfo
global do MRAC em sua tipicidade. Fora do bloco socialista, assistiu-se em algumas décadas a volta ao protecionismo generalizado nas nações industrializadas e em via
de desenvolvimento. Se, nas primeiras, as barreiras tarifárias e não-tarifárias criaram obstáculos ao comércio internacional, mas de um modo geral não deram origem a
18
ENTRE DOIS AMORES
se chamar atenção para o fato de que a União Européia,
mesmo tendo que defender políticas de subsídios internos e para exportação e acordos tarifários com países africanos (acordos que se poderia dizer serem reminiscências
do passado imperial e contrariarem a racionalidade interna do MRAC) e lance mão da imposição de barreiras
tarifárias e não-tarifárias, só pôde unir-se porque os países que decidiram firmar o Tratado de Roma estavam praticamente no mesmo estágio de maturação do MRAC. Mais
do que isso: como razões geopolíticas impuseram o ingresso de Portugal e Espanha na nova estrutura econômica (que depois se transformaria numa estrutura política
em sua relação com o mundo exterior), a Comunidade
Européia dedicou, durante alguns anos, uma boa soma de
dinheiro para que as estruturas econômicas e os sistemas
financeiros dos dois países chegassem a um estágio próximo da média da maturação do MRAC nos demais países-membros. Nada disso sucedeu na América do Norte
com o Nafta, que é também um bloco internacional. Especificamente quanto ao México, que embora tenha tido
durante alguns momentos, em especial do ponto de vista
financeiro, vantagens com sua adesão à zona de livre-comércio, não recebeu auxílios para realizar transformações
que lhe permitiriam evoluir estruturalmente e aproximarse econômica e socialmente, em sua totalidade, dos padrões típico-ideais do MRAC vigentes em boa parte dos
Estados Unidos.
Essas observações permitem concluir quanto ao raciocínio daqui para a frente: tal qual nas alianças, a participação em blocos internacionais só apresenta vantagens
para um país quando ele se encontra no nível médio da
maturação do Modo de Reprodução Ampliada do Capital
dos outros membros do bloco ou quando recebe – sem necessidade de abdicar de seu poder de decisão estatal – auxílios suficientes como que para dar o salto que lhe permitirá ombrear com os mais desenvolvidos. Em outros
termos, as alianças, para serem benéficas, devem ser feitas entre iguais.
Ao analisar a recuperação da Europa e do Japão, temse insistido em que o auxílio norte-americano obedeceu
ao interesse egoísta de voltar a criar mercados para os bens
produzidos pela indústria, pelo comércio e pelos serviços
nos Estados Unidos, permitindo a realização de seu valor
e a acumulação do capital no país produtor. Embora esse
objetivo não fosse presente à consciência dos que idealizaram o Plano Marshall e o auxílio ao Japão, o resultado
das operações acabou conduzindo a esse fim – e a outro,
sem dúvida não esperado, qual fosse a progressiva dimi-
era racional com relação a fins e valores econômicos; e
outros em que a ações sociais eram irracionais com relação a fins e valores econômicos – tomados uns e outros
em sua tipicidade. Nota-se com isso, que havia países em
que o MRAC tinha fixado raízes profundas, e países em
que, por força de acordos não escritos entre as elites social e economicamente dominantes, conviviam, lado a lado,
a produção segundo as normas não escritas do MRAC e
aquela em que o espírito capitalista não havia penetrado
por força do constrangimento a que as organizações sociais que sustentavam as classes dominantes submetiam a
economia e a sociedade.
Contudo, não é possível esquecer que se realizaram e
continuam sendo atuais as previsões de Marx quanto a
superação das fronteiras nacionais, na forma de organizações supranacionais. A convergência, se assim se pode
dizer, entre a previsão teórica e a realidade econômica deuse, antes de mais nada, na Europa, onde o capitalismo
moderno lançara suas raízes. Como se lê no Manifesto,
ao ocupar a maior parte do espaço geográfico europeu, o
MRAC “tornou cosmopolitas a produção e o consumo de
todos os países. Para tristeza dos reacionários” – continua Marx – “ele fez que a indústria perdesse suas bases
nacionais. (...) As antigas necessidades são substituídas
por necessidades novas, que reclamam produtos de países e climas os mais longínquos para poder ser satisfeitas.
Os produtos intelectuais das diferentes nações tornam-se
propriedade comum a todos”. Fosse por motivos de ordem política (a superação da rivalidade franco-alemã),
fosse por considerações de ordem econômica (a economicidade das organizações supranacionais controlando primeiro a produção do aço e do carvão mediante a ação da
Comunidade Européia do Carvão e do Aço, depois estabelecendo regras para o funcionamento de um mercado
quase-continental), fosse por força do idealismo de alguns
políticos como Jean Monet, Robert Schumann, Konrad
Adenauer e Alcide de Gasperi, fosse para contrabalançar
a hegemonia norte-americana, o fato é que o MRAC conseguiu realizar seu tipo, superando fronteiras nacionais,
primeiro num espaço geográfico quase-continental e numa
organização econômica internacional, depois supranacional, na Europa.
O Nafta só aparece depois e como união aduaneira
(note-se a distância política e organizatória entre Europa
e América do Norte). Há entre os dois blocos diferenças
que permitirão colocar o problema da participação de um
país como o Brasil em blocos internacionais de uma perspectiva mais próxima da realidade. Com isso, pretende-
19
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
destamente, seu papel no processo inicial da recuperação
da economia do III Reich, dele se beneficiando).
O processo de globalização – que, insiste-se, nada mais
é do que o triunfo global do Modo de Reprodução Ampliada do Capital – só foi possível em sua atual forma histórica1 pela existência de liquidez no sistema internacional
depois da Segunda Guerra Mundial. (Diz-se “atual forma
histórica” para não entrar na discussão sobre as diferentes formas e maneiras pelas quais se deu a “globalização”
a partir do século XVI.) Ao dizer “Grande liquidez” significa que a quantidade de moeda em circulação (qualquer que seja a forma que aparece nos mercados, desde
moeda papel, passando por moeda escritural até a moeda
virtual nas transações por via eletrônica) é maior do que
a necessária para permitir e garantir o “giro econômico”.
Em outras palavras, a movimentação financeira é maior
do que a quantidade de capital necessária à produção de
bens e serviços. Impõem-se duas observações: a primeira, é que foi nos anos 70 que se deu a conjunção da revolução da informática com os efeitos sensíveis do aumento
da liquidez internacional; a segunda, é que a expressão
“Grande liquidez” indica que em certo momento histórico, além da moeda estritamente necessária ao processo
produtivo, os governos puderam “criar” moeda pela expansão do crédito e das quantidades das diferentes moedas M1...M4, mesmo que isso conduzisse à inflação, que
por sua vez aumentaria a liquidez. A referência à revolução da informática é necessária porque foi ela que acelerou o processo de integração dos mercados e do Capital
(agora com maiúscula) e permitiu um aumento extraordinário da produtividade. Além do aumento do crédito e da
massa monetária (fatos que ocorrem nos mercados nacionais com repercussão externa maior ou menor) é necessário considerar que a liquidez internacional aumentou, fora
de controle, pela entrada no mercado financeiro dos
eurodólares, primeiro, e dos petrodólares, depois. Isso
para não mencionar os efeitos inflacionários mundiais que
teve a decisão do presidente Nixon, em 1971, de pôr fim
à paridade do dólar com o ouro. O aumento da liquidez
em decorrência desses fatores, facilitada cada dia mais pela
informática, indica que não é mais o bem ou serviço produzido que se transforma em moeda, criando a possibilidade de realização do valor, do lucro, da poupança (em
situações de normalidade econômica) e conseqüentemente da acumulação. Em outras palavras, à medida que essa
moeda circula no circuito mundial, ela deixa de ser o resultado de um processo econômico em que o mercado
valora os bens (mercadorias e serviços) e estabelece seu
nuição da participação dos Estados Unidos no PIB mundial. Essa redução em pontos percentuais não significou,
em razão da magnitude do PIB e o poderio militar dos
Estados Unidos, a diminuição do poder norte-americano.
Convém, no entanto, atentar para um pormenor: esse tipo
de análise só será completo se não se perder de vista que,
para que se dê a acumulação do capital, é necessário que
se realize o valor contido nos bens produzidos, vale dizer, eles sejam transformados em moeda. Ora, nas relações econômicas entre as nações, a transformação em
moeda significa liquidez cambial de quem compra – seja
liquidez “material”, em moeda forte sonante ou escritural
possuída pelo comprador, seja obtida mediante créditos
ou empréstimos. O Plano Marshall, afora ter sido inspirado pela percepção – que depois se revelou ilusória – da
ameaça soviética aos governos da Europa Ocidental, teve
um objetivo econômico-financeiro consciente e imediato, que foi a criação de liquidez nos países que aderiram à
proposta do secretário de Estado, liquidez essa que permitisse a superação da crise cambial em que a Europa estava mergulhada. A crise cambial, antes de atingir as relações políticas, reflete-se antes de mais nada na economia,
que pára, impossibilitado que se encontra o país de importar matérias-primas e peças de reposição; em seguida,
ou quase imediatamente, a crise cambial ameaça a governabilidade. Em 1947 – essa era a percepção que os
planejadores da política externa norte-americana tinham
do cenário, reforçada pelos temores das lideranças políticas européias –, estavam em jogo os governos e os sistemas políticos, especialmente na Grã-Bretanha, na França
e na Itália. Ora, a manutenção da governabilidade nesses
países era essencial ao êxito da política de containment
que já se esboçara com a Doutrina Truman de auxílio à
Grécia e Turquia.
Se se chama atenção para esses fatos de conhecimento
geral é para assinalar a necessidade de se ter sempre presente que o MRAC só pôde realizar-se, historicamente,
antes da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial, porque houve liquidez cambial no sistema internacional. Sem ela, o MRAC não poderia tornar-se de fato
global, como reclama sua racionalidade interna (nos termos em que Marx colocou a questão, já no Manifesto).
Liquidez cambial ou – negando os princípios do livre
cambismo –, trocas internacionais pelo sistema de barter
e/ou de compensação, sistema que, criando um Ersatz de
liquidez monetária, enseja que a economia desenvolva-se
como se deu na reconstrução alemã depois da Primeira
Guerra Mundial (e o Brasil desempenhou, ainda que mo-
20
ENTRE DOIS AMORES
havia mudado na economia mundial e que se estava diante de um novo cenário, denominado globalização. Esse
novo cenário foi possível porque se tornou viável para as
empresas e para os governos socorrerem-se, em volume
antes impensável, de capitais (empréstimos ou créditos)
em valor suficiente para levarem avante seus projetos e
cimentar suas ambições de poder. Note-se que não se está
diante de um mito grego, e que a massa de dinheiro que
permitiu a globalização – afinal, sem Moeda não é possível continuar o processo produtivo e realizar a acumulação – não pode ser comparada a Palas Atena, a deusa grega que surgiu já pronta e já armada da cabeça de Zeus.
Houve um momento em que o capital-moeda irrigou os
mercados financeiros e, em conseqüência, econômicos. O
aparecimento do eurodólar, moeda não sujeita ao controle dos bancos centrais europeus, marca o início desse processo. A partir da crise que se seguiu à alta dos preços do
petróleo em decorrência da decisão da Opep, em 1973,
ao eurodólar acrescentaram-se os petrodólares. Sua abundância, nos primeiros anos subseqüentes, permitiu o extraordinário aumento da dívida externa dos países em desenvolvimento (até mesmo dos que não tinham condições
de lastrar em suas economias os empréstimos que faziam).
O ciclo do petrodólar tem uma característica perversa: o
dinheiro foi tomado em curto prazo dos produtores de
petróleo pelos bancos que o emprestavam para projetos
de longa maturação, como hidrelétricas – e para que as
operações financeiras de débito e crédito pudessem bater
no final, um empréstimo suposto de longo prazo constituiu-se, a rigor, em n empréstimos de curto prazo, de seis
meses pelo menos, com juros flutuantes. O caráter perverso e antieconômico dessas operações é responsável em
grande parte pela crise da dívida externa dos países em
desenvolvimento – sem contar a cupidez dos empresários
dos países desenvolvidos que procuravam vender não importa a que preço (pago pelos governos compradores) os
seus produtos para projetos muitas vezes mirabolantes, e
pela corrupção que grassou em muitos países, a qual
ensejou a transferência para paraísos fiscais de boa parte
dos empréstimos externos.
A essas considerações acrescenta-se outra – igualmente relevante, embora nem sempre levada em conta no raciocínio sobre relações econômicas internacionais e internas, e que de uma maneira ou de outra obriga os
governos a valerem-se da intermediação bancária internacional para garantir a governabilidade interna –, o crescimento demográfico, associado ao envelhecimento das
populações. Quando se observa o problema econômico
preço, e passa a ter, ela própria, seu “valor” – estamos
diante do que Mandel chama de “capital-moeda”. Mais
ainda. Mesmo com a informática, o “giro econômico“ tem
menor velocidade que o “giro financeiro”, isto é, o tempo
de maturação dos investimentos na cadeia produtiva é, de
modo geral, maior do que o do investimento financeiro.
O “tempo econômico”, o tempo de maturação do investimento, é dado pela tecnologia que comanda o início da
operação produtiva e pela demanda do mercado. Já o “tempo financeiro”, vale dizer, o tempo em que o dinheiro
aplicado deve render o esperado, é sempre estabelecido
pelo investidor individual ou institucional que, como se
fosse Monsieur Jordan, repete Gil Vicente sem saber: “Eu
hei nome Todo Mundo/ e meu tempo todo inteiro/ sempre
é buscar dinheiro/ e sempre nisso me fundo”.
Quando se tem conhecimento do enorme volume de
dinheiro que circula todos os dias pelo mundo, é preciso
não esquecer que essa movimentação por via eletrônica
(pois foram os progressos nas comunicações que permitiram tal circulação anormal de dinheiro pelo mundo)
potencializou a intermediação bancária, à medida que esse
dinheiro deve render, e a única maneira de fazê-lo “produtivo” é mediante empréstimos a empresas ou governos
ou aplicação em mercados acionários ou de derivativos.
O segundo fator a ser considerado é que, ao longo do tempo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, os
investimentos produtivos ou as aplicações em bolsas de
valores e títulos governamentais e commercial papers
passaram a ser institucionais (bancos privados, governamentais ou internacionais como o Bird, fundos de pensão), deixando de ser de pessoas físicas em sua maioria.
Esse fato tolheu relativamente a liberdade de manobra dos
mutuários, tendo em vista as teias de influência e comprometimento dos sistemas financeiros que aplicam e emprestam no exterior com os governos de seus respectivos
países. O terceiro fator relevante é este – embora as análises todas cuidem da globalização –, essa nova fase do
MRAC assenta, na realidade, em economias nacionais nas
quais os Estados nacionais, cuja morte tantos celebram
ou carpem, têm relativo controle pela fixação de políticas
cambiais (quando conseguem sustentar um tipo fixo de
câmbio) e/ou monetárias. Ora, não foi no instante em que
os Estados morreram ou perderam função, mas naquele
em que os agentes econômicos conseguiram, intencionalmente ou não, fazer que aplicações de capital, financeiras
em sua essência, contribuíssem para manter a governabilidade ou desestabilizar governos pela flutuação das taxas cambiais que se tomou consciência que alguma coisa
21
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
nascimento do corpo político, tende sem cessar a destruílo, assim como a velhice e a morte destroem, por fim, o
corpo do homem”.
A avaliação dos fatores de força e fraqueza de um país
quando se vê diante do desafio de fazer ou não alianças
econômicas depende muito da idéia que o observador tenha das estruturas sociais e da organização política da
nação que está estudando. No fundo, o modo pelo qual as
elites dominantes dirigirão o processo econômico, político e cultural (permitindo ou não que a racionalidade do
MRAC seja dominante na economia e informe as condutas sociais) está sempre relacionado com a inter-relação
entre as estruturas sociais, a organização política e o ethos
predominante em toda a sociedade, vale dizer, aquela que
é juridicamente delimitada pelo Estado em determinado
território. É para essa inter-relação que se deve atentar
para poder verificar em que condições os governos brasileiros fizeram as alianças econômicas que, hoje, constrangem a ação estatal e as forças privadas da sociedade.
Não é esta a ocasião para analisar a fundo como se deu
historicamente, no Brasil, a relação entre a Agricultura, a
Indústria e o Sistema Financeiro, sobretudo a partir de
1930, e para procurar estabelecer qual o ethos que predominou no processo político e econômico, decorrência dessa
relação.2 Basta, para o fim que se tem em vista, deixar
claro que a organização sindical e o sistema político permitiram a longa duração, no plano do Estado, do condomínio entre grupos com interesses econômicos e sociais (presumidamente determinados pela adequação das
condutas econômicas ao MRAC) não convergentes e até
mesmo antagônicos, em muitos casos. Esse condomínio
entre os diferentes setores produtivos é o resultado de um
longo processo que se consolidou a partir de 1930; é nesse momento que se verifica que a revolução que deitou
abaixo a República Velha e veio cercada das maiores esperanças, foi gestada, exatamente, no Brasil que não havia atingido um estágio de desenvolvimento que se pudesse chamar de capitalista.3 Esse condomínio, que se
chamou de “Sistema”, respondeu e responde pela persistência no conjunto da sociedade brasileira de muitos aspectos de um ethos que se diria não moderno – por moderno, entendendo-se um comportamento econômico de
acordo com a racionalidade implícita no MRAC. A predomínio desse ethos verifica-se, hoje, pelo maior peso que
os aspectos financeiros e fiscais têm sobre os econômicos
na formulação das políticas não apenas governamentais,
mas igualmente de amplos setores produtivos, e nas condutas individuais de integrantes de vastas camadas da
dessa perspectiva, o dado mais importante, por ser o que
tem efeitos mais imediatos sobre a economia e a vida social, é o aumento da população. O crescimento populacional é relevante por um fato simples: conforme sua taxa,
a economia nacional deverá ser sólida o suficiente para
permitir a criação de empregos e serviços (geralmente
públicos, como educação, saúde e transportes) capazes de
atender às novas gerações que chegam ao mercado de trabalho. No pós-guerra 1939/45, o custo da criação de empregos industriais só tendeu a aumentar, fosse por causa
da inflação, fosse porque a tecnologia que começava a ser
introduzida no processo produtivo exigia investimentos
cada vez maiores. Conforme as características do sistema
político, esses investimentos deverão ser feitos pelas empresas, ou seja, pela combinação da poupança privada
(empresarial ou individual) com o esforço dos Governos
ou apenas pelos Governos. Entre esses, aqueles cuja economia não tem condições estruturais ou político-sociais
(sobretudo um sistema fiscal razoavelmente “democrático”, isto é, em que todos pagam) capazes de assegurar
superávites fiscais que permitam a um tempo a acumulação privada e a expansão dos serviços públicos, recorrem
a empréstimos externos para atender a essas necessidades. Empréstimos, note-se, que têm de ser pagos de uma
maneira ou de outra. Essa “maneira ou outra” resume-se
simplesmente em saldos na balança comercial ou rolagem
dos empréstimos vincendos. Ou então, se não se pretende
recorrer a capitais externos, pelo aumento da carga tributária, que pode ser democraticamente distribuída entre
todos ou onerar as camadas mais pobres da população –
como tem sido a norma em praticamente todos os países,
considerando-se a relação social de forças. Afinal, é preciso não esquecer que, assim como a inflação, a carga tributária é, antes de mais nada, um fato político, pois implica a transferência de renda de uma parte da população
para outra, menor. A má distribuição da carga tributária
é, igualmente, um fato político resultante da relação de
forças entre o Governo e a Sociedade, como Rousseau
apresentou a questão com enorme lucidez no primeiro
parágrafo do Livro III, capítulo X, do Contrato Social:
“Assim como a vontade particular age sem cessar contra
a vontade geral, o Governo despende um esforço contínuo contra a soberania. Quanto mais esse esforço aumenta, tanto mais se altera a constituição e, como não há outra vontade de corpo que, resistindo à do príncipe,
estabeleça equilíbrio com ela, cedo ou tarde acontece que
o príncipe oprime, afinal, o soberano e rompe o tratado
social. Reside aí o vício inerente e inevitável que, desde o
22
ENTRE DOIS AMORES
Schumpeter. Em outras palavras, o mercado externo do
Capital (ainda pensando no esquema de Luxemburgo) é
geográfica e socialmente mais amplo do que seu mercado
interno,4 o que obriga a que a acumulação se dê fora das
fronteiras estatais nacionais – por menor que seja o retorno do valor transformado em moeda de troca internacional. É nesse ponto que o Estado e a Economia fundem-se
num projeto de aliança internacional que nem sempre respeita o princípio de que ninguém deve aliar-se ao mais
fraco em condições de igualdade.
O poder está na razão inversa da distância. Por mais
que se pretenda que a Geopolítica está em desuso, o homem de Estado que pretender realizar uma política externa sem considerar os aspectos geográficos do mundo em
que seu país se insere está, de antemão, condenado a ver
essa política malograr – isto é, a não se realizar malgrado
quantos tratados tiverem sido assinados. A afirmação de
Spykman sobre a relação entre distância e poder pode ser
analisada desde que o país que pretende projetar ou afirmar poder tenha uma dominância econômico-financeira,
de tal ordem no cenário regional ou mundial, que não necessite obrigatoriamente recorrer ao uso da expressão militar de seu poder nacional para afirmar-se perante os mais
fracos economicamente. Vale dizer, havendo esse predomínio, a distância geográfica não é fator impeditivo do exercício do poder, expresso nas relações econômicas. Assim,
as considerações de ordem política que são feitas antes da
tomada das decisões capitais que conduzem à formação
de blocos econômicos devem considerar as condicionantes impostas pela formação histórica do país, pela relação
de forças no plano internacional e pela Geografia, isto é,
pelas relações mais ou menos próximas de vizinhança – a
maior ou menor proximidade sendo determinada não tanto pela cercania imediata, mas também pela existência ou
não de Estados adversos entre um país e outro. Houve
momentos, na história brasileira, em que a distância entre
Brasil e Chile era maior do que a medida em quilômetros
dada a rivalidade entre Brasil e Argentina.
No caso do Brasil, que fatores impuseram sua orientação com a finalidade de estreitamento de relações com seus
vizinhos, como se vê hoje, e sua participação em blocos
econômicos? A crise cambial foi um deles, no passado.
Como já foi assinalado, o País beneficiou-se do sistema
de barter na década de 30 – formando, então, um bloco
econômico, ainda que não formalmente constituído. Dele
faziam parte países cujas moedas eram inconversíveis,
como a Alemanha e países da Europa Oriental e da América Latina. Para fazer face ao protecionismo das nações
população. O condomínio dos interesses econômico-políticos da Indústria e da Finança com os interesses sociais
e políticos (igualmente, se não sobretudo econômicos) das
camadas dominantes de regiões em que ainda não se verificou a plena maturidade do MRAC, determinou uma peculiaridade do desenvolvimento brasileiro: o desinteresse da Indústria e da Finança do Sul pela alteração das
estruturas econômicas das demais regiões, confiantes em
que o processo evolutivo da economia permitiria que tudo
viesse a se igualar no final dos tempos. O síndico desse
condomínio foi o Estado até o governo Collor, quando a
abertura das alfândegas deu início a um processo em que
a Indústria e a Finança viram-se forçadas a enfrentar a
concorrência estrangeira. Duas atitudes eram possíveis,
então: enfrentar a concorrência (se houvesse capital suficiente para realizar a modernização dos processos produtivos) ou simplesmente vender empresas para gozar dos
rendimentos do principal auferido, ou então iniciar em
novo patamar tecnológico um novo empreendimento. É
essa questão – “velho” (o tradicional condomínio de interesses contraditórios) e “novo” (a entrada do capital estrangeiro com velocidade e força insuspeitadas de início) – que explica as diversas alianças feitas no plano
internacional.
O que se pretende esclarecer quando se fala em “condomínio”, é que por força dos interesses que se criaram e
da solidariedade objetiva que passou a existir entre integrantes dos diferentes setores produtivos, ninguém pretendendo abalar a dominação local ou regional de ninguém,
os que militavam na Indústria e na Finança – setores que
na teoria teriam interesse econômico em romper as estruturas sociais das regiões mais atrasadas do País –, em especial seus representantes nas chamadas entidades de classe, conformaram-se simplesmente com auferir algum lucro
nas operações realizadas nas regiões mais atrasadas do
ponto de vista socioeconômico. Essa aceitação do condomínio pelo País moderno apresenta, contudo, um aspecto
negativo do ponto de vista mais geral: é que o valor realizado nas regiões em que o MRAC ainda não se implantou
solidamente não é bastante para atender às exigências impostas pela reprodução do Capital. Isso significa dizer que
o espaço geográfico do mercado interno do Capital é menor do que o espaço geográfico definido pelo Estado brasileiro, e que o acordo tácito entre os diferentes setores
produtivos impede que o MRAC altere, ainda que pela
violência (“parteira da História”), as organizações sociais
que impedem a racionalização, a individualização e a
democratização dos comportamentos, como estabelecia
23
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
via que a represa fosse erguida apenas em território brasileiro. As complicações diplomáticas que adviriam do desvio de parte das águas do rio Paraná conduziram a que se
preferisse o projeto binacional. Qualquer que tenha sido
a razão que levou a operar a hidrelétrica de Itaipu onde
foi construída – projeção de poder (portanto, motivos
geopolíticos) sobre o Paraguai, necessidade de resolver
litígios territoriais de forma pacífica ou decisão de não
criar atritos com Assunção –, o fato é que o Brasil fez
uma aliança em que ele e o Paraguai detêm igual parcela
de poder decisório. Não se afirma que o peso específico
do Brasil faz do governo de Assunção um aliado fácil de
manobrar. A história das relações entre os dois países –
marcada pela Guerra da Tríplice Aliança da qual o Brasil
paga, até hoje, o preço, como se tivesse sido o único país
a combater o governo de Solano Lopez – faz que o Paraguai
não seja esse aliado frágil uma vez que está viva na memória o que foi a última fase da campanha militar. Por
esse fator – pela capacidade que os sucessivos governos
paraguaios tiveram (até o fim do governo militar na Argentina) de jogar com a rivalidade entre Brasília e Buenos
Aires, mesmo sendo a parte objetivamente mais fraca na
aliança e embora estivesse num estágio de desenvolvimento econômico em que não se poderia falar em triunfo do
MRAC –, o Paraguai tem condições de impor, se e quando julgar conveniente suas condições ao Brasil, já que pode
sempre jogar com a carta argentina que nunca é de se desprezar. É preciso não esquecer que o Brasil é, do ponto
de vista das necessidades, a parte mais fraca, já que depende da energia gerada em Itaipu para sustentar o ritmo
de crescimento de sua economia. Até hoje, esse conflito
entre os dois parceiros não aconteceu – mas chegará em
breve o dia em que Assunção pedirá a revisão do tratado
para exigir melhor preço pelo quilowatt-hora que o
Paraguai cede ao Brasil.
Tem-se, assim, que o Brasil participou do bloco dos
países que faziam barter por falta de moeda forte que sustentasse suas importações; do bloco com o Paraguai em
Itaipu porque seu desenvolvimento econômico exigia energia que já não podia gerar com seus próprios recursos
hídricos. O que permite concluir que, nesses dois casos,
as alianças se fizeram para compensar fraquezas – ainda
que conjunturais – do Brasil, as quais impediam o seu desenvolvimento ao ritmo que os governos das diferentes
épocas julgavam possível e necessário.
A criação do Mercosul é o caso da adesão do Brasil a
um bloco econômico que visa atingir objetivos ambiciosos. O grande empenho das autoridades brasileiras para
industrializadas e à crise que se estabelecera no sistema
financeiro internacional, a qual diminuiu sensivelmente
sua capacidade de acumular moedas fortes com que pagar importações e o serviço da dívida externa, esses países foram obrigados a recorrer a esse sistema de compensação que era a negação do livre cambismo que vigorara
até 1914.5 No final da Segunda Guerra Mundial, não houve, da parte dos Estados Unidos nem dos países da Europa Ocidental, a preocupação de integrar o vasto mercado
brasileiro – então potencial – num bloco amplo, nem que
fosse numa zona de livre-comércio. De parte da Europa,
o desinteresse explica-se pelas preocupações econômicas
e políticas com a reconstrução e também porque se reconheciam os constrangimentos políticos impostos pelo Plano Marshall e a realidade geoeconômica do Hemisfério
Ocidental. De parte dos Estados Unidos, o desinteresse
decorria do fato de que tinha como assegurados os
mercados da América Latina, especialmente dos países da
América Central e das Antilhas, não temendo a concorrência inglesa ou francesa, muito menos a alemã. A isso é
preciso acrescentar que, no caso brasileiro, o protecionismo da Indústria e da Finança até certo ponto isolava o
País, impedindo que participasse efetivamente de esforços tendentes à constituição de blocos econômicos que
exigem reciprocidade de tratamento tarifário. Outro bloco a que o País se ligou, desta vez formalmente, foi a
Associação Latino-Americana de Livre Comércio (Alalc).
O malogro dessa tentativa de fazer uma zona de livre-comércio e caminhar para um bloco econômico no sentido
estrito do termo, e os parcos resultados obtidos por sua
sucessora, a Associação Latino-Americana de Integração
(Aladi), em boa medida se explicam pela resistência – aliás
não apenas do Brasil – em fazer concessões tarifárias, dada
a vigência do princípio de “nação mais favorecida”6 que
balizava esses esforços de integração econômica ou, se
quiser, de formação de um bloco na América Latina.
O primeiro “bloco” de fato – pode-se chamá-lo de
“energético” – de que o Brasil participou foi com o
Paraguai, ao constituir a binacional de Itaipu. Pode-se afirmar que é o primeiro bloco de fato, porque o tratado que
permitiu a construção e a operação da hidrelétrica impôs
obrigações a ambos os parceiros e sinalizou, geometricamente falando, pontos de fuga da diplomacia brasileira
que iriam marcar, depois, sua associação com a Argentina e em seguida a constituição do Mercosul. Não se discute mais se teria sido conveniente ao Brasil, para assegurar sua liberdade de manobra, ter construído Itaipu
valendo-se do projeto do eng. Marcondes Ferraz, que pre-
24
ENTRE DOIS AMORES
pensável manter os mercados argentino, uruguaio e paraguaio abertos não apenas para a venda de mercadorias e
serviços, mas também para investimentos. Sem remontar
ao apoio disfarçado que se deu à expansão da fronteira
agrícola para o Paraguai, já no primeiro governo Vargas,
esse empenho em projetar poder – sem permitir que se
diga que disso se trata – começou com a sustentação diplomática e financeira à pretensão de empreiteiras brasileiras de participar, ainda que fosse em associação com
empresas locais, da execução de obras governamentais na
América Latina. O procedimento de Brasília nas relações
com Buenos Aires teve como modelo, é evidente, a relação Estados Unidos-Canadá. Vale dizer, no relacionamento
com a Argentina, pensou-se que o Brasil desempenharia
o papel do país mais adiantado e de maior mercado, mas
que teria, no de menor desenvolvimento, um mercado certo, para não dizer cativo, para as indústrias e serviços (sem
mencionar as finanças) brasileiros. O ingresso, no Brasil,
de empresas do bloco, de qualquer setor de atividade, seria bem-vindo, uma vez que significaria aporte de capitais a auxiliar o fechamento das contas correntes do balanço de pagamentos. É preciso observar, porém, que o
Mercosul segue o modelo de Itaipu. Seja por que razão,
seja quem tivesse proposto, o fato é que os quatro países
que integram o Mercosul – e quantos a ele vierem juntarse – têm o mesmo peso, embora um deles seja o parceiro
mais forte. A aceitação do princípio do consenso foi, sem
dúvida, necessária, pelo fato de se tratar da união de Estados soberanos e de o Brasil ter sido sempre defensor da
igualdade jurídica das nações, independentemente de seu
peso específico no cenário internacional. O respeito a essa
política tradicional, porém, tem como conseqüência a redução, de fato, da liberdade de manobra do Brasil, que
pode a qualquer momento defrontar-se com situações como
as que a Argentina (para resolver os problemas de suas
contas externas), o Uruguai e o Paraguai (para enfrentar a
situação criada pela decisão da Argentina), criaram para
o bloco. Uma vez que os sócios do Mercosul são Estados
soberanos, podem adotar decisões de política cambial e
tarifária que vão contra os tratados assinados. Ao proceder dessa maneira, colocam o Brasil na desagradável situação de ou romper definitivamente os acordos celebrados com tanto júbilo e pompa, ou aceitar passivamente
que a pretendida união aduaneira seja transformada ao
longo do tempo numa mera zona de livre-comércio. Embora nenhum dos países que eliminaram a Tarifa Externa
Comum para bens de capital ou reduziram as tarifas alfandegárias para muitos produtos tenham invocado razões
que o Mercosul não seja apenas uma zona de livre-comércio, mas mantenha sua característica de união aduaneira,7
indica que não são apenas objetivos econômicos imediatos que acabaram conduzindo à criação do bloco. É importante ver que as políticas que os governos Itamar Franco
(do qual o senador Fernando Henrique Cardoso foi
chanceler antes de ser ministro da Fazenda) e o atual governo mantêm com relação à Argentina difere radicalmente
daquelas sustentadas durante os governos Médici e Geisel.
Especialmente durante o governo Geisel, a política foi de
nítida hostilidade a Buenos Aires, bem como foi de agressiva afirmação das posições brasileiras. Se é possível dizer que, Médici consule, o governo brasileiro reagia à
pretensão argentina de que a cota de Itaipu fosse menor
(o que diminuiria a capacidade geradora da usina) para
permitir a construção da usina argentina de Corpus. Durante todo o período Geisel, o governo brasileiro manteve uma atitude de hostilidade quase declarada, a qual foi
qualificada por muitos observadores de “política chauvinista de grande potência” – numa referência à crítica
que a China de Mao Tsé-tung fazia à política norte-americana. Possivelmente para não serem comparados a um
presidente militar, Itamar Franco e Fernando Henrique
Cardoso realizaram (e até hoje se mantém essa atitude)
uma política passiva, o que tem permitido à diplomacia
argentina sustentar com razoável atrevimento, para não
dizer insolência em alguns casos, uma posição de intransigente defesa dos interesses nacionais argentinos – o que
é apenas compreensível. Essa hipótese – a de que os governos Itamar e Fernando Henrique Cardoso não querem
ser comparados aos governos militares – não tem sido
aventada quando se procura explicar as razões que levam
o Itamaraty, mais basicamente o Planalto, a concordar com
tudo em nome da solidariedade sul-americana ou das futuras vantagens econômicas para o Brasil. Há quem sustente que o objetivo de não aceitar a ruptura, insistindo na
manutenção do status quo, é fortalecer a economia brasileira no confronto com a economia mundial, e permitir
que se sustente uma posição mais firme no momento em
que se discutir a sério a criação da Alca. Há outra hipótese, que se perfila – ainda que sem atentar para a forma
que assumiu a acumulação do Capital no Brasil, nem tendo presente as condições que presidiram a formação e
desenvolvimento da indústria e da agroindústria brasileiras (o condomínio mencionado anteriormente, em especial o fato de que a cumulação do Capital realiza-se de
maneira mais favorável fora das fronteiras) –, as autoridades brasileiras apresentam consciência de que é indis-
25
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
europeu. Não se deve, contudo, apesar desse fato ser verdadeiro e reconhecido, supor que um acordo com a União
Européia possa ser uma tábua de salvação para a economia brasileira e impeça a submissão do Brasil aos Estados Unidos.
Fatores de fraqueza e de força do Brasil nessa negociação:
- a política de incorporação de equipamentos militares
realizada ultimamente pelo Exército e pela Marinha –
tanques e navios que, da perspectiva tecnológica norteamericana, são obsoletos – aponta para a dependência em
setor estratégico. Essas incorporações seguem-se à ratificação do Tratado de Não-Proliferação Nuclear e à daquele que inviabilizou a pesquisa de ponta no setor balístico,
direcionando o Brasil a entrar no rol das nações “confiáveis”, mas sem perspectiva de avanços tecnológicos realmente significativos nessas áreas;
jurídicas para fundamentar suas atitudes, poderiam fazêlo, como em 1914 pensadores alemães fizeram, para legitimar a violação do tratado que assegurava a neutralidade
da Bélgica: os tratados devem ser observados até quando
se modificam as circunstâncias que levaram a sua assinatura: Pacta sunt servanda, sem dúvida alguma, mas deve
respeitar-se a cláusula rebus sic stantibus.
A crise do Mercosul decorre da associação de um forte
com mais fracos, todos tendo o mesmo voto nas decisões
cruciais. Isso para não dizer que, nesse bloco, o Brasil é
um e os países de origem hispânica são até agora três. Mais
ainda. Não se deve nunca esquecer que o Império brasileiro entrou em guerra com todos os três – a célebre Questão do Prata, Oribe, Rosas e Lopez. Se os brasileiros não
têm memória das relações belicosas do Império e da animosidade republicana com os países do Prata, os platenses
têm. Isso não deve ser esquecido, jamais.
A crise do Mercosul poderia ser resolvida politicamente
se o Brasil tivesse a audácia de propor aos outros três
membros efetivos a constituição de uma Confederação.
Como não terá essa coragem, manterá sempre a mesma
posição de equilíbrio instável, que não o favorece, podendo
prejudicá-lo, inclusive nos preparativos para enfrentar o
problema que se apresenta pela frente, que é a Alca.
“Entre os dois, meu coração balança.” Esse é, desde
algum tempo, o dilema em que vive a diplomacia brasileira – para não falar nas chamadas classes produtoras reunidas nas associações de classe das quais as empresas estrangeiras guardam razoável distância. Colocado diante
da proposta de criação da Associação de Livre Comércio
das Américas, o governo considera a necessidade de uma
escolha entre União Européia e Estados Unidos, ou então
o cortejo à União Européia para reduzir a pressão norteamericana. Desde que não se trate de mero jogo de cena –
e a menos que o que de fato esteja em jogo seja a manutenção da política de afastamento dos Estados Unidos, a
qual se consagrou no governo Ernesto Geisel – o dilema
não existe do ponto de vista estritamente econômico. A
rigor, os negociadores brasileiros deverão se empenhar
para demonstrar que a eliminação de tarifas alfandegárias
para produtos europeus causará menos prejuízos à “indústria instalada” no Brasil (prefiro essa expressão àquela
outra, de “indústria nacional”) do que um acordo celebrado nos mesmos termos com os Estados Unidos. Ninguém
negará que a potencialidade norte-americana é maior do
que a européia, e que, assim sendo, o choque tecnológico
que o livre-comércio com os Estados Unidos provocará
no Brasil terá efeitos sísmicos maiores do que o choque
- o Brasil está sozinho. Insistir nas negociações 4+1
(Mercosul em bloco com qualquer outro país) é linguagem diplomática ad usum Delphini. Diplomatas experimentados não devem esperar que esse princípio seja considerado pelos demais membros do Mercosul depois do
que a Argentina e o Uruguai fizeram nessas últimas semanas para desatrelar-se dos tratados constitutivos do
bloco;
- a situação de crise cambial permanente (atual ou previsível em médio prazo) em que está a maioria dos governos latino-americanos não favorece a adoção, por eles, de
uma política de “não passarão” diante dos Estados Unidos. Pelo contrário, coloca cada governo diante da
disjuntiva: abrir mercados com algum prejuízo para setores socialmente dominantes – que poderão encontrar, residindo no Exterior e lá fazendo aplicações financeiras, o
remédio para seus males – ou se isolar da comunidade financeira internacional. Nos anos 20 e 30, Haya de la Torre tinha conhecimento do que significava a expansão do
capital norte-americano na América Latina, “Indoamérica,
Nossa América”; por isso, preconizava a Federação (não
a Confederação, sempre a Federação) da América Índia,
ou Latina, pois apenas a Federação impediria que o Capital entrasse em Indoamérica por meio de qualquer país que
ficasse fora da Anfictionia bolivariana;
- a fragilidade das contas externas é fato que obriga a que
se saiba, de antemão, até que ponto vão as ligações da
comunidade financeira norte-americana e do próprio Fundo
Monetário Internacional (em que os EUA têm, se quiser,
controle) com a política de segurança norte-americana. É
26
ENTRE DOIS AMORES
Mercosul faça o acordo com a UE ou com os EUA. Nos
dois casos, coloca-se interessante questão, que poderá ter
solução desfavorável ao Brasil, especialmente se, no segundo caso, o país do Mercosul que fizer o acordo não
romper juridicamente os acordos constitutivos do bloco.
Nessa hipótese, ausente o Brasil de um acordo com a UE
ou os EUA, e tendo um membro do Mercosul aderido a
uma zona de livre-comércio – e os precedentes indicando
que pode aumentar ou reduzir a TEC –, como se faria a
importação dos produtos europeus ou norte-americanos
pelo Brasil, via país do Mercosul?
No que se refere à Alca, o fato de o presidente da República haver declarado no Canadá que o Brasil só aderirá à Alca se lhe for conveniente (o que soa como óbvio) tem levado muitos a considerar que sem o Brasil a
Alca não será constituída. Se essa postura orientar as negociações, a posição do Brasil poderá deixar de ser de
força para transformar-se em fraqueza – pois o futuro
do desenvolvimento industrial e financeiro ficará na dependência do que decidirem Argentina, Uruguai e
Paraguai, que têm menos poder de barganha que o governo de Brasília e poderão ser levados, por legítimo
interesse nacional ou de suas classes dominantes, a aderir à Alca. O problema, aliás, é o mesmo quando se fala
das negociações com a União Européia.
É interessante analisar os fatos e o discurso dos partidários do acordo do Mercosul com a União Européia para
ver como a posição do Brasil é menos forte do que se supõe. Essa suposição, é bom ficar claro, vem da circunstância de ter-se estabelecido que o Brasil pode escolher
entre a Alca e a União Européia – entre dois mercadoscontinente em que o Modo de Reprodução Ampliada do
Capital atingiu seu pleno desenvolvimento e no qual a
produtividade aumenta especialmente pelos progressos
tecnológicos. Os fatos são de conhecimento geral: na última reunião entre o Mercosul e a UE, o comissário europeu para o Comércio, Pascal Lamy, jogou sobre a mesa o
que a Europa pode e quer fazer, obrigando o Mercosul a
apressar-se para responder à provocação européia. É que,
no fundo, permitindo que seu coração balance entre dois
amores – o Mercosul e o Brasil, em particular –, procedem como se, pelo fato de ser uma cobiçada donzela, os
aventureiros que dela se querem apossar sejam obrigados
a proceder com tato e cortesia. Ledo e perigoso engano.
O discurso revela tudo, e mostra porque – tendo-se em
conta os fatos criados pela Argentina, pelo Uruguai e pelo
Paraguai – a posição do Brasil não é tão forte como se
quer que seja.
preciso não esquecer que os Estados Unidos fixaram como
sendo de seu interesse nacional a globalização da “democracia econômica de mercado”, e que esse objetivo configura parte de sua política de segurança.
Uma pesquisa mais demorada poderia acrescentar outros fatores de fraqueza a esses apontados. Contudo, caberia registrar, agora, que a insistência em que a União
Européia e os Estados Unidos modifiquem suas políticas
de subsídio à Agricultura pode traduzir o mesmo espírito
de “chauvinismo de grande potência” assinalado no governo Geisel, só que agora com sinal trocado: “chauvinismo de grande mercado potencial”. Isso, além de não reconhecer que um dos pilares de sustentação dos governos
europeus e norte-americano é a Agricultura subsidiada.
Há outro elemento, desta feita interno, que não pode ser
esquecido nesse tipo de consideração: uma vez que a Europa (e os Estados Unidos, igualmente) precisa vender produtos de alta tecnologia, a mudança na política agrícola
(se fosse possível fazê-la, dada as circunstâncias políticas internas de cada país europeu) poderia significar que
as exportações brasileiras de commodities aumentariam,
mas não as de produtos manufaturados com alta tecnologia, o que poderia fazer que perdurasse por mais tempo o
condomínio a que se referiu.
Quais são os fatores de força?
O Mercado – Deve levar-se em conta que, rigorosamente, ele deve ser tido como potencial por causa da má distribuição de renda. O mercado efetivo não pode ser medido pelo dado bruto do total da população, mas pelo
rendimento das classes sociais (critérios exclusivamente
econômicos, de rendimento). Embora o mercado efetivo
seja menor do que o potencial, o Brasil é o maior mercado da América do Sul, e poderá crescer desde que haja
políticas de incorporação da grande massa de despossuídos
à economia de mercado. Do ponto de vista do interesse
brasileiro, o importante é saber que porção do mercado
efetivo absorverá bens que incorporem tecnologia de primeira geração – para não falar da possibilidade da economia absorver bens de capital com alta tecnologia que possa ser incorporada e reproduzida, e que parte do mercado
será, por assim dizer, tomada por produtos acabados de
fino gosto e que parte dele absorverá bens acabados de
consumo de massa.
O mercado do Mercosul – Esse fator de força poderá
transformar-se, para o Brasil, em fator de fraqueza se
porventura realizar-se uma das duas seguintes hipóteses:
a primeira é que a negociação 4+1 seja levada a cabo com
êxito; a segunda, é que malogre, mas um dos membros do
27
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
acordo com a Europa faça-se até 2004, como quer o comissário Lamy.
Pela amizade que nutre pelos países do Mercosul, ou
atendendo aos interesses europeus, Touraine passa por
cima dos dados da Geografia e faz sua opção, que deve
ser a do establishment europeu: “A Europa, que precisa
vender produtos de alta tecnologia e que também precisa
contratar profissionais qualificados, tem muito mais interesse em desenvolver a América Latina do que um mundo
árabe ainda fraco e dividido”. A lógica dos mercados praticamente derrotou a da Geopolítica de Spykman, que fazia o poder residir na razão inversa das distâncias. E
Touraine avança, sem ambages, a linha mestra da estratégia européia; “Ao ajudar a Argentina a se reencontrar,
tornamos possível ao Brasil conservar ou retomar uma liberdade de iniciativa e de escolha que apenas ele pode
exercer para o conjunto do continente e que, hoje, corre o
grave risco de desaparecer”. Não se poderia ter colocação mais clara de uma política de ocupação de mercados
e de tentativa de fazer, no campo político, aquilo que
Canning realizou em 1823, levando Monroe a proclamar
sua famosa “Doutrina”: o então secretário do Foreign
Office gabava-se de haver restabelecido o equilíbrio europeu, incorporando, sob influência inglesa, o Novo Mundo ao Velho. O que se pretende, agora, é a mesma coisa,
sabendo-se que não mais existe a esquadra inglesa para
assegurar a integridade dos países sul-americanos diante
de qualquer pretensão espanhola ou francesa. Existem,
porém, para Touraine, Espanha e Itália, que têm profundas raízes – e, especialmente a primeira, enormes capitais
aplicados na América hispânica – que podem auxiliar na
aliança com o Mercosul, partindo de um ponto de apoio,
que é a reconstrução argentina (o que faz do Brasil, como
se tem e como o atual governo de Brasília parece fazer,
um ator de segunda importância no jogo europeu). Para o
Brasil, depois de a Argentina estar recuperada, está reservado um papel de relevo: despreocupado com as crises de
seu vizinho, ajudará a restabelecer o equilíbrio de poder
entre a Europa e os Estados Unidos, exercendo sua influência sobre o conjunto do continente sul-americano. É este
que interessa à Europa – as Américas do Norte e Central
são dadas, desde já, como sob a influência norte-americana via México.
Se se estendeu nessa exposição da estratégia européia
– aliás posta a nu sem nenhum pudor – foi para que não se
faça da opção européia a salvação, a única possibilidade
de independência do País. Não que as intenções dos Estados Unidos sejam melhores. São iguais e têm a apoiá-las
O discurso é revelador. Antes da reunião com o Mercosul, falando em Genebra, Lamy foi claro: “Vamos ficar
um ano à frente da negociação da Alca” –, com isso fica
explícito dizer que a Europa espera concluir as negociações sobre a zona de livre-comércio com o Mercosul em
2004. Na seqüência da entrevista, desvenda a razão da
pressa em firmar o acordo: “A Europa tem interesse estratégico na consolidação e solidez do Mercosul e é nesse
contexto que vemos o acordo de livre-comércio bi-regional”. E mais adiante: “Não estamos preocupados com questões táticas ou mercantilistas. Um Mercosul forte é uma
prioridade para nós” (Gazeta Mercantil, 5/7/2001:7). Que
se concluiu dessa oferta generosa? Que o importante para
a Europa é o Mercosul – e essa importância existe ainda
que se saiba que o bloco está cindido.
A posição européia fica mais clara quando se lê o artigo que Alain Touraine publicou no jornal Folha de
S.Paulo, de 23/07/2001. O brilhante sociólogo, um dos
membros do establishment acadêmico francês e, nessa condição, capaz de refletir ou influenciar o pensamento do
establishment político, é conhecido como amigo do presidente Fernando Henrique Cardoso e do Brasil, onde lecionou e fez discípulos. Que diz ele, no artigo? Primeiramente, deixa claro que o acordo com o Mercosul é uma
questão – eu diria que, para ele, vital – de tempo. As razões estratégicas não referidas por Lamy, ele as deixa claras: a Europa está agindo em três direções para consolidar sua economia, abrindo maiores mercados: Leste
europeu, Mediterrâneo Sul (desde Turquia a Marrocos e
Mauritânia) e América Latina.
O Leste europeu não apresenta problemas, dado o volume de capitais que auxiliam a reconstrução econômica
dos antigos membros do Comecon. O Mediterrâneo é extremamente problemático por causa da situação argelina.
A crise de Estado que se delineia na Argélia, retratada pela
rebelião na Cabila, que é berbere e não quer se sujeitar a
um governo árabe, impedirá por algum tempo a penetração européia. É na América Latina que o tempo urge, pois
ou a Europa age com rapidez e consegue bons frutos, ou
se verá excluída da área pela Alca.
Touraine sabe que as ações do ministro Cavallo foram
um golpe no bloco do Cone Sul. Por isso, escreve que o
Mercosul não existe mais, e que uma Argentina refeita de
sua crise – ele admite os fatos em sua crueza – poderá
negociar diretamente com os Estados Unidos. Nesse quadro, apenas o Brasil quer conservar a unidade do Mercosul.
No interesse estratégico da Europa, a Argentina precisa
ser salva, hoje, para que o Mercosul reerga-se amanhã e o
28
ENTRE DOIS AMORES
5. A esse propósito confrontar a excelente análise de Keylor
(1996:128 ss).
não os capitais de Espanha e Itália, mas o poder financeiro e militar. Um moço que tenha por objetivo, em suas
relações com o mundo, garantir a qualquer preço sua segurança, manter sempre abertas as oportunidades de negócio e procurando impor sua visão de mundo sobre a dos
demais, é tão perigoso quanto aquele guapo rapaz que
persegue a donzela com juras de amor e promessas de casamento, mas mantém segredo de que isso só se dará depois que uma outra, rival dela, estiver em condições de
também com ele se casar.
Assim, pode-se voltar ao início e dizer que, da perspectiva das alianças, a conclusão de um acordo para a constituição de uma zona de livre-comércio entre o Brasil e,
tanto faz, a União Européia ou os Estados Unidos será,
para aquele que chegou a um ponto de maturação superior do MRAC, uma mésalliance. Mestre Aurélio registra
este galicismo como um “casamento de alguém com pessoa de condição inferior à sua”. Condição inferior, mas
capaz, ainda assim, de proporcionar não apenas pingues
lucros, mas gozosas aventuras, que não lhe impedirão o
flerte com uma vizinha rival, que sempre quis casar-se com
alguém que seja forte.
6. Entende-se por “princípio de nação mais favorecida”, neste contexto, a garantia que têm todas as partes de um acordo de comércio de
gozar das mesmas reduções tarifárias que forem acertadas entre dois
signatários do acordo. O princípio pode aplicar-se, também, por decisão soberana de um Estado que decide favorecer um outro, igualando
as tarifas alfandegárias cobradas sobre os produtos dele importados às
vigentes para os produtos de outros países. Enquanto a China não ingressa na OMC, o Congresso norte-americano decide de tempos em
tempos se ela pode gozar dos benefícios do princípio de nação mais
favorecida. A Alalc inscreveu esse princípio em sua carta constitutiva,
e a Aladi não deixou de seguir idêntica orientação. Foi a insistência
nesse princípio que, em boa medida, frustrou todo tipo de integração,
de formação de bloco, uma vez que nenhum país pretendeu fazer concessões que levassem suas indústrias e agricultura a competir com produtos estrangeiros eventualmente mais baratos. Cabe notar, dada a importância que teve no processo de constituição do Mercosul, que a Aladi
reconhece a existência de blocos sub-regionais, que não são obrigados
a submeter-se ao princípio de nação mais favorecida.
7. É conveniente insistir na diferença entre zona de livre-comércio e
a união aduaneira: quando se estabelece a primeira, como é o caso
do Nafta, eliminam-se tarifas alfandegárias e barreiras não-tarifárias
entre os países-membros; na união aduaneira, além de se ter a eliminação de barreiras ao comércio interbloco, estabelece-se uma tarifa
externa para produtos oriundos de países não-membros do bloco. Assim, determinados produtos que são importados pelos países-membros são sujeitos ao pagamento da mesma tarifa aduaneira. É a maneira de proteger os bens produzidos no bloco da concorrência de
países mais avançados num determinado setor produtivo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
NOTAS
BATISTA Jr., P.N. “O círculo de giz da ‘globalização’”. Novos Estudos – Cebrap. São Paulo, Cebrap, n.49, nov. 1997, p.84-98.
1. Paulo Nogueira Batista Jr. vem insistindo em que a globalização já
se realizara em muitos aspectos antes da Primeira Guerra Mundial. Vejase, entre outros, seu artigo Batista Jr. (1997:84-98).
FERREIRA, O.S. Teoria da coisa nossa. São Paulo, GRD, 1986.
KEYLOR, W.R. The twentieth century, an international history. New
York, Oxford University Press, 1996.
2. Uma ilustração desse processo está em Ferreira (1986).
3. A revolução de 30 nasce da aliança de setores dominantes no Nordeste, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, convém não esquecer.
4. No esquema de Luxemburgo, o mercado externo do Capital é sempre mais extenso que o interno até que seja totalmente ocupado pelo
MRAC; aqui, refere-se especificamente às extensões territoriais definidas juridicamente pelo Estado brasileiro.
OLIVEIROS S. FERREIRA: Professor do Departamento de Política da
PUC-SP e do Departamento de Ciência Política da USP.
29
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1):
16(1) 2002
30-36, 2002
O BRASIL E OS CHAMADOS
BLOCOS REGIONAIS
JOSÉ AUGUSTO GUILHON ALBUQUERQUE
Resumo: A hipótese de formação de blocos regionais rivais não se realizou. O Brasil tem hoje a possibilidade
de aprofundar sua inserção de modo complementar em dois arranjos regionais – a Alca e o Mercosul – e um arranjo
inter-regional, entre o Mercosul e a União Européia. A negociação da Alca é a mais importante das três porque
estabelece a referência a partir da qual o Brasil definirá seu papel no mundo.
Palavras-chave: blocos regionais de comércio; Alca; Mercosul.
Abstract: Contrary to expectations, the formation of competing trade blocks has not become a reality. Today,
Brazil has the opportunity to play a larger role in two regional associations – the FTAA and Mercosul – as well
as in the inter-regional arrangement between Mercosul and the European Union. FTAA membership is the
most important of the three, providing as it would a point of reference from which Brazil can define its role in
the world.
Key words: regional trading blocks; FTAA; Mercosul.
A
noção de blocos comerciais foi moeda corrente
no início da década de 90, forjada a partir da expectativa de que, com o fim da polarização política e militar, os interesses econômicos iriam predominar
nas relações internacionais. Como decorrência dessa predominância, os conflitos internacionais tenderiam a opor
interesses comerciais que redundariam, por sua vez, na
formação de blocos, a exemplo dos blocos americano e
soviético durante a Guerra Fria.
Por essa ótica, as guerras comerciais substituiriam as
guerras propriamente ditas, e se poderia esperar um aumento da interdependência comercial intrablocos e um aumento do protecionismo interblocos. Dada a disputa pela
liderança na competitividade internacional, que deixou os
Estados Unidos atrás de seus parceiros europeus e japoneses até o início do governo Clinton, em 1993, previa-se
que os principais candidatos a liderar um bloco seriam precisamente a Alemanha e o Japão.
A forte implantação regional de suas respectivas economias, a da Alemanha na CEE e a do Japão estendendo-se
em círculos concêntricos entre os “tigres” e, posteriormente, no Sudeste Asiático, levava a crer que os blocos que daí
resultariam teriam caráter regional. E o exemplo bem-su-
cedido da CEE permitia prever que ela forneceria o modelo de integração, baseado na forte liberalização interna com
considerável margem de protecionismo externo: a fortaleza econômica. Deve-se lembrar que, após um período de
euroceticismo, a CEE estava a caminho do Mercado Único
em 1993 e já preparando a negociação do futuro Tratado
de Maastricht, que resultou na União Européia, com unificação da moeda e da política externa e de defesa.
Aos Estados Unidos, em parte devido a sua perda de
competitividade, em parte devido às barreiras comerciais
de seus principais parceiros, restaria o caminho da regionalização, já então iniciado com o Acordo de Livre Comércio celebrado com o Canadá. Esse acordo teve continuidade com as negociações, iniciadas em 1991, com o
México e, posteriormente, com o Canadá, para a adoção
do Nafta. A proposta de adoção de uma área de livre-comércio continental, embutida na Iniciativa para as Américas do presidente Bush senior, era tida por alguns como
consolidação de um bloco sob hegemonia regional americana e, por outros, como manobra diversionista, mas nunca como contra-argumento.
Naquele momento, em que não se conhecia a extensão da
débâcle política e militar da ex-União Soviética, ainda era
30
O BRASIL E OS CHAMADOS BLOCOS REGIONAIS
possível prever a constituição de um quarto bloco, formado a
partir da Comunidade dos Estados Independentes, sob a liderança da Federação Russa. Era uma hipótese a ser formulada.
Quanto ao Mercosul, ainda em processo de formação, previa-se um isolamento que o condenaria à irrelevância diante
da dimensão dos demais blocos, ou um destino de inexorável
absorção num futuro bloco americano.
A proposta, então avançada pelos Estados Unidos, de
criação de uma área de livre-comércio inter-regional, unindo as duas orlas do pacífico a partir da Apec,1 não cabia,
obviamente, no modelo de blocos regionais. Mas, em vez
de ser utilizada para infirmar a hipótese era, ao contrário,
empregada como prova contrafactual. Ela constituiria, tal
como a Iniciativa Bush, uma alternativa para o objetivo
realmente buscado pelos Estados Unidos: a formação de
uma fortaleza comercial regional, restrita à América
Setentrional.
Passada uma década, apenas a UE evoluiu de maneira
fiel ao próprio modelo de bloco ao mesmo tempo comercial, financeiro, regulatório, político e de segurança, embora não tenha enveredado, como se temia, por um fechamento comercial crescente. Tampouco se expandiu na
velocidade prenunciada com o fim da Guerra Fria, em direção a uma incorporação rápida e total da Europa ex-soviética, do Oriente Próximo e das antigas colônias.
A incorporação dos países circunvizinhos está na agenda, assim como a unificação da política externa e de defesa, mas apenas a unificação monetária está prestes a efetivar-se por completo. O protecionismo sofreu derrotas
formais – como o compromisso de aprofundar a liberalização da agricultura e de indústrias e serviços sensíveis –
e obteve vitórias de fato – como a reintrodução de novos
argumentos a favor dos subsídios. Mas a UE não é hoje
significativamente mais protecionista do que a CEE antes
de Maastricht. Longe de isolar-se, a UE se mantém em
movimento na direção de acordos comerciais com a Ásia
do Leste, a África Austral e a América do Sul.
Com relação ao Japão, não parece ter havido um movimento significativo em direção à criação de um bloco tal
como previsto. Em sua região convivem várias iniciativas
regionais (como a Asean2) e inter-regionais (como a Apec
e a Falal3), nenhuma organizada em torno de um acordo
comercial. O movimento mais relevante do Japão, até o final do ano 2000, consistiu, ao contrário, em não apoiar qualquer processo rápido de criação de blocos de natureza regional ou inter-regional em sua área de influência.
Pode-se notar, em função do apoio dado ao Falal (Kojima,
2001) e do interesse demonstrado pelas autoridades comer-
ciais japonesas pelas experiências de integração econômica
regional, como o Mercosul e a Alca, que o Japão começa a
rever sua política de não se engajar formalmente em acordos regionais de comércio. Atualmente, encontram-se em
negociação acordos de comércio com dois “tigres” asiáticos, Singapura e Coréia do Sul, e com o que há de mais próximo de “tigres” latino-americanos, México e Chile.
Com relação aos Estados Unidos, as iniciativas tomadas no que diz respeito a acordos comerciais definitivamente não confirmam a exclusividade, sequer a prioridade concedida à formação de uma fortaleza regional. A
literatura aponta, ao contrário, a tentativa de abrir novas
opções na direção da liberalização dos mercados para as
exportações e os investimentos americanos.
Com o impasse criado nas negociações da Rodada Uruguai do GATT, os EUA procuraram negociar acordos que
incluíssem os temas em que eram demandeurs no GATT,
tais como liberalização de serviços e regulação de propriedade intelectual e investimentos. A iniciativa de um
acordo de livre-comércio com o México, proposto por este,
foi direcionada para esse objetivo. Simultaneamente, os
EUA tomaram iniciativas semelhantes com relação à
América Latina e à Ásia-Pacífico.
Tais iniciativas tinham dois objetivos: aumentar a pressão em favor de um desenlace favorável no GATT e, caso
a Rodada Uruguai fracassasse definitivamente, dispor de
alternativas para exportações e investimentos americanos
dentro das condições que lhes pareciam mais favoráveis.
Com o resultado relativamente satisfatório da Rodada Uruguai, tais iniciativas deixaram de ser prioritárias, arrefecendo o interesse inicial.
Entretanto, a estagnação das negociações para a criação
de áreas de livre-comércio na Ásia-Pacífico e nas Américas não pode ser explicada por um movimento de isolamento
regional dos EUA. Longe disso. O sucesso relativo da Rodada Uruguai colocou em segundo plano essas iniciativas
justamente porque corresponde a uma prioridade global
acima de uma prioridade regional. A estagnação das
tratativas para a constituição de uma área continental de
livre-comércio deveu-se à falta de apoio do Brasil e à oposição de grupos de interesse domésticos nos Estados Unidos. E, no caso da Apec, o empecilho veio da oposição de
países da Asean e à falta de apoio do Japão. Em nenhum
dos três casos se pode falar na predominância de um movimento isolacionista regional americano.
Fora dessa esperada divisão do mundo em blocos liderados pelos três grandes, ocorreu uma grande difusão de
acordos comerciais nas mais diversas regiões, ou unindo
31
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
to” no mundo globalizado. Isso porque tal opção implicaria uma escolha a respeito do núcleo de economias nacionais, mais ou menos integradas transnacionalmente, dentro e a partir do qual se processa a integração brasileira
na economia global. E, por decorrência, nas relações internacionais de poder.
Em outras palavras, pode-se chamar essa tríade de estratégico-comercial porque a prioridade política concedida a uma delas deveria envolver uma parte substancial de
nossa identidade externa. O objetivo é apresentar o Brasil
como uma economia emergente – do bloco do eu-sozinho
– como a economia líder do Mercosul, como a segunda
economia do continente americano, ou como a economia
líder de um dos arranjos laterais da economia da Europa
Ocidental?
É uma referência à prioridade política de longo prazo, e
não à urgência pragmática de curto prazo. A diferença
entre as duas é que, no primeiro caso, não importa se o objetivo é atingido em primeiro ou em último lugar, o que
importa é que todos os demais objetivos lhe sejam subordinados e possam ser sacrificados em seu benefício. No segundo, entretanto, trata-se de um objetivo que pode até vir
em primeiro lugar, por estar ao alcance a um custo mais
baixo, mas que poderá, a qualquer momento, ser prejudicado em benefício de outro. O argumento é que, a menos
que se aceite o pressuposto de que a agenda de nossa política externa pode ser totalmente definida do exterior, a prioridade excludente de uma dessas opções de integração deveria basear-se na consideração prévia de uma hierarquia
de objetivos e de prioridades políticas e econômicas.
O caso do Mercosul é ao mesmo tempo o mais complexo e o mais simples. Mais complexo porque o Mercosul
é o marco fundador das relações internacionais brasileiras. Ainda como parte integrante do Império luso, a Bacia
do Prata constituiu o primeiro teatro de cooperação e conflito com outra potência soberana,4 processo que se intensificou a partir do final do século, com a fusão das duas
coroas ibéricas.
Nossas fronteiras na Bacia do Prata foram desde sempre vivas e densas tanto do ponto de vista econômico,
quanto cultural, político ou militar. O mesmo não ocorreu com o resto do território brasileiro, onde as fronteiras naturais separavam em vez de integrar e, a tal ponto,
que era como se não houvesse vizinhos. Não fosse nossa
relação internacional com os “castelhanos” e com seus
herdeiros, teríamos permanecido até o século passado no
esplêndido berço do isolamento em nosso próprio território continental.
diferentes regiões. No primeiro caso, dificilmente se poderia falar em fortalezas comerciais ou blocos tendendo a
um isolacionismo e preparados para guerras comerciais.
Faltariam, na maioria dos casos, recursos econômicos
e de poder para qualquer pretensão de disputa hegemônica com outros blocos. Isso se aplica, por exemplo, aos arranjos comerciais da América Central e do Caribe, da
África Austral, da Ásia Central.
Quanto aos arranjos inter-regionais, como os celebrados
entre a UE e o México e os que estão sendo negociados entre
a UE e o Chile, ou entre o Japão e cada um desses países,
eles atestam, ao contrário, o grau de flexibilidade dos arranjos existentes. O México, membro do Nafta, nem por isso se
vê privado de estabelecer inúmeros acordos, tanto no continente como fora dele.
Assim sendo, a questão dos blocos regionais tem de
ser recolocada, hoje, de maneira diferente daquela como
era encarada na virada da década passada. Para o Brasil
ela não se coloca em termos excludentes, mas sim em termos de um leque de opções complementares. Quais são
essas opções?
Para responder a essa questão pode-se partir dos fatos
ou das idéias. Isto é, partir dos acordos existentes ou em
vias de negociação, ou partir dos objetivos e interesses
em jogo. O segundo método é o que convém a um estudo
policy-oriented. O primeiro é mais apropriado a uma abordagem acadêmica. Neste artigo serão combinados, na medida do possível, esses dois métodos.
A TRÍADE ESTRATÉGICO-COMERCIAL
A economista Vera Thorstensen tem empregado a expressão Tríplice Aliança para evocar o linkage existente
entre as principais frentes de negociação internacional em
que o Brasil se encontra envolvido, a nova rodada global
no âmbito da OMC, as negociações da Alca e as negociações entre o Mercosul e a UE. No que se refere a blocos
regionais ou, mais propriamente, a arranjos regionais de
comércio, as opções do Brasil concentram-se principalmente em três frentes, que em grande parte recobrem as
negociações apontadas por ela. Trata-se da integração subregional no Mercosul, da integração continental na Alca
e da integração inter-regional com a UE.
Essa tríade de processos interligados de integração,
além do aspecto comercial, envolve outro, estratégico,
porque a opção excludente de um desses arranjos em detrimento dos demais, ou a exclusão de um deles em favor
dos demais deveria pressupor uma escolha do “nosso can-
32
O BRASIL E OS CHAMADOS BLOCOS REGIONAIS
cia econômica com os Estados Unidos, sem isolar-se da
economia da região. Para a Argentina, o Mercosul tem sido
o principal instrumento para elevar suas chances de aumentar os ganhos de uma maior interdependência econômica com os Estados Unidos, na medida em que incluiria
o Brasil como fator equilibrador dessa interdependência.
Assim sendo, o Brasil não quer que a Argentina se integre na economia americana porque não deseja se integrar,
enquanto a Argentina não quer se integrar na economia
americana enquanto o Brasil não se integrar, se possível
pela mão da própria Argentina. A Argentina, por sua vez,
não deseja que o Brasil se integre na economia americana
sem levá-la junto, enquanto o Brasil deseja conter ou, pelo
menos, retardar essa integração. Portanto, embora os objetivos sejam opostos, os dois países têm coincidido num
ponto: Brasil e Argentina devem retardar, a curto prazo, o
aumento da integração de ambos na economia americana.
Uma hipótese é que o fator mais agravante da crise do
Mercosul consiste na mudança de posição do Brasil com
relação à Alca, tornando o Mercosul irrelevante para o
principal objetivo comum de seus dois protagonistas. A
partir do momento em que o Brasil reconheceu a inevitabilidade da Alca e decidiu negociar a limitação de seus
supostos inconvenientes e a ampliação dos eventuais benefícios daí decorrentes, o principal objetivo comum do
Brasil e da Argentina no Mercosul – retardar a adesão de
ambos à Alca – tornou-se secundário.
Se isso é verdade, o Mercosul deixa de ser um objetivo
em si mesmo, e seu caráter instrumental passa a prevalecer. Duas perspectivas abertas recentemente passam, possivelmente, a justificar o emprego do Mercosul pelo Brasil no processo de construção de seu espaço econômico
internacional. Trata-se, por um lado, do novo impulso ganho pelas negociações inter-regionais entre Mercosul e UE,
após a oferta tarifária feita pela UE na reunião de julho de
2001 da CNB.7 Como o formato das negociações é bilateral UE/Mercosul, e o mandado da UE é para negociações
com o Mercosul, e não com seus países-partes individualmente, o Mercosul, independentemente da resolução de
sua crise interna, tornou-se o fórum para a elaboração da
agenda e o canal para a negociação comercial com os parceiros europeus.
O Mercosul teria até outubro de 2001 para apresentar
uma contraproposta à oferta européia e, até lá, essa seria
sua tarefa prioritária, passando à frente das negociações
da agenda interna do Mercosul. Não o será necessariamente,
porque o governo dos EUA, por ocasião do anúncio do
novo empréstimo do FMI à Argentina (Folha de S.Paulo,
Isso faz com que se possa considerar a Bacia do Prata
– não propriamente o Mercosul – um destino, na expressão de Celso Lafer, mais do que uma opção. Não que não
tivesse sido possível, desde o início de nossa vida independente, subordinar nosso “destino” platino a nossas opções transatlânticas. Não a principal alternativa do Brasil, na virada do século XIX para o século XX, não fosse
entre prosseguir atrelado ao evanescente império britânico ou se integrar ao nascente império americano, enquanto a Argentina permanecia fiel aos seus laços europeus.
Um destino assim entendido pode permanecer latente durante séculos antes de ser assumido, como ocorreu com a
fase de cooperação e integração com a Argentina iniciada
nas décadas finais do século XX.
O aspecto da complexidade do Mercosul está em que
as diversas dimensões do “destino” platino do Brasil estão profundamente interligadas nas Actas de Iguazú5 e no
Tratado de Assunção6 que as sucedeu. Assim sendo, algo
como um “Mercosul”, em que poderá eventualmente sobressair-se uma ou outra das dimensões do comércio, da
segurança, da cultura, dos direitos e valores globais em
detrimento das demais, deveria, ao menos potencialmente, fazer parte de nosso “destino”.
Tendo em vista a complexidade da interdependência
brasileira com os vizinhos do Cone Sul e, especialmente,
com a Argentina, a tarefa de determinar qual a natureza
prioritária do Mercosul, entre tantas, é extremamente difícil. Por outro lado, a única resposta possível é sim, o
Mercosul tem de existir.
Não obstante, o caso do Mercosul é o mais simples
devido à crise, no momento insolúvel, em que se encontra. Como a crise é, atualmente, insolúvel, não há alternativas: a saída é aquela atribuída a Getúlio Vargas – deixar
como está para ver como fica.
Na verdade, a crise do Mercosul é a conjunção de três
crises: aquela decorrente da desvalorização do real, que
afetou negativamente o conjunto das economias do bloco; a crise decorrente da crise argentina, que levou esse
País a um grau de volatilidade fiscal e comercial que, na
prática, revogou a união aduaneira existente entre os quatro países; e, finalmente, a crise desencadeada com a alteração da posição brasileira em relação à Alca.
Dentro de sua múltipla funcionalidade, o formato do
Mercosul, como área de livre-comércio e união aduaneira, estabeleceu uma solução oposta e complementar aos
objetivos da política econômica externa do Brasil e da Argentina. Para o Brasil, o Mercosul tem sido o principal
instrumento para limitar o aumento de sua interdependên-
33
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
ção aos interesses comerciais brasileiros, é que a área reservada por este último é mais delimitada e restrita e de
estimativa mais factível, enquanto na UE esbarra-se em
questões intricadíssimas de princípio e de política doméstica, como é o caso da política agrícola comum.
A limitação da prioridade política que se pode conceder à integração inter-regional é que ela é inter-regional.
A “cartada européia” sempre foi, para o Brasil, um ponto
de apoio para contrabalançar as enormes assimetrias com
seu principal parceiro no Continente americano, os EUA.
Desse ponto de vista, a integração UE/Mercosul vem servindo para o que foi concebida, isto é, evidenciar para os
EUA que o Brasil tem alternativas.
Hoje é inegável que cada avanço ou retrocesso nas
negociações da Alca provoca um sacolejo no tabuleiro
inter-regional, e vice-versa. De fato, a UE reagiu com inusitada rapidez ao pedido do Mercosul para que formulasse uma proposta de liberalização comercial. Isso ocorreu
depois de cinco anos em que se marcou passo sem que a
UE autorizasse um mandato negociador com relação ao
Mercosul, da assinatura do Acordo Quadro, em 1995, à
Cimeira do Rio, em 2000. Pode-se creditar a atual aceleração do processo, num contexto em que a UE reiterava
sempre que a integração era sobretudo política, aos avanços da Alca na Cúpula de Quebec.8
Por mais que se queira, entretanto, o Brasil dificilmente será uma potência européia, mesmo no sentido em que
os EUA foram, durante toda a Guerra Fria, a maior potência européia e a maior potência asiática. E se, capaz de
amealhar todos os recursos necessários para exercer, na
Europa, algum papel relevante, o Brasil estivesse disposto a pagar o preço econômico, político e militar desse exercício, teria certamente mais vantagem em exercê-lo em
seu continente.
22/08/01), propôs o início de conversações bilaterais com
o Mercosul com vistas à adoção de um acordo de comércio.
Essa nova frente de negociação obedeceria ao formato
4+1 do acordo-quadro firmado entre os EUA e os quatro
países do Mercosul no âmbito da Iniciativa das Américas, o chamado Acordo do Jardim das Rosas (Albuquerque,
2001). Com a derrota de George Bush nas eleições presidenciais de 1992 e o lançamento da Alca em 1994, aquele
acordo perdeu sua relevância, mas foi repescado recentemente na reunião de Assunção do Conselho do Mercosul
em junho de 2001, por iniciativa do Uruguai, que propôs
a abertura de negociações do Mercosul com os EUA em
paralelo às negociações da Alca.
Assim sendo, em que pese sua crise interna, o Mercosul
retoma uma relevância de primeiro plano por se tornar um
instrumento essencial de negociação comercial externa do
Brasil com seus principais parceiros, os EUA e a UE. Isso
em princípio lhe garante, de antemão, uma sobrevida até
2005, prazo para o final das negociações da Alca ou, se
for o caso, até o final das negociações da anunciada Rodada do Milênio da OMC. Ao mesmo tempo, seu caráter
instrumental descarta o Mercosul como prioridade política de integração econômica.
A UE constitui o outro caso. Do ponto de vista das
negociações comerciais e paracomerciais (isto é, de trade
and trade-related issues), a integração econômica interregional com a UE é um processo tão ou mais complexo
quanto o da Alca. Do ponto de vista da multiplicidade de
atores, são quinze países de um lado e quatro do outro,
teoricamente cada lado falando em uníssono mas, de fato,
uma negociação pelo menos em dois níveis (se for excluído o nível doméstico de cada país dos dois blocos).
São negociações comportando um grande grau de desequilíbrio, não apenas entre as economias das duas regiões, mas também entre os países de cada bloco. Não
existe, porém, como existe na Alca, um protagonista claramente delimitado, no caso os EUA (e de certa forma,
do outro lado, seu principal interlocutor na Alca, o Brasil). Falta à UE uma liderança unilateral com relação à
política comercial, o que permite certa deriva entre interesses e estratégias repartidos entre a França, a Alemanha, a Inglaterra – apenas para mencionar os três grandes.
Finalmente, do ponto de vista da simetria das negociações, a UE, tal como os EUA, pretende o máximo de abertura de seus parceiros de ultramar, enquanto quer manter
reservada como inegociável uma área significativa de comércio, cuja dimensão é quase impossível estimar a priori.
O que distingue o caso da UE do caso dos EUA com rela-
A OPÇÃO CONTINENTAL
Esse conjunto de considerações converge no sentido
de apontar para a própria região brasileira como sendo o
foco principal de seus objetivos políticos. Isso não destoa
do princípio quase universal de que nenhuma potência pode
ter alcance mundial sem ter necessariamente uma forte
implantação regional. Ou, em outros termos, não é possível uma potência deter relevância mundial sem pelo menos disputar a hegemonia regional.
Dito isso, o leque de opções brasileiras se reduz ao Cone
Sul ou a todo o continente americano. Dentro dessa ordem de idéias, há dois fortes argumentos em apoio à se-
34
O BRASIL E OS CHAMADOS BLOCOS REGIONAIS
portantes porque são as mais relevantes para a definição
dos objetivos de liderança regional inerentes aos objetivos políticos globais do País. Tanto as negociações com a
UE como a esperada Rodada da OMC lhe seriam subordinadas, porque delas depende a consolidação do papel de
liderança continental do Brasil, perspectiva da qual se
poderá avaliar o alcance dos ganhos e concessões a serem
porventura acordados no âmbito desses dois foros.
Em contrapartida, isso implica uma reversão de expectativas em relação à Alca. Ela só passa a ser relevante, no
que diz respeito aos objetivos maiores do País na medida
em que seja relevante para consolidar seu papel de liderança regional. Desse modo, o objetivo tático de retardar ou
minimizar perdas comerciais é menos relevante do que um
protagonismo eficaz. Por protagonismo eficaz entenda-se
o exercício efetivo da liderança e da interlocução entre atores
com relevância sistêmica. Isto é, o fato de um ator fazer
parte do núcleo de atores que controla de fato o sistema
decisório. No caso da Alca, o número não superior a quatro ou cinco países que decidirão o futuro desse acordo.
Se assim for, a co-presidência do Brasil e dos Estados
Unidos no processo negociador da Alca é infinitamente
mais relevante para os objetivos brasileiros no continente
do que toda a década de protelação do processo negociador, motivado pelo objetivo de diminuir eventuais perdas
comerciais com a adoção e entrada em vigor do acordo.
Mais relevante, inclusive, do que a vitória da diplomacia
brasileira na sua resistência contra a antecipação de sua
data de vigência.
Como observado anteriormente, “nenhum país anfitrião
se sente à vontade com o fracasso de uma reunião da qual
ele é sede. Se existe um inconsciente dos Estados-Nação9
– e deve-se admitir que Freud disse explicitamente que
não –, quando a diplomacia brasileira aceitou hospedar o
Fórum (Empresarial) e a Reunião Ministerial de Belo Horizonte e, depois de Santiago, admitiu co-presidir a fase
final de negociação da Alca, inconscientemente o destino
estava selado” (Albuquerque, 2001). Se isso é verdade, o
inconsciente estratégico do Brasil – que o defende, com
“atos falhos”, dos objetivos inconsistentes de sua política
externa – falou mais alto.
gunda opção. O primeiro, de caráter factual, baseia-se na
evidência do caráter instrumental do Mercosul, tanto para
o Brasil como para a Argentina: enquanto o Mercosul se
justificar exclusivamente pela oportunidade que confere
a seus membros para negociar com terceiros – no caso a
UE e os EUA –, ele não pode aspirar a ser o objetivo central da política externa do Brasil.
O segundo argumento é de caráter conceitual. O lugar
de um país no mundo pode ser definido em termos locais,
regionais ou globais. Exemplo do primeiro caso seria um
país cuja principal aspiração no mundo é sobreviver a seus
vizinhos. Israel e um hipotético futuro Estado palestino
estão enredados nesse tipo de destino.
O segundo caso, regional, talvez possa ser aplicado à
Rússia. Por mais que esse país tente recuperar um destino
global, de longe comparável ao de que desfrutou na Guerra
Fria, sua atuação internacional tende a ser mais relevante
em torno do que fora a Grande Rússia.
O último caso corresponde a todas as grandes potências que, bem ou mal, mantiveram relevância sistêmica
após o fim da Guerra Fria, como os EUA, a Inglaterra e a
França, e também aquelas que almejam algum grau de relevância global no futuro. Todas detêm ou disputam a hegemonia regional, como foi assinalado há pouco.
Assim sendo, a menos que renuncie a ter sua identidade e sua agenda definidas de fora para dentro, e a menos
que renuncie a ter um mínimo de relevância global e regional, o papel do Brasil no mundo não cabe no Mercosul. A
identidade nacional de um país como o Brasil não pode
ser definida em termos locais.
Isso direciona as opções do Brasil para o âmbito do
continente americano, quer o principal objetivo seja ter
relevância regional ou global. Dessa forma, seria pertinente definir seu principal objetivo externo na região, como
sendo o de principal interlocutor dos EUA no continente,
tanto do ponto de vista político como econômico e de segurança e defesa. Isso já lhe asseguraria, de per si, um
papel de relevância global que, no entanto, não teria por
que se limitar a um papel regional. Se o tão propalado futuro, a que o Brasil pertence, um dia chegar, essa base
regional de relevância sistêmica será uma das condições
indispensáveis para que este País se torne um dos protagonistas da ordem mundial.
Se isso for correto, a importância estratégico-comercial
da Alca será medida por sua pertinência no alcance dos
objetivos intrínsecos do Brasil, não em reação aos interesses dos EUA, ou dos demais países, no continente. Desse
ponto de vista, as negociações da Alca seriam as mais im-
CONCLUSÕES
Tudo o que foi dito autoriza a formulação de algumas
conclusões sobre as prioridades brasileiras com relação
aos chamados blocos comerciais. Em primeiro lugar, é necessário estabelecer uma hierarquia de precedência entre
35
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
2. Association of South East Asian Nations.
os três blocos em cujas negociações o Brasil está engajado. Tal hierarquia não pode ser reduzida exclusivamente
à importância do fluxo de comércio. Além das dimensões
de endividamento externo e investimento direto, que não
se confundem com o fluxo de comércio, embora este possa se tornar um fator positivo na sustentabilidade daqueles, é necessário considerar os objetivos políticos do País.
Assim, os argumentos acima convergem na direção de
outorgar à Alca o primeiro lugar na hierarquia dos blocos
com interesse para o Brasil, porque ela é mais condizente
com os interesses globais de nosso país ser identificado
como a segunda maior potência do continente, e não apenas como a maior potência do Mercosul. Vem em seguida
o Mercosul, com as convenientes revisões de rumo, na
direção apontada, por exemplo, em “Integração regional
na América do Sul e a agenda multilateral pós-Seattle”
(Motta Veiga, 2000).
As negociações com a UE, entretanto, com a grande
importância instrumental que de fato possui, viriam apenas em terceiro lugar e deveriam ser subordinadas aos
eventuais resultados de uma futura rodada global de negociações na OMC – precisamente porque é assim que
querem os europeus, assim como corresponde tudo o que
é relevante para os interesses comerciais do Brasil.
3. Forum América Latina-Ásia do Leste.
4. Como as populações indígenas não formavam estados nacionais, não
se está considerando suas relações com os conquistadores como internacionais em sentido estrito.
5. Protocolo assinado pelos presidentes Alfonsín e Sarney prevendo a
criação de uma Área de Livre Comércio entre os dois países.
6. Tratado firmado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai criando o Mercosul.
7. Comissão de Negociação Birregional, fórum das negociações entre
os dois blocos.
8. Raciocínio análogo cabe com relação à rapidez com que os EUA
responderam à proposta uruguaia de negociação bilateral com o
Mercosul, sobre a qual, tudo indica, o governo brasileiro ainda não
tem posição firmada.
9. Ou das coletividades e instituições, para ser mais preciso.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALBUQUERQUE, J.A.G. “A Alca na política externa brasileira”. Política Externa. São Paulo, ago.-out. 2001.
KOJIMA, T. “Future Perspective of Fealac”. Carta Internacional.98,
abr. 2001.
MOTTA VEIGA, P. da (org.). O Brasil e os desafios da globalização.
Rio de Janeiro, Relume Dumará/Sobeet, 2000.
JOSÉ AUGUSTO GUILHON ALBUQUERQUE: Professor de Relações
Internacionais do Departamento de Economia da FEA-USP e Coordenador Científico do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da
USP.
NOTAS
1. Asia Pacific Economic Cooperation.
36
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1): 37-43, 2002
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E OS BLOCOS INTERNACIONAIS
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA
E OS BLOCOS INTERNACIONAIS
FLAVIA DE CAMPOS MELLO
Resumo: A análise do quadro atual das relações exteriores do Brasil, com respeito ao Mercosul e às negociações da Alca, exige também uma avaliação histórica. Nesse sentido deve-se recuperar as origens e a evolução
das estratégias regionalistas da política externa brasileira na década de 90.
Palavras-chave: política externa brasileira; Mercosul; Alca.
Abstract: An analysis of the current state of Brazil’s foreign policy relations with regard to Mercosul and
FTAA negotiations requires a historical perspective, including an examination of the regional strategies of
Brazil’s foreign policy during the 1990’s.
Key words: Brazilian foreign policy; Mercosul; FTAA.
D
esde o final do ano 2000, a política externa brasileira enfrenta dificuldades na articulação das
estratégias diplomáticas do País nos planos subregional (Mercosul), regional (América do Sul), hemisférico (Alca) e inter-regional (as negociações MercosulUnião Européia). Num contexto no qual se acentuaram as
inter-relações entre esses diversos planos, foram explicitados os condicionamentos e limites das estratégias
regionalistas traçadas pela política externa brasileira da
última década. Este artigo recupera as origens dessas diretrizes e sua evolução desde o início dos anos 90 para
analisar o quadro atual das relações externas do Brasil
quanto ao Mercosul e às negociações da Alca.1
formato da integração bilateral Brasil-Argentina, iniciada nos governos Sarney e Alfonsín, refletiam a convergência política entre os governos Collor e Menem, que
buscaram vincular suas políticas externas à reestruturação e às reformas econômicas domésticas. Ao mesmo
tempo, constituíram uma resposta defensiva aos impactos potenciais de outros processos de regionalização e,
sobretudo, antecipavam possíveis efeitos que adviriam da
formação do Nafta. Ante o anúncio do Plano Bush, em
junho de 1990, que propunha pela primeira vez a criação
de uma área de livre-comércio hemisférica, a estratégia
da diplomacia brasileira consistiu em articular uma resposta conjunta com a Argentina, o Chile e o Uruguai, destacando que a iniciativa norte-americana não poderia
contrapor-se aos esquemas de integração em curso no
Cone Sul nem cercear as opções de cooperação com outras regiões do mundo. Essa articulação viria a constituir
a origem do Mercosul, ao evidenciar que o Chile não iria
aderir ao arranjo sub-regional e ao incorporar o Uruguai
e posteriormente o Paraguai. Além do alargamento da
integração sub-regional com a adesão dos dois novos
sócios, o anúncio do Plano Bush também incidiu sobre a
opção pelo aprofundamento do projeto do Mercosul, que
ORIGENS: O MERCOSUL E O PLANO BUSH
Constata-se hoje que as estratégias regionalistas da política externa brasileira que foram definidas no início da
década de 90, no contexto da gênese do Mercosul, em
paralelo com as negociações para a criação do Nafta e
com o lançamento da Iniciativa para as Américas do presidente George Bush, mantiveram-se praticamente
inalteradas desde então. Em 1990, a retomada e o novo
37
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
teria por meta não apenas a criação de uma área de livrecomércio, mas também a constituição de um mercado
comum, com tarifa externa comum e atuação conjunta de
seus membros em negociações externas.
Desde então, o Brasil foi o único país da América Latina que, de alguma forma, resistiu a todas as iniciativas
dos Estados Unidos para a região, mantendo os mesmos
objetivos estabelecidos em 1990: assegurar a atuação conjunta do Mercosul para fortalecer seu poder de barganha
nas negociações com Washington; evitar a defecção da
Argentina; tentar alterar a natureza unilateral da proposta
norte-americana; e impedir que o bloco sub-regional pudesse vir a ser diluído caso a área de livre-comércio
hemisférica fosse de modo efetivo deslanchada (Lima,
1996:149; Magalhães, 1999:83). Ao longo da década de
90, todas as sinalizações dos Estados Unidos com a finalidade de avançar na integração hemisférica resultaram no
fortalecimento do compromisso brasileiro com o aprofundamento e/ou o alargamento da integração sub-regional
(Albuquerque, 1998; Lima, 1999).
No próprio momento de gestação do projeto do
Mercosul, já era explícita a divergência de posições entre
Brasil e Argentina acerca dos objetivos do processo de
integração sub-regional. Quando da assinatura da Ata de
Buenos Aires e da decisão de cooordenar posições perante o Plano Bush, em 1990, o discurso argentino referia-se
à “unidade continental”, entendendo o Mercosul como um
primeiro passo na integração continental, enquanto o Brasil
já enfatizava que sua prioridade consistiria no fortalecimento da unidade sub-regional para mais tarde tornar possível uma eventual negociação hemisférica.
De fato, o formato e a evolução posterior do processo de integração sub-regional instaurado em 1990 demonstraram que, embora os marcos gerais do projeto
inicial de política externa do governo Collor estivessem
voltados para a aproximação e a convergência com as
posições dos Estados Unidos, a diplomacia brasileira
encontrou no Mercosul um espaço para uma atuação internacional independente do eixo central nas relações com
Washington. Da perspectiva da diplomacia brasileira, a
união aduaneira do Mercosul não apenas fortaleceria o
poder de barganha do Brasil nas negociações hemisféricas, mas também poderia constituir uma plataforma para
um projeto de inserção global, autônoma, colocando o
País no mapa dos blocos internacionais.2 Análises da
política externa brasileira nesse período já salientavam
que a consolidação da estratégia regionalista do Brasil
decorreu, em parte, da “necessidade do Ministério das
Relações Exteriores de criar um campo de intervenção
ativa”, no qual “a diplomacia consegue notável poder
decisório de formulação e implementação, na linha da
busca de uma ação de política internacional de autonomia” (Vigevani e Veiga, 1991:45).
Essas diretrizes foram posteriormente explicitadas, na
fase final do governo Collor, quando o discurso diplomático brasileiro passou a centrar-se na autodenominação do
País como global trader, sintetizando a idéia de que, à
diferença do México e do Canadá, o Brasil tem interesses
diversificados e, portanto, não deveria proceder a adesões
excludentes. Dada a estrutura diversificada de sua pauta
de exportação (com destaque para o fato de que o comércio com a Comunidade Econômica Européia, no início da
década de 90, ultrapassava bastante o comércio com os
Estados Unidos), não interessaria ao Brasil vincular-se a
um único parceiro ou bloco. Para um global trader, seria
essencial a diversificação de opções, em estratégia internacional de várias frentes.
EXPANSÃO NA AMÉRICA DO SUL
Com a conclusão das negociações do Nafta ao final de
1992, as perspectivas de relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina passariam também a contemplar a possibilidade de que o novo bloco incorporasse
outros membros entre os países da região, para a qual os
primeiros candidatos seriam o Chile e talvez a Argentina.
Nesse momento, o Brasil foi caracterizado como o caso
desviante, pelo atraso na estabilização monetária e na implementação das reformas econômicas, e por ser o único
país a demonstrar um desinteresse explícito com relação
também a essa segunda possibilidade nas iniciativas dos
Estados Unidos para a região.
Além da prioridade conferida à conformação do
Mercosul, a diplomacia brasileira deu então início à expansão de sua estratégia regionalista, buscando, na América do Sul, alternativas ao regionalismo liderado pelos
Estados Unidos. Em dezembro de 1992, o Brasil anunciou o lançamento da Iniciativa Amazônica, que visava a
negociação de acordos de complementação econômica
com os países-membros do Tratado de Cooperação Amazônica (Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Peru,
Suriname e Guiana). No ano seguinte, absorvendo a proposta da Iniciativa Amazônica, o Brasil lançou o projeto
de criação de uma Área de Livre Comércio Sul-Americana (Alcsa), que visava congregar os países do Mercosul,
do Grupo Andino e o Chile, mediante a negociação de uma
38
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E OS BLOCOS INTERNACIONAIS
no norte-americano, que viria a instaurar o processo de
criação da Área de Livre Comércio das Américas.
Nas negociações do Mercosul, a nova iniciativa dos Estados Unidos gerou maior disposição da diplomacia brasileira a fazer concessões aos seus parceiros, para que fosse
cumprido o objetivo de criar a união aduaneira até o final
de 1994 – em paralelo com o interesse da área econômica
do governo em antecipar a redução tarifária e a entrada
em vigor da tarifa externa comum, determinado pela conjuntura do programa de estabilização. A Argentina, em
particular, mantinha suas preferências por uma integração de alcance mais limitado, de todo explicitadas no contexto das dificuldades para alcançar a união aduaneira e
das perspectivas de que o país pudesse tornar-se membro
do Nafta. Em fevereiro de 1994, o ministro da economia,
Domingo Cavallo, ainda declarava que, caso o Mercosul
se restringisse “à meta mais realista de uma zona de livrecomércio, dadas as dificuldades dos acertos pendentes para
a conformação da união aduaneira”, a Argentina estaria
livre e em condições de examinar individualmente eventual acordo de livre-comércio com os Estados Unidos (Magalhães, 1999:51).
Nas relações entre Mercosul e União Européia, a aproximação iniciou-se em 1992, como resultado da iniciativa e do empenho da diplomacia brasileira em fortalecer a
atuação do Mercosul como ator internacional. Em dezembro de 1994, logo após a Cúpula das Américas lançar as
bases da integração hemisférica, a União Européia propôs ao Mercosul a negociação de um acordo que aprofundasse as relações bi-regionais, um passo que sem dúvida
resultava de uma resposta européia às possibilidades de
formação da Alca. O acordo-quadro foi firmado em 1995,
e o início das negociações para a liberalização comercial
foi finalmente formalizado em 1999.
Também em 1994, no entanto, o Brasil aceitou com relutância a proposta norte-americana de iniciar as negociações para a criação da Alca, com base na avaliação de que,
caso optasse por obstruir o processo, encontrar-se-ia em
posição isolada no continente em confronto direto com
os Estados Unidos (Lima, 1999). Nas negociações que precederam a Cúpula das Américas, o Brasil foi o principal
defensor da opção por um prazo de dez anos para a conclusão das negociações, que prevaleceu na definição da
data de 2005, enquanto a Argentina propunha que as negociações fossem concluídas até 2000.
Após terem sido formalmente instauradas as negociações para a criação da Alca, a estratégia brasileira consistiu essencialmente em adiar ao máximo o início efetivo
rede de acordos de livre-comércio. À época, por ter sido
apresentada aos países da região sem que os sócios do
Mercosul fossem previamente consultados, a proposta da
Alcsa gerou reações contrárias entre os vizinhos do Brasil no Cone Sul (Veiga, 1995:24). Embora tenha sido finalmente aceita pelo Mercosul, o unilateralismo da iniciativa brasileira já demonstrava que a nova prioridade
conferida ao objetivo da expansão de suas relações com a
América do Sul colocaria em segundo plano o objetivo
de garantir a coesão do agrupamento sub-regional já formado. Conforme seria outra vez demonstrado nos últimos
anos da década de 90, o objetivo do alargamento da integração regional eventualmente assumiria prioridade com
relação ao aprofundamento da integração sub-regional.
Embora a Alcsa não tenha avançado sob o formato proposto de início, a estratégia regionalista brasileira na
América do Sul seria fortalecida com o interesse da Bolívia e, em especial, do Chile em se associarem ao Mercosul,
no contexto das dificuldades norte-americanas em promover a incorporação de novos membros no Nafta.
Também nesse período, a gestão de Fernando Henrique
Cardoso no Itamaraty deu início à substituição do termo
“América Latina” pelo “América do Sul” no discurso diplomático brasileiro, no qual excluía explicitamente o México e qualquer relação de proximidade com o Nafta, delimitando a nova esfera geográfica da estratégia regionalista
brasileira. Na política externa do governo Itamar Franco,
a nova prioridade conferida à América do Sul seria também articulada com o objetivo de promover uma atuação
internacional protagônica para o Brasil nos foros multilaterais, em particular no contexto da perspectiva de ampliação do Conselho de Segurança da ONU. A idéia do Brasil
como global trader foi então ampliada para a de global
player, ao qual não caberia confinar suas relações econômicas e políticas a um único parceiro ou bloco.
LANÇAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES DA ALCA
No ano de 1994, a preparação para a entrada em vigor
da união aduaneira do Mercosul, o interesse de outros
países da região em se associarem e a proposta de criação
da Alcsa conformavam, com o diálogo inter-regional entre Mercosul e União Européia, as opções abertas para o
regionalismo brasileiro. Demonstrando novamente as interrelações entre os processos sub-regional, regional, interregional e hemisférico, essas opções da política externa
brasileira foram ainda reforçadas, nesse momento, pela
convocação da Cúpula das Américas por parte do gover-
39
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
Em particular, no período que se iniciou em 1995, a
simultaneidade entre a passagem do Mercosul para a etapa de união aduaneira e a reorientação das políticas industriais e de comércio exterior brasileiras explicitou a
relação existente entre a posição negociadora do Brasil e
a dinâmica dos avanços na integração sub-regional. Diversas análises sobre a evolução da integração sub-regional na segunda metade da década de 90 coincidiram em
diagnosticar a ausência de iniciativa do Brasil no aprofundamento do processo. Segundo Veiga, por exemplo, a
posição brasileira foi o principal fator explicativo para os
resultados limitados do Mercosul, a imperfeição de sua
união aduaneira, seus reduzidos mecanismos de institucionalização, as poucas discriminações positivas em benefício dos dois parceiros menores e a ausência de avanços na agenda de consolidação e aprofundamento da
integração (Veiga, 1999:25).
Na definição dessa posição, no entanto, a autonomia
do Ministério das Relações Exteriores foi limitada. Em
primeiro lugar, essa posição refletiu a prioridade atribuída pelo governo aos objetivos da estabilização macroeconômica. Em segundo lugar, a reorientação das políticas
industriais e de comércio exterior do Brasil bem como a
própria complexidade envolvida na nova etapa da integração do Mercosul conferiram um papel mais ativo ao
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo nas
negociações externas. Quando as posições dos dois ministérios convergiram, como foi o caso com relação à Alca,
a influência e o poder de barganha do Itamaraty no processo decisório foram fortalecidos. Nas relações comerciais com os parceiros do Mercosul, no entanto, a diplomacia brasileira não teve condições de impedir a adoção
de medidas unilaterais (Lima, 1999).
Contudo, além dos fatores econômicos que fundamentaram a resistência brasileira ao aprofundamento da integração sub-regional, a avaliação quanto à incerteza que a
ausência do fast track gerava para as perspectivas de avanço da Alca também constituiu um determinante significativo, de natureza diplomática, para a redução da prioridade conferida pelo Itamaraty à obtenção de avanços rápidos
e abrangentes no Mercosul (Bouzas, 1999:15). Dessa forma, reverteram-se os incentivos que, em 1990 e em 1994,
haviam resultado na convergência entre as prioridades das
autoridades econômicas e os objetivos do Ministério das
Relações Exteriores a fim de acelerar a integração subregional ante as perspectivas da integração hemisférica.
Na avaliação da diplomacia brasileira em 1997, a ausência do fast track reduziria a pressão que o Executivo nor-
tanto das negociações substantivas quanto dos prazos para
a liberalização. Adicionalmente, o Brasil buscou fortalecer sua posição de barganha em relação aos Estados Unidos, tentando, de um lado, angariar o apoio de outros países participantes das negociações, e, de outro lado, alterar
a estrutura do processo negociador, mantendo os mesmos
objetivos estabelecidos no contexto do Plano Bush, em
1990.
APROFUNDAMENTO x ALARGAMENTO
Com o avanço do processo negociador hemisférico a
partir de 1995, o objetivo de construir alianças para fortalecer o poder de barganha brasileiro na Alca foi direcionado, em especial, para a estratégia de alargamento na
América do Sul, iniciada com os acordos de associação
do Chile e da Bolívia ao Mercosul, firmados em 1996.
Embora os textos acordados na reunião ministerial da Alca
de 1997 tivessem suscitado preocupações quanto à sobrevivência do Mercosul como agrupamento sub-regional
quando a Alca entrar em vigor, a agenda de consolidação
interna do bloco pouco avançou. Contudo, o Brasil obteve então o compromisso do Chile e da Bolívia de que coordenariam suas posições com o Mercosul nas negociações da Alca.
Na prática, após a passagem para a fase de união aduaneira, a integração no Mercosul permaneceu, de forma
geral, estacionada em um mesmo patamar, marcada por dificuldades crescentes para avançar no processo de aprofundamento e por atritos constantes entre seus membros.
O primeiro fator que incidiu na configuração desse novo
contexto foi a própria complexidade de sua agenda, superada a fase de eliminação automática das tarifas intrabloco.
Adicionalmente, a nova assimetria nas orientações da política econômica de seus principais membros acarretou uma
menor inclinação para assumirem compromissos que restringissem sua capacidade de adotar decisões unilaterais.
Suas implicações foram ainda agravadas pelo contexto de
fragilidade macroeconômica e vulnerabilidade externa prevalecente na região, e exacerbadas pela instabilidade nos
mercados financeiros internacionais em 1997 e 1998. A
opção foi pela manutenção da flexibilidade na condução
das políticas macroeconômicas, que freqüentemente agravou as situações de atrito entre seus membros. Nesse contexto, o acúmulo de descumprimentos aos acordos e de
assuntos não resolvidos no aprofundamento da integração
ampliou a agenda conflituosa e tendeu a reduzir as percepções acerca dos custos de cada nova medida unilateral.
40
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E OS BLOCOS INTERNACIONAIS
Nesse sentido, embora a posição brasileira de resistência ao aprofundamento do Mercosul foi fundamentada
primordialmente em determinantes de natureza econômica e em decisões que não competem exclusivamente à diplomacia, também foi explicitada a oposição absoluta da
diplomacia brasileira a qualquer possibilidade de que o
País venha a aceitar uma maior cessão de soberania em
prol do fortalecimento interno do bloco. O Ministro
Lampreia declarava que “o Brasil não tem razão nenhuma para abrir mão da sua soberania”, argumentando que
a idéia da delegação, a uma autoridade supranacional, da
capacidade de representar, negociar e impor normas para
os Estados-membros do Mercosul, seria “absolutamente
inaceitável para o Congresso Nacional, para a opinião
pública brasileira, para a imprensa brasileira” (Lampreia,
1999:304).
No início de 1999, a crise do Mercosul atingiu estágio crítico, exacerbada pela desvalorização do real ocorrida em janeiro. Contudo, a prevalência da estratégia de
alargamento na América do Sul sobre a opção do aprofundamento da integração sub-regional foi ainda explicitada quando o Brasil rompeu o formato 4+4 nas negociações entre o Mercosul e a Comunidade Andina para
obter logo um acordo 4+1 com esse grupo. Ao longo do
ano de 1999, no entanto, na medida em que as negociações hemisféricas haviam concluído a fase de pré-negociação e avançaram para o início do processo de redação do acordo da Alca, a diplomacia brasileira voltou a
enfatizar a importância do bloco sub-regional como núcleo das relações externas do País. Apesar das dificuldades nas relações com seus parceiros sub-regionais, os
determinantes externos do compromisso do Brasil com
o Mercosul voltavam a manifestar-se. No entanto, foi
também mantida a prioridade conferida à expansão regional, que culminou na convocação da cúpula de presidentes da América do Sul, realizada em Brasília, em
agosto de 2000, ao mesmo tempo em que o “relançamento” do Mercosul permaneceu limitado.
te-americano estaria em condições de exercer sobre o processo, e, portanto, também reduziria os riscos de “diluição” do Mercosul no contexto da negociação da Alca, pelo
menos em curto prazo.
Conforme já mencionado, após o documento final da
III Reunião Ministerial da Alca ter incorporado, em maio
de 1997, uma formulação dúbia acerca da coexistência dos
arranjos sub-regionais com a integração hemisférica, o
tema da possível diluição do Mercosul gerou preocupações quanto à necessidade do aprofundamento para garantir sua própria sobrevivência como bloco. Para manter
sua identidade no contexto da zona de livre-comércio
hemisférica, a integração do Mercosul precisaria avançar
além dos compromissos previstos na agenda da Alca. No
âmbito desse debate, no entanto, a reunião do Conselho
do Mercosul de julho de 1997 evidenciou a existência de
propostas e motivações distintas no que se referia às estratégias de seus membros para o aprofundamento da integração sub-regional. Para o Brasil, tratava-se de avançar na consolidação dos resultados já alcançados, e
sobretudo reduzir as imperfeições da união aduaneira do
Mercosul. Já para a Argentina, a necessidade de aprofundamento, independentemente das negociações da Alca, implicava avançar para a integração dos mercados, passando, de imediato, a enfrentar temas como os serviços, as
compras governamentais e as políticas de concorrência,
que haviam sido até então postergados no Mercosul, mas
já se encontravam incorporados ao processo negociador
hemisférico. Ao mesmo tempo, o governo argentino apresentou diversas propostas, em 1997, a fim de que a integração avançasse em campos como o da adoção de uma
política de defesa comum, uma cidadania comum, e até
mesmo uma moeda única, com vista em fortalecer o
Mercosul como espaço econômico e político consolidado. Por sua parte, entretanto, o governo brasileiro reiterava que, antes de avançar em novas áreas, o Mercosul deveria consolidar o que já havia sido acordado.
No segundo semestre de 1997, o Mercosul logrou obter o consenso entre seus membros para iniciar negociações em temas que constavam da agenda da Alca e não
haviam ainda sido enfrentados na integração sub-regional. No entanto, se o processo negociador hemisférico
forçou o Brasil a aceitar alguns avanços do Mercosul para
além da área estritamente comercial, as perspectivas de
aprofundamento da integração sub-regional permaneceram limitadas pela posição brasileira radicalmente contrária a toda e qualquer iniciativa com a finalidade de conferir alguma autoridade supranacional ao bloco.
CONJUNTURA RECENTE
Com o intuito explícito de assumir a liderança da América do Sul, a diplomacia brasileira conferia grandes expectativas, em 2000, à concretização do compromisso que
havia obtido do Chile com o objetivo de que ele formalizaria, em poucos meses, sua plena adesão ao Mercosul.
Foi nesse contexto que, no final do ano, o anúncio da abertura de negociações bilaterais entre Estados Unidos e Chile
41
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
2. Uma interpretação alternativa para a opção pelo estabelecimento de
uma união aduaneira sugere que, dando prioridade à abertura econômica, teria sido buscada uma estratégia de lock-in, que consiste em
vincular as reformas liberalizantes a acordos internacionais, com vistas a impedir eventuais retrocessos. Ver Batista (1994). Essas duas
interpretações não são excludentes. Ao contrário, podem ter incidido
cada uma sobre a opção de diferentes setores do governo brasileiro
pela meta de criar uma união aduaneira e não apenas de uma área de
livre-comércio.
reverteu abruptamente o êxito que a diplomacia brasileira
pretendia alcançar no avanço de sua estratégia regional,
com implicações diretas nos planos sub-regional e hemisférico. O redirecionamento do Chile incitou a Argentina
a manifestar seu apoio à proposta de antecipar a conclusão das negociações da Alca de 2005 para 2003, explicitando seu interesse na integração hemisférica e inclusive
em negociações bilaterais com os Estados Unidos, seguida também pelo Uruguai, reabrindo divergências significativas entre as posições dos membros do Mercosul. Com
a desestruturação da unidade sub-regional, foi atingido o
cerne da estratégia perseguida pelo Brasil ao longo da década de 90 para fortalecer seu poder de barganha nas negociações hemisféricas.
No discurso da diplomacia brasileira, o redirecionamento chileno gerou nova prevalência da prioridade conferida
ao plano sub-regional, em detrimento do alargamento e
da liderança na América do Sul. Antes de deixar o cargo,
o ministro Lampreia declarou nunca ter acreditado plenamente na possibilidade de expansão do Mercosul, citando, como exemplo, a Colômbia, que tem 60% de seu comércio com os Estados Unidos e uma equação política e
militar própria com aquele país. Nesse sentido, não seria
razoável pensar em uma frente sul-americana para as negociações da Alca, devendo o Brasil fortalecer sua posição com base na atuação conjunta do Mercosul (Valor Econômico, 2001). Também no discurso de posse do ministro
Celso Lafer, foi reafirmado que as negociações na OMC,
na Alca e com a União Européia exigem o fortalecimento
do Mercosul. No contexto da crise argentina, entretanto,
o principal avanço da cúpula do bloco, realizada em junho, foi o de impedir que houvesse retrocessos. Ao mesmo tempo, nas relações externas do Mercosul, a desarticulação do bloco manifestou-se não apenas nos intuitos
argentinos e uruguaios de aproximação com os Estados
Unidos, mas também na inexistência de uma posição conjunta perante a oferta apresentada pela União Européia
para dar início à liberalização comercial inter-regional.
Em um contexto no qual se acentuaram as inter-relações
entre esses diversos processos, a reconstrução dessas articulações constitui o desafio de curto prazo para a política externa brasileira – sob o risco do isolamento.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, M. de P. O Brasil e a Alca: interesses e alternativas. Rio de
Janeiro, Departamento de Economia da PUC-Rio, 1997, (Texto
para Discussão, 371).
ALBUQUERQUE, J.A.G. “US and Brazil bilateral relations as a major obstacle to hemispheric integration”. Trabalho apresentado na
conferência Una Grán Família?: hemispheric integration after
the Santiago Summit. Ottawa, outubro de 1998, mimeo.
BATISTA, P.N. “O Mercosul e os interesses do Brasil”. Estudos Avançados. São Paulo, IEA/USP, v.8, n.21, 1994.
BOUZAS, R. “Mercosur’s external trade relations: dealing with a
congested agenda”. In: ROETT, R. (org.). Mercosur: regional
integration, world markets. Boulder/Londres, Lynne Rienner,
1999.
LAFER, C. “Relações Brasil-Argentina: alcance e significado de uma
parceria estratégica”. Contexto Internacional. Rio de Janeiro, IRI/
PUC-Rio, v.19, n.2, jul.-dez. 1997.
LAMPREIA, L.F. Diplomacia brasileira. Rio de Janeiro, Lacerda,
1999.
LIMA, M.R.S. de. “Brazil’s response to the new regionalism”.
In: MACE, G. e THÉRIEN, J.P. (orgs.). Foreign policy and
regionalism in the Americas. Boulder/Londres, Lynne Rienner,
1996.
________ . “Brazil’s alternative vision”. In: MACE, G. e BÉRANGER,
L. (orgs.). The Americas in transition. Boulder/Londres, Lynne
Rienner, 1999.
MACHADO, J.B.M. e VEIGA, P. da M. A Alca e a estratégia negociadora brasileira. Rio de Janeiro, Funcex, 1997 (Texto para Discussão, 127).
MAGALHÃES, F.S. Cúpula das Américas de 1994: papel negociador do Brasil, em busca de uma agenda hemisférica. Brasília,
Instituto Rio Branco/Fundação Alexandre Gusmão/Centro de Estudos Estratégicos, 1999.
MELLO, F. de C. “O Mercosul e a Alca”. In: ALBUQUERQUE, J.A.G.
e OLIVEIRA, H.A. de (orgs.). Relações internacionais e sua construção jurídica: a Alca e os blocos internacionais. São Paulo, FTD,
1998.
________ . Regionalismo e inserção internacional: continuidade e
transformação da política externa brasileira nos anos 90. Tese
de Doutorado em Ciência Política. São Paulo, FFLCH/USP, 2000.
NOTAS
PEREIRA, L.V. “Toward the common market of the south: Mercosur’s
origins, evolution and challenges”. In: ROETT, R. (org.).
Mercosur: regional integration. World Markets. Boulder/Londres,
Lynne Rienner, 1999.
1. Este artigo sintetiza argumentos desenvolvidos na tese de doutorado de Mello (2000).
PINHEIRO, L. “Relações hemisféricas e política regional: uma disputa Mercosul-EUA?” In: SENNES, R.U. (org.). Brasil e a política
internacional. Santiago, Flacso-Chile/Wilson Center/Idesp, 1998.
42
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E OS BLOCOS INTERNACIONAIS
VALOR ECONÔMICO. “A agenda diplomática depois de Lampreia”.
São Paulo, 12/01/2001.
texto Internacional. Rio de Janeiro, IRI/PUC-Rio, v.19, n.2, jul.dez. 1997.
VEIGA, P. da M. “Mercosul: a agenda de consolidação interna e os
dilemas de ampliação”. São Paulo em Perspectiva. São Paulo,
Fundação Seade, v.9, n.1, jan.-mar. 1995.
VIGEVANI, T. e VEIGA, J.P.C. “Mercosul e os interesses políticos e
sociais”. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, Fundação Seade,
v.5, n.3, jul.-set. 1991.
________ . “Brazil in Mercosur: reciprocal influence”. In: ROETT,
R. (org.). Mercosur: regional integration, world markets. Boulder/
Londres, Lynne Rienner, 1999.
FLAVIA DE CAMPOS MELLO: Professora do Departamento de Política
VIGEVANI, T. e MARIANO, K.L.P. “A burocracia na integração regional (e no Mercosul: influência no processo decisório”. Con-
da PUC-SP.
43
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1)
16(1):2002
44-53, 2002
INSTITUIÇÕES E CONFLITOS
COMERCIAIS NO MERCOSUL
TULLO VIGEVANI
MARCELO PASSINI MARIANO
RICARDO GLÖE MENDES
Resumo: De que forma a evolução da estrutura institucional do Mercosul, desde sua criação até sua atual
conformação, facilita a transformação de conflitos econômico-comerciais, de menor e maior grau, em conflitos políticos. Acredita-se que uma parte significativa dos conflitos no Mercosul poderia ser solucionada tecnicamente, sem resvalar nas relações políticas globais dos Estados membros, como tem ocorrido regularmente.
Palavras-chave: integração regional; instituições; Mercosul.
Abstract: How, since its creation, has the evolving institutional structure of Mercosul helped turn economic
and trade disagreements of varying magnitudes into political conflicts? It is believed that a significant portion
of the disagreements within Mercosul could be solved at the technical level, without becoming the basis of
foreign policy rifts, as is often the case.
Key words: regional integration; institutions; Mercosul.
T
endo em vista o recrudescimento dos conflitos comerciais e políticos entre os Estados membros do
Mercosul nos últimos anos, principalmente entre a Argentina e o Brasil, o tema de uma alteração na sua
estrutura institucional volta à tona. A recente declaração
do Presidente Fernando Henrique Cardoso,1 sobre a possibilidade do bloco adotar órgãos supranacionais, pode ser
vista por esta ótica, pois demonstra, ainda que de forma
tênue, que existe uma preocupação em melhorar a forma
como a estrutura institucional do Mercosul soluciona os
conflitos intra-regionais.
Analisando a evolução desse processo, vê-se que a
estruturação institucional da integração no Cone Sul começou já em 1985, com a Declaração de Iguaçu, durante
os governos Alfonsín e Sarney, tendo como elemento
dinamizador uma articulação estatal-burocrática binacional liderada pelo Itamaraty e o Palácio San Martin, contando com o auxílio de setores dos Ministérios da Economia e Bancos Centrais.
Em 1986, com a assinatura do Programa de Integração
e Cooperação Econômica (PICE), esse núcleo decisório
fortaleceu-se e iniciou o estabelecimento de uma estrutura institucional de caráter intergovernamental. Ao mesmo
tempo, os primeiros resultados econômicos da integração
e a visualização das possibilidades comerciais despertaram o interesse do empresariado.
Nesse período, a participação dos setores não-governamentais ainda era dificultada pela ausência de canais
apropriados, o que só ocorreria mais tarde, durante a fase
de transição do Mercosul. Uma possível explicação para
essa limitação da participação do setor privado era a forte
instabilidade política e econômica nos dois países, gerando no âmbito nacional incerteza quanto à viabilidade de
um processo de integração entre esses Estados, e, de certa forma, desviando as atenções dos grupos de interesse
organizados para as questões internas imediatas.
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MERCOSUL
A intenção de formar um mercado comum surgiu somente em 1988, com o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento entre Argentina e Brasil. Apesar
da evolução nas intenções para aprofundar a integração,
com a criação de uma Comissão Parlamentar e um maior
entrelaçamento entre os temas domésticos e os externos,
a estrutura ainda dificultava a relação com setores não-
44
INSTITUIÇÕES E CONFLITOS COMERCIAIS NO MERCOSUL
cional para depois do período de transição. O acordo referente aos temas de intergovernamentalidade, supranacionalidade e sistemas decisórios permitiu visualizar como
os interesses dos países estavam distribuídos. Argentina
e Brasil apresentaram-se favoráveis a uma alteração no
sistema decisório atual caracterizado pelo consenso e por
uma manutenção da estrutura institucional intergovernamental, não supranacional. Isso permitiria que a força
política dos formuladores iniciais fosse mantida, tendo um
maior controle do processo integracionista. Já o Paraguai
e o Uruguai mostraram interesse, inerente às suas realidades, em manter o sistema decisório por consenso a fim de
sustentar seu relativo poder de veto. Ao mesmo tempo,
eram favoráveis à conformação de instituições supranacionais, pois supunham que isto seria benéfico nos casos
de solução de controvérsias e conflitos de interesses governamentais, ao diminuir os impactos que o peso argentino e brasileiro representam para eles.
O resultado final foi a manutenção do sistema decisório por consenso e da estrutura institucional intergovernamental. Isso permite dizer que esses dois grupos de
países acordaram em uma concessão mútua: enquanto os
dois maiores países aceitaram manter a regra do consenso, os dois menores renunciaram a sua posição em torno
de instituições com caráter supranacional. Dessa forma, a
cooperação entre eles garantiu ganhos para todos e adiou
a definição da conformação institucional do Mercado
Comum.
Nesse contexto, o Protocolo de Ouro Preto resultou
numa estrutura institucional mais ramificada, com atribuições mais bem definidas e com mecanismos mais específicos para a atuação dos setores não-governamentais através da constituição do Fórum Consultivo Econômico e
Social (FCES). No entanto, o poder decisório manteve-se
com as burocracias governamentais formuladoras das políticas externas.
Quanto às decisões, estas sofreram uma ampliação na
sua origem e no seu alcance. Agora, não só o CMC é o
órgão decisório, como também o GMC e a Comissão de
Comércio do Mercosul, produzindo normas obrigatórias
aos Estados participantes.
governamentais. O principal agravante era a situação macroeconômica nos dois países, que induzia a uma centralização ainda maior da coordenação da integração nos
Ministérios das Relações Exteriores, resultante da preocupação com o agravamento da situação interna que cada
vez mais exigia a atenção dos governantes e dos ministérios envolvidos com esse processo.
Foi com o Tratado de Assunção, em 1991, que a integração passou a ser o ponto mais dinâmico e fundamental
das diplomacias dos países envolvidos, revitalizando a
vontade política dos governantes em aprofundar a integração no Cone Sul, ao mesmo tempo que havia ampliação e melhoria nos mecanismos decisórios.
Além das burocracias envolvidas e do espaço já existente para os Parlamentos nacionais, surgiram canais de
participação dos setores não-governamentais, englobando não só o empresariado, mas também os representantes
dos trabalhadores. Foi no interior dos Subgrupos de Trabalho (SGTs) do Grupo Mercado Comum (GMC) que essa
participação se efetivou.
Nesse período, o centro decisório ainda estava concentrado nos Ministérios das Relações Exteriores, havia uma
forte dependência da vontade política dos governantes, o
Conselho do Mercado Comum (CMC) era o único órgão
a produzir decisões e os canais de participação dos atores
não-governamentais estavam localizados apenas nos
Subgrupos de Trabalho, que produziam recomendações
ao GMC e, portanto, formalmente não tinham poder decisório, mas influenciavam os rumos que tomavam as questões técnicas.
Apesar de a estrutura institucional apresentar tais entraves à participação dos setores não-governamentais, cujo
interesse em influenciar os destinos da integração mostrou-se importante, tanto que formas alternativas de articulação foram implementadas no próprio aparelho institucional e também fora dele, no âmbito regional. Exemplo
disso foi a forte pressão dos setores sindicais para a formação do Subgrupo 11, que não era previsto ao tempo da
assinatura do Tratado de Assunção.
Durante o período de transição (anterior ao Protocolo
de Ouro Preto) ficou evidente o peso político dos formuladores iniciais. A articulação bem-sucedida entre as burocracias argentina e brasileira ligadas à política exterior
conseguiu, na medida do possível, firmar sua posição de
defesa de uma estrutura intergovernamental.
É possível perceber esse aspecto ao se analisarem as
negociações travadas no interior do Grupo Ad Hoc sobre
Aspectos Institucionais, que discutia a evolução institu-
Atores e Demandas
A estrutura institucional do Mercosul é constituída por
órgãos e mecanismos decisórios que prevêem a atuação
dos seguintes atores: a burocracia governamental, os atores não-governamentais e os partidos políticos.
45
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
se concluir que isso ocorreu em virtude dos canais institucionalizados com poder consultivo serem insuficientes
para um posicionamento mais ativo, privilegiando o acompanhamento técnico da evolução do processo. Questões
políticas e comerciais mais pontuais, que necessitavam de
uma resposta rápida, tenderiam a ser levadas diretamente
à burocracia decisória, aos governos nacionais ou às chancelarias. No Mercosul, os canais pelos quais a atuação dos
setores não-governamentais ocorre são estreitos, não permitindo atender a uma demanda que necessite de uma tramitação mais veloz.
Esse aspecto é agravado pelo caráter intergovernamental do processo, pelo fraco interesse demostrado pelos
Parlamentos nacionais e pela inexistência de um Tribunal
ou Corpo de Justiça dedicado à solução de problemas e
de conflitos no interior do Mercosul, levando à conclusão
que o diálogo político se dá mais entre a sociedade e o
governo do que entre a sociedade e os órgãos do Mercosul.
É interessante ressaltar que, no caso brasileiro, a prática de negociação nos assuntos que ultrapassam as fronteiras do Estado Nacional conta com a quase exclusiva participação do Itamaraty e a ausência de setores sociais
diversos, assim como o escasso espaço para a discussão
com a comunidade acadêmica, diferente do que acontece
em países com posicionamento externo mais atuante
(Tomassini, 1988). Isso resulta principalmente das características próprias do Itamaraty que, na condição de organismo estatal voltado para a formação de quadros especializados nos assuntos internacionais, tem conseguido manter
sua preeminência nas decisões de política externa.
A estrutura institucional do Mercosul tem atribuído ao
sistema representativo um caráter apenas consultivo, com
o objetivo único de facilitar a tramitação das decisões adotadas regionalmente no interior dos sistemas legislativos
nacionais. A intergovernamentalidade do processo faz com
que as normas emanadas pelos órgãos decisórios sejam
obrigatórias para os Estados-partes, embora tenham de se
adequar e ser incorporadas ao sistema de leis de cada país.
Dessa forma, a Comissão Parlamentar Conjunta (CPC) tornou-se um órgão intermediário entre o centro decisório
do Mercosul e os Parlamentos nacionais, sem caráter propositivo e com um poder de atuação que, no limite, poderia apenas dificultar a aprovação das normas do Mercosul.
Esse papel facilitador da CPC combinou perfeitamente com a estratégia da burocracia integracionista, no período de transição, de avançar pelo mais fácil. Segundo Nye
(1994), esse tipo de postura pode ser entendido pelo conceito de integração negativa, isto é, quando os custos vi-
Os atores governamentais são a base do Mercosul e
estão presentes em quase todos os seus órgãos. A proveniência de um membro governamental no Mercosul marca a sua atuação, isto é, membros que coordenam ou decidem têm origem obrigatória nos Ministérios de Relações
Exteriores, da Economia e Bancos Centrais, enquanto
aqueles que participam da análise e negociação decisórias,
tendo uma atuação mais consultiva, podem ser oriundos
destes e de outros ministérios dos governos envolvidos,
conforme a necessidade técnica dos temas tratados.
No caso dos governantes pode haver a oportunidade
de conjugar liderança pessoal, sentido de oportunidade
econômica e necessidade de projeção internacional (Hirst,
1995), utilizando a integração como projeto mais de governo do que de Estado, o que significa que tendem a
possuir uma visão de curto e médio prazos, associada quase
que especificamente à duração de seus mandatos.
As burocracias governamentais ligadas à definição das
políticas econômicas acabaram por desenvolver corpos
técnicos apropriados à problemática da integração, além
de fazer com que o comércio exterior e a política regional
passassem a ter uma relevância maior para a definição das
políticas domésticas.
Os atores não-governamentais, ou setor privado, como é
definido pelos acordos de integração no Mercosul, são o setor empresarial, sindical, organizações não-governamentais
de interesse específico (ONGs ambientais, direitos do consumidor, direitos humanos, etc.) e movimentos sociais.
Os setores empresarial e sindical são os atores nãogovernamentais mais atuantes no processo de integração
do Cone Sul, principalmente pelo fato de que os outros
atores apenas tiveram sua participação prevista na estrutura institucional após a criação do Fórum Consultivo Econômico e Social (FCES) criado pelo Protocolo de Ouro
Preto, no final de 1994.
Os mecanismos de participação social desenvolveramse de forma insuficiente, se comparados com a sua importância para o processo. O setor privado sempre teve caráter consultivo dentro da estrutura institucional do período
de transição, mas com o Protocolo de Ouro Preto pôde
contar com um órgão específico para sua atuação – o
Fórum Consultivo Econômico e Social –, abrindo uma
oportunidade para a inclusão de setores que extrapolassem
a esfera do capital e do trabalho.
É importante notar que mesmo um ano depois da criação do FCES, ainda havia uma preferência em dar prioridade a canais informais de pressões ou a práticas de lobby
já desenvolvidas no âmbito nacional (Hirst, 1995). Pode-
46
INSTITUIÇÕES E CONFLITOS COMERCIAIS NO MERCOSUL
vadas. As originais se constituem do Tratado de Assunção e acordos celebrados no âmbito do mesmo; as decisões do CMC e resoluções do GMC são as fontes derivadas. O protocolo reconhece dois procedimentos distintos,
dependendo de quem lhes dá início, um Estado-parte ou
um particular.
A possibilidade do particular acionar o sistema de solução de controvérsias constitui importante inovação em
relação ao Anexo III, que não previa esta possibilidade,
embora com limitações.
Em primeiro lugar, vejamos o procedimento adotado quando a controvérsia se faz entre Estados membros do Mercosul.
As partes em conflito devem procurar, antes de tudo, resolver a controvérsia através da negociação direta. As únicas
exigências nessa primeira fase são que o GMC seja informado, por meio da Secretaria Administrativa, sobre a evolução
do processo e sua resolução, caso houver, e que as negociações tenham o limite máximo de 15 dias (art. 3). Se não for
possível obter um acordo nessa primeira fase, qualquer dos
Estados envolvidos pode submeter a controvérsia ao GMC,
que, após devida apreciação, com ou sem assessoria técnica
de um painel de especialistas, formulará as recomendações
aos Estados litigantes (art. 5). Essa fase deve durar 30 dias a
partir da data de comunicação da questão à Secretaria Administrativa do Mercosul.
Se ainda persistir a divergência entres os Estados, mesmo após as recomendações do GMC, inicia-se o procedimento arbitral, que começa quando um governo insatisfeito com a solução apresentada pelo GMC comunica à
Secretaria Administrativa sua intenção de recorrer ao referido procedimento. Esta, por sua vez, comunica tal ocorrência aos demais envolvidos e ao GMC, que se encarregará da tramitação da questão.
Primeiro, ocorre a formação de um Tribunal Arbitral para
solucionar a questão. A controvérsia deve ser resolvida dentro de 60 dias, prorrogáveis por mais 30, por decisão da
maioria dos árbitros. A decisão se expressa através de uma
lauda, obrigatória para o Estado infrator, sem possibilidade
de impugnação. A partir do recebimento da lauda, o infrator
deve cumprir suas determinações num prazo de 15 dias. Caso
o governo não cumpra em 30 dias, o país prejudicado pode
adotar medidas compensatórias até que a decisão do Tribunal seja cumprida. Entretanto, as laudas não usufruem de
execução forçada, ou seja, dependem da cooperação jurídica dos Estados para se fazerem cumprir.
Quanto ao procedimento adotado no caso de particulares, este se inicia com o exame da reclamação pela Seção
Nacional do GMC onde o reclamante reside ou tenha sede
síveis são baixos nos primeiros passos da integração é mais
fácil conseguir concordância, no entanto, a integração de
baixo custo e procedimentos decisórios de estilo tecnocrático tem menor durabilidade e não chega a um amplo
apoio popular, dificultanto a legitimação do processo.
Os partidos políticos têm tido uma participação marginal, seus vínculos com órgãos técnicos do Mercosul têm
sido informais e inconstantes, o que resultou numa mobilização parlamentar limitada, e por vezes desarticulada.
Além disso, os partidos não contam com redes interpartidárias que promovam práticas interativas na região. Também não existe um parentesco ideológico e programático
que estimule esse tipo de integração, pois cada país tem
uma estrutura partidária própria, sem correspondência
política e ideológica (Mariano, 2001).
Conclui-se, assim, que a estrutura institucional e as
características políticas dos países do Mercosul não permitiram um papel mais relevante às organizações político-partidárias. Estas últimas tampouco se empenharam
para firmar posição e alcançar um posicionamento adequado à sua importância para o desenvolvimento da
integração regional.
É importante ressaltar que apesar do Mercosul mostrar-se como um processo dinâmico, não se pode concluir,
com base nesta característica, que as possibilidades de estagnação ou retrocesso estão afastadas. Pelo contrário, a
evolução institucional ainda tem um longo caminho a percorrer a fim de alcançar um patamar de maior previsibilidade e continuidade.
O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE
CONTROVÉRSIAS
O Tratado de Assunção previa, desde o início, um mecanismo provisório de resolução de controvérsias.2 Em sua
primeira reunião de presidentes,3 o CMC emitiu sua Decisão no 1, adotando o Protocolo de Brasília para a Solução
de Controvérsias durante o processo de transição. Esse protocolo era provisório, mas acabou sendo institucionalizado
pelo Protocolo de Ouro Preto, junto com o restante da estrutura orgânica do Mercosul no período pós-transição.
O Protocolo de Brasília procurou sanar as principais
deficiências do Anexo III do Tratado de Assunção. Sua
aplicação compreende as controvérsias que possam ocorrer sobre (art. 1): a interpretação, aplicação e falta de cumprimento das normas originais e derivadas.
As fontes do ordenamento jurídico do Mercosul são
normalmente divididas pelos juristas em originais e deri-
47
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
decidir imediatamente sobre a questão ou formar um comitê técnico com 30 dias para emitir parecer. O Estado,
objeto de reclamação, deve cumprir o determinado no
prazo estipulado.
O GMC passou a ter jurisdição quando: 1) não se obtém sucesso na fase de negociações diretas; 2) a controvérsia foi solucionada de forma parcial pelos Estados litigantes e, ao ser enviada à CCM, esta não pode efetivamente
solucioná-la.
Em suma, a estrutura intergovernamental do bloco consolidou um sistema de resolução de disputas no qual prevalece a negociação diplomática e política, buscando sempre um acordo entre as partes antes de recorrer ao
procedimento arbitral (Baptista, 1998). Foi dada maior institucionalidade ao Mercosul para diminuir as incertezas
que potencialmente criassem conflitos (Vigevani, 1998),
e parte disso se fez através da criação desse sistema, mas
sem afetar a natureza intergovernamental do bloco. Dessa forma, tanto a estrutura do Mercosul quanto o seu mecanismo de solução de controvérsias não significaram a
criação de órgãos supranacionais e tampouco a de um sistema jurídico permanente.
Atualmente no Mercosul, o procedimento se ampara
na solução político-diplomática, já que após a primeira
fase de negociação direta entre as partes a questão é submetida à CCM e posteriormente ao GMC, órgãos em que
predomina a negociação política dos Estados. Ademais, o
sistema em vigor não permite a formação de jurisprudência, pois as primeiras fases são soluções negociadas caso
a caso, seguindo o Tribunal Arbitral a mesma lógica.
de negócios (art. 26). Oteiza (1992) afirma que tal procedimento consiste simplesmente em: “una simple denuncia de violación del derecho aplicable por el Tratado de
Asunción y sus normas derivadas. Los Estados se reservan
indirectamente, mediante el control de admisibilidad
ejercido por el Grupo derecho a rechazar la petición de
los particulares. Es claro el dominio que los Estados tienen
sobre el Grupo Mercado Común, que es coordinado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de cuatro Estados,
que lleva a pensar que esta vía de acceso a los intentos de
solución de controversias constituye simplemente el
derecho de personas de sugerir que se contemple determinada situación.” De fato, pode-se afirmar que o acesso
de particulares ao sistema de solução de controvérsias permanece limitado, considerando essas peculiaridades de
acesso.
A única participação do particular no trâmite da questão se restringe ao fornecimento dos elementos necessários à Seção Nacional para determinar se há violação ou
ameaça de prejuízo. Violação é definida como a sanção
ou aplicação de medidas legais ou administrativas de efeito
restritivo, discriminatório, ou de concorrência desleal, em
desacordo com o Tratado de Assunção e acordos celebrados em seu âmbito, bem como das decisões do CMC e do
GMC (art. 25).
Uma vez detectada a violação ou ameaça de prejuízo,
a Seção Nacional do GMC pode entrar em contato com a
Seção Nacional do CMC do Estado a quem se atribui a
violação, para tentar uma solução imediata para a questão, ou submetê-la diretamente ao CMC, no caso em que
o contato com a Seção Nacional do governo infrator não
produzir resultados dentro de 15 dias após o seu início. Já
nas mãos do GMC, este avaliará a validade da questão,
podendo rejeitá-la ou não. Aceitando-se a reclamação,
ocorrerá a convocação de um grupo de especialistas para
emitir um parecer dentro de 30 dias após sua formação. O
particular e o Estado a quem se atribui a violação terão
oportunidade de ser consultados durante este período.
O Protocolo de Ouro Preto, no qual supostamente deveria ter sido incluída a criação de um mecanismo de solução de controvérsias definitivo, em oposição à transitoriedade do Protocolo de Brasília, pouco veio a acrescentar.
Decidiu-se, em Ouro Preto, atribuir à recém-criada CCM
o papel de examinar as reclamações feitas pelos Estados
integrantes, a qual ganhou papel relevante na solução de
disputas, tornando-se órgão competente para tratar dos
conflitos comerciais em primeira instância. Com poder de
emitir apenas recomendações, igual ao GMC, a CCM pode
CONFLITOS COMERCIAIS
A partir do ano de 1999, o Mercosul foi marcado por
diversas disputas comerciais entre Brasil e Argentina, com
retaliações e ameaças recíprocas. As tensões, em alguns
casos, não puderam ser solucionadas pela via diplomática, levando ao acionamento do Tribunal Arbitral, em 1999,
que se pronunciou sobre três disputas diferentes. Esse
órgão nunca havia sido acionado, apesar de estar previsto
desde 1991. O estopim desse período de turbulências foi
a desvalorização cambial brasileira, acompanhada do término do regime de adequação em 1o de janeiro de 1999,
deixando às claras as reais diferenças em termos comerciais e de competitividade entre a indústria brasileira e a
argentina.
Seguindo essas três negociações, pode-se ver como a
atual conformação institucional do bloco contribuiu para
48
INSTITUIÇÕES E CONFLITOS COMERCIAIS NO MERCOSUL
antidumping. Nesse exemplo podemos verificar que, no
tocante ao setor privado, há uma falta de legitimidade das
instituições de solução de controvérsias do Mercosul, apesar de a decisão ter sido reconhecida pelo governo argentino.
A terceira decisão do Tribunal Arbitral foi sobre os têxteis, porque o governo argentino aplicava cotas aos tecidos de algodão exportados pelo Brasil, alegando ter havido um aumento muito expressivo do volume exportado
no primeiro semestre de 1999, sendo necessário verificar
suas causas. O Grupo de Acompanhamento da Conjuntura Econômica e Comercial, criado em junho de 1999 pelo
CMC, ficou responsável por analisar o caso. Em novembro de 1999, o Brasil recorreu às instituições do Mercosul
e também à OMC e, em março de 2000, o Tribunal Arbitral
do Mercosul determinou que a Argentina suspendesse as
salvaguardas comerciais para os produtos têxteis brasileiros por um período de 15 dias.
No entanto, o processo contra os argentinos continuou a
ser analisado na OMC e no dia 20 de março de 2000, pela
primeira vez, a OMC abriu um painel para discutir um conflito comercial entre membros do Mercosul. A Argentina
decidiu, então, utilizar-se do seu direito de pedir esclarecimentos ao Tribunal Arbitral do Mercosul, tentando ganhar
mais algum tempo, mas seu pedido não foi aceito.
Outros conflitos ocorreram no período analisado, mas
ao se voltar a atenção para dois conflitos específicos, referentes aos setores automotivo e açucareiro, pode-se verificar como os problemas comerciais adquirem conotações políticas, afetando as relações globais entre os
integrantes do Mercosul.
O açúcar foi um dos produtos mantidos como exceção ao
livre-comércio no Mercosul, fazendo parte do Regime de
Adequação Final à União Aduaneira. Enquanto os negociadores técnicos brasileiros apresentaram inúmeras vezes propostas de convergência tarifária externa e desgravação
tarifária interna, os argentinos, pressionados pelos seus produtores de açúcar, continuaram acusando a produção brasileira de receber subsídios indiretos, impedindo que o produto fizesse parte da zona de livre-comércio.
A acusação argentina se baseou no incentivo à produção de álcool no quadro do Programa Nacional do Álcool
(Proalcool), que estimularia a plantação de cana-de-açúcar no Brasil voltada para a produção de álcool, mas que
produziria o açúcar como um subproduto, recebendo incentivos indiretos.
O conflito entre os produtores argentinos e brasileiros
de açúcar no Mercosul e as dificuldades para a negocia-
criar um ambiente de incertezas na região, levando inclusive à necessidade de promover um “relançamento do
Mercosul”.
A primeira decisão do Tribunal Arbitral foi em relação
ao dispositivo brasileiro de licenças de importação não-automáticas. O governo argentino e as empresas exportadoras
desse país consideraram o regime de licenciamento prévio
de importação adotado pelo Brasil, em outubro de 1998, uma
barreira não-tarifária. A Câmara de Exportadores da República Argentina (Cera) reclamava que a liberação de uma LI
(Licença de Importação) podia levar mais de 30 dias, afirmação contestada pelo governo brasileiro. O ltamaraty argumentava que sua solução poderia se dar através da negociação de um sistema harmonizado de reconhecimento dos
certificados sanitário e fitossanitário do Mercosul, já que os
países poderiam aceitar esse tipo de controle efetuado na
origem. No entanto, não se tratava de uma discordância localizada apenas no âmbito regional, pois havia a pressão por
parte de outros países, fazendo com que a questão chegasse
à OMC.
Como resultado, em maio de 1999, o Tribunal Arbitral
do Mercosul, constituído em fevereiro, determinou o fim
do instrumento de controle das importações brasileiras
através da Licença de Importação não-automática para os
países do Mercosul. O Brasil deveria cumprir as exigências até o final de 1999.
A carne suína sem osso foi o segundo caso julgado pelo
Tribunal Arbitral. Esse produto expandiu sua participação no mercado argentino, fundamentando a alegação, por
parte dos produtores locais, que a carne suína brasileira
contava com subsídios nos preços da ração animal (milho). Inicialmente, o governo argentino privilegiou a utilização de canais estabelecidos na Secretaria de Comércio e na chancelaria, mas não descartou a possibilidade
de acionar o Protocolo de Brasília.
Entre 1995 e 1998, prevaleceu um acordo firmado entre o setor de ambos os países, que se renovava automaticamente. Porém, em outubro de 1998, os produtores argentinos de suínos romperam o acordo, levando o governo
a interferir diretamente na questão. Depois de acionado o
Protocolo de Brasília, no dia 28 de outubro de 1999, o
Tribunal Arbitral do Mercosul, em sua segunda decisão,
anunciou que o Brasil poderia vender carne suína para a
Argentina com base nos preços então praticados. Dessa
vez, a vitória foi dos produtores brasileiros, mas apesar
dessa decisão os empresários argentinos continuaram contestando o embarque de suínos para seu país e pressionaram o governo argentino para iniciar um processo
49
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
que contemple a eliminação das tarifas aduaneiras e barreiras não-tarifárias ao comércio do açúcar no bloco.
Na data especificada, novamente, não foi possível negociar um acordo entre as partes e o açúcar continuou
sujeito às mesmas restrições comerciais vigentes. As negociações no Grupo Ad Hoc prosseguem até a atualidade, sem no entanto alcançar um consenso, uma vez que as
propostas precisam invariavelmente ser encampadas pelo
GMC, pois o governo argentino se encontra impossibilitado de aceitar um acordo devido às pressões dos produtores argentinos.
As negociações do setor automotriz foram realizadas
no âmbito do Subgrupo de Trabalho no 7 (Política Industrial e Tecnológica), que em março de 1992 propôs a criação de uma comissão para estudar a exportação conjunta
para terceiros países e apresentar as bases para um acordo setorial de autopeças. Os representantes dos governos
se encarregavam do auxílio técnico e da verificação da
compatibilidade com as normas ditadas pelo Tratado de
Assunção, enquanto os acordos eram negociados pelo setor privado, que se encarregou efetivamente das negociações do universo tarifário, cotas, índice de nacionalização e exceções, representado, do lado argentino, pela
Associação de Fábricas de Automotores (Adefa) e pela
Associação Nacional de Fábricas de Veículos Automotores
(Anfavea), do lado brasileiro.
Desde a assinatura do Tratado de Assunção, o comércio intrabloco nesse setor sofreu significativa elevação,
principalmente entre 1990 e final de 1992. As exportações brasileiras aumentaram devido à manutenção de um
câmbio subvalorizado, provocando a deterioração da balança comercial argentina. O fluxo crescente de importações atingiu particularmente os setores industriais da Argentina, inclusive o setor automotivo, o que provocou um
recuo nas negociações realizadas para definir as cotas para
o ano seguinte, 1993.
Em 15 de novembro de 1992, reuniram-se representantes dos governos da Argentina e do Brasil (do lado brasileiro, participaram membros dos Ministérios de Economia, do Trabalho, de Indústria, Comércio e Turismo e,
posteriormente, do Ministério de Desenvolvimento), conjuntamente com representantes da Adefa e Anfavea, para
elaborar uma carta de intenções que fixou as cotas de importação em pouco mais de 40 mil veículos e um índice
de nacionalização de 70% (peças originárias dos países
membros do Mercosul) para usufruir da tarifa zero.
A ratificação e a entrada em vigência desse acordo foram
postergadas porque a Argentina não conseguiu cumprir a cota
ção do setor ensejaram a criação, na V Reunião do GMC,
entre 30 de março e 1o de abril de 1992, de uma Comissão
no âmbito do SGT 8 (Política Agrícola), que, com a intervenção do SGT 7 (Política Industrial e Tecnológica) e SGT
9 (Política Energética), ficou responsável por propor alternativas para formular uma política regional para o complexo sucroalcooleiro.
Como as negociações prosseguiram sem a definição de
uma proposta de política regional para o setor até agosto de
1994, o CMC constituiu um Grupo Ad Hoc, encarregado
oficialmente de estudar o regime de adequação do setor açucareiro e apresentar até novembro de 1995, no máximo, uma
proposta de adequação do produto ao livre-comércio. Esse
prazo foi prorrogado para junho de 1997 pelo GMC, seguindo a Recomendação no 1/96 do Grupo Ad Hoc do setor açucareiro, apesar da reiteração do Brasil de que uma reunião
fosse realizada para definir o regime de adequação do setor
o mais breve possível. Porém, o GMC declarou na XXIV
Reunião, em Fortaleza, de 12 a 14 de dezembro de 1996, sua
intenção de levar a questão à consideração do CMC, após
analisar o tema e concluir não haver consenso sobre política
de adequação do açúcar. Nos dias 19 e 20 de maio de 1997,
em reunião do GMC, o Brasil apresentou uma proposta de
desgravação tarifária progressiva e automática até a
implementação do livre-comércio, prevista para vigorar a
partir de 1o de julho de 1997; entretanto, a delegação argentina impôs reservas à proposta.
Como as discussões terminaram indefinidas, o governo argentino, pressionado pelos produtores de açúcar das
províncias do norte do País, editou a Lei do Açúcar no
24.822, impondo taxas de importação no valor de 20%.
Imediatamente em resposta, apresentou-se um projeto de
decreto legislativo pelo secretário-geral da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul (CPC), Paulo Bornhausen,
proibindo todas as autorizações de importação de trigo,
pois “sabidamente a Argentina exporta trigo a partir de
uma cultura fortemente subsidiada (art. 2)”. Em seguida,
a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica)
repudiou a decisão da Argentina, fazendo uma reclamação formal à CCM contra as restrições argentinas às importações de açúcar, alegando sua inconstitucionalidade.
A reclamação resultou na eliminação das taxas de importação aplicadas ao açúcar brasileiro pela Argentina e na
retirada do projeto de decreto legislativo apresentado pelo
secretário-geral da CPC, Paulo Bornhausen.
O CMC decidiu prorrogar o mandato do Grupo Ad Hoc
até 31 de dezembro de 2000, incumbindo-o de continuar as
diligências para a formulação de um regime de adequação
50
INSTITUIÇÕES E CONFLITOS COMERCIAIS NO MERCOSUL
de exportações para o Brasil a que tinha direito. As negociações prosseguiram até março de 1993, quando se celebrou o
Anexo V ao Protocolo no 21, vigente a partir do dia 31 do
mesmo mês, fixando as cotas para 1993 em pouco mais de
20 mil veículos (mantendo inalterado o índice de nacionalização). O Anexo V marca uma reorientação na política externa brasileira, que passou a privilegiar o aspecto político
da integração, pois não só estabelecia uma cota inferior para
o ano de 1993 em relação a 1992, para proteger a indústria
automotiva argentina, como prorrogou para 31 de dezembro
de 1993 o prazo para completar o restante da cota de exportações não cumprida pela Argentina em 1992, além da cota
normal para o ano. É significativo o fato de que o Anexo V
foi inteiramente elaborado pelos representantes de governo,
e posteriormente submetido à apreciação dos representantes
privados, que pouco puderam fazer para alterar o acordo,
pois as negociações e a tomada de decisões para essas questões do setor se efetuaram inteiramente no plano do Conselho do Mercado Comum.
A declaração do embaixador Rubens A. Barbosa, exsubsecretário-geral de Integração, Assuntos Econômicos
e de Comércio Exterior do Itamaraty, referente às medidas adotadas pelo Brasil para elevar as importações argentinas, mostra esta posição de forma clara: “Do ponto
de vista do Mercosul, e diante dos desequilíbrios da balança comercial argentina, as medidas foram as menos traumáticas possíveis” (Gazeta Mercantil, 1992).
Em 1994, com a aproximação do fim do período de
transição, as negociações se tornavam mais prementes. A
Anfavea continuava a pressionar o governo brasileiro a
aumentar as cotas de exportação e estabelecer rapidamente
um regime comum para o setor. No entanto, a Decisão 29/
94 do CMC, contemplando uma proposta apresentada pelo
setor privado uruguaio, evidenciou as dificuldades dos
governos em atender simultaneamente às reivindicações
dos setores privados nacionais e aos objetivos da
integração, criando um Comitê Técnico Ad Hoc na futura
Comissão de Comércio do Mercosul (CCM), que se encarregaria da elaboração de uma proposta de Regime Automotriz Comum para o bloco.
O Comitê Técnico Ad Hoc deveria apresentar para a aprovação da CCM uma proposta completa do Regime Automotriz
Comum até 31 de dezembro de 1997, que contivesse os seguintes elementos: liberalização do comércio intrazona para
os produtos do setor automotriz; uma tarifa externa comum;
e a ausência de incentivos nacionais que distorcessem a
competitividade na região. O regime comum deveria entrar
em vigor a partir de 1o de janeiro de 2000.
Diante das dificuldades de se obter uma proposta consensual no âmbito do Comitê Técnico, o CMC decidiu
postergar o prazo final para a apresentação da proposta
do Comitê para 30 de abril de 1998. Esse prazo foi sucessivamente prorrogado até o fim de 1999, quando definiuse o regime de transição que vigoraria entre 2001 e 2003,
até atingir o livre-comércio em 2004.
No final do ano de 1998, foi estabelecido que o regime
automotivo definitivo do Mercosul contemplaria o livre-comércio interno, com Tarifa Externa Comum (TEC) de 35%
para veículos e entre 16% e 18% para autopeças. Porém, seria
por meio de um regime de transição a vigorar entre 1o de
janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2003. Somente em 1o
de janeiro de 2004 seria atingido o livre-comércio interno.
As divergências se tornaram mais evidentes a partir da
desvalorização do real, focando-se nas negociações quanto
ao índice de nacionalização. Ao mesmo tempo, a Argentina passou a dificultar a entrada de veículos obrigando
os importadores a apresentarem uma declaração detalhada da mercadoria. Além disso, solicitou à OMC a prorrogação do regime automotivo nacional, suscitando ameaças do Brasil de submeter os veículos importados da
Argentina à TEC. No final do prazo, quando deveriam ser
definidas as regras do setor que iriam vigorar a partir de
2000, estabeleceu-se um acordo provisório até 29 de fevereiro, em virtude, principalmente, das divergências sobre o índice de nacionalização de peças, enquanto as negociações prosseguiam. As negociações ainda estão
ocorrendo e não se definiu um regime de convergência
tarifária que possa alcançar o livre-comércio no futuro.
ALGUMAS CONCLUSÕES
Ao se analisar o período que vai do início de 1998 até
os dias que antecedem o retorno do Ministro Domingo
Cavallo ao governo argentino, pode-se notar um esgotamento na forma de avançar nas negociações do Mercosul,
que até então privilegiava os assuntos mais fáceis de resolver, deixando os temas mais críticos para depois. Ao
mesmo tempo, permite questionar a viabilidade da estratégia da via diplomática de solução de conflitos. Nesse
sentido, o setor burocrático-estatal ainda se mostra como
a principal influência que permeia as negociações. Na prática, essa influência se traduz na opção da via diplomática em detrimento do aprofundamento dos mecanismos institucionalizados.
Se, por um lado, está o problema estrutural dos setores
econômicos sensíveis, de outro, essa opção mostrou-se
51
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
obedecer a uma agenda, tal como já fizemos no passado,
quando estabelecemos o cronograma em Las Leñas (...)”.
A declaração do Presidente Fernando Henrique Cardoso,4 embora ainda não possa ser vista como reflexo de
uma ação determinada por parte do governo brasileiro para
mudar a estrutura institucional do Mercosul, mostra que
os condutores da política de integração estão percebendo
o esgotamento do atual sistema de resolução de conflitos
e de encaminhamento das negociações, admitindo até a
possibilidade de adoção da supranacionalidade.
Entendemos que o Mercosul encontra-se numa fase
em que a interdependência entre as questões regionais e
as domésticas já é bastante importante e tende a se aprofundar. O processo de integração tem gradativamente demandado mais estabilidade, para que fatores domésticos
possam ser processados de forma que não constituam elementos de interferência prejudicial à evolução das negociações em torno de um futuro compartilhado. As reiteradas vezes que os governos argentino e brasileiro
utilizaram ameaças ou retaliações permitem confirmar a
tendência de que a aplicação de medidas restritivas em
um setor faz com que esta contagie outro, formando um
quadro no qual evidenciam-se diferenças e não os aspectos comuns, e as divergências comerciais tendem a assumir uma conotação mais política e menos técnica, fazendo
com que as disputas passem do setor empresarial para o
setor governamental.
A evolução da estrutura institucional no Mercosul, como
descrita neste artigo, dificulta a participação de forma mais
direta dos setores não-governamentais, o mesmo acontecendo com os mecanismos de solução de controvérsia
adotados. Essa dificuldade tende a fazer com que as negociações do setor privado se realizem fora dos canais
próprios da integração, dependendo continuamente do
envolvimento dos governos nos assuntos negociados. As
crises enfrentadas nos últimos anos podem ser o início de
um processo de transformação organizacional, tanto das
instituições do Mercosul quanto dos governos envolvidos
e dos setores responsáveis pela tomada de decisões em
política externa, em que a agenda nacional poderá mesclar-se mais com as necessidades regionais, e vice-versa.
pouco eficiente e prejudicial ao fortalecimento de mecanismos de solução de controvérsias, o que poderia ajudar
na percepção empresarial de que os órgãos do Mercosul
seriam mais adequados para o encaminhamento das divergências do que a pressão direta aos governos nacionais ou o apelo aos mecanismos da OMC.
Essa forma de negociação faz com que fatores não relacionados diretamente ao processo de solução de conflitos sejam agregados, como pode-se verificar no segundo
semestre de 1999, quando ficou clara a disposição do
Itamaraty em atrasar as negociações com a Argentina até
que o novo governo fosse empossado.
Nesse exemplo, setores econômicos importantes precisaram adequar suas prioridades comerciais ao calendário eleitoral de um Estado-parte. Esse tipo de acontecimento faz com que os agentes econômicos percebam a
situação da integração como carente de credibilidade e previsibilidade, elemento que deveria ser privilegiado num
processo de integração regional.
Paraguai e Uruguai, juntamente com a Argentina, muito em função da sua situação socioeconômica interna, começaram a perceber a estagnação dessa forma de conduzir as negociações e partiram para a tentativa de colocar
na agenda de discussões o aprimoramento dos instrumentos jurídicos comuns. Mesmo no caso do Brasil, país mais
reticente quanto à criação de instrumentos que possam
avançar além do âmbito intergovernamental, já há sinais
de mudança de postura. Como exemplo temos o Ministro
Lampréia (1999) que discutiu a possível necessidade de
fortalecimento de mecanismos institucionais de mediação,
como a ampliação do papel dos tribunais arbitrais, de forma que os conflitos comerciais e outros tenham instâncias
adequadas de solução, sem necessidade de afetar o conjunto
do sistema integracionista, inclusive mobilizando a própria
Presidência da República em temas ordinários.
Outra declaração que reforça a necessidade de mudanças mais abrangentes foi feita pelo Ministro Celso Lafer
(2001): “(...) Para dinamizar o bloco, há necessidade de
maior integração. Temos de dar passos firmes na direção
do Mercado Comum, da integração das cadeias produtivas, da integração das infra-estruturas físicas, além de aperfeiçoar os aspectos institucionais, buscando aprimorar o
mecanismo de solução de controvérsias, coordenar mecanismos de defesa comercial extrazona e a eliminação de
medidas intrazona, instalando, em seu lugar, um sistema
comum de defesa da concorrência. Além disso, devemos
trabalhar por políticas comuns em áreas tais como zoofitossanitárias e certificação, entre outras. Para tanto, devemos
NOTAS
Este artigo é fruto da pesquisa “Gestão Pública Estratégica de Governos Subnacionais Frente aos Processos de Inserção Internacional e
Integração Latino-americana”, que está sendo realizada pelo Cedec,
Fundap e PUC-SP, contando com o apoio da Fapesp.
52
INSTITUIÇÕES E CONFLITOS COMERCIAIS NO MERCOSUL
1. Discurso do Senhor Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, na Reunião de Cúpula do Mercosul, por ocasião da Reunião
do Conselho do Mercado Comum, Assunção, 22 de junho de 2001.
HIRST, M. “A dimensão política do Mercosul: atores, politização e ideologia”. Texto original apresentado no Seminário Processos de Integração
Regional e as Respostas da Sociedade: Argentina, Brasil, México e
Venezuela. São Paulo, IEA/USP, 7 e 8 de agosto de 1995.
2. Artigo 3 do Tratado de Assunção e Anexo III.
LAFER, C. “El Mercosur está vivo. Y va en el rumbo que le dan sus
socios”. Clarín. Buenos Aires, 17 jun. 2001.
3. Realizada em 17 de dezembro de 1991.
4. “(...) Um espaço cuja vocação vai além do comércio: a vocação de
integração profunda no plano econômico, inclusive monetário, e de
crescente unidade no plano político, unidade que, no devido momento, encontrará expressão em instituições de caráter supranacional (...)”.
Trecho reproduzido do discurso proferido na Reunião de Cúpula do
Mercosul, por ocasião da Reunião do Conselho do Mercado Comum
(2001).
LAMPRÉIA, L.F. Intervenção no Grupo de Análise de Conjuntura
(Gacint) do IEA/USP. São Paulo, 4 de outubro de 1999.
MARIANO, K.L.P. A atuação da Comissão Parlamentar Conjunta e do
Subgrupo de Trabalho 10 no Mercosul. Tese de Doutorado. Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Unicamp, 2001.
MARIANO, M.P. A estrutura institucional do Mercosul. São Paulo,
Aduaneiras, 2000.
MENDES, R.G. Resolução de controvérsias no Mercosul: os interesses subnacionais. São Paulo, Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, Cadernos Cedec n.69, 2001.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
NYE, J.S. “Comparing common markets: a revised neofunctionalist
model”. In: KRATOCHWIL, F. e MANSFIELD, E. (orgs.)
International Organization. A Reader. Nova York, Harper Collins
College Publishers, 1994.
ALMEIDA, P.R. Mercosul: fundamentos e perspectivas. São Paulo,
LTr, 1998.
ALMEIDA, P.R. O Mercosul no contexto regional e internacional.
São Paulo, Aduaneiras, 1993.
ARCHAR, D. et alii. Las elites argentinas y brasileñas frente al
Mercosur. Buenos Aires, BID/Intal, 1994.
OTEIZA, E. “Mercosur: crítica del sistema arbitral del Protocolo de
Brasília”. Revista Uruguaya de Derecho Procesal. Montevidéu,
1992.
BAPTISTA, L.O. O Mercosul, suas instituições e ordenamento jurídico. São Paulo, LTr, 1998.
TOMASSINI, L. Relaciones internacionales: teoria y practica. PNUD/
Cepal – Documento de Trabajo n.2, 1988.
VIGEVANI, T. Mercosul: impactos para trabalhadores e sindicatos.
São Paulo, Ed. LTr, 1998.
CARDOSO, F.H. Discurso proferido na reunião de cúpula do Mercosul,
por ocasião da reunião do Conselho do Mercado Comum. Assunção, 22 de junho de 2001.
CHARLIN, R.B. “Dimensión jurídica e instrumental de la
integración latinoamericana”. Contribuciones. Buenos Aires,
Ciedla/Konrad Adenauer, ano X, v.38, n.2, abr.-jun. 1993.
TULLO VIGEVANI: Cientista Político, Professor da Unesp e Pesquisador
Cedec ([email protected]).
GAZETA MERCANTIL. “Medidas foram as menos traumáticas”. São
Paulo, 30/10/1992.
MARCELO PASSINI MARIANO: Cientista Político, Pesquisador Cedec
([email protected]).
FUNCEX. “Um Balanço do Mercosul”. Revista Brasileira de Comércio Exterior. Rio de Janeiro, n.41, out.-dez. 1994.
RICARDO GLÖE MENDES: Pesquisador Cedec ([email protected]).
53
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1):
16(1) 2002
54-62, 2002
O MERCOSUL E A
SEGURANÇA REGIONAL
uma agenda comum?
SHIGUENOLI MIYAMOTO
Resumo: Desde o início do processo de integração regional, têm falado mais alto os interesses particulares dos
Estados, cada um procurando resolver seus próprios problemas domésticos. Nesse contexto, a indefinição de
uma agenda mais consistente dificulta a integração regional em todos os planos, sobretudo, em áreas sensíveis
como as de políticas externa e de defesa, muito complexas para serem elaboradas em conjunto.
Palavras-chave: Mercosul; integração regional; segurança regional.
Abstract: Despite movement towards regional integration, countries continue to place priority on their national
interests, seeking first and foremost to address their particular domestic issues. The resulting lack of a cohesive
agenda hinders regional integration, particularly in the areas of foreign policy and defense – issues that, by
reason of their complexity, defy group consensus.
Key words: Mercosul; regional integration; regional security.
D
e maneira simplificada, pode-se dizer que há duas
grandes vertentes para analisar as relações internacionais: a óptica conflitiva e a que privilegia a
integração, ou, dito de outra forma, abordagens que defendem a paz e a guerra.
Provavelmente, em nenhum momento da História, mesmo em tempos mais remotos, encontrou-se elementos suficientes para afirmar que dois ou mais atores tenham-se
relacionado entre si apenas de maneira amistosa. Ou que
se tenha verificado a existência de um quadro no qual a
guerra tivesse sido permanente, uma luta de todos contra
todos.
Na realidade, essas duas visões sempre caminharam pari
passu ao desenrolar da história da Humanidade. E permearam o relacionamento entre os diversos Estados, ou
grupos, quando aqueles não haviam-se constituído formalmente, a partir de 1648, com o Tratado de Vestfalia, de
acordo com as interpretações correntes.
A idéia hobbesiana de “estado da natureza” nada mais
é do que um modelo típico ideal, segundo os moldes
weberianos, e nunca comprovado empiricamente (Forsyth,
1980). Trata-se de um recurso teórico, para que ele justificasse a criação do Estado, por meio de um pacto entre
os diversos agentes, assegurando, a eles, condições mínimas para que sobrevivessem com relativa tranqüilidade,
dentro de um mundo com regras preestabelecidas.
As relações entre os diversos Estados dão-se ao mesmo tempo por dois prismas: da cooperação e o do conflito. Quando interesses comuns apresentam-se, a cooperação é o caminho preferido. As divergências, por sua vez,
fazem parte das regras do jogo e, no limite, levam a acirramentos, e o resultado final só é conhecido nos campos
de batalha. Como lembra Raymond Aron (1962:1030), o
“sistema internacional é o conjunto constituído por unidades políticas que mantêm entre si relações regulares e
que são suscetíveis de entrar em guerra total”.
De resto, as normas e convenções que dão formato ao
sistema internacional continuamente se apresentam instáveis, em um contexto em que prevalecem regras imprecisas e cambiantes (Sardenberg, 1982). Isso, é evidente, contribui para que governos e Estados privilegiem seus próprios
interesses – cada vez mais fortes –, confiando com reserva
nos demais, desde os vizinhos mais próximos, até os mais
distantes com os quais mantêm intercâmbio satisfatório.
A cooperação, ao lado da competição e do conflito,
sempre existiu, e nunca houve necessidade de grandes
54
O MERCOSUL E A SEGURANÇA REGIONAL: UMA AGENDA COMUM?
O aprofundamento das relações bilaterais ou multilaterais, rumo à integração, entre dois ou mais países, e construindo blocos, consiste na definição de uma agenda única para esses Estados, abrangendo aspectos políticos,
econômicos, militares, culturais, etc. As políticas não seriam objeto de apenas uma ou de outra unidade, mas de
responsabilidade de todos que firmariam tal pacto, constituindo instâncias maiores.
A adoção desse tipo de comportamento levaria a atingir o que há, pelo menos, oitocentos anos a literatura
internacional aborda, ou seja, a criação de um governo
mundial, no qual o conflito cede lugar à paz, e ela impulsionando o relacionamento entre todos, independentemente
de suas diferenças políticas, culturais, religiosas, etc.
O que se verifica, sobretudo, nos anos mais recentes,
em diversas ocasiões, tanto na Europa, na América do
Norte, quanto na América Latina, é que as propostas de
integração têm caminhado mais devagar do que seria possível ou desejável. Obstáculos quase insuperáveis têm surgido em todos os instantes, com resistências de um ou outro parceiro, procurando cada um gerenciar, sempre, as
políticas regionais em favor de suas vontades particulares.
debates para chegar a essa conclusão. Não é, gratuitamente,
que a maior parte da literatura que trata das relações internacionais centre sua atenção em um desses prismas.
A cooperação entre os diversos Estados é uma constante, embora não permanente, ao longo dos séculos. Ao
se comportarem dessa forma, os agentes consideram a
possibilidade de obter uma série de dividendos, calculando custos e benefícios. Entre estes últimos, a desnecessidade de se preocupar com gestos agressivos ao longo de
suas fronteiras, ameaças à sua soberania e a chance de
viver, portanto, mais tranqüilos.
Tomadas em conjunto, tais medidas tornaram viável
elaborar e executar, com maior regularidade e consistência, as políticas públicas, atendendo aos interesses dos
senhores feudais, do Estado e da sociedade.
Essa cooperação implicou no seguimento de algumas
regras comuns, amparadas no princípio de que todos sairiam ganhando. Quando os interesses gerais eram superiores, a cooperação foi privilegiada. O contrário deu-se
quando os benefícios ficavam aquém do esperado ou desejado. A quebra de acordos enquadra-se na lógica de que
eles são bons apenas enquanto todos lucram.
Há entendimento de que a cooperação, por mais bem
intencionada que seja, sempre é limitada, restrita a itens
específicos de uma pauta de negociações. Assim, a cooperação pode ser feita no âmbito econômico, abarcando
um ou outro setor, mas não necessariamente o mesmo se
verifica nos planos político ou militar. Isso significa dizer que cada um dos lados mantém pleno domínio sobre
suas propriedades, seus domínios, seus territórios, não deixando margens a dúvidas sobre sua soberania, conceito
tão caro aos Estados e governantes, ainda que sob a égide
da interdependência e da globalização.
Por outro lado, o aprofundamento da cooperação, como
nos últimos anos tem-se observado, em busca de uma efetiva integração, rompe com o tradicional conceito de soberania. A integração, entendida como deve ser e tomada
às últimas conseqüências, leva à quebra da soberania,
constituindo-se instâncias supranacionais, com centros de
decisão coletivos e não mais individuais, em que o bem
comum é o objetivo primordial a ser alcançado.
Como esclarecem alguns autores, por integração devese entender o “processo pelo qual os atores políticos em
vários marcos nacionais diferentes são persuadidos da
necessidade de dirigir suas finalidades, expectativas e atividades políticas para um centro novo e maior, cujas instituições possuam ou exijam jurisdição sobre os Estados
nacionais já existentes”. (Haas, 1964:28).
INTEGRAÇÃO E TEMAS SENSÍVEIS
Muitos tópicos, por sua delicada natureza, são difíceis
de negociar, e apresentam sérios percalços para chegar a
um denominador comum. Entre esses, os que dizem respeito à segurança do Estado e a atuação do país no cenário
mundial apresentam-se como os mais importantes e complicados, para a definição de políticas convergentes.
Há motivos plausíveis que justificam as reticências dos
governantes sobre esses assuntos. Sentar à mesa de negociações, discutir, barganhar, ceder e tomar decisões conjuntas, significa abrir mão da feitura de políticas atendendo tão-somente aos seus anseios, como até então estavam
acostumados. Para os decision-makers, essa nova situação
os obrigaria a ver, por outro prisma, seus Estados como o
elemento mais importante do sistema internacional. Aparentemente verificam-se, portanto, irreconciliáveis contradições, com as falas pregando a colaboração e a prática
indicando o contrário.
Contradizendo os discursos, o Estado-Nação continua,
nos dias atuais, mais sólido do que nunca. Os acontecimentos da última década, com as posturas assumidas pelas grandes potências para salvaguardar seus interesses e
ampliar suas influências, são incisivos ao comprovar que
a globalização, tal como é propalada, está longe de elimi-
55
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
nar categorias como fronteira, soberania, nacionalismo, etc.
Como foi possível constatar, em nome dos interesses nacionais, países como Estados Unidos, França, Canadá, Índia ou China realizaram vigorosas políticas.
Os Estados Unidos em nenhum momento abdicaram de
seu poder, fosse no plano econômico, fosse no militar. Lançando mão de duras medidas, a Casa Branca ameaçou um
sem número de vezes retaliar outros países, acionando a Super
Cláusula 301, da Lei de Comércio Americana. Tal atitude
foi tomada inclusive contra o Canadá, seu parceiro maior no
Nafta, com quem mantém relações especiais desde os anos
50. O mesmo acontece quando se confrontam e seus interesses chocam-se com os de seus principais competidores, europeus, ou japoneses, ainda que todos ocupem o topo da pirâmide (Sardenberg, 1989:255-72; Thurow, 1993).
Além dos protecionismos econômicos, o bloqueio de
movimentos migratórios para seus territórios e os xenofobismos converteram-se em moeda corrente utilizada no
cotidiano das grandes nações industrializadas, contra os
parceiros menores do mundo em desenvolvimento.
No plano militar, os Estados Unidos não se esqueceram do direito de ditar pela força, o que consideram correto, de acordo com seus pontos de vista, ao interferir em
todos os quadrantes, onde seus interesses, ou suas empresas, pudessem sofrer quaisquer tipos de danos. Intervenções como as ocorridas no Iraque em 1991, e no Kosovo
pouco depois, independentemente de autorização da Organização das Nações Unidas, enquadram-se nesse raciocínio (Vicentini, 1998).
Como diria Bill Clinton “precisamos compreender o
que temos em jogo nos Balcãs e em Kosovo (...) esta é
uma crise humanitária, porém, é muito mais do que isso:
é um conflito sem fronteiras naturais, que ameaça nossos
interesses nacionais”.1
A França e a China adotaram comportamentos parecidos, pouco se importando com as críticas, quando resolveram reforçar seus arsenais militares. Primeiro detonaram, cada uma delas, meia dúzia de bombas nucleares, antes
de assinar o Tratado de Rarotonga desnuclearizando o Pacífico Sul em 1996. Em julho de 2001, os Estados Unidos
continuaram com seus testes, desta vez com o escudo
antimíssil. Outros países como a Índia e o Paquistão também exercitaram políticas de poder, realizando seus experimentos nucleares, não obstante as ameaças das grandes
potências, pautando-se pelo raciocínio de que “se os outros fazem, o que nos impede”?
O aumento das capacidades econômicas e militares das
grandes potências, reafirmando seu papel de guardiãs do
mundo, foi a tônica do período pós-guerra fria. Essa tendência contrariou, assim, os mais otimistas que esperavam
o surgimento, no limiar do terceiro milênio, de um cenário
inteiramente distinto, isento de ameaças e de guerras.
Os conflitos que explodiram com violência avassaladora,
justamente em função do término das divergências LesteOeste, serviram para corroborar, uma vez mais, que os
Estados Nacionais continuam tão ou mais importantes do
que antes. Verificou-se, em pouquíssimo tempo, a fragmentação de impérios, como a União Soviética, e de países
como a Iugoslávia e a Checoslováquia, dando surgimento
a várias unidades menores, independentes, soberanas. Em
todo o mundo uma infinidade de reivindicações, até então
camufladas, emergiu com vigor, objetivando criar novos
países, desde o sul do Brasil ao Nepal, passando pelo Texas,
pelo Quebec, pela Itália com a República da Padânia, pelos curdos, pelo Timor Leste, pelos palestinos, pelo Tibete
e pelos ianomâmis, sem esquecer os bascos que continuaram sua antiga luta.
A derrocada do império soviético e o esvaziamento do
Pacto de Varsóvia (extinto oficialmente em 1991) não foram motivos suficientes para o arrefecimento das políticas de poder, não havendo contrapartida ocidental. Em
1991, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)
deixou de ser exclusivamente defensiva, e mudou seu papel. Ao adotar novo conceito estratégico, ampliou seu raio
de ação, o que lhe permitiu operar em qualquer lugar, se e
quando a segurança européia estiver em risco (Otan, 1991).
Não é fortuitamente que textos como os de Samuel
Huntington (1994) tiveram considerável impacto nos mesmos anos, com a eleição de novos inimigos do mundo ocidental (Huntington, 1994).
Contudo, estes são comportamentos habituais das grandes potências, que produzem e executam políticas, para
atender às suas necessidades, e de acordo com as capacidades acumuladas ao longo do tempo. Nada diferente, portanto, da realpolitik, que serve de fio condutor para os
“donos do mundo”, que nunca pedem licença a ninguém,
além de surdos e insensíveis a apelos e protestos de quaisquer natureza.
Afinal de contas, dita a política de poder, quem garante que o fim de um conflito significa o início de um estágio, em que todos elegem como prioridade os interesses
coletivos, substituindo os tradicionais egoísmos individuais?
Os últimos dois mil anos orientam os que decidem os
rumos de seus países. Esses levam na devida conta, não o
advento de um período de paz duradouro, mas vêem o atual
56
O MERCOSUL E A SEGURANÇA REGIONAL: UMA AGENDA COMUM?
que na prática é implementado de maneira comedida. Isso
se dá tanto na questão ambiental, no comércio internacional, nos direitos humanos, como nas áreas de defesa e segurança.
Quando é conveniente, as grandes potências esquecemse até mesmo dos argumentos em defesa da preservação
do meio ambiente e dos direitos humanos, quando emergem outros interesses, como fazem os Estados Unidos. As
críticas intensas ao governo chinês, por desrespeitar esses dois itens, motivos alegados para impedi-lo de ingressar na Organização Mundial do Comércio (OMC),
esfumaçaram-se, quando se chegou à conclusão de que é
melhor ter a China dentro do que fora da OMC.
Ou então, como fez o presidente atual, George W. Bush,
ao rejeitar o Protocolo de Kyoto sobre a emissão de poluentes, sequer lembrando-se da Conferência Mundial das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
a ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, quando as ricas
nações industrializadas comprometeram-se a ceder 0,7%
de seus PIB, em tecnologias e recursos aos países em desenvolvimento.
Obviamente, essa percepção das relações internacionais cria dificuldades crescentes, impedindo colaboração
mais estreita, mesmo em regiões mais afastadas dos grandes centros de decisão, como os países do Mercosul, objeto de análise a seguir.
.
EXPERIÊNCIA LATINO-AMERICANA
estágio apenas como um breve interregno entre outros
conflitos que, é claro, virão.
As atitudes que modelam as relações internacionais estão longe de obedecer às concepções idealistas, guiandose por posturas realistas, em que os interesses ecoam com
intensidade cada vez maior. As boas intenções, muitas delas
assinadas, são negociadas com base em posições de força
e de poder. Os resultados obtidos nas negociações demonstram claramente as capacidades utilizadas em todos os sentidos, particularmente no militar, que dá credibilidade a
todos as demais, quando se coloca a necessidade de intervir, pressionar e impor boicotes a outros países.
A literatura clássica utilizada para explicar as relações
internacionais, parcialmente rejeitada em nome das novas teorias, não teve o seu fim decretado, como se divulga em muitas oportunidades. Sua utilização apenas não é
mais feita com a mesma intensidade, como ocorria em dias
passados, em todas as ocasiões, dividindo agora o cenário com outras variáveis, como a econômica, a cultural,
etc. Entretanto, isso deve ser interpretado como algo que
não foge à normalidade, visto que as relações internacionais caracterizam-se por ser essencialmente dinâmicas,
nunca havendo dois momentos iguais quando se deseja.
Os atores, os lugares, as circunstâncias e as motivações
foram e são diferentes no transcorrer da História.
Por esse prisma, determinadas políticas – externa, de
defesa e de segurança – encontram dificuldades para ser
compartilhadas, já que colocariam em risco a própria sobrevivência dos Estados e, por extensão, de suas sociedades. Essa interpretação pode ser considerada verdadeira,
pelo menos enquanto perdurarem desconfianças mútuas,
como até agora tem prevalecido.
Não custa relembrar quais os objetivos de uma política externa, ainda que recorrendo a antigas obras como as
de Karl Deutsch (1970). Segundo ele, “a política exterior
de cada país se refere, em primeiro lugar, à preservação
de sua independência e segurança, e, em segundo lugar, à
perseguição e proteção de seus interesses econômicos”.
Se isso é observável no cotidiano das grandes nações,
que disputam espaços, poderes e influências, estruturando
o sistema internacional e estabelecendo padrões e ordens
mundiais, segundo suas conveniências, nada mais natural
que os demais países adotem idêntico padrão de comportamento. Por que agir de outra forma, se os grandes países
utilizam o expediente das políticas de poder para resolver
quaisquer problemas que lhes digam respeito?
Há abismos enormes entre os discursos de boas intenções, de união, de cooperação e de integração, e aquilo
Na segunda metade do século passado, o continente
latino-americano passou por várias experiências de cooperação e de integração, que nunca conseguiram alcançar
os objetivos inicialmente traçados. Os países da região
enfrentaram várias dificuldades, por conta não só do quadro doméstico, mas também por causa das conjunturas
regionais e internacionais. Conte-se, ainda, o próprio otimismo exagerado quando da confecção dos acordos. Esses problemas, no todo ou em parte, contribuíram para
minar as tentativas integracionistas.
A Associação Latino-Americana de Livre Comércio
(Alalc), criada em 1960 com o Tratado de Montevidéu, é
um exemplo que reforça essa interpretação. A tentativa
que nasceu calcada na boa vontade dos países de todo o
continente, logo começaria a ver solapada na pretensão
de solucionar os problemas locais.
As mudanças de regime verificadas logo depois, com
a implantação de governos ditatoriais, que competiam
entre si por influências na América Latina, embora fos-
57
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
recursos financeiros, não conseguindo levar avante suas
tarefas.
As denúncias sobre a depredação do meio ambiente,
os maus cuidados com as populações florestais, e o uso
dos recursos minerais pelas empresas estrangeiras que aqui
se estabeleciam, precisavam ser respondidas. Impunha-se,
pois, uma postura mais agressiva por parte do governo
brasileiro, que tomou algumas iniciativas para proteger a
floresta tropical, primeiro com o Projeto Calha Norte e,
em seguida, com o Sivam/Sipam – Sistema de Vigilância
da Amazônia/Sistema de Proteção da Amazônia (Conselho de Segurança Nacional, 1985; Câmara dos Deputados, 1996).
Tendo surgido em conjuntura desfavorável, já que os
anos 80 constituíram-se em período difícil para o continente, a Aladi pouco realizou. Com a mudança do panorama político, ou seja, a redemocratização dos países
castrenses latino-americanos, as alterações na conjuntura
internacional, os Estados Unidos contrários à forma como
as instâncias multilaterais estavam atuando e a Rodada
GATT do Uruguai, a criação de blocos regionais adquiriu força, e tornou-se não apenas conveniente, mas imperiosa para enfrentar em melhores condições a voracidade
competitiva que seria marca dos anos 90.
A subida de civis aos governos argentino e brasileiro já
fora um bom sinal para o continente. Enterrando, pelo menos a princípio, as velhas discórdias regionais, Buenos Aires
e Brasília assinaram em 1985 os protocolos de integração
regional, absorvendo depois o Uruguai e o Paraguai, constituindo o Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL).
Logo, o Mercosul passou a alimentar a esperança de crescer, ingressando no continente.
A década de 90 serviu para mostrar ao Mercosul que
apenas as intenções não seriam suficientes para que empreendimento de tal magnitude tivesse sucesso assegurado, ainda mais em período tão curto, esquecendo-se que o
continente europeu tenta, há muito tempo, a mesma coisa,
caminhando devagar em busca desse destino.
As polêmicas diárias em praticamente todos os setores
dá o tom que caracterizou o relacionamento sob a rubrica
do Mercosul. Com críticas, ora sobre a inoperância dos
acordos, ora sobre quem ganha e quem perde, ou sobre as
diferenças de concepção do que seja o processo regional,
ameaçando por fim a tal iniciativa, o Mercosul marchou,
até o momento, apoiado em frágeis muletas. A situação
delicada que a Argentina enfrentou em meados de julho,
é outro indicador de como é difícil negociar quando tantos e tão diferentes interesses estão em jogo.
sem todos anticomunistas, com a bênção e a ajuda do
grande irmão do Norte, e as interpretações distintas sobre a essência do acordo, pesaram de modo decisivo para
o fracasso da entidade.
De um lado, brasileiros e argentinos tinham projetos
diferenciados de inserção regional e internacional, acirrando as disputas que tradicionalmente movimentaram a
história da Bacia do Prata. As políticas públicas brasileiras concernentes à ocupação das fronteiras, corredores de
exportação e abastecimento, populacional e energética,
eram alvo freqüente de intensas críticas, por serem consideradas parte de um projeto geopolítico expansionista.
Com esse clima, é claro que qualquer projeto de colaboração mais próximo tinha poucas chances de ser coroado
de êxito.
Por outro lado, enquanto os países menores desejavam
que o processo desse prioridade ao desenvolvimento de
todos – em que eles, em particular, seriam ajudados –, os
maiores não compartilhavam de igual ponto de vista (Barbosa, 1991).
Para as grandes nações, a Alalc era mais um pretexto,
por assim dizer, uma instituição que facilitaria a entrada
de seus produtos em outros mercados, por menores que
eles fossem. Tratava-se de uma visão estritamente comercial, e não desenvolvimentista. Com essa dicotomia, o regionalismo não poderia caminhar a contento.
O prazo fixado, de maneira otimista, para que o projeto
se concretizasse, foi várias vezes alterado. As intempéries
que os países enfrentaram, ao mesmo tempo, diante da turbulência internacional – como as crises do petróleo – e a
impossibilidade de honrar seus compromissos – como o
pagamento da dívida externa – ajudaram a sepultar o sonho inicial. Tanto é assim que, em 1980, a Alalc foi substituída por outra organização – cujo foro também se localizava em Montevidéu –, a Associação Latino-Americana
de Integração (Aladi). O nome ambicioso propunha, não
apenas a emergência de uma zona de livre-comércio, mas
algo maior, integrar o continente.
Nesse meio tempo outras propostas, com escopo mais
reduzido, foram igualmente encaminhadas. Em 1969,
pelo Tratado de Cartagena, criou-se o Pacto Andino. Pelo
Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) – firmado pelo
Brasil com mais sete países da região em julho de 1978
– pensou-se na possibilidade de integrar a região norte
do continente, e defendê-la contra interesses externos que
se mostravam cada vez mais presentes (Ministério das
Relações Exteriores, 1978). Todavia, o TCA passou por
incontáveis dificuldades, desde o início, como a falta de
58
O MERCOSUL E A SEGURANÇA REGIONAL: UMA AGENDA COMUM?
No próprio documento intitulado “Política de Defesa
Nacional”, datado de 1996, e que fixa as diretrizes estratégicas brasileiras, a Amazônia ocupa a parte central. Este
texto antecedeu a criação do Ministério da Defesa em 1999
(Presidência da República, 1996). Na realidade, vários outros documentos já enfatizavam, há muito tempo, a questão amazônica, como tema de importância na estratégia
nacional (Cebres, 1991; Escola Superior de Guerra, 1990;
Revista Brasileira de Política Internacional, 1968).
Ao elegerem tal região como prioridade, brasileiros,
bolivianos, venezuelanos, equatorianos – que guerrearam
duas vezes contra os peruanos –, além dos colombianos
às voltas com graves problemas, nada mais fizeram do que
colocar, em primeiro lugar, a necessidade de proteger seus
territórios, suas instituições, portanto, sua soberania. Para
isso, mantiveram aparatos bélicos, adquirindo equipamentos sempre que possível, e de acordo com seus exíguos
orçamentos. A própria Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), em estudo recente, mostra que as preocupações com esta atividade nunca deixaram de existir.
(Lahera e Ortuzar, 1998).
Os Estados agem (ou tentam) como unidades independentes, soberanas, fazendo com que a política externa auxilie na manutenção da segurança nacional, tornando-se
parte constante do cálculo governamental. Destarte, a despeito do término das discórdias estratégico-militares entre argentinos, brasileiros e chilenos, tal constatação não
significa forçosamente a possibilidade de se modelar políticas comuns, revelando seus equipamentos militares (se
bem que todos sabem o que cada vizinho possui ou adquire), suas preparações e suas estratégias para enfrentar
e superar os diversos antagonismos que possam surgir.
As Forças Armadas brasileiras e argentinas aproximaram-se desde o final dos anos 80, realizaram exercícios
conjuntos, desativaram seus programas nucleares (o Brasil encerrou as atividades da Serra do Cachimbo), e participaram de dois eventos entre os Estados Maiores das
Forças Armadas, além dos encontros de Ministros das
Defesa das Américas, desde Williamsburg em 1995 à realizada em 2000 em Manaus, mas nem por isso, tomam iniciativas visando produzir políticas uniformes.
Os discursos e o comportamento das autoridades do
setor são bem significativos a esse respeito. Deixam aberta
a possibilidade de integração, mas ressalvam que ainda é
prematuro partir para tais medidas, e que isso, por enquanto, não é prioridade.
Enquanto não enfrentam problemas comuns, cada um
realiza suas políticas individualmente como sempre fez.
POLÍTICA EXTERNA E DE DEFESA:
CONVERGÊNCIA DE INTERESSES?
Durante décadas, os dois maiores países da América
do Sul competiram de forma extraordinária. Em várias ocasiões, como no contencioso de Itaipu/Corpus, a situação
chegou a momentos delicados (Caubet, 1989).
Os argentinos criticavam o uso do Rio Paraná pelo governo brasileiro, acusando-o de colocar avante um projeto geopolítico de hegemonia regional. Não era, porém, só
contra Brasília que Buenos Aires brandia sua cólera. O
Chile também tinha um impasse com o governo portenho,
pelo controle do Canal de Beagle. Nos anos 80, os generais argentinos que controlavam o poder, ousaram entrar
em guerra contra o reino de sua majestade britânica pelas
ilhas Malvinas.
Brasília, além do confronto com Buenos Aires, tinha
pouco com que se preocupar. Em 1986, propôs, na ONU,
a criação da Zona de Paz e de Cooperação no Atlântico
Sul (Zopacs) (MRE, 1986). O país também não quis apoiar,
na década de 70, a constituição de um tratado que envolvia os países da região em uma congênere como a do Atlântico Norte, com o nome de Pacto do Atlântico Sul, ou Organização do Tratado do Atlântico Sul. Por motivos já
expostos em outros trabalhos, essas iniciativas não agradavam ao governo brasileiro (Miyamoto, 1985).
Com a redemocratização do continente, o princípio que
passou a vigorar é que as disputas deveriam ceder lugar a
outros propósitos. Para os argentinos era muito melhor,
recuperar os anos perdidos, tanto com a guerra contra os
ingleses, quanto com a energia despendida contra brasileiros e chilenos.
O mesmo se sucedia pelo lado brasileiro. Por isso, a
Bacia do Prata deixou de ser palco privilegiado de atenção do governo brasileiro, como política de defesa. Além
do final do contencioso de Itaipu, a subscrição do tratado
da Zopacs dava boa margem de segurança para que assim
se pensasse.
Novas preocupações passaram a orientar Brasília, agora
dirigidas para a região Norte do País, rumo às densas florestas amazônicas. A ascensão do coronel Desi Bouterse,
que se autoproclamava portador de tendências marxistas,
ao governo de Paramaribo, além das persistentes críticas
contra os desmandos praticados pelos países amazônicos
aos seus recursos naturais, fizeram com que aquela parte
do continente se convertesse em primazia do governo brasileiro. O surgimento do Projeto Calha Norte, em 1985, e
depois do Sivam/Sipam retratam essas preocupações.
59
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
parte dos casos, postura divergente, e os assuntos estratégico-militares seguiram a passos miúdos.
Como lembravam autoridades argentinas e brasileiras,
ainda é cedo para formalizar esses temas. Para o ex-chanceler Guido di Tella, “batalhões conjuntos, por enquanto
são pura fantasia” (Bertolotto, 1997). O que não significa
dizer que não sejam importantes. Contudo, uma coisa é
considerá-los como tal, e outra é viabilizá-los na prática.
No fundo, o grau de confiança recíproco é, ainda, muito
limitado para tornar concretas tais propostas. Se há claras
dificuldades para os países membros do Mercosul, que não
conseguem solucionar seus próprios problemas, e a incapacidade para chegar-se a bom termo em temas políticos
e econômicos do bloco, o que dizer, então, sobre questões mais delicadas como as políticas externa e de defesa
comuns?
Os últimos dez anos de percalços enfrentados, em especial por Buenos Aires e Brasília, indicaram claramente
que a colaboração faz parte das regras do jogo, assim como
as próprias divergências. Nesse sentido, são compreensíveis as reclamações destemperadas quando um país não
consegue resolver seus problemas domésticos, colocando
a culpa no parceiro. Dessa forma, no final da década de
90, a desvalorização da moeda brasileira foi alvo de comentários quase impublicáveis, e apontada como responsável pela situação aguda enfrentada pela Argentina. Passaram a ser freqüentes, desde então, os discursos argentinos
que pregavam o fim do próprio bloco. Os acontecimentos
recentes do novo século caminham em trilha semelhante.
A percepção que os governantes têm é de que alguns
anos são insuficientes para pensar em integração estratégico-militar. Se a Europa conduz tal processo há cinco
décadas, sem chegar a resultados satisfatórios, o mesmo
se pode dizer do cenário regional. Boas intenções são compartilhadas, mas não necessariamente realizadas. Além do
mais, as mudanças de governo são, de igual modo, elementos a ser devidamente ponderados. Nada assegura que
as decisões tomadas em um momento terão seqüência em
outros, visto que os novos governantes podem adotar
posicionamentos completamente distintos dos anteriores,
em nome de novas prioridades, de novas conjunturas, de
novas conveniências, etc.
As agendas externas de argentinos e brasileiros têm sido
diametralmente opostas nos últimos anos. Enquanto a
Argentina, durante os dois governos de Saul Menem optou pelo aprofundamento das relações com os norte-americanos, o Brasil esbarrou em uma série de contenciosos
com os Estados Unidos, desde o relativo à propriedade
A Argentina está mais voltada para a questão do terrorismo contra a comunidade judaica (como ocorreu nos anos
90), com o tráfico de drogas e armamentos e com a presença de grupos islâmicos na fronteira tripartite argentino-brasileiro-paraguaia. A preocupação brasileira, por
força das circunstâncias, acha-se dirigida para o território
amazônico, apesar de não negligenciar o tráfico de drogas como uma de suas prioridades.
Por razões como essas, não sentem necessidade de aprofundar a cooperação – já existente no âmbito da Justiça –,
enquanto dão conta, sozinhos, de seus problemas. Na verdade, não se trata apenas disso. Cada um deles raciocina
dentro de estreitos parâmetros de defesa dos interesses e de
projeção de seus Estados nacionais. Daí, ter-se observado
uma prematura disputa por vaga no Conselho de Segurança
da Organização das Nações Unidas, no caso de uma possível reestruturação dessa entidade. Situação parecida verificou-se quando a Argentina solicitou o status de aliado preferencial da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ou
ainda, assumindo posições isoladas – porém em perfeita sintonia com os Estados Unidos – para atuar em conflitos internacionais, como fez na Guerra do Golfo em 1991, ao enviar duas embarcações para aquela zona de conflito.
Em abril de 1987, quando se realizou, em Buenos Aires,
o 1o Simpósio de Estudos Estratégicos Argentino-Brasileiro, na abertura do encontro o brigadeiro-general
Teodoro Guillermo Waldner, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Argentinas, chamava a atenção
para a importância do evento, já que “em algumas oportunidades, através da história, esgrimimos [argentinos e
brasileiros] objetivos antagônicos”. A seguir frisava que
“juntos, Brasil e Argentina podem chegar a conformar um
espaço geopolítico que lhes permitirá alcançar um dimensionamento de nível mundial” (Waldner, 1987: 291-92).
O mesmo discurso otimista foi feito, exatamente um
ano depois, por ocasião do 2o Simpósio, dessa vez em São
Paulo, pelo general de divisão Edson Alves Mey, vicechefe do Estado-Maior do Exército brasileiro (Mey,
1988:341-42).
Os anos 90, porém, encarregaram-se de trazer à tona,
os óbices – como dizem os militares – para atingir o objetivo, tão apregoado nos discursos oficiais. As iniciativas
isoladas de cada parceiro, em quase todas as instâncias,
políticas e econômicas e, sobretudo no setor bélico, constituíram-se em prova definitiva de que quase nunca os discursos refletem o comportamento real dos governos.
Com o advento do Mercosul, enquanto alguns interesses convergiam na esfera econômica, verificou-se, na maior
60
O MERCOSUL E A SEGURANÇA REGIONAL: UMA AGENDA COMUM?
tram-se presentes em todas as circunstâncias. Cada um procura salvaguardar seus próprios interesses, proteger suas
fronteiras, seus domínios e fortalecer-se o mais possível, acumulando capacidades econômicas, bélica, ao mesmo tempo
que investem em itens como ciência e tecnologia.
Assim, nada diferente se passa no Mercosul. As chances de se compatibilizar políticas externa e de defesa têmse manifestado apenas nos discursos, embora, efetivamente, algumas experiências tenham sido feitas nos últimos
quinze anos. Todavia, isso tem-se demonstrado insuficiente
em face das transformações internas e externas, em que
cada um busca sua salvação individual, procurando ocupar espaço maior no cenário internacional.
Os blocos são utilizados pelos países para aumentar seus
mercados, capacitar-se melhor em tecnologia, e para fazer frente a outros blocos. Entretanto, nada disso derruba
o argumento original de que, enquanto não houver um
governo mundial ou mesmo regional, abarcando três, seis
ou duas centenas de países, torna-se inviável discutir e
mesmo dividir decisões que só dizem respeito aos habitantes locais.
Comparando os anos anteriores com os anos 80, contudo, e apesar das divergências enfrentadas pelo Mercosul,
a situação atual como relacionamento bilateral e multilateral, é sensivelmente melhor. O que não quer dizer que
não perduram, ainda, desconfianças e discordâncias em
muitos pontos que poderiam ser objeto de uma agenda comum. Tudo isso, entretanto, é perfeitamente natural, porque os personagens que se encontram em postos-chave nos
dois governos, são os que passaram pelas duas etapas, anterior e atual às transformações nos cenários nacionais de
cada um desses países, e do cenário regional.
Do mesmo jeito que militares exercem suas influências
nos planos domésticos de vários países da região – já que
são oficiais com idade mais avançada, logo, necessariamente situados no topo da hierarquia das Forças Armadas, – igual condição ocorre nos planos político e econômico, apesar de, nesses setores, profissionais mais jovens
encontrarem-se em diversos cargos. Como se tem visto,
porém, mesmo esses tem-se pautado muito mais por uma
postura de confronto e de críticas aos seus vizinhos, do
que de fato de estreitar colaboração.
Mudam-se as gerações, mas não o princípio de que cada
um, tecnocrata ou militar, defenda os interesses específicos
de seus países, até porque são eles os responsáveis pelas
políticas macro e microeconômicas, em seus locais de origem. Agarram, com todas as forças, as decisões que beneficiem, em primeiro lugar, seu governo, seus partidos políti-
intelectual ao meio ambiente, dos fármacos a um sem-número de posições contrárias no comércio internacional.
NOTAS FINAIS
Nada pode ser considerado irreversível nas relações
internacionais. Alianças, acordos, tratados e organizações
sobrevivem enquanto atenderem a todos os participantes.
Quando se pesam na balança os custos e benefícios, é
evidente, só convém participar de uma empreitada, por
melhor que esta seja, se os lucros forem maiores, ou se as
perspectivas apontarem na direção em que todos ganhem
em um jogo de soma variável positivo.
É assim que está escrito no Tratado de Rarotonga, que
possibilita a saída de seus membros, quando problemas
agudos afetarem seus interesses. Ou seja, atingirem seus
interesses nacionais, em qualquer plano, seja no político,
seja no econômico, e primordialmente no estratégico-militar. A Liga das Nações e o Tratado de Cartagena, apenas para lembrarmos dois casos, são amostras que ilustram com boa propriedade esse argumento.
Por isso, acordos em áreas sensíveis só serão realizados quando todos os participantes do Mercosul considerarem que seus interesses estão perfeitamente contemplados, que todos saem ganhando, e que as desconfianças não
mais existem. Caso contrário, essas iniciativas jamais darão frutos, além de ficar tão-somente no plano retórico.
Como a experiência européia ilustra, há necessidade
de um longo amadurecimento para que essas políticas sejam viáveis. A Otan é um bom exemplo. Apesar de o pilar
europeu ter-se tornado possível, há alguns anos, na realidade ele só pode vigorar com a presença dos Estados
Unidos, configurando-se uma tutela disfarçada.
Não se quer dizer aqui, que processos de integração
jamais serão realizados, abarcando todas as variáveis possíveis. O cenário internacional, todavia, não dá indicações
de quando isso se tornará factível. Ainda que os discursos
da interdependência e da globalização enfatizem o surgimento de um único mundo, isso se dá apenas no plano estritamente discursivo. Como exemplificamos, nunca tivemos um período tão protecionista em que os valores
nacionais falassem tão vigorosamente como agora. A globalização nada mais é do que um processo altamente competitivo entre a tríade que comanda o mundo – Estados
Unidos, Europa e Japão –, e no qual estão excluídos os
demais, pelo menos como decisões globais (Petrella, 1990).
Os interesses nacionais e o conceito de soberania – mesmo repensado – mais do que nunca sobrevivem e encon-
61
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Estrutura do poder nacional para
o ano 2001. Rio de Janeiro, Escola Superior de Guerra, 1990.
cos, seus grupos, e só em último lugar a sociedade nacional
e as relações mais amistosas com os demais países.
Possivelmente, ainda se passarão gerações para que a
cooperação aprofunde-se, e que a integração se concretize
de modo efetivo. Só aí as desconfianças desaparecerão,
possibilitando que o aumento do grau de confiança recíproco molde as relações internacionais não só em termos
bilaterais, como também multilaterais, nos âmbitos políticos, econômicos e culturais. Nesse sentido, desnecessário
falar em termos estratégico-militares, porque essa variável
seria relegada definitivamente a segundo plano. Contudo,
as milhares de guerras travadas no período da era cristã
parecem contradizer otimismo desse porte. As lutas cotidianas espelham o realismo com que cada Estado vê sua
participação no plano regional e internacional, procurando, de qualquer forma assegurar sua sobrevivência, e ampliar seus espaços, muitas vezes à custa de seus vizinhos.
FORSYTH, M. “Thomas Hobbes e as relações exteriores dos Estados”.
Relações Internacionais. Brasília, Centro de Documentação Política
da Universidade de Brasília, ano 3, n.5, jun. 1980, p.67-74.
HAAS, E.B. Beyond the Nation-State. Stanford, Stanford University
Press, 1964.
HUNTINGTON, S. “Choque de civilizações”? Política Externa. São
Paulo, Paz e Terra/Nupri-USP, v.2, n.4, mar.-abr. 1994, p.120-78.
LAHERA, E. e ORTUZAR, M. “Gasto militar y desarrollo en América
Latina”. Revista de la Cepal. Santiago, Cepal, n.65, ago. 1998.
MEY, E.A. “Abertura do 2o Simpósio de estudos estratégicos argentino-brasileiro”. Politica e Estratégia. São Paulo, Centro de Estudos Estratégicos, v.VI, n.3, jul.-set. 1988, p.341-42.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Tratado de Cooperação Amazônica. Brasília, Ministério das Relações Exteriores, 1978.
________ . Resenha de Política Exterior do Brasil, número especial
sobre Zona de Paz e de Cooperação no Atlântico Sul. Brasília, Ministério das Relações Exteriores, 1989.
MIYAMOTO, S. “O Brasil e o Pacto do Atlântico Sul”. Revista de
Cultura Vozes, Petrópolis, Vozes, ano 79, v.LXXIX, n.4, maio
1985, p.20-30.
OTAN. The Alliance’s Strategic Concept. Disponível em: <http://
www.nato.int/docu/review>.
NOTAS
PETRELLA, R. “As duas faces da economia global”. O Estado de
S.Paulo, 18/03/90, p.40.
Este texto conta com recursos do CNPq, mediante Bolsa de Produtividade em Pesquisa concedida ao autor, para desenvolvimento do projeto “As políticas sul-americanas de segurança regional”.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. “Política de Defesa Nacional”.
Parcerias Estratégicas. Brasília, Centro de Estudos Estratégicos
da Secretaria de Assuntos Estratégicos, v.1, n.2, 1996, p.7-15.
1. Declaração transcrita do jornal O Estado de S.Paulo, 23/03/99.
REVISTA BRASILEIRA DE POLÍTICA INTERNACIONAL. Número especial sobre a Amazônia. Revista Brasileira de Política Internacional. Rio de Janeiro, Ibri, ano XI, n.41-2, mar.-jun. 1968.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SARDENBERG, R. Estudo das Relações Internacionais. Brasília,
Editora da Universidade de Brasília, 1982.
ARON, R. Paix et guerre entre les nations. Paris, Calmann-Lévy, 1962.
________ . “A estratificação internacional nos anos 90”. In: FONSECA Jr. e LEÃO, V.C. (orgs.). Temas de política externa. Brasília/
São Paulo, Fundação Alexandre Gusmão/IPRI/Ática, 1989.
BARBOSA, R.A. A América Latina em perspectiva: a integração da
retórica à realidade. São Paulo, Aduaneiras, 1991.
BERTOLOTTO, R. “Integração militar começa, mas é lenta”. Folha
de S.Paulo, 11/05/97, p.1-3.
THUROW, L. Cabeça a cabeça. São Paulo, Rocco, 1993.
VICENTINI, P.H. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)
e a incorporação das operações de paz no pós-guerra fria – a
intervenção na Bósnia-Herzegovina (1992-1998). Dissertação de
Mestrado. Brasília, Departamento de Relações Internacionais da
Universidade de Brasília, 1998.
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto Sivam – Audiências públicas
1995. Brasília, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados, 1996.
CAUBET, C. As grandes manobras de Itaipu. São Paulo, Acadêmica,
1989.
CEBRES. A Amazônia brasileira. Simpósio Cebres/Eceme. Rio de
Janeiro, Cebres/Eceme, out. 1991.
WALDNER, T.G. “Propósitos do simpósio”. Política e Estratégia. São
Paulo, Centro de Estudos Estratégicos, v.5, n.3, jul.-set. 1987,
p.291-92.
CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL. Desenvolvimento e segurança na região ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas – Projeto Calha Norte. Brasília, Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, 1985.
SHIGUENOLI MIYAMOTO: Professor do Departamento de Ciência Polí-
DEUTSCH, K. El analisis de las relaciones internacionales. Buenos
Aires, Paidós, 1970.
tica do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Coordenador de graduação do curso de Ciências Sociais ([email protected]).
62
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1): 63-73, 2002
MERCOSUL E SOCIEDADE CIVIL
MERCOSUL E SOCIEDADE CIVIL
LUIZ EDUARDO W. WANDERLEY
Resumo: Os pontos principais referem-se a aspectos parciais de uma pesquisa em andamento sobre “gestão
pública estratégica dos governos subnacionais diante dos processos de inserção internacional e integração
latino-americana”, desenvolvida por equipes dos quadros da Fundap, do Cedec e da PUC-SP. Das três partes
constituintes do projeto temático, serão feitas referências àquela pertinente à participação da sociedade civil
no processo de integração regional, tendo por centro o Mercosul.
Palavras-chave: governos subnacionais; sociedade civil; Mercosul.
Abstract: The main points of this article are extracted from a research project that is currently underway entitled
“Strategic Public Strategies of Sub-National Governments Within the Context of the Processes of Latin American
Global Insertion and Integration” carried out by researchers from Fundap (Foundation for Public Administration),
Cedec, and the Catholic University of São Paulo. Reference will be made to a section of the study dealing with
the participation of civil society in regional development, in this case, in the context of Mercosul.
Key words: sub-national governments; civil society; Mercosul.
A
ntes de apresentar as reflexões referentes à temática central deste artigo, serão feitos breves comentários sobre certas questões vinculadas à compreensão do significado da integração regional e suas incidências mais diretas ao assunto em pauta. Na seqüência, salientam-se alguns tópicos para o entendimento do
significado de sociedade civil.
Sobre a temática da integração regional, uma longa citação de Goudard e Jordan (1997:93-94) indica bem os ângulos que se pretende destacar neste texto. “As uniões regionais da primeira geração surgiram prioritariamente para
resolver problemas interiores às suas zonas, nas quais os
países tinham geralmente necessidade de mais abertura. Na
Europa, em 1951 e em 1957, os signatários dos Tratados
de Paris e de Roma queriam consolidar a paz sobre o continente, modernizar o setor de carvão e do aço, dotar-se de
um mercado interior ampliado que permitisse produções
mais competitivas e mais rentáveis, e estimular tecnologias
novas. Aqueles da Aele (...), em 1960, tinham em vista uma
fórmula provisória (ela durará mais de 30 anos!), para se
prepararem a uma cooperação econômica regional mais estreita, mas dividindo os domínios da política comercial e
da agricultura. No mesmo ano, o Tratado de integração da
América Central e o da zona de livre comércio da América
Latina (Alalc, depois Aladi) repousaram sobre preocupações da mesma ordem para os espaços concernidos. Hoje,
com a segunda vaga regionalista, o desafio é experimentado
como uma ameaça proveniente do exterior, contra a qual
a união regional espera então se proteger, se colocar numa
melhor posição de negociação. (...) É precisamente o que
explica que os Estados Unidos – que sempre foram hostis
em participar de uma zona de integração somente na América – se converteram à solução regional, com o Canadá em
1988, e depois em prol da Alena em 1992. Para eles, concretamente, os concorrentes europeus e do sudeste asiático
retiravam suas partes de mercado dos Estados Unidos: era
preciso discriminá-los e, com a Alena, dispôs de um melhor contrapeso em face das uniões regionais no restante
da Tríade. Desde então, contrariamente ao período 19501960, as uniões regionais são agora menos constituídas para
elas mesmas do que por reação às interferências com outras zonas” (Quadros 1 e 2).
Mesmo considerando-se a necessidade de uma atualização das informações apresentadas nos Quadros 1 e 2,
ficam evidenciados os dois momentos formativos dos blocos regionais e a mudança de enfoque em cada um deles.
63
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
O Mercosul, independente de outros motivos – na interpretação de Ginesta (1999), a opção por este Bloco em
particular se deve a uma perspectiva do Brasil de liderança continental madura e integração na economia internacional, de uma maneira vantajosa para os seus interesses
– atravessa uma fase de tentativa de apoio nos países-membros e mesmo mais além (Chile), para entrar na Alca com
maiores trunfos de negociação. Algumas tratativas de estender acordos com a União Européia em geral – o que
tem sido bastante difícil principalmente para vencer o protecionismo agrícola que naquela região é tradicional e bem
assegurado – vão no sentido de obter parceiros importantes e melhorar os termos das futuras negociações com os
Estados Unidos, cujo poder hegemônico torna delicada
eventuais pressões para ganhos significativos dos países
latino-americanos.
Sobre a explicitação de certos ângulos do conceito de
sociedade civil, foram esboçados, em texto anterior
(Wanderley, 1999), determinados componentes, com base
em idéias expostas por Gramsci, que são retomados aqui
com a finalidade de assinalar aspectos relevantes na presente análise:
- incorporar, somando-se aos elementos constitutivos da
concepção gramsciana de sociedade civil (ideologia, filosofia, artes, ciência, religião e aparelhos privados de hegemonia), tudo aquilo que constitui a esfera pública (caracterizada pela presença dos seguintes componentes
constitutivos: visibilidade social, controle social, democratização, confrontação pública, cultura pública) e que
não se confunde com a esfera estatal;
- reforçar a noção de que não há separação nem descolamento da infra-estrutura (mercado) com a superestrutura
(sociedade civil e sociedade política), considerando que
estão organizadamente interligadas na constituição do bloco
histórico; ligação que é empreendida não somente pelos
“intelectuais orgânicos” das classes fundamentais do capitalismo, mas por representantes de outras classes e setores sociais não-classistas (por exemplo, dos grupos religiosos, das minorias étnicas), dos setores envolvidos com
formas de propriedade alternativa (propriedade comunitária, autogestionária, pública não-estatal) e de produção
alternativa (como, por exemplo, economia solidária);
- destacar, no caso latino-americano e, particularmente,
no brasileiro, o surgimento dos movimentos sociais (populares e de outra natureza – de gênero, ecológicos, indígenas, de negros, de direitos humanos, etc.), geradores de
novos sujeitos sociais que fortaleceram a sociedade civil
nas últimas décadas, trazendo práticas inovadoras que
questionaram práticas tradicionais implementadas pelo Estado e pelo mercado, tais como o rompimento com o “reinado de privilégios”.
Nos marcos teóricos esboçados pelo grupo de pesquisa em foco, a tese central defendida (Wanderley e
Raichelis, 2001), a respeito de uma efetiva participação
dos governos subnacionais (e mesmo nacionais) associados às forças vivas da Sociedade Civil, convergia para um
esforço de conceituação mais rigoroso do que se entende
por gestão pública nos marcos de uma sólida democracia.
Isto derivava da compreensão de como todos os interessados ocupavam o espaço público. Partia-se do pressuposto de que, mesmo reconhecendo como um patamar
necessário a conquista e o fortalecimento da democracia
liberal representativa, em sua dimensão político-institucional, o que no nosso continente já significa um avanço
exponencial, uma democracia sólida e fecunda deve incluir sem tergiversações as dimensões econômica e social.
Se alguns passos foram conseguidos com a emergência e
o funcionamento dos Estados de Bem-Estar Social em determinadas regiões do mundo, problemas derivados da
explosão da atual globalização (perda da soberania do
Estado-Nação, predomínio do capital financeiro, fluxos
comerciais abundantes, mas que privilegiam os países ricos, presença decisiva das multinacionais, passagem da
etapa do fordismo para a da acumulação flexível) e do
domínio do neoliberalismo (desregulamentação, redução
do Estado, precarização do trabalho, privatização, ajuste
estrutural, Consenso de Washington) e as imensas e per-
- reafirmar, na concepção de Gramsci, a visão da mútua
relação entre sociedade política e sociedade civil, que nas
conjunturas históricas pode oscilar ora com a prevalência
da hegemonia, ora com a prevalência da dominação;
- enfatizar, ao lado da idéia de consenso, o aspecto
conflitivo que permeia todas as dimensões da vida social,
que não se reduz aos conflitos de classes, mas é causado
também por diferenças de raça, de sexo, de religião, de
cultura, etc.;
- ampliar a idéia de direção intelectual e moral, com as
noções de direção social e direção política – esta última
conduzida não por um partido único, mas por vários partidos e por outros condutos políticos (conselhos, por
exemplo) e pela presença de associações e movimentos
que contribuem para dar consistência à identidade dos
setores e classes sociais envolvidos e para sua ação mais
concertada;
64
MERCOSUL E SOCIEDADE CIVIL
QUADRO 1
Principais Organizações Econômicas Regionais
1960-1970
Nome do Agrupamento
Países Inicialmente Membros
Ano da Assinatura
Comunidade Européia do Carvão e do Aço (Ceca)
Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Holanda, RFA
1951
Comunidade Econômica Européia (CEE)
Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Holanda, RFA
1957
Comunidade Européia de Energia Atômica
Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Holanda, RFA
1957
Mercado Comum Centro-Americano
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua
1960
Associação Européia de Livre Comércio (Aele)
Áustria, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Portugal,
Suíça, Grã-Bretanha
1960
Associação Latino-Americana de Livre Comércio
(Alalc, tornada em seguida Associação Latino-Americana
de Integração – Aladi, em 1980)
Argentina, Brasil, Chile, Peru e Uruguai
1960
União Aduaneira e Econômica da África Central
Camerum, República Centro-Africana, Chade, Congo,
Guiné Equatorial, Gabão
1964
Austrália-Nova Zelândia Acordo de Livre Comércio
Austrália e Nova Zelândia
1966
Mercado Comum das Caraíbas ou
Comunidade das Caraíbas (Caricom)
Antígua, Barbados, Guiana, Trinidad e Tobago
1968
Pacto Andino
Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Peru
1969
Comunidade Econômica dos Estados da África do Oeste
Benin, Burkina Fasso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia,
Gana, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria,
Senegal, Serra Leoa, Togo
1975
Associação das Nações do Sudeste Asiático (Anase/Asean)
Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia
1978
Fonte: GATT, apud Célimène e Lacour, 1997:89.
QUADRO 2
Principais Organizações Econômicas Regionais
1980-1990
Nome do Agrupamento
Países Inicialmente Membros
Ano da Assinatura
Pacto Andino (1)
Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela
maio 1987
Canadá – USA Acordo de Livre Comércio
Canadá e Estados Unidos
janeiro 1988
União do Magreb Árabe
Algéria, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Tunísia
fevereiro 1989
Associação das Nações do Sudeste Asiático (Anase/Asean) (1)
Brunei Darussalam, Indonésia, Malásia,
Filipinas, Cingapura, Tailândia
janeiro 1991
Mercado Comum do Sul (Mercosul)
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai
março 1991
Espaço Econômico Europeu
CEE e Aele (salvo a Suíça)
maio 1992
Associação de Livre Comércio Norte-Americana (Alena/Nafta)
Canadá, México, Estados Unidos
dezembro 1992
Acordo de Livre Comércio da Europa Central (Cefta)
Hungria, Polônia, República Tcheca, República Eslováquia
dezembro 1992
União Européia (Tratado de Maastricht) (2)
CE
Acordo de Livre Comércio Grupo dos Três
Colômbia, Venezuela, México
fevereiro 1993
Fonte: GATT, apud Célimène e Lacour, 1997:90.
(1) Reativação do Agrupamento.
(2) Aprofundamento da União.
65
junho 1994
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
civil global”, ainda emergente, pela difusão e consolidação da democracia no interior das nações, regiões e redes
globais. “O Estado-Nação não pode mais reivindicar para
si a condição de único centro de poder legítimo nas suas
próprias fronteiras, ao mesmo tempo que deve assumir um
papel mediador de diferentes lealdades nos planos
subnacional, nacional e internacional; a cidadania, por sua
vez, passa a conhecer formas mais elevadas de participação e representação em estruturas supranacionais e, simultaneamente, formas mais ‘reduzidas em escala’, com incremento de poder em comunidades locais e grupos
subnacionais” (Linklater apud Gómez, 1998).
Nessa direção, contudo, as lutas por criação de mecanismos mundiais, como, taxação de operações financeiras
globais (o imposto Tobin), o julgamento de crimes contra
a humanidade por Cortes de Justiça internacionais (caso
do ex-presidente da Iugoslávia, Slodoban Milosevic), o
affaire Pinochet, o surgimento do Fórum Social Mundial,
as ações do Green Peace, entre outros, são exemplos de
casos nos quais a democracia cosmopolita e a cidadania
mundial direcionam-se para uma “sociedade civil global”.
Ainda muito longe do estabelecimento de meios supranacionais de elaboração de diretrizes macroeconômicas,
de resolução de controvérsias, de efetivação de direitos,
pode-se aspirar à formação de uma “sociedade civil americana”, ou “sociedade civil do Mercosul”? Sim, como
possibilidade ainda muito remota e se elas forem visualizadas com toda a prudência devida, requerendo, para isso,
que os imensos obstáculos da presente realidade sejam vencidos e que a vontade política de governantes e grupos
organizados seja revigorada para conseguir criar os meios
indispensáveis para sua consecução. Não, se prevalecerem as rivalidades e antagonismos intra e interpaíses, e se
permanecerem hegemônicos os modelos de sociedade e
de organização econômica atualmente vigentes.
No quadro latino-americano e com acentuada implicação na presente conjuntura brasileira, vale o alerta de
Gómez (1998:33) “Os governos radicalmente comprometidos com as reformas pró-mercado, em lugar de buscar o
apoio mais amplo possível através de negociações e pactos e de um forte envolvimento das instituições representativas, empenham-se em enfraquecer e tornar ineficazes
as oposições partidárias e sindicais e o próprio jogo das
instituições democráticas em benefício do mais puro
decisionismo autoritário e estilo tecnocrático de governo.
Desse modo, o processo democrático fica reduzido ao ritual eleitoral, decretos-lei e explosões fragmentadas de
protesto; a participação declina e o debate político desa-
versas conseqüências no social (aumento da pobreza e da
exclusão social, desemprego estrutural, perda de direitos)
engendraram, nos últimos anos, um panorama que vem
pondo em risco a própria sobrevivência da democracia.
Acentuava-se que o interesse público deve tornar a
gestão pública mais permeável às demandas emergentes
da sociedade, e reduzir a tendência do Estado, do poder
burocrático e dos agentes sociais privilegiados de monopolizar as esferas de decisão política. Nas condições históricas e estruturais brasileiras, nas quais houve sempre
uma privatização do Estado por parte das elites (econômicas e políticas principalmente, mas não só), gerando
mesmo uma cultura de apropriação do público pelo privado, faz-se necessário um processo contínuo de publicização que impregne a sociedade, que permita mobilizar
espaços de representação, interlocução e negociação entre os atores sociais, que dinamize novas formas de articulação/integração entre Estado e Sociedade Civil em que
interesses coletivos possam ser explicitados e confrontados. Com as particularidades típicas de cada Estado-Nação, essa privatização do público permeia todas as sociedades do continente.
Visualizando o público como construção social – uma
conseqüência a ser atingida na luta democrática –, é indispensável colocar a sociedade, principalmente os setores organizados, com instrumentos de representação e protagonismo (Cunill Grau, 1998). O paradigma tecnocrático
hegemônico busca a eficiência da ação governamental em
um processo de concentração, centralização e fechamento do processo decisório, e alargamento das prerrogativas
presidenciais. A “eficácia da gestão seria reduzida à noção de insulamento burocrático, implicando basicamente
a capacidade de o Estado isolar-se das pressões políticas
e sociais” (Diniz, 1999).
Com esse enquadramento, foram destacadas algumas
categorias analíticas como base para a investigação, quais
sejam: visibilidade social, controle social, representação
de interesses coletivos, democratização e cultura pública
(Wanderley, 1996 e 1999).
Trazendo a temática para o plano das relações internacionais, no modelo cosmopolita de democracia, Held o
define como “um modelo de organização política na qual
os cidadãos, qualquer que seja sua localização no mundo,
têm voz, entrada e representação política nos assuntos
internacionais, paralela e independentemente de seus respectivos governos” (Archibugi e Held apud Gómez, 1998).
Em contraposição aos processos ambivalentes de globalização, surgem os sinais efetivos de uma “sociedade
66
MERCOSUL E SOCIEDADE CIVIL
consensuais tomadas pelos agentes protagonistas podem
balizar avanços públicos em cada país envolvido, como
foi o caso acontecido com o Paraguai no momento em que
os governos dos demais países coordenaram uma tomada
de posição, propondo eventuais represálias, na eventualidade de se instalar uma instabilidade política não democrática naquele país. A instituição do Foro Consultivo Econômico e Social (FCES), com todos os enormes limites
em seu funcionamento, sobretudo com a atuação das centrais sindicais obteve espaços de diálogo positivos.
Outra hipótese central baseia-se na proposição de que
sem a resolução da questão social o processo de integração regional padece de substantividade e a democracia não
se sustenta. Partindo da concepção dominante que
desvincula o plano econômico, do político e do social, que
cogita em crescimento econômico na lógica do mercado e
ignora o desenvolvimento humano e sustentável, que contrapõe os atores tecnoburocratas e os político-sociais, que
leva os governantes e setores empresariais, em geral, a
descurarem do social, encarando-o como algo subordinado ou efeito automático do econômico, que usa o social
como tema retórico, não há uma preocupação verdadeira
no encaminhamento das questões sociais. Daí os embates
permanentes com os trabalhadores organizados e crises
sucessivas nos países do Bloco, nos quais as condições
sociais existentes são de extrema perversidade e vulnerabilidade.
Interessante constatar que, no período dessa pesquisa,
outra pesquisa estava sendo desenvolvida por Castro Vieira
(2001:20), e desvinculada dessa, propondo como tese e
hipótese central a mesma orientação: “a hipótese central
do trabalho é que o Mercosul não se consolida como Comunidade Regional devido aos limites impostos à participação da sociedade civil no processo decisório de integração, em face do exclusivismo negociador associado às
burocracias governamentais”. “Esta tese demonstra que o
processo de integração do Mercosul, ao contemplar basicamente aspectos econômicos e comerciais, ao relegar a
um segundo plano as políticas sociais, traz à tona o perigo de ser mais um processo de exclusão social (Castro
Vieira, 2001:287).”
O que se pode reafirmar, com constatações preparadas
por analistas e estudiosos do assunto, em diversas partes
do mundo, é a proposição fundamental de que sem a presença consciente e ativa da sociedade civil nos processos
integrativos eles perdem consistência em curtos prazos e
são atingidos por conflitos intra e intergovernos. Tomando por exemplo a União Européia, foi com base na mobi-
parece; o Estado diminui e a política-espetáculo se
entroniza pela mão dos meios de comunicação como mais
uma prática de consumo simbólico; os partidos políticos,
sindicatos e organizações sociais representativas enfrentam a alternativa do consentimento passivo ou das explosões extraparlamentares; a corrupção e a falta de responsabilidade no manejo dos assuntos públicos vão juntas com
a degradação da cultura cívica e dos laços de solidariedade no próprio seio da sociedade civil, contribuindo assim
a reforçar uma cidadania extremamente passiva”.
Nos limites da pesquisa em curso, e tendo como pano
de fundo as demarcações feitas, foram estabelecidas algumas hipóteses que, se se considerar os fatos dos últimos anos e a crise acirrada dos últimos meses, sobretudo
a da Argentina, e mesmo que não se tenham ainda as conclusões finais dessa pesquisa, parece que podem ser validadas. A primeira é a de que quanto maior for a esfera
pública democrática em cada Estado-membro, maior será
a possibilidade de uma integração regional abrangente. Tomando por base as enormes dificuldades vivenciadas pelos governos da Argentina e do Brasil (e que podem ser
estendidas para os demais países) para consolidar mecanismos e práticas democráticas efetivas, seus reflexos fazem-se sentir na atual conjuntura de existência de grandes incertezas quanto à própria sobrevivência do Mercosul
e seu futuro, o que pode ser exemplificado com a desvalorização do real (medida não anunciada aos parceiros naquela ocasião e que ocasionou tensões marcantes), e com
as medidas propostas (com a presença do ministro Cavallo)
e em operação no caso argentino que afetam de forma direta o nosso país, gerando atritos de monta. A falta de consulta e de se levar em conta a opinião pública das sociedades civis desses países – que, é evidente, ainda guardam
ressaibos de um passado de desconfianças e tensões, e que
não estão sendo conscientizadas para o valor da integração regional, mesmo ressalvando determinadas exceções
minoritárias e de relativo alcance político (como se ponderará a seguir) – demonstram como o processo integrador
vem sendo quase inteiramente forjado de “cima para baixo”, com gestões públicas pouco democráticas, minimizando o potencial que poderia ser brandido.
A segunda hipótese é a de que quanto maior for o processo de publicização existente nas instituições e diretrizes do Mercosul, maior a possibilidade de avançar em conquistas públicas nos Estados-membros. Ainda que não haja
instâncias supranacionais capazes de influenciar as decisões nacionais em relação a determinados assuntos, como
é a situação da União Européia, as poucas decisões
67
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
Sociolaboral do Mercosul, na reunião do Conselho do
Mercado Comum, mas que não tem caráter vinculativo aos
direitos e às obrigações derivados dos acordos entre os
países. Sua validade é a de funcionar “como um instrumento
que garanta o cumprimento de um conjunto restrito de direitos fundamentais individuais e que, ao mesmo tempo,
estabelece mecanismos que viabilizem a negociação coletiva e um espaço de solução de conflitos entre os segmentos econômicos e sociais e/ou países. Portanto, a Declaração permite uma maior visibilidade dos efeitos da
integração comercial e da ação das empresas” (Castro Vieira, 2001:215). A Declaração propõe a definição de um
espaço social nas discussões do Bloco, um conjunto de
garantias e o reconhecimento das Convenções da OIT como
fonte jurídica. Propugnam-se como princípios irrenunciáveis a democracia política e o respeito irrestrito aos direitos civis e políticos. Centralmente, a Carta contém uma
percepção do processo de integração como uma possibilidade histórica para melhorar as condições de vida das sociedades nacionais, um apelo aos governos para propor uma
eficaz intervenção dos Estados que garantam os direitos
dos trabalhadores. A posição perante a livre circulação da
mão-de-obra é a de garantir no Bloco igualdade de direitos, condições de trabalho, condições dignas de vida, moradia, educação e saúde. Na perspectiva dos direitos coletivos, propõe a liberdade sindical, a negociação coletiva,
o direito à greve, o direito a permanente informação e consulta dos outros órgãos do Mercosul. As Recomendações
da OIT para serem ratificadas eram 35, das quais os quatro países em conjunto só assinaram 11.
Em Declaração apresentada à Cúpula Presidencial (dezembro, 1997), os representantes do Foro manifestavamse: “Deve-se tomar consciência de que o FCES está especificamente qualificado como interlocutor capaz de opinar,
contribuir positivamente para a tomada de decisões pelos
órgãos técnicos e políticos do MERCOSUL e expressar
as preocupações e expectativas de nossas sociedades. Esse
foi o espírito e a finalidade que motivou a criação do FCES
no Protocolo de Ouro Preto. Mas, na prática, Senhores
Presidentes, ainda não se concretizou, pois apesar de haver tratado nestes 18 meses de temas de vital importância, nenhuma consulta lhe foi formalizada”. Situação que
se repete em 1998: “O FCES poderá cumprir com seu papel
de agente consultivo se for devidamente consultado, dentro de um processo onde disponha das devidas informações e condições para a elaboração de suas Recomendações, situação que até o momento não ocorreu” (Ata da
VI Reunião Plenária do FCES).
lização de contingentes expressivos das populações
concernidas, por múltiplos meios, que as autoridades mudaram estratégias e planos de ação. Contudo, mesmo nela,
não obstante os esforços ingentes para aperfeiçoar a legitimação democrática, o grande número de cidadãos e a
variedade geográfica e cultural impedem que haja um relacionamento mais direto. Para ter uma idéia do que é denominado por “cidadania da União”, vale registrar alguns
direitos e liberdades decorrentes dela, de que gozam os
cidadãos nacionais dos Estados-membros (Piepenschneider
apud Weidenfeld e Wessels, 1997):
- o direito de residir em qualquer país da União Européia;
- o direito de cada cidadão de votar e ser eleito para o
Parlamento Europeu em seu país de residência;
- nos países terceiros, cada cidadão da União pode solicitar a assistência e a proteção diplomática e consular de
qualquer outro Estado-membro, se o seu próprio país não
dispuser de qualquer tipo de representação;
- o direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu,
e o direito de recorrer ao Provedor de Justiça; a União
Européia tem de respeitar os direitos do homem e as liberdades fundamentais, tal como definidas na Convenção
Européia dos Direitos do Homem, e as decorrentes das
tradições constitucionais comuns aos Estados-membros.
Mantendo ainda a referência da União Européia, mesmo na condição de órgão consultivo, é de se lembrar a atuação do Comitê Econômico e Social, constituído de 222 representantes de grupos de trabalhadores, patronato e
interesses diversos – profissões liberais, agricultura, cooperativas, câmaras de comércio e associações de consumidores. Apesar de sua eficácia reduzida para salvaguardar
os interesses dos distintos grupos econômicos e sociais, por
sua natureza consultiva, o que leva esses grupos a optarem
pela via da influência direta junto com a Comissão Européia, o Comitê tem procurado, com a ajuda de outras organizações européias, ampliar suas ações para melhorar as
relações entre os cidadãos da União e as respectivas instituições, e procurado influir de forma direta no processo
legislativo (Schley apud Weidenfeld e Wessels, 1997).
Está-se muito longe dessas conquistas e se fazem necessários esforços redobrados de todos os interessados para
que se chegue a atingir patamares crescentes nesse sentido. No entanto, algo semelhante aconteceu com os passos
efetuados nos debates e documentos elaborados para a
adoção da Carta de Direitos Fundamentais do Mercosul
(apresentada aos governos em 1994), que posteriormente
foi abortada. Em 1998, foi aprovada a Declaração
68
MERCOSUL E SOCIEDADE CIVIL
para a Integração no Mercosul, cujo objetivo principal
centra-se em informar e capacitar empresários para a importância da integração econômica. Os Estados de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul têm favorecido a opção
por maior inserção regional.
Uma hipótese sobre as dificuldades de uma maior mobilização do empresariado está na ausência de uma organização que seja capaz de unificar o setor em seu conjunto e pressionar os governos e a sociedade para atenderem
às suas demandas. “A predominância da lógica setorial e
de interesses particulares enfraquece o movimento mais
amplo. As concessões pontuais, que na maioria das vezes
trazem grandes benefícios a um determinado grupo de empresas, tomam o lugar de políticas gerais que possam beneficiar o setor privado de maneira geral” (Degenszajn,
2001). Algumas federações de empresários têm-se mobilizado mais, como é o caso dos Estados do Sul, e, em São
Paulo, a Fiesp tem tentado certa coordenação, inserindo
uma instância específica em sua estrutura para o Mercosul.
Nos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul,
“a criação e o funcionamento de instâncias, quer de natureza governamental – como a existência de organismos
dentro de secretaria estaduais –, quer de natureza empresarial – com a existência de organismos internos das entidades de classe – deixaram entrever com claridade a sua
importância e seu significado como um fator de estímulo
e colaboração indispensável para que a atuação do empresariado se realize” (Tomazoni, 2001).
Foi destacado, nas entrevistas, que a participação conjunta dos representantes de empresários e trabalhadores,
no Foro Econômico e Social, tem sido produtiva e, não
obstante as discordâncias óbvias, criou oportunidade de
um aprendizado democrático.
Um dado interessante a ser salientado é a existência do
chamado Grupo Brasil, criado em 1994, como um ator social significativo. Reúne atualmente cerca de 200 empresas, responsáveis pela geração de 11 mil empregos, na
Argentina. Aglutina também empresas argentinas com interesses no Brasil. A entidade promove eventos de caráter
político, econômico, social e cultural, os chamados “ambientes de integração”, bem como missões comerciais em
cidades do interior daquele país. Procura dirimir controvérsias e assessorar os empresários. Dedica-se, ainda, a colocar em contato autoridades dos dois países, tendo realizado reuniões com os presidentes (Fernando Henrique,
Menem, De la Rúa) para tratar de questões ligadas ao
Mercosul. Um fato relevante foi a articulação do Grupo
com o BNDES, para concessão de linha de crédito finan-
A posição predominante nas centrais sindicais é bastante crítica, levando em conta que o Subgrupo de Trabalho que deveria ter colocado em seu centro as questões
sociais e trabalhistas reduziu-as a problemas de ordem técnica; os encontros entre empresários, governos e trabalhadores concentraram-se em debates voltados para
harmonizações de legislações trabalhistas dos quatro países. Os temas debatidos entre empresários e governos analisavam basicamente os interesses comerciais e a promoção e defesa do princípio da competitividade empresarial.
Para elas, o que se busca no setor empresarial é uma maior
concorrência para reduzir custos trabalhistas. E o que se
pretende no setor governamental é implementar as reformas internas – reformulação do Estado, flexibilização trabalhista, desregulamentação econômica –, de acordo com
as receitas neoliberais.
“A reação dos governos diante das propostas de garantia de direitos trabalhistas básicos supranacionais sempre é defensiva, pois alegam que vincular direitos sociais
ao acordo pode criar precedentes protecionistas, afetar a
soberania nacional e a intergovernabilidade do Mercosul”
(Castro Vieira, 2001:216).
Com este pano de fundo, lança-se luz sobre uns poucos ângulos da pesquisa, que privilegiou, na parte correspondente à participação da sociedade civil, dois segmentos: empresariado e trabalhadores.
No que tange ao empresariado, há que se considerar inicialmente que a inserção das empresas brasileiras no Mercosul
realizou-se muito mais por suas potencialidades individuais
do que por uma estratégia organizada. As empresas de grande porte têm capacidade e autonomia para formular suas políticas e estão sempre atentas para quaisquer mercados que
ofereçam melhores condições de lucratividade, em quaisquer
lugares mais vantajosos em que se situem, nos vários continentes. Se o Mercosul consolidar-se e o Bloco oferecer condições objetivas para a expansão de seus negócios – como
atestam os sinais do passado recente no qual houve uma atuação mais agressiva de um conjunto delas na região e um crescimento das exportações brasileiras, com especial destaque
para o Estado de São Paulo –, é evidente que seu interesse
poderá ser ampliado.
Já para os empresários, pequenos e médios, há grande
falta de informações sobre as possibilidades abertas pelo
Bloco. A situação é conhecida, e para convencê-los das
oportunidades na região, vários tipos de incentivos foram
criados, como, cursos, palestras, assessoria, eventos, programas especiais de acesso a crédito, etc. Nessa direção,
criou-se inclusive a Associação de Empresas Brasileiras
69
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
Com os avanços pretendidos de constituição da Alca,
tanto a CCSCS como a CUT posicionaram-se contrárias a
ela por entenderem que a integração ficaria dependente
dos interesses do Bloco do norte do continente, sob a supremacia dos Estados Unidos. O que implicaria mais perdas para os trabalhadores.
A posição da Central, em geral, é de privilegiar a unidade da CCSCS como instrumento útil de dinamização dos
setores trabalhistas do Mercosul, em que pese reconhecer
os seus limites. Com a crise setorial, nos ramos têxtil e
calçadista, em 1999, por ocasião da I Cúpula Sindical do
Mercosul, na qual a CUT teve grande participação, as
Centrais acordaram relançar o Bloco social e culturalmente. “Os desafios para a CUT são permanentemente
redefinidos e novos problemas aparecem. Um deles é como
dinamizar a CCSCS. Em 1999 as duas mobilizações conjuntas das centrais sindicais – o Primeiro de Maio celebrado no Uruguai e a I Cúpula Sindical – apontam o surgimento de um cenário viável para sua recomposição como
força impulsora da dimensão social no Mercosul” (Trotta,
2001).
A presença mais efetiva nas estruturas do Bloco faz-se
com a participação no espaço do Foro Econômico e Social, lugar em que, não obstante as diferenças explícitas
de interesses dos membros constituintes, conseguem-se articular algumas negociações ainda que precárias.
Entretanto, as dificuldades são gigantescas. Na afirmação de Chaloult (apud Castro Vieira, 2001:220): “O desafio dos trabalhadores consiste em pensar a atuar como
uma classe trabalhadora regional e progressivamente continental, em construir uma estratégia comum e em estabelecer novos parâmetros de relações com os empresários,
os quais são, cada vez mais, integrados e subordinados a
decisões supranacionais”.
Na opinião de outra pesquisadora – que também teve
como referência central o Mercosul –, houve várias razões
para que o movimento sindical não atingisse seus objetivos: “(...) amplitude de suas propostas, desvinculação de
suas demandas da agenda negociadora dos governos, concentração dos trabalhos em temas técnicos e a fragilidade
política do movimento sindical naquele momento. Porém,
o principal motivo do movimento sindical não ter conseguido atingir seus objetivos mais ambiciosos no Mercosul
foi por não dispor de qualquer instrumento de barganha em
relação aos governos do bloco regional e em virtude da pressão sindical estar diretamente relacionada à sua capacidade mobilizadora. (...) Outro fator que prejudicou a atuação
sindical no Mercosul foi a disparidade entre os interesses
ciando empresas brasileiras com investimentos na Argentina, e argentinos que já possuem investimentos no Brasil.
Pelo lado dos trabalhadores, desde os primórdios da
proposta integradora, definiu-se um “apoio crítico” ao
Mercosul, com intuito de firmar a integração regional como
uma necessidade, mas questionar o tipo de integração pretendido, em razão de orientações da política econômica
de corte neoliberal.
As grandes mudanças que vêm afetando os trabalhadores, com a acumulação flexível, a reestruturação produtiva, e suas seqüelas de precarização, desemprego estrutural, rupturas sindicais, entre outras, que acontecem
nos planos mundial e nacional, condicionam as análises, que se possam fazer, por regiões. Dada a realidade
heterogênea deles na região, com situações diferenciadas nos diversos países, as oportunidades e riscos podem incidir, como vem acontecendo, a fim de maiores
ou menores custos, permanentes ou transitórios, pior ou
melhor distribuídos.
Como é sabido, o reconhecimento formal da presença
desse segmento na estrutura do Bloco foi consagrado com
a criação do Foro Consultivo Econômico e Social (FCES).
Na esfera organizativa, as Centrais Sindicais dos paísesmembros, fortaleceram sua articulação por meio da Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS).
Com base em sua atuação dela, tem havido uma presença
constante nas reuniões importantes do Mercosul, procurando apresentar na agenda as demandas dos trabalhadores e da sociedade civil em geral, com as dificuldades anteriormente apontadas.
Na primeira etapa da pesquisa, a participação dos trabalhadores brasileiros no Mercosul enfatizou a presença
da Central Única dos Trabalhadores. Desde os primórdios
(1991), esta Central demonstrou uma postura bastante crítica com os rumos assumidos, sobretudo pelo desconhecimento nas orientações e ações da questão social, e seu
compromisso era o de uma integração regional que aprofundasse os processos democráticos na região, favorecendo
a justiça social e o crescimento econômico. Em sua perspectiva, o critério dominante na gestação do Bloco foi o
da competitividade, que suplantou o de desenvolvimento,
e a realidade maior é a da hegemonia do capital financeiro internacional, que enfatiza o aprofundamento dos processos de liberalização comercial. A integração, na óptica
governamental, respondia aos interesses dos credores externos e às políticas de ajuste estrutural, mesmo com recessão interna, e o foco era o crescimento do comércio
exterior.
70
MERCOSUL E SOCIEDADE CIVIL
Por fim, uma alusão ao intercâmbio de militantes de
partidos políticos, de espectro que recobre todas as tendências político-ideológicas, e que elaboram estratégias,
documentos, ações integradas, no sustento de seus objetivos programáticos.
Toda essa constelação de atores, processos, atividades
sinaliza a busca embrionária de instituição de uma sociedade civil, débil, limitada, pouco organizada, que
descortina um horizonte de esperança, já que ancorada em
fatos concretos tangíveis.
das centrais, que tiveram dificuldade para formular objetivos comuns, porque às vezes o benefício de uma delas significava fortes perdas para as demais. Um fato interessante
é que as discussões técnicas acirraram estas disputas ao evidenciarem as diferenças entre os países e ao expor as desvantagens de cada uma em relação a determinados temas”
(Pasquariello Mariano, 2001:269).
Fora do âmbito desses segmentos sociais, surgem outras forças organizadas que têm por escopo alimentar a
pretendida integração regional e participar ativamente do
processo. Na esfera universitária, universidades individualmente e grupos de universidades formaram-se, atuando em
espaços delimitados (como por exemplo, Arcam, Mercosul
nas Universidades) e agindo por diversos meios para criar
uma consciência e interferir de algum modo no processo,
que vão de dissertações e teses, eventos acadêmicos, publicações, até parcerias institucionais entre instituições
dos países-membros para intercâmbio de docentes e de
estudantes e para a realização de atividades conjuntas. Já
tradicionais, é de se registrar a presença de professores e
pesquisadores com expressiva contribuição à reflexão latino-americana, que se reúnem sob os auspícios da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e do
Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (Clacso)
com irradiação em distintos países do continente e em
particular no Cone Sul.
Associações profissionais inserem-se nesse conjunto,
defendendo a presença ativa da sociedade civil e a colocação na agenda do Mercosul da questão social, além de
instrumentos de regulamentação profissional: “A criação,
defesa e consolidação da regulamentação legal da profissão, de códigos de ética e de formação profissional com
bases comuns na região, a partir de princípios decididos
em forma coletiva, autônoma e democrática, que garantam o livre exercício da profissão, com direitos e obrigações assegurados de acordo aos marcos jurídicos e em situação de reciprocidade legal” (Princípios éticos y políticos
para las organizaciones profesionales de Trabajo Social
del Mercosur, 1999).
Tem havido, ademais, um esforço crescente de aglutinar
e dar consistência a fóruns e redes que envolvem organizações não governamentais, movimentos sociais, terceiro
setor, etc., dotados de maior ou menor alcance e eficácia.
No campo cultural, o intercâmbio de artistas, cineastas, romancistas, músicos, teatrólogos e de outras categorias, pessoal especializado na mídia, grupos étnicos indicam facetas emergentes de uma eventual sociedade civil
regional, do Bloco e mesmo mais ampla.
NOTA DE CONJUNTURA
Este artigo já estava escrito e entregue aos editores
quando, como conseqüência dos acontecimentos perpetrados pelos ataques terroristas a alvos nos Estados Unidos, se prevê uma profunda inflexão nas relações internacionais. Os cenários anunciados e prescritos, presentes e
futuros, são ainda dotados de ampla imprevisibilidade
(guerra mundial ou guerras de “baixa intensidade”, destruição de nações, perda de direitos civis em nome da segurança, xenofobia, discriminações de toda a espécie, etc.).
Alguns indicadores seguem exatamente esses prognósticos e há manifestações concretas que os atestam (mobilizações insufladas de populações propondo guerras santas, combates do bem contra o mal, ações psicossociais
que visam identificar posturas políticas com determinadas religiões, criação de inimigos latentes e potenciais no
Ocidente e no Oriente, acirramento de racismos étnicos, e
assim por diante). Contudo, sua concretização e consolidação vão depender de uma constelação de variáveis de
extrema complexidade, e a prudência exige contenção na
feitura de prognósticos seguros.
Para os objetivos aqui delineados, breves comentários
incidem de forma direta sobre a temática aqui exposta.
Por um lado, constata-se enorme consenso entre analistas
de diferentes concepções, visto que a data encerra um ciclo e inicia um outro ciclo, no qual estaria esboçando-se
uma “nova ordem mundial”. Creio que é temerário aceitála como vem sendo anunciada e referendar alguns dos
caminhos como fatos consumados, e é preciso aguardar
um tempo antes de se posicionar com o desejável
descortínio. Basta atentar para as provas inferidas das afirmações categóricas de alguns arautos em um passado recente, logo após a queda do socialismo real, pregando o
“fim da história” e o estabelecimento do “pensamento
único”, que os próprios fatos encarregaram-se de contrariar. Por outro lado, indo na contramão dessa perspecti-
71
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
tam sobremaneira a consolidação do Bloco. As presentes
dificuldades existentes na Argentina e a aposta no Mercosul
(pelo menos no discurso governamental) trouxeram mudanças de peso nas relações entre os dois países, configurando certo retrocesso na história do Bloco, ao se adotarem salvaguardas nas regras que o regem (uma medida
para defender a produção Argentina da excessiva desvalorização do real, e que vinha sendo solicitada desde 1999).
Procura-se manter a TEC, porque a União Européia só negocia uma zona de livre-comércio com o Mercosul se ela
for mantida, e não ferir as regras da OMC. As primeiras
reações, de empresários brasileiros que participaram do
Fórum de Líderes do Mercosul, em São Paulo (Folha de
S.Paulo, B4, 10/10/2001), foram de descontentamento, pela
falta de clareza das posições governamentais, pela possibilidade de se manter o protecionismo para certos setores
e por não estarem claros os setores que serão atingidos pelas
salvaguardas, o que, em sua opinião, afetará o livre comércio e prejudicará a indústria brasileira.
va, incensada pela maioria da mídia internacional, pessoas, grupos, instituições e setores populacionais mobilizam-se para opor-se à esta (des) ordem mundial em curso, denunciar certo “terrorismo ideológico” que se pretende
impor às nações, congregar-se efetivamente pela paz, e
avançar na linha de que “um outro mundo é possível”.
Em função dos temas específicos analisados neste artigo, pode-se aventar umas poucas hipóteses, como perspectivas futuras, assim resumidas:
- Contrariamente às teses neoliberais de desregulação do
Estado e de direção hegemônica do Mercado, que se ancoram de modo exemplar nos Estados Unidos, as medidas até agora propostas pelo governo Bush com o intuito
de criar mecanismos de maior segurança e de impulsionar
a economia do país, oferecendo para isso importâncias astronômicas de investimento estatal a partir do Executivo,
com o apoio quase unânime do Congresso, fazem ressurgir com vigor idéias keinesianas que levam a reconsiderar novamente o papel do Estado.
- A necessidade de apoio logístico, para combate ao terrorismo no plano mundial, tem levado os Estados Unidos
em sua estratégia atual contra o Afeganistão (e a eventualidade já proclamada nos discursos das autoridades de ir
além e atacar outros países hospedeiros de terroristas), por
uma parte, a ignorar a ONU e tomar iniciativas independentes, alegando seu “direito de defesa” e, por outra parte, a propor alianças e conseguir apoios para essa causa
em todos os continentes, ampliando com certo ineditismo,
e mesmo riscos futuros, seu raio de ação para EstadosNação com quem suas relações internacionais são de conflito, de afastamento, de subordinação e de competição.
O que pode afetar o equilíbrio de forças nacionais e regionais.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABONG. “Mercosul: integração regional e cidadania”. In: ALOP/ABONG/
MLAL. Revista da Abong. São Paulo, n.25, jun. 1998.
ALMEIDA, P.R. Mercosul: fundamentos e perspectivas. São Paulo,
LTD, 1998.
BERNAL-MEZA, R. Sistema mundial y Mercosur – globalización,
regionalismo y políticas exteriores comparadas. Argentina,
Nuevohacer/ Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, 2000.
BIRLE, P.; BRUERA, S. et alii. Dos estúdios sobre los empresários y
la integración regional. Montevidéu, Eppal, 1994.
CAMPBELL, J. (ed.). Mercosul: entre a realidade e a utopia. Rio de
Janeiro, Relume Dumará, 2000.
CAMPOS, Í.W. e ARROYO, M. “A força do empresariado no Brasil e
na Argentina”. Lua Nova. São Paulo, Cedec, n.4, 1998.
- Com relação à América Latina, sempre ressaltando que
é muito cedo para chegar a posições conclusivas, tanto
pode haver uma aceleração do movimento em direção à
constituição da Alca e a uma maior presença norte-americana na região (até mesmo pela vertente da segurança regional e do combate ao narcotráfico), quanto pode haver
maiores restrições à alocação de recursos em países em
crise (Argentina e Brasil, por exemplo) em função da
desaceleração da economia mundial, como também certo
“abandono” da mesma Alca.
CASTILLO, G. et alii. Los trabajadores y el Mercosur. Buenos Aires,
Corregidor, 1996.
CASTRO VIEIRA, J, de. Dinâmica polieconômica do Mercosul frente à globalização. Tese de Doutorado. Brasília, UNB/Centro de
Pesquisa e Pós-Graduação sobre a América Latina e o Caribe, 2001.
CÉLIMÈNE, F. e LACOUR, C. L’intégration régionale des espaces.
Paris, Economica, 1997.
CUNILL GRAU, N. Repensando o público através da sociedade –
novas formas de gestão pública e representação social. Rio de
Janeiro, FGV, 1998.
CUNILL GRAU, N. e BRESSER PEREIRA, L.C. (orgs.). O público
não-estatal na reforma do Estado. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1999.
- Divergências que afloram na condução das políticas
macroeconômicas por parte dos governos argentino e brasileiro, bem como qual deva ser a modalidade de inserção
desses países na presente conjuntura internacional, dificul-
DEGENSZAJN, A.R. “O empresariado paulista como ator político no
Mercosul”. Bolsa de iniciação científica, 2O Relatório Científico.
São Paulo, Fundap/Cedec/PUC-SP, abr. 2001.
72
MERCOSUL E SOCIEDADE CIVIL
DINIZ, E. “Globalização, democracia e reforma do Estado: paradoxos
e alternativas analíticas”. In: MELO RICO, E. e RAICHELIS, R.
(orgs.). Gestão social – uma questão em debate. São Paulo, Educ/
IEE, 1999.
PRINCÍPIOS éticos y políticos para las organizaciones profesionales
de Trabajo Social del Mercosur. Buenos Aires, Reunião congregando associações de serviço social dos quatro países constitutivos e do Chile, 1999, mimeo.
FIEP/FIESC/FIERGS. Comissão Fórum Sul do Mercosul. Diagnóstico da região sul frente ao Mercosul, 1997.
RAICHELIS, R. Esfera pública e Conselhos de Assistência Social:
caminhos da construção democrática. São Paulo, Cortez, 1998.
FOLHA DE S.PAULO, 10/10/2001.
SIROËN, J.-M. La régionalisation de l’économie mondiale. Paris, La
Découverte, 2000.
GINESTA, J. El Mercosur y su contexto regional e internacional. Porto
Alegre, Universidade/UFRGS, 1999.
TOMAZONI, F.R. “O empresariado da região sul: sua visão e participação no processo de integração regional do Mercosul”. Bolsa de
iniciação científica. 2o Relatório Científico. São Paulo, Fundap/
Cedec/PUC-SP, abr. 2001.
GOUDARD, G.; JORDAN, D. “L’espace mondial face à la deuxième
vague des unions régionales”. In: CÉLIMENE, F. e LACOUR, C.
(dir.) L’intégration régionale des espaces. Paris, Economica, 1997.
TROTTA, M.E.V. “Os trabalhadores e a integração regional”. 2o Relatório Científico. São Paulo, Fundap/Cedec/PUC-SP, abr. 2001.
GÓMEZ, J.M. “Globalização, Estado-Nação e cidadania”. Contexto
Internacional. Rio de Janeiro, IRI/PUC Rio, v.20, n.1, jan.-jun.
1998.
VIGEVANI, T. e VEIGA, J.P. “Mercosul e os interesses políticos e
sociais”. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, Fundação Seade,
v.5, n.3, jul.-set. 1991.
HIRST, M. “Dimensão política do Mercosul: atores, politização e ideologia”. In: ZYLBERSTAJN, H. et alii (eds.). Processos de integração regional e a sociedade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1996.
WANDERLEY, L.E.W. “Rumos da ordem pública no Brasil: a construção do público”. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, Fundação Seade, v.10, n.4, out.-dez. 1996.
LACHMANN, J. L’Action économique régionale. Paris, Economica, 1997.
________ . “Desafios da sociedade civil brasileira em seu relacionamento dialético com o Estado e o Mercado”. In: MELO RICO, E.
e RAICHELIS, R. (orgs.). Gestão social – uma questão em debate. São Paulo, Educ/IEE, 1999.
LIMA, M. e MEDEIROS, M. (eds.). O Mercosul no limiar do Século
XXI. São Paulo, Cortez, 2000.
LINS, H.N. e BERCOVICH, N.A. “Cooperação envolvendo pequenas
e médias empresas industriais no Mercosul”. Ensaios FEE. Porto
Alegre, 1995.
WANDERLEY, L.E.W. e RAICHELIS, R. “Gestão pública democrática no contexto do Mercosul”. In: SIERRA, G. de (compilador).
Los rostros del Mercosur – el difícil camino de lo comercial a lo
societal. Buenos Aires, Clacso, 2001.
NICOLETTI, V. Mercosur y identidad cultural latinoamericana.
Buenos Aires, Lugar, 1998.
NOGUEIRA, M.A. “Um Estado para a sociedade civil”. In: MELO
RICO, E. e RAICHELIS, R. (orgs.). Op. cit., 1999.
WEIDENFELD, W. e WESSELS, W. (orgs.). A Europa de A a Z – Guia
da integração européia. Luxemburgo, Publicações Oficiais das
Comunidades Européias, 1997.
PASQUARIELLO MARIANO, K.L. A atuação da Comissão Parlamentar Conjunta e do Subgrupo de Trabalho-10 no Mercosul.
Tese de Doutorado. Campinas, Unicamp, Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, mar. 2001.
LUIZ EDUARDO W. WANDERLEY: Professor da PUC-SP. Foi reitor da PUCSP. Autor, entre outros, O que é Universidade?
PIT-CNT/Fundación FESUR Uruguay. Curso Taller las dimensiones
del Mercosur y las trabajadoras. Montevidéu, 1999.
73
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1)
16(1):2002
74-93, 2002
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA:
DE MENEM A DE LA RÚA
¿Hay una nueva política?
RAÚL BERNAL-MEZA
Resumen: El presente estudio hace un análisis de las políticas exteriores seguidas por los gobiernos argentinos en los últimos veinte años, con especial atención al período 1989-2001. Comparativamente,
se analizan las políticas externas de Menem y De la Rúa, identificando en ellas las respectivas macrovisiones,
su formulación y praxis, haciendo referencia en particular a los contextos hemisférico, subregional y
bilateral (Brasil).
Palabras clave: política exterior argentina; Menem; De la Rúa.
Abstract: This article examines the last twenty years of Argentine foreign policy, with special emphasis
on the period 1989-2001. The policies of Menen and De la Rúa are compared with regard to the formulation
and implementation of their respective macro-visions, with particular focus on hemispheric and bilateral (Argentina-Brazil) relations.
Key words: Argentine foreign policy; Menem; De la Rúa.
D
espués de una política exterior signada por el
aislamiento, la ruptura y las contradicciones, que
caracterizó el período del gobierno militar (19761983), el siguiente gobierno, constitucional y democrático,
presidido por Raúl Alfonsín, introdujo tres cambios importantes respecto de los criterios ordenadores de la política
exterior del régimen militar: el desplazamiento del modelo
Este-Oeste y la resignificación de la “occidentalidad de Argentina”(diferenciar entre los intereses del bloque y los
intereses de Argentina1); reformulación de la participación
en No Alineados, cuestión que partía de la percepción del
gobierno sobre la existencia de una confrontación de carácter
“realista” entre dos grandes poderes y no de una “guerra
santa”, en la cual se involucraba todo occidente, lo que daba
espacio a la continuidad de la permanencia del país en dicho
foro; revalorización del eje Norte-Sur (Russell,1989), siendo
este último segmento considerado el espacio natural y
apropiado para la búsqueda de convergencias entre determinados intereses políticos y económicos del país y los de
otras naciones del Tercer Mundo, aún cuando estas relaciones fueran pasadas por el tamiz de las “alianzas selectivas”.
El marco determinante de la política exterior y su relación
con la política interna fue una concepción predominante-
mente “desarrollista”.2 Esta interpretación sería abandonada bajo la nueva visión del mundo que traía consigo la
comunidad epistémica 3 del menemismo(Bernal-Meza,
2000).
Como ocurrió con otros países de América Latina,
la Argentina abandonó el paradigma de relaciones internacionales del Estado-desarrollista, adoptando el paradigma
neoliberal, cuyas reformas implícitas fueron rápidas y
radicales (Bernal-Meza, 2000; Cervo, 2000).
El eje de la “nueva agenda” de la política exterior argentina de los noventa lo constituyó entonces la adopción
integral de los “valores hegemónicos universalmente
aceptados”, 4 porque de ellos resultaba el prestigio, la
credibilidad y la confiabilidad externas. Estos valores,
impuestos por el orden imperial configurado por la postguerra fría, significaban una confluencia de democracia
(formal) y libre mercado, bajo una extraordinaria hegemonía
ideológica del neoliberalismo, que se reflejaría en múltiples
segmentos del sistema internacional. Así, el “Consenso de
Washington” (1989), la “Iniciativa para las Américas” (1990)
–de la que derivaría el proyecto ALCA– y la constitución
de la OMC, junto a las nuevas disciplinas, que establecieron
las normativas a las cuales debían ajustarse las políticas
74
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA: DE MENEM A DE LA RÚA...
públicas, incluyendo el comercio internacional y las
regulaciones financieras, pasaron a constituir los marcos
según los cuales los gobiernos que los hicieron suyos,
reformularon sus orientaciones y praxis de política exterior.
En este contexto, “el país (en realidad debería decir el
gobierno) modifica su concepción del mundo, realiza un
profundo viraje en su orientación internacional y define
una nueva política exterior” (De la Balze;1997:107). Esto
llevaba implícita una adhesión a la alianza occidental y sus
principios de democracia y libre mercado; en términos de
seguridad, adopción de los nuevos marcos de seguridad
cooperativa, que implicaba, naturalmente, la renuncia a la
construcción de misiles, y, en general al armamento químico, atómico y bacteriológico. Se reformularon así las
concepciones y las políticas gubernamentales dominantes en el pasado: se abandonaron, definitivamente, las
estrategias de sustitución de importaciones, que ya venían
en crisis desde mediados de los setenta;5 se reformuló el
papel del Estado, de las relaciones económicas y comerciales internacionales del país; se adoptó la interpretación
según la cual los problemas argentinos eran de naturaleza
puramente económica. Por lo tanto, en términos de la política interna, se supuso agotado el modelo económico
desarrollista/estatista y, en términos del contexto externo
para la política exterior, la globalización había disminuido
las opciones y alternativas posibles y que fueran distintas
a las emanadas de la visión ideológica y fundamentalista
de ésta.6
La adopción de esta nueva alternativa implicaba –en términos de política exterior– tres posiciones básicas:
-una alianza con las potencias vencedoras de la guerra fría
y un alineamiento con el hegemón, lo que conducía, naturalmente, al retiro del movimiento de los No Alineados;
pequeño en el escenario internacional (según la visión de
la comunidad epistémica), dió prioridad a la inserción en
el mercado internacional de capitales, a partir de la evidencia de que esos flujos eran determinantes de su ciclo
económico (Baumann, 2001:61), adoptando entonces políticas adecuadas a esa estrategia de inserción externa. El
plan de “Convertibilidad” sería un elemento clave de esta,
que, como se verá, De la Rúa mantendría bajo su gestión.
- aceptación de las nuevas reglas de juego de la economía
y la política mundiales en la construcción del “nuevo
orden”, que sería el determinado por las grandes potencias
capitalistas. Este cambio implicaba adscripción a la agenda de “valores hegemónicos universalmente aceptados”,
especialmente en lo que se refería a las políticas de
seguridad y los alineamientos en los distintos regímenes
internacionales;
- que este modelo, junto al aislamiento al que dio lugar, acarreó
la decadencia relativa del país y, por ende, la pérdida de
gravitación de Argentina en el orden internacional;
FORMULACIÓN Y PRAXIS DE LA POLÍTICA
EXTERIOR ARGENTINA: 1989-1999
La Agenda Internacional de los 90s.: Cómo Ésta se
Estableció, para Identificar los Temas de la Misma
Una particular, realista (en términos del reconocimiento
a las jerarquías de poder mundial), pero a la vez sesgada y
parcial interpretación del proceso de cambios internacionales y de las dificultades internas para lograr el
desarrollo, constituyeron elementos clave, los que fueron
utilizados para dar cuenta del cambio de política. Según
Russell, los principales argumentos que permitieron al
gobierno del presidente Menem justificar el cambio de la
política exterior, fueron los siguientes:
- que el orden mundial emergente se caracterizaba por la
interdependencia y la cooperación entre los países y por
el triunfo categórico, aunque no universal, de una filosofía
(democracia liberal);
- que en este orden existían condiciones para que la paz se
sustentara más en la seguridad cooperativa que en el
equilibrio de poder;
- que la globalización de la economía había hecho definitivamente obsoleto el modelo de crecimiento basado en la
sustitución de importaciones;
- que la relación preferente con Gran Bretaña fue una de
las claves de la inserción exitosa de Argentina en el mundo a fines del siglo XIX y principios del XX; y
- que, en consecuencia, el país necesitaba encontrar y
desarrollar, en forma pragmática, nuevas relaciones
preferentes para asegurarse una nueva reinserción exitosa en el siglo XXI (Russell, 1993).
-profundización de los vínculos transnacionales de Argentina, ante la evidencia de encontrarnos frente a un mundo
“global”, lo que implicaba adhesión a las estrategias
mundiales del capitalismo transnacional (Bernal-Meza,
2000). La Argentina, viéndose a sí misma como un país
Variables Internas y Externas de la Formulación de “la
Nueva Política Exterior Argentina” – En términos de
75
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
tica exterior” (es decir, la que en su formulación él considera como tal), eliminaba los obstáculos que se presentaban
a los objetivos de la política externa.
A su vez, otra diferencia, al interior de la comunidad se
encontraba también entre las argumentaciones de Di Tella
y de las de Escudé. Mientras este último insistía en la
irrelevancia de las condiciones sistémicas, para el canciller
había que cambiar porque el mundo estaba cambiando.
La formulación de Carlos Escudé, que éste denominó
como realismo periférico (1989; 1992; 1995), se transformó
en el paradigma de la “nueva” política exterior argentina.
La misma dominaría la formulación y praxis de la política
exterior durante toda la década de los noventa, proyectándose su influencia en el gobierno siguiente.
“variables”, de las externas fueron representativas: el
carácter e ideología de la nueva alianza gobernante; su
visión del mundo y el papel relevante de los actores y la
comunidad epistémica que formulaban la política exterior;
la posición respecto de las estrategias posibles de
desarrollo; la cultura política dominante (nacionalismo territorial, vocación hegemónica o de liderazgo subregional
y regional y los marcos institucionales: centralismo, presidencialismo y personalismo).7 De las variables externas: la
nueva configuración del orden mundial y la agenda política internacional, con la predominancia de los temas
económicos, que excluían todas la variables exógenas del
desarrollo (dependencia científico-tecnológica y apartheid
tecnológico; hegemonía ideológico-cultural y su visión
sesgada sobre la naturaleza del desarrollo y el progreso).
La Evolución de la Agenda y la Definición de Objetivos
La Percepción del Escenario Mundial al Comenzar el
Gobierno – Según los hacedores de la “nueva política exterior argentina”, era absolutamente necesario para que la
Argentina iniciara un proceso sostenido de desarrollo
producir cambios drásticos y sustanciales en la política
exterior. Sin embargo, al interior de la comunidad epistémica,
existieron dos interpretaciones acerca de la lógica que
determinaba el nuevo curso de acción para la política exterior. Mientras que para Menem, Cavallo, Di Tella, Cisneros
y los pensadores De la Balze, Fontana, Bolívar, J. Castro y
otros, la necesidad de implementar la “nueva política” era
consecuencia, fundamentalmente de los cambios ocurridos
en el sistema mundial (fin de la guerra fría; Estados Unidos
como única superpotencia mundial capaz de ejercer influencia y “jugar” en todos los escenarios: político-diplomático, militar-estratégico, tecnológico y financiero), para
Carlos Escudé la necesidad del cambio de política, abandonando el aislamiento y el confrontacionismo con Estados Unidos era a-temporal, en el sentido que la adopción
de tal modelo de política exterior era independiente de las
condiciones derivadas del fin de la guerra fría;8 aún cuando
también De la Balze señala que la política de reincorporación
al Primer Mundo es anterior – temporalmente – al fin de la
guerra fría, teniendo origen en los cambios económicos,
sociales y políticos internos que ocurrieron en Argentina a
partir de fines de 1983. Una diferencia se advertía, sin embargo, en el hecho que, con la excepción de Escudé – para
quien una buena política exterior no necesariamente
conduce al desarrollo – la mayoría de pensadores y
formuladores consideraban que ésta, de por sí, aseguraba
beneficios inmediatos. No obstante, el formulador del realismo periférico señalaba claramente que una “buena polí-
Identificación de los Temas que la Integraban – La fundamentación del núcleo duro de la agenda política lo
constituyó entonces la “reinserción de Argentina en el
mundo desarrollado”. Esta visión, que se sostenía sobre
el revisionismo histórico, suponía que el país, por propia
voluntad y como consecuencia de la aplicación de
cincuenta años de políticas externas equivocadas y confrontacionistas con la potencia hemisférica, había abandonado el eje binario del desarrollo, al que el (supuestamente)
exitoso modelo agroexportador de subordinación a la
hegemonía británica la condujera durante su vigencia (18801930). El objetivo entonces de la “nueva política” era volver a la Argentina al segmento del que nunca debió haber
salido: es decir, el desarrollo.
Para esto, se implementó una estrategia que permitiera
las más amplias coincidencias con la agenda externa
norteamericana y los “valores hegemónicos universalmente
aceptados”:
Hubo así coincidencia con los temas dominantes de la
política y la agenda internacional de Estados Unidos: democracia y libre mercado; seguridad cooperativa y “nuevos
temas” (narcotráfico, medio ambiente, etc.).
Los Temas de la Agenda y su Jerarquización – De acuerdo
con el razonamiento que justificaba el cambio, se puso en
marcha una política exterior ordenada alrededor de cuatro
ejes, todos ellos estrechamente relacionados. El primero
de ellos era el abandono de las posiciones de confrontación política con los países desarrollados, el segundo,
estrechamente ligado al anterior, fue que el bajo perfil político en las cuestiones que ocasionaban confrontaciones
76
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA: DE MENEM A DE LA RÚA...
también fue obtener el ingreso del país a la OCDE y la
incorporación como miembro pleno a la Asociación de
Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APECC), objetivos que no fueron alcanzados.
Así, de la descripción de objetivos se desprende que
existió:
- Una argumentación coincidente con la de autores de la
comunidad epistémica: la tradición de un supuesto
“aislamiento internacional”; el retorno a alianzas que le
corresponden por historia y vocación y la apelación a la
credibilidad externa.
o fricciones con los países desarrollados no implicaba ceder espacios en aspectos que se referían al desarrollo
económico del país; el tercero, planteado como una
cuestión de objetivos y estilo señalaba que Argentina no
podía ni debía pretender un alto perfil, ni mucho menos una
posición de protagonismo internacional;9 por último, el
apoyo al funcionamiento efectivo del sistema establecido
en la carta de la ONU para garantizar la paz y la seguridad
internacionales.
Los Objetivos – Di Tella, refiriéndose al gobierno del presidente Carlos Menem, señaló que “en el inicio de su
gestión, la presente administración se propuso un cambio
drástico como prioridad de nuestras relaciones exteriores.
Se trataba, sintéticamente, de terminar con una tradición
de aislamiento internacional y con conductas largamente
erráticas y perjudiciales para los intereses argentinos (...).
Lo que se ha hecho desde 1989 hasta ahora fue devolver
el país a su posicionamiento normal, a las alianzas que le
corresponden tanto por su historia como por vocación e
interés. Esto significa cooperación con los países de la
región y firme ubicación en Occidente, compartiendo los
valores democráticos, el respeto a los derechos humanos,
la economía de mercado y el comercio libre y abierto. (...);
la credibilidad, la confianza y la transparencia fueron las
notas decisivas de esta política de cara al mundo...” (Di
Tella;1998:13-17). El eje central de la política exterior argentina pasaba por la nueva relación con Estados Unidos
(Cisneros;1998:114-15).
El objetivo central o estratégico de la “nueva política
exterior”, según sus policy makers (Menem, Cavallo, Di
Tella) y su comunidad epistémica era “favorecer la
reinserción de la Argentina en el Primer Mundo” (Escudé,
1989;1992;1995; Cisneros,1998; De la Balze, 1998; Castro,1998; Bolívar,1998). Dentro de ese núcleo, el objetivo
más evidente fue construir una relación especial, una alianza
de largo plazo con Estados Unidos. A éste le siguieron la
recomposición de las relaciones con Europa10, a través de
la profundización de las relaciones económicas y comerciales, así como con Japón; por último, la construcción de
una alianza económica con Brasil (que, en realidad, se había
iniciado en el tiempo de los acuerdos Alfonsín-Sarney).
Seguidamente, ubicar al país en los nuevos escenarios de
expansión y dinamismo del capitalismo mundial: la región
Asia-Pacífico. Sin embargo, muchos de los objetivos
pasaban por una “cuestión de imagen”: en la medida que
había un reconocimiento a la Argentina se consideraba que
había progresos en el proceso. Así, uno de los objetivos
- La adopción de la “agenda de valores hegemenónicos
universalmente aceptados”.
Estilo – Como argumentó en su momento el canciller Cavallo,
la política exterior no podía seguir siendo interpretada en
forma aislada, de modo que se trató de integrarla formando
parte del programa de gobierno del presidente Menem, que
se propuso introducir profundas transformaciones en procura de un aumento del bienestar del pueblo. De acuerdo a
esa lectura, la situación, entonces, “tenía toda las características de un verdadero reto generacional: debimos
adoptar una actitud comprometida y eficaz, alejada de la
tentación metafísica del principismo estéril, procurando una
respuesta capaz de sustraernos de la periferia del panorama mundial (...). Decidimos movernos con un sentido pragmático de la realidad, prefiriendo explotar las posibilidades
concretas en desmedro de las especulaciones doctrinarias
a las que habían sido propensas, desafortunadamente,
algunos de nuestros predecesores (...). Entendimos que
nuestra diplomacia debía ser activa y dinámica porque
partiendo de la realidad y operando sobre ella, nuestro país
podía llevar a cabo la mejor defensa de sus intereses y
ubicarse adecuadamente en el concierto internacional”
(Cavallo,1996:357-78).
En relación al estilo de conducción, hubo un elemento
de continuidad desde 1984, la “diplomacia presidencial”.
Sin embargo, durante la gestión del presidente Menem hubo
una excesiva concentración de la conducción de los
asuntos externos al nivel presidencial. Las exageraciones,
la sobreactuación, la permanente aspiración al protagonismo, rompieron con el perfil más sobrio y reposado que le
confirió al estilo la conducción de Alfonsín. Asimismo, a
la relación más cautelosa del primer canciller (Cavallo),
respecto de la diplomacia de carrera, le siguió el estilo de
Di Tella, mucho más prescindente de las opiniones de la
burocracia diplomática (Busso y Bologna, 1994).
77
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
Síntesis Objetivos de la política exterior argentina 19891999:
- Cambiar las relaciones estructurales e históricas con
Estados Unidos (confrontacionismo, aislamiento). Buscar
una alianza y relación especial, adoptando un conjunto de
políticas que son vistas como convenientes para ese objetivo, en particular las vinculadas a la seguridad y la
defensa.
Constantes, Coincidencias y Rupturas en la Política
Exterior Argentina de Alfonsín a Menem
El cambio más drástico de la política exterior se dio
respecto de Estados Unidos y del Brasil. Respecto del
primero, se abandonó la búsqueda de autonomía y se buscó
permanentemente la alianza y el alineamiento. El objetivo
fue construir una “relación especial con Estados Unidos”.
Respecto del segundo, se redujo la importancia en la
relación bilateral en el ámbito de la integración, aún cuando
se buscaron mayores coincidencias en los temas vinculados a la seguridad y el fortalecimiento de la confianza mutua.
Sin embargo, estos objetivos se sustentaban en la herencia
de búsqueda de cada vez mayores entendimientos políticos con Brasil, heredados del gobierno de Raúl Alfonsín.
Según Jorge Bolívar, “la nueva política exterior argentina ofrece una fuerte identidad continental americana, que
va desde la alianza estratégica con los EE.UU. a la
integración de un mercado común (el Mercosur) con sus
países vecinos: Brasil, Uruguay, Paraguay, con el agregado de Chile y Bolivia (...). Además, nuestra Nación se
expresa plenamente en las figuras dominantes del nuevo
orden planetario: la democracia y la economía libre. Se
muestra integracionista y comprometida con la defensa del
nuevo ordenamiento mundial en el ámbito de Naciones
Unidas, contrastando con su anterior perfil dominado por
un aislacionismo internacional de hecho”(Bolívar,1998),
que encuentra sus “antecedentes conceptuales en una
interpretación correcta de las tendencias profundas que
caracterizan el escenario mundial contemporáneo” y cuyos
pilares son la “reinserción en la economía mundial”, “una
alianza con Estados Unidos”, “la integración económica,
de cooperación política y de alianza estratégica con Brasil”, una política de seguridad y defensa orientada a crear
una Zona de Paz en el Cono Sur de América” y en una
“política de prestigio” fundada en la reafirmación de ciertos
principios universales y en el desarrollo de un sostenido
esfuerzo de cooperación y solidaridad con el resto de los
países de América Latina (De la Balze;1998).
Síntesis de Agenda argentina 1989-1999:
- Proyección externa de la “reformulación de la estrategia
nacional de desarrollo”.
- Afirmación de la democracia, de la libertad y de los
derechos humanos.
- Obtener mejores condiciones para el desarrollo, desde
la perspectiva dominante del neoliberalismo.
- Ingresar a la OTAN y a la Organización de Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).
- Impulsar la integración bilateral con Brasil y Chile.
- Profundizar los vínculos con la Unión Europea y Japón.
- Participar activamente en la ONU y especialmente en sus
operaciones de paz.
Síntesis del Carácter de la Política Exterior 1989-1999
– Al amparo del Ejecutivo (Menem, Di Tella), surge una
comunidad epistémica que cambia la política exterior tanto en su agenda como en sus objetivos y le impone un estilo
activo y dinámico en la formulación de propuestas e iniciativas, marcadas, esencialmente por sus contenidos de “alta
política”, con una fuerte y permanente concentración en
los temas de la seguridad, el intervencionismo y las medidas vinculadas al logro de un nuevo y distinto perfil de
relacionamiento con Estados Unidos, basado en el realismo de la subordinación al poder y en el pragmatismo del
alineamiento a sus políticas y agenda internacional. El alto
perfil de la política exterior se caracteriza por una fuerte
diplomacia presidencial y un activismo protagónico.
En síntesis, tomando el concepto de cambio, según
Russell, como “el abandono o reemplazo de uno o más de los
criterios ordenadores de política exterior” (Russell, 1989),
desde mi perspectiva, en la Argentina, durante el período de
las dos presidencias de Carlos Menem, hubo dos tipos de
“cambios”, en relación al pasado reciente (el gobierno de
Alfonsín): los de naturaleza básica (o lo que Russell denomina como “criterios orientadores”); los cambios que son
consecuencia de la adopción de nuevos criterios ordenadores
en la política exterior, considerando éstos como
“instrumentales” para la implementación de los primeros.
De esta forma, los cambios de la primera tipología fueron:
- en las relaciones con Estados Unidos: es decir, el cambio
de alianzas esenciales desde una visión de compromisos
- “Reinserción” en el Primer Mundo.
- Adopción de la “agenda de valores hegemónicos universalmente aceptados” (o Agenda de las potencias industrializadas de occidente).
- Crear para Argentina una “zona de paz” en el cono sur.
78
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA: DE MENEM A DE LA RÚA...
nueva política exterior argentina de alianza con occidente
y adopción de la “agenda de valores hegemónicos universalmente aceptados”.
y coincidencias, también pertenencia, con el mundo en
desarrollo o Tercer Mundo (Grupo de los 77, No Alineados,
etc.) hacia una alianza estratégica con Estados Unidos y el
grupo de potencias capitalistas de occidente, vencedoras
de la guerra fría, que conforman un grupo, al cual la Argentina (en la suposición de la comunidad epistémica)
pertenece por naturaleza y que abandonó por propia
voluntad. Es lo que De la Balze denomina como “política
de reincorporación al primer mundo” y el desarrollo de una
alianza especial con la mayor potencia mundial.
Sin embargo, en esto no hubo nada nuevo, respecto de
la visión que bajo el régimen de “Reorganización Nacional” (1976-1983) ya tuvieron los militares, acerca de la
pertenencia de la Argentina, aunque sí cambió el estilo y
el contenido más radicalizado ahora de la política pública
que debía acompañar este cambio (adopción del modelo
neoliberal; liberalización de los mercados, privatizaciones,
ajuste, etc.).
- en las negociaciones por Malvinas, formulando una
nueva línea de acción frente a Gran Bretaña, aceptando con
realismo el hecho que la posesión efectiva de las islas está
en manos británicas y que esa situación difícilmente vaya
a cambiar, frente a lo cual surge un camino de acción que
se mueve entre los extremos de entregar o vender las islas
a los kelpers (Escudé) u olvidarse definitivamente del
asunto hasta que las cosas, en términos de poder relativo,
cambien para la Argentina, pasando por la “asociación”
(Di Tella).11 Los cambios de la política se concentraron en
los siguientes aspectos: a) restablecimeinto de relaciones
consulares y luego diplomáticas con Gran Bretaña, b)
aplicación del “paraguas de soberanaía”;12 se declaró el
cese formal de hostilidades y se dejó de lado la presentación
del tema Malvinas en la Asamblea General de la ONU; c)
se inició una serie de acuerdos de cooperación (firma de
acuerdos pesqueros y petroleros; autorización para el viaje de familiares de combatientes argentinos muertos a
visitar el cementerio en las islas; restablecimiento de los
viajes aéreos desde el continente, tocando territorio argentino; realización de diálogos radiales a través de la BBC,
entre el canciller Di Tella y los kelpers, como parte de la
“nueva política” de seducción, etc.).
- modificación de los votos en la ONU, para acercar las
posiciones a aquellas defendidas por Estados Unidos.
- modificación de la posición respecto de Cuba en la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de
ajustarla a las expectativas de Estados Unidos.
- abandono de la posición de neutralidad en los conflictos
internacionales en los cuales el país no está involucrado
directamente (guerra contra Irak; aceptación implícita de
la invasión norteamericana a Panamá y de las intervenciones de la OTAN en Yugoslavia; eventuales intervenciones en conflictos internos como en el caso de
Colombia), participando así activamente de las estrategias
militares y de seguridad de Estados Unidos.
- reformulación de las políticas de seguridad, adhiriendo
a la nueva visión norteamericana de “seguridad cooperativa”.
- búsqueda de una incorporación a la OTAN, en la medida
que ésta podía reflejar el nivel de resultados del cambio de
la política respecto de Estados Unidos y podía confirmar
el buen camino del objetivo de “reinsertar a Argentina en
el mundo desarrollado”.
En tanto, las continuidades con el gobierno de Alfonsín
estuvieron dadas por:
- La profundización de la integración económica con Brasil.
- La integración física de infraestructura, así como la
cooperación económica, política y militar con Chile.
- La pertenencia al Grupo de Río, aún cuando el involucramiento argentino sería significativamente menos intenso en relación a la “agenda latinoamericana del foro”.13
- La aplicación del paradigma del realismo periférico, como
una lectura “realista” de la necesaria subordinación al poder
hegemónico. Éste fue un permanente frente de profundas
diferencias con Brasil, en la medida que para este último
país, de acuerdo a sus objetivos de país intermédiario, la
búsqueda de mayores recursos de autonomía (recurriendo
al multilateralismo y al universalismo selectivo) pasaba,
necesariamente, por buscar las formas de reducir el poder
de los grandes o, al menos, de reducir las diferencias de
atributos de poder entre éstos y el país.
Los cambios de la segunda tipología fueron:
- el giro en la política nuclear y la firma de los acuerdos de
no proliferación.
- el abandono de la política misilística y el ingreso al MTCR.
En el caso de Argentina no puede hablarse de “parcerías
estratégicas”, en la medida que la búsqueda de un alineamiento estratégico con Estados Unidos anulaba las
- el retiro del Movimiento de No Alineados, en la medida
que la agenda de éste ya no permitía coincidencias con la
79
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
afianzamiento de la paz y la seguridad internacionales y la
democratización del sistema internacional.14
De estas primeras líneas de política se podían percibir
dos elementos relevantes: la integración (Mercosur, América del Sur) y la adscripción a una visión más bien ética y
normativa sobre el sistema internacional.
Algunos meses más tarde, el nuevo canciller señaló que
la agenda de la política exterior argentina no se trazaría “sólo
por los intereses, sino también por los valores compartidos”.
La nueva política marcaría una diferencia, porque “mientras
intenta profundizar las relaciones políticamente indispensables, pretende no dejar fuera a ningún país del mundo”.15 Implicaba un mensaje de adhesión a la política exterior norteamericana (la apelación a los valores compartidos),
que no excluía a aquellos gobiernos latinoamericanos que
los compartían) y, a la vez, señalaba cuál sería la diferencia:
Cuba.
Bajo la presión de la situación económica y financiera
interna y, en buena medida por propia adscripción a los
lineamientos de la nueva agenda de valores impulsadas por
las democracias desarrolladas, la Argentina acompañó el
voto norteamericano de castigo a la Isla en la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU en el año 2000.
Según la prensa, este tema provocó el primer debate de
naturaleza ideológica en el seno del gabinete nacional (Cardoso, 2000). Esta discusión profundizaba los desencuentros sobre la política en general, mientras los críticos,
internos y externos, señalaban que el nuevo gobierno no
había abandonado el alineamiento automático ni las relaciones carnales,16 ni tampoco había aplicado el cambio
de estrategia: fortalecer al Mercosur para negociar, desde
una mayor calidad y capacidad, con Estados Unidos por
ALCA. El nuevo gobierno reiteró su posición frente a Cuba,
por segunda vez consecutiva, en 2001. La Argentina votaba
la moción de condena junto a Estados Unidos, la Unión
Europea y Uruguay, mientras que Brasil nuevamente se
abstenía17 (Bernal-Meza, 2001).
Respecto a la comunidad internacional, el nuevo
gobierno argentino considera a las Naciones Unidas como
el ámbito más adecuado para las negociaciones internacionales y la obtención de consensos multilaterales. Ha declarado su aspiración a que se logre una mayor democratización del organismo, especialmente de su Consejo de
Seguridad. El aumento del número de miembros permanentes, según la posición argentina, debe realizarse teniendo
en cuenta la representación regional, sin alterar la igualdad
y las posibilidades de participación de los países de
cualquier región.
eventuales alianzas con otros, cuando las agendas de estos
últimos no fueran coincidentes con la norteamericana. Esto
sucedió en el relacionamiento con Brasil, donde, a pesar de
la coincidencias en términos de las percepciones dominantes sobre el “orden mundial” y la “globalización”, las agendas brasileñas y norteamericanas diferían en cuestiones
esenciales, como la política de seguridad, el comercio, las
interpretaciones sobre la ubicación geográfico-política de
los problemas del medioambiente, etc.
Por último, hasta 1997 (Reunión de Belo Horizonte),
Argentina sigue una política de double standing, respecto
de las relaciones económicas hemisféricas: entre optar por
ALCA o profundizar el Mercosur. En relación a Brasil, éste
no fue la prioridad de la política exterior.
DE LA RÚA, LA ALIANZA UCR-FREPASO Y
LA POLÍTICA EXTERIOR DEL 2000: CAMBIOS Y
CONTINUIDADES
Las Definiciones de la Política Externa
Si bien durante la campaña electoral no hubo abiertas o
manifiestas declaraciones que hicieran presumir drásticos
cambios en la política exterior, respecto de aquella seguida por Menem, la ciudadanía votó en forma mayoritaria,
evidentemente, por “cambios en general”.
Desde los primeros días de su gestión (diciembre de 1999),
el nuevo gobierno buscó diferenciarse del anterior. No
obstante, como esos esfuerzos no se advirtieron en el plano de la política económica – ya que en el primer año y medio
de gobierno De la Rúa aplicaría tres grandes ajustes, que
afectaron exclusiva y directamente a los trabajadores,
asalariados y clases medias- se hicieron abiertas declaraciones respecto de una gestión diferenciada del ministerio
de Relaciones Exteriores, a cargo de un economista conservador, como era Adalberto Rodríguez Giavarini.
En el discurso del 21 de diciembre de 1999, en ocasión
de poner en funciones a sus colaboradores inmediatos, el
canciller expresaba que el nuevo camino elegido por los
ciudadanos (al haber optado por la Alianza), favorecía la
ampliación democracia. Hacer del ministerio de Relaciones
Exteriores un instrumento que colaborara en la generación
de una nueva e imprescindible “previsibilidad y confiabilidad” vis-à-vis el mundo desarrollado, implicaba coherencia en las iniciativas y decisiones y la elaboración de
políticas de Estado sobre aquellos considerados como
“intereses primordiales” del país: la integración política y
económica sudamericana como un objetivo central; el
80
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA: DE MENEM A DE LA RÚA...
prevista para comenzar a regir en el 2003. Sobre el primer
tema, el Secretario de Comercio de la administración
Clinton, William Daley, en su primera misión ante el
nuevo gobierno argentino, amenazó al país con
denunciarlo ante la OMC, en el caso que la Argentina
cambiara la ley de patentes en vigencia, introduciéndole
una cláusula que obligue a los laboratorios a producir
en el país al menos una parte de los fármacos que se
comercializan en el país. El juicio se inició, finalmente, a
mediados de agosto del año 2000. En relación a la política de cielos abiertos, Estados Unidos presiona por una
apertura total e irrestricta, cuyo carácter recíproco no
asegura a las compañías argentinas sobrevivir frente a
la eventual competencia norteamericana.
La preocupación del gobierno norteamericano sobre
la “triple frontera” se relaciona con el supuesto de que
los gobiernos con soberanía en la zona –y en particular
el de Argentina, teniendo en cuenta los atentados
producidos sobre representaciones israelitas, que
provocaron más de cien muertos– no ejercen los debidos controles y seguimientos antiterroristas ni de
seguimiento sobre las eventuales ramificaciones de células terroristas islámicas que operarían en la zona. Por
último, en relación al conflicto entre las dos agencias
de inteligencia, el mismo se ha transformado en el más
espinoso problema político entre ambos gobiernos. El
jefe de la estación porteña de la CIA, Ross Newland,
denunció que la SIDE espiaba la actividad de los agentes norteamericanos en Argentina y que no prestaba
atención a los pedidos de cooperación, en particular en
el control de la embajada rusa en Buenos Aires. Según
la prensa, el Secretario de Estado, Colin Powell, planteó
el problema al canciller Rodríguez Giavarini, durante la
entrevista que ambos sostuvieron en Washington, durante la segunda semana de mayo pasado. La situación,
identificada como “el punto más ríspido de la relación
con el gobierno de Bush”, llevó a la suspensión de la
relación entre las dos agencias de inteligencia y la CIA
habría levantado su estación “formal” en Buenos
Aires. 21
No obstante estas diferencias, el apoyo del nuevo
gobierno norteamericano de George Bush Jr. fue fundamental para que Argentina consiguiera, a comienzos del
año 2001, el “blindaje” por 40.000 millones de dólares,
acordado por el FMI y la participación de otros
gobiernos, en particular de España. Pero no estuvo
dispuesto a aportar nuevos recursos, transfiriendo la
responsabilidad al FMI. Esta fue también la posición
En relación al tema “Malvinas”, el gobierno de De la
Rúa decidió modificar la línea de conducta seguida por
el gobierno anterior. En ese sentido, impulsó la
reanudación de las negociaciones sobre la disputa por
la soberanía de las islas, de acuerdo a las resoluciones
de las Naciones Unidas y abandonó la política de
“seducción a los kelpers”, iniciada por la gestión de Di
Tella y que implicó considerar a éstos como parte de
las gestiones diplomáticas por las negociaciones sobre
la soberanía de las islas. 18 El cambio más significativo
se relaciona con la reintroducción del tema en los debates de la Asamblea General de la ONU, donde éste no se
trataba desde 1989. La modificación obedece, en primer
lugar, al convencimiento que la política de “seducción”
y cooperación seguida por Di Tella no dio ningún resultado y, en segundo lugar, porque la ONU le brinda a la
Argentina el único foro que puede servirle como instrumento de presión frente a Gran Bretaña.
Las Relaciones con Estados Unidos y Alca
De la Rúa y su canciller impulsaron una línea de política
que mantuviera el nivel de buen relacionamiento que las
relaciones bilaterales argentino-norteamericanas tuvieron
bajo la gestión del presidente Menem, pero reduciendo el
perfil de exposición (“relaciones carnales”), interpretadas
–interna y externamente– como de seguidismo o alineamiento. El canciller argentino definió lo que serían las
nuevas relaciones bilaterales como “intensas” .
La agenda política se ha caracterizado por una mayor
importancia asignada a los temas de baja política: economía,
comercio y finanzas. En cuestiones de seguridad internacional, la Argentina aceptó la petición norteamericana de
mantener su misión de gendarmes en Haití.
El principal problema bilateral radica en el rechazo
norteamericano a la Ley de Patentes Medicinales, promulgada por la Argentina. Otro problema, planteado por
EE.UU. y que podría afectar el status que tienen los argentinos de ingresar sin visa a ese país es el tema de las dogras
y la situación de la llamada “triple frontera”.19 Una tercera
diferencia se relaciona en un conflicto entre la CIA y la SIDE
(Secretaría de Inteligencia del Estado) argentina.
Durante los primeros meses de la gestión de De la Rúa,
dos misiones económicas norteamericanas visitaron
Buenos Aires, para presionar sobre el tema de las patentes, la lucha contra la corrupción, la adjudicación de
los nuevos sistemas de radares para aeropuertos 20 y la
política de cielos abiertos para el cabotaje, inicialmente
81
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
El impacto de la Predisposición Argentina
a Negociar ALCA
adoptada frente al rebrote de la crisis financiera, entre
fines de junio y el mes de julio de 2001. A pesar de ese
apoyo, el gobierno norteamericano, siguiendo la línea
conducta de Clinton durante sus últimos años, señaló
que no brindaría apoyo financiero directo a Buenos
Aires.
En relación a los temas hemisféricos, a diferencia de
la política con contenidos más intervencionistas de
Menem, De la Rúa no apoyó el “Plan Colombia”, diseñado e implementado por la administración Clinton. En la
“Cumbre de Brasília” (31 de agosto de 2000), el presidente argentino expresó su apoyo al gobierno constitucional de Colombia y reivindicó las políticas de no
intervención, acercándose en este sentido a la posición
sostenida por Brasil.
Por el otro tema hemisférico de relativa importancia para
Estados Unidos, ALCA, el gobierno norteamericano, buscando el debilitamiento de la posición más dura de Brasil
frente a las negociaciones futuras y creando una situación
de fractura en el Mercosur, ofreció a la Argentina negociar
un acuerdo bilateral de comercio, similar al que la potencia
está negociando con Chile, pero el mismo fue rechazado
por el gobierno argentino.
La opinión del negociador argentino, Horacio Chighizola,
expresada meses atrás, sostenía cuatro premisas básicas sobre las cuales se diseñó la negociación frente a ALCA:
- la decisión de negociar como parte de un bloque subregional,
presentando una posición única y coordinada en todas las
áreas sustantivas;
El gobierno del presidente Menem nunca desechó por
completo las posibilidades de conseguir un acuerdo bilateral con Estados Unidos o adelantar las negociaciones por
ALCA. Estas dudas derivaban de dos situaciones: en
primer lugar, las posiciones en el seno del gobierno, entre
quienes perferían un acercamiento a Estados Unidos y
ALCA, por sobre las relaciones con Brasil (“comunidad
epistémica”, Cavallo, Di Tella) y aquellos que querían
mantener la prioridad del eje sudamericano (niveles
intermedios de Economía y de la Cancillería, así como
también, en parte, el propio Menem). En segundo lugar,
porque algunos sectores, tanto de gobierno como de la
sociedad (grupos económico-financieros), consideraban
que el arancel externo común era un impedimento para la
toma de decisiones que mejoraran la competitividad de la
economía argentina.
Desde 1994, un documento interno (non paper) de la
Cancillería argentina señalaba algunas contradicciones de
la unión aduanera del Mercosur con los objetivos de corto plazo de la Argentina. Allí se decía que lo que el país
necesitaba era contar con mayores grados de libertad en
la política económica, para equilibrar su balanza comercial,
sin afectar su nivel de actividad, algo que la resignación
de instrumentos de política comercial que imponía la unión
aduanera hacía incompatible (Bernal-Meza, 1994:274).
Con el nuevo gobierno, dentro de los poderes especiales que solicitó Cavallo para enfrentar la crisis estaba
una mayor injerencia de Economía en la gestión de la polítia
exterior. No está claro aún cuánto de este espacio le fue
asignado por De la Rúa, pero lo cierto es que el autor de la
“Convertibilidad”, desde su retorno a la actividad oficial,
se ha caracterizado por sus permanentes declaraciones
públicas, sobre Mercosur, ALCA y las relaciones con Brasil.22 Muchas de ellas han evidenciado abiertas contradicciones con los dichos del canciller Giavarini y del propio
De la Rúa.
El giro a la derecha que ha realizado el gobierno de De
la Rúa, constituyendo una nueva alianza de apoyo con
Cavallo, potencia las posiciones de los sectores más
liberales que siempre vieron mejor la alternativa ALCA que
la profundización del Mercosur. Machinea, antes de dejar
su cargo en el ministerio de Economía (febrero de 2001), ya
hablaba de anticipar las negociaciones de ALCA.
Sin embargo, el canciller argentino rechazó el ofrecimiento
que, de manera informal, le efectuó el gobierno norte-
- la intención de contar con una agenda lo suficientemente
amplia como para permitir un avance equilibrado, que refleje
los intereses de todos los participantes del proceso, de manera
de reducir las asimetrías iniciales existentes. La agenda amplia debería reflejar un equilibrio entre los llamados “nuevos
temas de la agenda multilateral” (servicios, inversión,
propiedad intelectual), propuesta principalmente por Estados
Unidos y Canadá, y los viejos temas de dicha agenda multilateral (acceso a mercados, agricultura, subsídios);
- el convencimiento de que el ALCA redundaría en beneficios para la región, en la medida en que contemplara los
intereses particulares de los participantes;
- el reconocimiento de la necesidad de lograr un acuerdo con
derechos y obligaciones comunes para todos los participantes del proceso. La decisión es no permitir el establecimiento
de otros ALCA diferenciales, es decir, con previsión de
derechos y obligaciones diferentes, dependiendo del nivel de
desarrollo del país (Chighizola, 2000:16-18).
82
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA: DE MENEM A DE LA RÚA...
económicas hemisféricas: entre optar por ALCA o profundizar el Mercosur. El hecho que el Brasil no constituyera
una prioridad para la política exterior de Menem y la
búsqueda constante de un mayor acercamiento a Washington fueron motivos definitorios para que las relaciones bilaterales no pasaran del umbral de interdependencias
restringidas al ámbito comercial del Mercosur y de la
búsqueda de los entendimientos señalados en materia de
seguridad.
En los hechos más visibles, desde la devaluación del
real las relaciones bilaterales venían deteriorándose. Desde su arribo, el gobierno de De la Rúa intentó fortalecer la
relación. Así, hasta el desencadenamiento de la “nueva
etapa de crisis”, con las medidas implementadas por Argentina entre marzo y julio pasados (2001), ambos países
habían realizado pequeños progresos en su relacionamiento
mutuo, en relación al Mercosur.
El 28 de abril de 2000, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron un documento reservado, con el fin de disminuir el impacto institucional de
nuevas crisis en el Mercosur. Para ello, se avanzó en la
previsibilidad, estableciendo como fecha el mes de
marzo de 2001 para comenzar la aproximación de las
políticas económicas. El primer paso fue hacia la
estandarización u homogeneización de las estadísticas
económicas recopiladas por los órganos específicos de
cada país. Posteriormente, en la Cumbre de Florianópolis,
a mediados de diciembre de 2000, Argentina y Brasil
avanzaron en varios aspectos. En primer lugar, se revisó
la forma cómo se resolverían las controversias que
surjan en el futuro, ratificándose la situación de “estudio” para la creación de un Tribunal Arbitral Permanente para resolver los conflictos comerciales del
bloque, algo que permitiría al Mercosur adquirir una
mayor seguridad jurídica. En segundo lugar, avanzando
hacia una mayor liberalización unilateral del comercio,
los países del Mercosur acordaron reducir en medio
punto el AEC, a partir de enero de este año. Por último
y en lo que respecta a la situación futura de la armonización y coordinación específica, se acordó ésta a partir
del 2002, sobre la base de las variables macroeconómicas,
con metas fiscales y de inflación comunes.
Finalmente, en Asunción (14 de junio de 2001), argentinos y brasileños presentaron un proyecto común de
decisión para crear un grupo de alto nivel que revea toda
la estructura del AEC. Posteriormente, en Brasília, Cavallo
y Malán convinieron en apostar a la zona de libre comercio, flexibilizando (diluyendo) el arancel externo común,
americano, para negociar un acuerdo bilateral de libre comercio como el que EE.UU. está negociando con Chile. El
canciller Rodríguez Giavarini señaló que las negociaciones
para ingresar al ALCA se realizarán a través del Mercosur,
reiterando que “nosotros cumplimos con los tratados
internacionales, nuestros compromisos con el Mercosur y
negociaremos a través de él”.23
Sin embargo, la presencia de dos opiniones distintas en
el gobierno argentino crean un manto de dudas sobre el
Mercosur y debilitan aún más su imagen externa. Un diplomático brasileño señaló que “a chancelaria argentina
revela que o país quer manter a união aduaneira. Mas, com
essa divisão interna na Argentina, não se pode esperar que
haja espaço para grandes inovações no bloco”.24
Cavallo representa la continuidad de vigencia del
pensamiento de sectores que fueron dominantes bajo el
menemismo (su “comunidad epistémica”: alianza con Estados Unidos, visión de la integración del Mercosur como un
camino de liberalización comercial hacia ALCA; percepciones
críticas sobre Brasil, tanto hacia su política externa –particularmente frente a Estados Unidos, que es vista como
conflictiva y distorsionadora de una necesaria comunidad
de intereses hemisféricos– como respecto de la capacidad de
sus dirigencias gubernamentales para generar escenarios
económicos de estabilidad) y también de sectores actuales
del radicalismo (gobierno) y de la cancillería.
Desde este sector, hoy identificado en la figura de
Cavallo, dos problemas separan a Argentina de Brasil: los
escenarios probables para Mercosur y la posición frente a
Estados Unidos y ALCA.
Respecto del primero, mientras este grupo impulsa un
retroceso del Mercosur hacia una zona de libre comercio,
Brasil (en principio) apoyaba la continuidad o statu quo
actual del bloque. En relación al segundo, en tanto este
sector argentino está a favor de la propuesta norteamericana
de acelerar la firma de tratados bilaterales de comercio, Brasil impulsa una negociación de bloque y lo más tarde posible,
es decir lo acordado (2005). Como señaló la prensa, “Cavallo
quiere flexibilizar el encuadramiento del Mercosur y
acercarse, con alianzas bilaterales, a Estados Unidos. En la
cancillería prefieren no irritar a los brasileños y no volver a
las relaciones carnales”.25
Las Relaciones Bilaterales con Brasil y su Incidencia
sobre el Mercosur
Hasta 1997 (Belo Horizonte), Argentina sigue una política de double standing, respecto de las relaciones
83
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
que se revisase la naturaleza “comercialista” del Mercosur
y se buscaran estrategias para “profundizar” los aspectos
económicos y sectoriales– podría conducir a un nuevo
esquema, más cerrado del modelo de integración. Sin embargo, a la par de este supuesto animus proteccionista,
están las propuestas –en principio aceptadas por Brasil –
para rediscutir el AEC y, aún más, eventualmente reducir
el Mercosur a una simple zona de libre comercio (BernalMeza, 2001a).
Las medidas de reducción de aranceles para bienes de
capital, piezas y partes se complementaron con un aumento de los aranceles de importación de bienes de consumo
final, llevándolos hasta un 35%, que es el máximo que permite la Organización Mundial de Comercio. Iincluirá
aquellos productos comercializados dentro del Mercosur
que hasta ahora estaban liberados de aranceles. Las medidas proteccionistas regirán hasta diciembre de 2002
La reducción arancelaria generó el primero de los
conflictos políticos con Brasil durante la gestión de De la
Rúa. Como sabemos, el presidente Fernando H. Cardoso
anuló su visita a Buenos Aires, programada para los días
16 y 17 de abril, como muestra de desagrado contra lo que
se considera una medida que afectaba directamente las
exportaciones brasileras a la Argentina, que rompía con los
acuerdos arancelarios negociados en el Mercosur.27
Posteriormente hubo un mejoramiento relativo en las relaciones bilaterales, ya que el gobierno argentino aumentó al
14% los aranceles de productos de comunicaciones y
computación extra Mercosur (5 de abril de 2001).
La “segunda etapa” de conflictos bilaterales se suscitó
a partir de la decisión arancelaria argentina (Resolución 258/
01 del Ministerio de Economía del 2 de julio pasado), de
reducir las tarifas de importación de 500 productos de fuera
del Mercosur, al permitir a los exportadores –del bloque y
extra Mercosur– que descuenten al pago del impuesto de
importación la diferencia de 8%, según el nuevo cambio
de comercio exterior,28 justificada por la devaluación constante del real y para mejorar la competitividad nacional, y
de los dichos poco diplomáticos del ministro Cavallo para
referirse al país vecino. Estas situaciones generaron una
nueva ola de conflictos, no sólo comerciales, entre los dos
principales socios del bloque.
Las medidas crean un perjuicio potencial para los exportadores brasileños de bienes de informática, telecomunicaciones, bienes de capital y vehículos y
constituyen un cambio unilateral respecto de los entendimientos alcanzados por los dos gobiernos, en
Asunción, recientemente, pero se basan en el hecho que
aunque sin hacer desaparecer la unión aduanera, lo que
aparece como difícil de compatibilizar.
Como se podrá apreciar, en realidad no hay discordancias respecto de ALCA y Mercosur entre las posiciones de ambos países, pues, en los hechos, la reducción
progresiva del arancel externo común26 (con el acuerdo del
Brasil) tiende a perforar hacia abajo el AEC, disminuyendo
la protección, acercándose así cada vez más a una ZLC.
Por otra parte, en tanto la posición oficial del gobierno
argentino es respetar las fechas convenidas en las
negociaciones Mercosur-Estados Unidos, el problema
central, que era la reticencia y hasta la oposición brasileña
a ir hacia un ALCA, quedó en la nada después que Cardoso aceptara oficialmente en Québec la propuesta norteamericana, en los plazos y condiciones convenidos desde
Belo Horizonte (1997).
Sin embargo, el nivel de estancamiento del Mercosur y
la falta de decisión política del Brasil para impulsar iniciativas de “relanzamiento”, asociado a la presencia de actores
políticos que manifiestamente declaran su perferencia por
un mayor acercamiento a Estados Unidos, agregan incertezas sobre el destino futuro del bloque y sobre los
compromisos argentinos con el Tratado de Asunción. Se
considera que el Mercosur, en el estado que se encuentra
no es satisfactorio No obstante, éste constituye “política
de Estado” y, de acuerdo a la Constitución Argentina, por
el hecho que los tratados internacionales incluídos en ella
(como es el caso del de Asunción) tienen jerarquía superior a las leyes, generando derechos exigibles ante los
Tribunales de Justicia nacionales, la decisión política
gubernamental tiene claros marcos determinantes acerca
de sus alcances.
La Nueva Política Arancelaria y Monetaria
El nuevo programa del ministro Cavallo, el “Plan de
Competitividad”, resultó ser, en los hechos, un programa
heterodoxo, que mantenía lineamientos de la política
monetarista, (continuidad de la Convertibilidad, aumento
de la recaudación, reducción del déficit fiscal), pero le
agregaba un componente proteccionista, al aumentar los
aranceles externos.
La suba de aranceles tiene varias lecturas, de las cuales
derivan incógnitas sobre el destino futuro del AEC y, en
definitiva, sobre la naturaleza del Mercado Común del Sur.
Ellas se desprenden del carácter “proteccionista” del aumento tarifario externo, en lo que concierne a bienes
manufacturados de consumo final, cuyo efecto –en el caso
84
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA: DE MENEM A DE LA RÚA...
en expandir el libre comercio hacia el resto de los países de
Sudamérica y en lograr la plena integración de todos sus
factores de producción, lo que era mucho más importante
que discutir por el Arancel Externo Común”.32
Vale la pena destacar que el Mercosur ha sido señalado
por el gobierno argentino como un objetivo estratégico,
parte de la “política de Estado argentina” e instrumento
clave para la inserción y negociación externa. Como expresó
el presidente De la Rúa, “el Mercosur es nuestra gran fuerza
y debemos ir al ALCA desde esa base”; agregando que
“Brasil sólo pidió que el ALCA no se concretara antes de
2005 y se respetó ese pedido”. 33
Raúl Alfonsín y Carlos Alvarez, los máximos referentes
políticos de la Alianza UCR-FREPASO, plantean que, como
objetivo de política hemisférica, el gobierno argentino debe
fortalecer el Mercosur y, sobre todo, la relación con Brasil. En encuentros realizados desde fines de mayo, han
venido propiciando un debate –junto a otros espacios de
reflexión– sobre el presente y futuro de la Argentina frente al mundo, en el cual sitúan, como eje de la discusión- el
posicionamiento del país frente a ambos escenarios de
integración. Para ambos dirigentes políticos, se debe privilegiar, sin excepción, la restauración de la relación con el
gobierno de Fernando H. Cardoso, antes que cualquier
aspiración o sueño inspirado en los Estados Unidos;
abogando asimismo por un mayor apoyo a la posición
sostenida por el canciller, en su disputa con Cavallo. Según
los aliancistas, “el Mercosur es un serio proyecto estratégico de integración económica y política que no debe
deshacerse”. 34
Sin embargo, más que atender a las declaraciones, lo
que se debe tener en cuenta es que para el actual gobierno,
así como lo fue para el anterior, el tema sigue siendo la
vinculación entre los dos escenarios: Mercosur y ALCA.
La relación entre ambos proyectos pasa por el futuro que
ambos países, Argentina y Brasil, decidan sobre el bloque
subregional, frente al cual siguen presentes los tres
escenarios posibles: unión aduanera, zona de libre comercio o continuidad del statu quo (unión aduanera incompleta o en lenta construción). Pero la sociedad argentina
se manifiesta más escéptica sobre el futuro del bloque.
Según una encuesta realizada a fines de abril de 2001, el
Mercosur tiene 29% de imagen positiva en la opinión pública argentina, contra sólo 12% de ALCA. La imagen del
bloque subregional ha venido descendiendo según las
percepciones y expectativas fueron reduciéndose, a la luz
de las dificultades entre Argentina y Brasil. Ese desgaste
se advierte en el descenso de la imagen positiva que tenía
la moneda brasileña se devaluó más de un diez por ciento
en los últimos sesenta días 29 y supone una falta de
decisión política de las autoridades monetarias de ese
país para frenar el alza constante de la moneda norteamericana. Brasil ha reaccionado sugiriendo que
podría retaliar las importaciones argentinas y amenazó
con interrumpir las negociaciones que el bloque está
llevando a cabo con la Unión Europea.
Respecto de la incorporación del euro a la canasta de
monedas de la convertibilidad, además del aspecto puramente monetario, está el componente político externo. Si
bien el anuncio tenía varias lecturas,30 incorporar al euro
es, en cierta forma, acercar a la Argentina a la Unión
Europea, expresando de ese modo la voluntad del gobierno
de mantener una posición cercana tanto a la órbita de la
economía norteamericana (y de ALCA) como de la
Comunitaria; asimismo, puede mejorar las relaciones entre
Europa y la Argentina, tal como opinan algunos ejecutivos
de finanzas europeos, en el sentido que la introducción de
esa moneda y el acercamiento a Europa puede permitir al
gobierno una gestión económica menos cíclica y vulnerable ante las coyunturas, a la par de que es un aliciente
para mayores inversiones.31
No obstante estas argumentaciones, teniendo en perspectiva que la moneda europea, más tarde o más temprano
terminará compitiendo con el dólar, es posible también
imaginar que Cavallo haya considerado como una cuestión
de realpolitik la incorporación a la zona del euro, buscando un lugar en la disputa de poder económico entre Europa y Estados Unidos.
El Cambio de Visión Argentino sobre el Brasil
Para el nuevo grupo que maneja la política económica
argentina, Brasil es visto como un socio que sufre grandes inestabilidades cambiarias y económicas. Se sostiene
entonces que la inserción argentina, sin descartar el
Mercosur, debe dirigirse hacia otros bloques comerciales,
en particular el NAFTA. La idea es que este acercamiento
aseguraría la estabilidad macroeconómica argentina.
Visión de Cavallo sobre el Mercosur y las Percepciones
de Otros Actores
En un libro que coincidió con su llegada al Ministerio
de Economía, Cavallo sostiene que “el arancel externo
común no le conviene a nadie”. Más tarde, en público
señaló que “el Mercosur debería concentrar sus esfuerzos
85
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
asociados a la situación económica y financiera argentina
–que afecta a la economía española, en virtud de las
cuantiosas inversiones de empresas españolas en Argentina– fue puesta de manifiesto durante la primera visita oficial del presidente Bush Jr. a España. En esa oportunidad,
Aznar planteó el tema de Argentina durante la reunión con
Bush en la finca estatal de Quintos de la Mora, en Toledo.
Analizando la situación latinoamericana hizo referencia a
la necesidad de apoyar los “esfuerzos de recuperación” que
realiza actualmente el gobierno argentino.
Sin embargo, las relaciones –a nivel de sociedades y del
mundo de los negocios– se han deteriorado sensiblemente,
como consecuencia de la crisis de la empresa Aerolíneas
Argentinas (que luego de su privatización pasó a manos
españolas), llevada a situación de quiebra por sus
propietarios, la SEPI española. La intransigencia del
gobierno español, de considerar el hecho como una
cuestión puramente “empresaria” motivó, por primera vez
en la historia contemporánea, masivas manifestaciones
antiespañolas en Argentina, al punto de llamar la atención
del gobierno madrileño, quien apeló a los lazos históricos
que unen a ambas sociedades, advirtiendo sobre los
riesgos que esa situación generaba para los negocios e
inversiones. Las autoridades españolas de Aerolíneas
Argentinas, aduciendo problemas financieros que le
impedían pagar la provisión de combustible fuera de Argentina, suspendió los vuelos, primero, aquellos con destino a Europa, Estados Unidos, Brasil y Australia y luego
los de cabotaje. Frente a esta situación, el gobierno argentino, intimó a la empresa a mantener los vuelos y amenazó
con quitarle la concesión de las rutas. La situación parecía
mantenerse en un impasse, al menos hasta mediados de
agosto, fecha para la cual el directorio de la empresa
pospuso una decisión sobre su destino, mientras, por otra
parte, continuaba buscando eventuales compradores para
su traspaso.
Las inversiones españolas en Argentina, de 32 mil
millones de dólares al comenzar el año 2000, representaban
más del 25% del total de inversiones entranjeras, lo que
transforma a ese país en el segundo inversor externo. No
obstante, según estimaciones actuales, las inversiones
españolas alcanzarían una cifra cercana a los 40 mil millones,
ubicándose así en el primer lugar del ránking de inversiones
extranjeras.
Las relaciones con Francia e Italia mantienen su tradicional buen vínculo político, aunque en ambos casos no
hubo apoyo financiero específico para la Argentina en su
reciente crisis. Los temas principales de la agenda de la
el Mercosur en 1993, que era de 45% y que para 1997 se
había reducido al 38%.35
Las Relaciones con la Unión Europea
Las relaciones, principalmente económicas, se han
manejado preferentemente bloque a bloque (MercosurUnión Europea), en la medida de las coincidencias
sudamericanas de la agenda, con excepción de los temas
agrícolas específicos, como la suspensión de las importaciones de carne argentina debido a los brotes de aftosa.
Esa perspectiva se basa en el hecho que las relaciones
bilaterales, excelentes en el plano político, pasan prioritariamente por los temas del comercio, frente a lo cual la
Política Agrícola Común de la UE se transforma en el principal impedimento para alcanzar un equilibrio comercial,
pues el comercio argentino con esa región es históricamente deficitario.
Las relaciones comerciales de la Argentina con la
UE son significativas. En 1999, el 66% de las inversiones
en al país fue realizado por empresas europeas.
Después de la frustración de la Cumbre de Río, donde no hubo progresos en torno al tema agrícola, la Unión
Europea ofreció, durante el mes de junio de 2001, incluir
algunos de los temas candentes, en la siguiente ronda de
negociaciones bilaterales Mercosur-UE, en Montevideo.
Según Roberto Lavagna, representante argentino ante la
UE, los tres puntos que pretende debatir el bloque del Cono
Sur son: el acceso a los mercados, que abarca la eliminación
de tarifas, barreras no-arancelarias y medidas sanitarias y
fitosanitarias que a menudo frenan el ingreso de agroalimentos
en la UE; la supresión de los subsidios a las exportaciones
europeas hacia el Mercosur; finalmente, la restricción de las
subvenciones a los productos comunitarios que compiten con
los del bloque sudamericano en terceros mercados, por caso,
en el resto de América del Sur.36
De acuerdo a declaraciones del embajador argentino, la
Unión Europea derivará a la OMC el debate sobre las reglas
sanitarias y fitosanitarias, dejando para la cumbre de Qatar
la discusión sobre las ayudas a las exportaciones en el nivel
general y a los productos que se venden dentro del mercado común, desestimando que haya flexibilizado su postura respecto de la política agrícola.37
Respecto de las relaciones bilaterales país-a-país, éstas
se inscriben casi exclusivamente en el ámbito econonómico,
aunque con España las mismas fueron definidas por el
presidente del Gobierno español como de una alianza estratégica. Esta identificación de las relaciones bilaterales,
86
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA: DE MENEM A DE LA RÚA...
las coincidencias de Florianópolis y posteriormente en los
acuerdos sobre coordinación macroeconómica; pero se
deterioraron a partir de las primeras medidas heterodoxas
de Cavallo.
No obstante, el gobierno argentino hizo un gesto de
significativa relevancia política, al adelantar al gobierno de
Cardoso las medidas que pensaba implementar respecto de
la política cambiaria. A partir de allí, el gobierno brasileño
otorgó pleno apoyo a las mismas y se cerraron coincidencias
en torno al futuro del Mercosur, respecto de su AEC y de
la decisión de nombrar un solo negociador “coordinador”,
junto a los cuatro respectivos representantes, para las
discusiones con Estados Unidos sobre ALCA.
A pesar de estas coincidencias, el desafío conjunto sigue
siendo la preservación del Mercosur como un subsistema
regional, cuyo liderazgo responda exclusivamente a las
prioridades y objetivos del desarrollo económico y de la
inserción de ambos países en el sistema mundial.
Argentina logró su objetivo de transformar el proyecto
“Mercosur” en un escenario de expansión comercial. Tuvo
un creciemiento del comercio y un aumento de las exportaciones al Brasil. Su balanza comercial bilateral fue
superavitaria durante gran parte del período. Pero la
desviación de comercio generada por el Mercosur, a pesar
del componente de mayor valor agregado (manufacturas
de origen industrial), que alcanzaron cerca del 40% de las
exportaciones totales al Brasil, en términos globales
acentuó el carácter primario de sus exportaciones, generando un subsistema centro-periferia de intercambios
bilaterales, con el cual la Argentina profundizaría su
inserción internacional basada en ventajas comparativas
estáticas. Por su parte, dentro del patrón de comercio norte-sur que ha caracterizado históricamente el comercio bilateral argentino-norteamericano, éste fue deficitario para
vista del canciller francés Hubert Vedrine a Buenos Aires,
se concentraron en torno a los problemas judiciales que
enfrentan algunas empresas francesas, como Renault,
Aguas del Aconquija y Partouche. En el caso de la primera,
la Aduana argentina le aplicó una multa de 519 millones de
dólares por supuesto contrabando. En tanto, en los temas
políticos, Francia no ha manifestado una voluntad de
apoyar la causa argentina de Malvinas, en contra de Gran
Bretaña.
LA OSCILACIÓN ENTRE WASHINGTON Y
BRASÍLIA: LA CONTINUIDAD DE LA INCERTEZA
Más allá de una predisposición hacia una continuidad
de relaciones más estrechas con Washington, el gobierno
de Dela Rúa ha sido fuertemente condicionado por la
gravedad de la situación económica y financiera heredada
y que fuera agravada por las débiles y erráticas políticas
implementadas en los primeros 15 meses de gobierno. En
ese contexto, el gobierno argentino dependió del apoyo
norteamericano para la obtención del “blindaje”38 por u$s
40.000 millones y luego para enfrentar nuevos acuerdos con
el FMI y la renegociación de sus deudas de corto plazo
con la banca internacional privada. La posición crítica de
Argentina, respecto de Cuba, incluyendo su voto junto a
EE.UU. (aún cuando la Argentina manifestara su oposición
al embargo norteamericano), así como una predisposición
inicial a adelantar las negociaciones por ALCA –luego
desechadas por el gobierno de De la Rúa– deben ser leídas
en ese contexto.
Además de esa situación coyuntural, la llegada al
gobierno del ministro Cavallo evidentemente fortaleció las
posiciones pro-ALCA y a favor de un acuerdo bilateral con
Estados Unidos, en la medida que éste y los sectores políticos de su entorno siempre manifestaron su opción
preferente por una integración con Washington. Sin embargo, la posición oficial del gobierno argentino, expresada
por su canciller y por el propio De la Rúa, siempre fue
respetar el compromiso del país con el Mercosur, incluyendo negociar “como bloque” por ALCA.
Ambas alternativas, Mercosur y ALCA, aparecen
como distintas y, a la vez, complementarias; pero esto es
así también para Brasil. Las relaciones políticas bilaterales,
que tuvieron como núcleo de divergencias las respectivas
relaciones con Estados Unidos y las políticas de seguridad,
durante la gestión del presidente Menem (Bernal-Meza,
1999), se recompusieron, bajo promisorias perspectivas,
luego de la asunción de De la Rúa, hecho que se reflejó en
CUADRO 1
Balanza Comercial Argentina-Brasil
1995-2001
En millones u$s
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Enero-Abril/2001
Importaciones
Exportaciones
Saldo
4.041
5.170
6.770
6.748
5.364
6.233
1.870
5.591
6.805
8.032
8.034
5.812
6.843
2.179
1.550
1.635
1.262
1.286
448
610
309
Fuente: INDEC, Ministerio de Economía, Rep. Argentina
87
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
Argentina. Comparativamente, mientras que el comercio
con Brasil, entre 1995 y 2000 arrojó un saldo positivo de
u$s 5.335 millones, el comercio con EE.UU. resultó negativo, en igual período, por u$s 17.029 millones.
Según cifras de INDEC, para el año 2000 las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial
hacia el Brasil totalizaron u$s 3.300 millones (40,2% del
total), mientras que hacia los Estados Unidos este sector
sólo representó u$s 1.080 millones (13,1% del total).
En este contexto, ¿cómo explicar las posiciones contrarias a una integración cuyo comercio bilateral ha sido positivo?
Uno de los argumentos, de orden económico-estructural,
se ha fundado sobre el carácter centro-periferia del comercio. Pero otro, político, se ha sostenido, permanentemente, sobre una visión negativa respecto del Brasil, en
relación a los pocos avances de coordinación alcanzados
entre ambos países y a las posiciones divergentes en política exterior, en particular las que se expresan en las respectivas relaciones con Estados Unidos y sus agendas.
En relación a las opciones, entre Alca y Mercosur, en el
espectro político argentino existen dos claras posiciones:
aquella representada por los sectores “cavallistas”
(incluyendo al menemismo) y la que representan los máximos referentes de la coalición de gobierno, Raúl Alfonsín
y Carlos Alvarez. Estos últimos plantean como meta fortalecer el Mercosur y, sobre todo, la relación con Brasil.
En la sociedad argentina se advierten posiciones encontradas respecto de lo que deberían ser las alianzas externas de Argentina. Una encuesta, sobre la relación del país
con los Estados Unidos, reveló que ésta es considerada
una cuestión muy importante por el 69% de los consultados, aunque quienes opinan en favor de esa cuestión son
los encuestados con mayor poder adquisitivo. Para el 69%
de los consultados por Gallup, la relación con el país del
Norte es muy importante, mientras que un 24% opina que
es poco o nada relevante y sólo un 7% no tiene opinión
formada sobre el tema.39
La percepción de la diplomacia y la prensa brasileñas
es que el gobierno argentino habla por boca de Cavallo,
persona que nunca tuvo buena imagen en Brasil, dada su
reconocida filiación pro norteamericana (ALCA) y su visión
crítica sobre el Mercosur. Sin embargo, ésta es una
percepción equivocada: es el presidente De la Rúa quien
decide la política. Pero, ¿por qué éste ha permitido que
Cavallo maneje su política bilateral con el gobierno
brasileño? La respuesta tiene que ver con las limitaciones
propias que la situación económico-financiera argentina
impone y la dependencia que el gobierno tiene de la figura
de Cavallo como su ultima ratio, dentro de la continuidad
del modelo de ajuste estructural.
Pero muchos empresarios, diplomáticos, economistas
y académicos continúan considerando que la mejor opción
argentina sigue siendo el Mercosur; que éste es una “política de Estado” y que las relaciones con Brasil son muy
importantes para la Argentina y que seguirán siéndolo por
mucho tiempo.40
La nueva situación de conflicto, creada a partir de las
medidas del gobierno argentino para enfrentar la crisis del
2001, pone de relevancia tres aspectos: en primer lugar, no
es posible identificar cuánto del poder que pidió Cavallo
de injerencia de Economía en la política exterior, como parte de las negociaciones para su ingreso al equipo gobernante de De la Rúa, le fue concedido por éste. No obstante,
de la permanente incursión de Cavallo en las relaciones
bilaterales argentino-brasileñas, se deduce que el perfil de
la gestión externa de Giavarini ha sido, en los hechos,
manifiestamente reducido. Las medidas arancelarias del
ministerio de Economía argentino marcan también la
libertad que tiene Cavallo para incursionar en las relaciones internacionales del país.
En segundo lugar, las últimas medidas arancelarias de
Cavallo –que objetivamente no mejorarán la situación de
la economía argentina en el corto plazo (ya que la recuperación del crecimiento y del empleo requieren de tiempo
y políticas de reasignación recursos, así como del mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores)– ponen
en cuestionamiento las relaciones económicas bilaterales.
Resulta incomprensible que De la Rúa haya aceptado una
estrategia de deterioro político con Brasil cuando este país
provee a la Argentina de un mercado de intercambio
superavitario y que es el eje del único bloque comercial
del mundo con el cual se tiene un superávit comercial permanente.
Por último, las medidas arancelarias argentinas ponen
de relevancia las fragilidades del Mercosur. En primer lugar, porque su evolución sigue condicionada por los resultados de los programas económicos nacionales de ajuste, estabilización y reformas. En segundo lugar, el camino
sin salida frente a las medidas unilaterales, por ausencia
de una estructura institucional (supranacional) que proteja a todas las economías de las decisiones autónomas e
individualistas. En este sentido, Brasil está tomando de su
propia medicina, pues sistemáticamente se opuso a la
creación de órganos comunitarios supranacionales y ahora,
frente a la situación de una medida unilateral, sólo le que-
88
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA: DE MENEM A DE LA RÚA...
desarrollo e inserción internacional influyó en la política
exterior, marcando ésta con una línea de continuidades,
cambios y rupturas significativas, reflejándose en etapas
de alineamiento –con Gran Bretaña primero–, de autonomización y de nuevos alineamientos (con Estados Unidos,
durante parte de las décadas de los 50, 60 y 70), para llegar
al período de nuevo alineamiento e inserción subordinada
de los noventa. Sin embargo, bajo esas “incoherencias
superficiales”, existió una coherencia estructural que
permitió explicarla (Puig, 1984;1988), primero, a través de
la imagen del país que percibían sus élites, luego, por las
relaciones entre modelo económico e inserción externa.
El abandono definitivo de las estrategias de sustitución
de importaciones y la adopción de una inserción en los
mercados internacionales de capital, por sobre la opción
de una inserción productiva de carácter industrial, requería
de una política exterior de alineamiento con las potencias
del capitalismo central y, principalmente con Estados Unidos. Sin embargo, el resultado –en términos económicos y
de desarrollo– fue un fracaso, que se manifiesta en el
carácter estructural de la actual crisis (Bernal-Meza, 2001)
De la Rúa ha tenido un fuerte condicionamiento político derivado de la situación económica y financiera heredada, agravada por las débiles políticas implementadas en
estos primeros 15 meses de gobierno, y dependió del apoyo
norteamericano para la obtención del “blindaje” financiero
y luego para enfrentar nuevos acuerdos con el FMI y la
renegociación de sus deudas de corto plazo con la banca
internacional privada. La posición crítica respecto de Cuba,
incluyendo su voto junto a EE.UU. (a pesar de la oposición
al embargo) y la predisposición a adelantar las negociaciones por ALCA deben ser leídas en ese contexto.
El Mercosur y las relaciones Estados Unidos/ALCA
siguen siendo el tema más relevante y de complejo
pronóstico de la política exterior. La posición oficial del
gobierno argentino continúa siendo la de mantener la
vigencia del Mercosur y que negociará ALCA en acuerdo
con los restantes socios del bloque subregional. Pero esta
decisión ha sido también relativizada, según lo cual, la
voluntad norteamericana por profundizar su compromiso
de constituir el mercado hemisférico, acelerando los plazos
y el estado de las relaciones con Brasil podrían influir en
un cambio de posición.
Algunos temas de la agenda y objetivos de la política
exterior, que fueron altamente relevantes bajo la gestión
del presidente Menem, como los relacionados con la
seguridad y la defensa, han sido reducidos drásticamente
en su perfil. A pesar de que ello implica una preferencia
da el camino de la suspensión de negociaciones comerciales. Así, el modelo de institucionalidad elegido por los
cuatro países y que Brasil ha insistido en mantener, deja a
los países miembros ante un camino sin salida frente a los
conflictos –que naturalemente deberán continuar, tal como
otras experiencias históricas lo demuestran– 41 por la
ausencia de una instancia negociadora y reguladora de
carácter superior.
Esta evaluación debe ser contextualizada en una
percepción de deterioro de las relaciones bilaterales. Más
allá de las declaraciones “formales” de solidaridad,
gobierno a gobierno, en relación a las respectivas conflictivas situaciones internas, la política seguida por Argentina y Brasil hacia su vecino, durante el presente año,
es lo más semejante al puro realismo, con actitudes mutuas
de “sálvese cada uno, por sus medios y como pueda”.
Argentina y Brasil, por tanto también el Merosur, no
lograron –a pesar del recambio presidencial argentino–
establecer una agenda bilateral, regional y multilateral
común; en este último caso, con la excepción de las
negociaciones por Alca y con la Unión Europea.
CONCLUSIONES
Tal como señalamos en un documento que hacía
prospectiva, no podían esperarse grandes cambios en la
política exterior. Las diferencias estarían más en las
actitudes y las formas que en los contenidos (BernalMeza,1999a). La Argentina no abandonaría su aspiración
a transformarse en el principal interlocutor de Estados
Unidos en América del Sur, ahora a través de una política
de “bajo perfil”, cuyo principal eje pasa por la adhesión a
los proyectos económicos norteamericanos (ALCA).
El gran cambio en política exterior debería haber venido
como consecuencia de un cambio en el modelo económico
vigente desde 1976 (con un breve interludio bajo Alfonsín);
pero De la Rúa prefirió la continuidad.
Las pequeñas diferencias en política exterior, de Menem
a De la Rúa, están en un retorno del interés por Europa, en
particular España –hoy el principal inversor externo en la
Argentina– y en las apelaciones por el fortalecimiento de
los consensos multilaterales, aspirando a una mayor
democratización de Naciones Unidas. En definitiva, más allá
de las diferencias de estilo, la política exterior de De la Rúa
no ha hecho mucho por diferenciarse de la anterior.
La Argentina vive hoy una de las etapas terminales de
la crisis del modelo de inserción neoliberal (Bernal-Meza,
2001; 2001b). El fracaso de los sucesivos modelos de
89
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
ha sido altamente relevante, tal como se desprende de los
análisis que aquí efectuamos.
por una agenda de “baja política”, la política exterior argentina actual no se ha caracterizado por una gestión internacional activa en lo que constituyen los asuntos más
relevantes de los nuevos temas internacionales, como el
impacto de las nuevas tecnologías, la degradación del medio ambiente, los delitos electrónicos y las patentes
medicinales.
La sítensis de la agenda argentina, a partir de diciembre
de 1999, señala que ésta continuó con dos de los tres temas relevantes de la gestión Menem: 1) proyección externa de la “reformulación de la estrategia nacional de
desarrollo y reinserción en el Primer Mundo” (en la medida que hay continuidad del modelo económico neoliberal
y una preferencia por el relacionamiento con las grandes
potencias capitalistas occidentales, en particular con Estados Unidos) y 2) adopción de la “agenda de valores
hegemónicos universalmente aceptados”; mientras que el
tercero, crear para Argentina una zona de paz en el cono
sur, que se traducía en la adhesión a la nueva concepción
de seguridad de los Estados Unidos, no ha sido motivo de
preferencia alguna.
Por su parte, los Objetivos de la política exterior, todos ellos se mantienen respecto del pasado, excluyendo
los temas de seguridad, en relación a la agenda argentinonorteamericana y el ingreso a la OTAN, vista por el radicalismo como inviable y no conveniente para el mejoramiento
de las relaciones con Brasil. A pesar de ello, las relaciones
con el país vecino no lograron traspasar la barrera de los
problemas comerciales.
Por último, en relación al carácter de la política
exterior, se advierten algunos cambios y continuidades.
En primer lugar, si bien la “comunidad epistémica” que
sustentara el modelo del realismo periférico está fuera del
gobierno, su influencia sigue proyectándose en la política
externa, en la medida que no ha habido un cambio del eje
de las preferencias externas, hacia el Mercosur y las relaciones con Brasil, aún cuando no puede hablarse hoy de
un “alineamiento” de la Argentina con Estados Unidos, que
–supuestamente– fuera el núcleo de las divergencias durante el gobierno anterior. Esta continuidad de la influencia está dada tanto por los contenidos (agenda y objetivos) como por la incidencia que el ministro Cavallo – quien
formó parte del staff que implementó la política exterior
menemista– tiene en la conducción de las relaciones
internacionales del país. En segundo lugar, la política exterior actual se caracteriza por su bajo perfil y una ausencia
de “diplomacia presidencial”. La figura del Presidente ha
sido más bien pasiva, mientras que la del ministro Cavallo
NOTAS
1. En forma llamativamente similar a la que se formuló en Brasil
con el “pragmatismo ecuménico responsable”; Cfr. Bernal-Meza
(2000).
2. El sentido que damos aquí al desarrollismo deriva de las
interpretaciones sobre el proceso de transformaciones del sistema
mundial y de las políticas nacionales necesarias para enfrentar sus
desafíos. Esta visión mantenía continuidades como el neokeynesianismo, respecto del papel del Estado como conductor del
desarrollo y actor esencial de la asignación de recursos y del realismo, en la percepción de las características de un sistema internacional dominado por los imperativos del poder.
3. Desarrollado por Peter Haas, bajo la denominación de “comunidades epistémicas” el concepto ha sido tomado por Amado Luiz
Cervo (2000:5-27), para aplicarlo al conjunto de intelectuales,
académicos y diplomáticos argentinos que con sus aportes ayudaron
a formular la base de sustentación ideológica de la política exterior
de Menem, que fuera implementada por lo cancilleres Cavallo y Di
Tella (Bernal-Meza, 2000:353).
Todos ellos, según Cervo (1999; 2000), tenían en común una visión
revisionista de la historia argentina. Estaba integrada, entre otros,
por Tulio Halperin Donghi, Carlos Escudé, Felipe de la Balze, Jorge Castro y Andrés Cisneros.
4. Hemos definido éstos como aquellos que constituyen la esencia
de la agenda post-guerra fría, bajo el orden imperial, que
sustituyeron los temas relevantes de la agenda internacional de
los años 70 y 80. Estos valores, que sustentan ahora la nueva
configuración del sistema internacional, como el liberalismo
económico, los derechos humanos, la protección ambiental, los
derechos sociales, junto a los temas militar-estratégicos -bajo
nuevas formas, vinculadas a los nuevos conceptos de la seguridadexcluyen el tema del “desarrollo”. Cfr. Bernal-Meza (2000:91-92).
Asimismo, constituyen el fundamento de los instrumentos para
mejorar -supuestamente- la inserción internacional de los países
en desarrollo, bajo el nuevo orden político y económico de la
globalización (Bernal-Meza, 2000:155).
Algunos autores los han definido como valores hegemónicos internacionalmente reconocidos (Vigevani, et alii, 1999).
5. Si bien bajo la gestión de Alfonsín se había comenzado a reformular el rol del Estado, sobre todo desde el ministerio conducido
por Terragno, con Menem el proceso de reforma y privatizaciones
del Estado se acelera, bajo el paradigma neoliberal.
6. Para la interpretación “fundamentalista” o “ideológica” de la
globalización, ver Ferrer (1998) y Bernal-Meza (1996; 2000),
respectivamente.
7. Ver, a este respecto, Bernal-Meza (1994), segunda parte, capítulo primero.
8. Escudé señala la irrelevancia de las modificaciones del sistema
internacional para la elaboración de una adecuada política exterior
del país.
9. Sin embargo, como se ha advertido, respecto de este tema se
daría una gran paradoja: mientras el discurso y las argumentaciones
sugerían una “política de bajo perfil” (o de “baja política”), lo que
se hizo fue todo lo contrario. Cfr. Bernal-Meza (2000).
10. Aunque éste fue un objetivo importante de Alfonsín, a quien se
deben los grandes beneficios de la nueva relación de Argentina con
la Unión Europea y sus países miembros, especialmente España e
90
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA: DE MENEM A DE LA RÚA...
Italia, países con los cuales durante su gestión se firmaron importantes convenios económicos, financieros y comerciales.
del ministro al diario El Cronista, la reformulación del Mercosur
pasaba por: “Primero implica exigir de Brasil una rápida
constitución de un verdadero mercado común. Como Brasil no
lo va a hacer, eso nos dría libertad de acción y pasaríamos a una
zona de libre comercio, donde recuperaríamos toda nuesta
libertad comercial, y eso nos permitiría buscar un acuerdo bilateral con Estados Unidos”.
11. Como señala Bologna (1998:13), citando prensa de la época, esta línea de acción diplomática había sido sugerida al presidente Menem, antes de asumir el cargo, por el presidente del
gobierno español, Felipe González, quien le manifestó que si
quería poner un pie en el Mercado Europeo, antes tenía que
arreglar el tema Malvinas con los ingleses.
23. Clarin.com, Economía, miércoles 09/05/2001.
12. Decimos “aplicación” porque los términos de éste habían sido
acordados entre ambos países durante la gestión de Alfonsín.
24. “Há preocupação no Brasil”, Gazeta Mercantil Latino-americana, Rio de Janeiro, edición del 14 al 20 de mayo de 2001, p.23.
13. Como señalan Busso y Bologna (1994:51), “el gobierno de
Menem no concentró un alto nivel de expectativas en este
ámbito. “Si bien Buenos Aires fue sede de la reunión cumbre
realizada en noviembre de 1992, la actividad del Grupo no fue
trascendente. Esta apreciación se sustenta en nuestra percepción
sobre la existencia de un cambio en este proceso de concertación
política que va de un enfoque resolutivo a uno más deliberativo.
En sus orígenes lo caracterizábamos como un espacio de
resolución de temas pero, actualmente se ha convertido en una
sociedad de debate. Por otra parte, la influencia del alineamiento
argentino con Estados Unidos se hizo presente en la Cumbre de
Buenos Aires. El Presidente Menem efectuó contactos
telefónicos con el entonces presidente George Bush y con el
presidente electo Bill Clinton, comunicándoles los objetivos de
la reunión. Esta actitud argentina no contó con el aval de los
otros miembros. Por otra parte, la disparidad de posiciones entre Argentina y otros integrantes ante la cuestión cubana también
puede ser interpretada como una consecuencia de la dinámica
del alineamiento”.
25. Clarín, Buenos Aires, 13/04/2001.
14. “Discurso del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini sobre la
política exterior argentina”, Dirección de Prensa, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Buenos
Aires, 30 de mayo de 2000.
15. “Rodríguez Giavarini bregó por la reducción del proteccionismo
económico para reducir la marginación social”; Dirección de Prensa,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, Buenos Aires, 27 de septiembre de 2000.
29. Ya con anterioridad, el 25 de junio, Cavallo había amenzado a
Brasil, Uruguay y Paraguay con más medidas si esos países
continuaban devaluando sus monedas. El ministro argentino está
convencido de que todas las devaluaciones regionales son producidas
por los gobiernos y los bancos centrales y no por libres movimientos
del mercado. Cfr. Ambitoweb, 26/06/2001.
26. En la reciente reunión del Mercosur en Asunción, el 21 de
junio pasado, los cuatro países del bloque decidieron reducir en
un punto porcentual la tasa de estadística general para las
importaciones extra-Mercosur (del 2,5% al 1,5%), lo que en la
práctica reduce el promedio actual del AEC de 13,5 a 12,5 por
ciento.
27. “El presidente Fernando H. Cardoso suspendió la visita programada a Argentina para los días 16 y 17 de abril, como muestra
de desagrado contra lo que se considera una medida que afecta
directamente las exportaciones brasileras a la Argentina, que rompe con los acuerdos arancelarios negociados en el Mercosur”, Folha de S.Paulo, 05/04/2001.
28. Entre las medidas del segundo “paquete”, implementado por
Cavallo durante su actual gestión, estaba una devaluación encubierta,
del 8%, que se aplica sobre los valores de importación y exportación,
con lo cual el peso argentino tiene, para el comercio exterior, una
equivalencia de u$s 1= $ 1,08.
30. La primera podía obedecer a un test para evaluar cómo los operadores económicos y la ciudadanía podrían reaccionar frente a la
alternativa de una flexibilización del sistema de convertibilidad,
que llevara posteriormente a una salida no traumática del mismo.
La segunda, habría sido tranquilizar a los inversores españoles y en
general a los europeos, acerca del hecho que la Argentina no se
estaría volcando hacia una vinculación más estrecha con Estados
Unidos y ALCA, postergando sus relaciones con la Unión Europea.
16. Esta fue una desgraciada expresión, con la cual el entonces
canciller argentino, Guido Di Tella, quiso ejemplificar el nuevo
modelo de relaciones que la Argentina aspiraba a mantener con
Estados Unidos.
17. Las relaciones con Cuba se deterioraron a partir de la filtración
de la noticia que detallaba la posición que adoptaría la Argentina en
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.” En el acto por el 1
de mayo en la Habana, Fidel Castro acusó al gobierno argentino de
ser “monigote de los yanquis”. Como respuesta, el gobierno argentino, con fecha 5 de mayo, hizo permanente el retiro de su embajador
en Cuba, que ya estaba en Buenos Aires desde febrero pasado, quedando
las relaciones diplomáticas al borde de la ruptura.
31. La Nación, 22/04/2001.
32. Domingo Cavallo, en la presentación de su libro Pasión por
crear, 31/3/2001, p.12.
33. La Nación, Buenos Aires, 18/04/2001. En igual forma se expresó
el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, en conferencia de prensa
del mismo día, previa al viaje de De la Rúa a Québec, cuando señaló
que “la posición argentina es negociar desde el bloque regional del
Mercosur. La Argentina negocia desde el Mercosur en el ALCA;
esta es la resolución que se tomó aquí en Buenos Aires; es la posición
del gobierno argentino”.
18. Según declaró la Secretaria de Política Exterior, Susana Ruiz
Cerutti, “nuestro único interlocutor es Gran Bretaña. Los isleños
no son ni serán parte de la controversia”, La Nación, “El Gobierno
no dialoga con los isleños”, Buenos Aires, 22/02/2001.
19. Clarín, “Apuran los tiempos de la cita entre Clinton y De la
Rúa”, Buenos Aires, 08/02/2000.
34. La Nación, Buenos Aires, 19/06/2001.
35. Ambitoweb, “Encuesta: Mercosur mejor que ALCA”, 22/05/
2001.
20. El gobierno de Carlos Menem otorgó la adjudicación a la empresa norteamericana Northop, asociada a la italiana Alenia, pero
la misma fue suspendida por una medida judicial.
21. La Nación, “EE.UU continúa molesto con la SIDE. Colin Powell
planteó a Rodríguez Giavarini la falta de cooperación del organismo de inteligencia”; Buenos Aires, 13/05/2001.
36. La Nación, “El Mercosur y la UE comienzan a negociar sobre
aranceles”, Buenos Aires, 01/06/2001.
37. Declaraciones del embajador Roberto Lavagna a La Nación,
01/06/2001.
22. Según señaló la prensa, la síntesis de la estrategia inicial de
Cavallo frente al Mercosur y ALCA era un “replanteo total del
Mercosur”. Según Gazeta Mercantil (semana del 26 de marzo al
1 de abril de 2001), citando declaraciones de uno de los asesores
38. Apoyo financiero del FMI y de algunos países (España), por
u$s 40.000 millones, como recursos a disposición del gobierno argentino, a entregar en cuotas, de acuerdo a aceptación previa –por
parte del organismo financiero internacional– de las medidas
91
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
implementadas por la gestión económica, negociado durante la
gestión del ministro José L. Macchinea.
reflexiones al promediar su mandato. Rosario, Ediciones
CERIR, 1994, pp.17-51.
CARDOSO, O.R. “Un recuerdo que molesta”. Clarín, Buenos Aires,
22/04/2000.
39. La Nación Line, “Para los argentinos, la relación com los
EE.UU. s muy importante”, Buenos Aires, 12/06/2001.
40. Cfr. La Nación, “Voces a favor de mantener el Mercosur”,
Buenos Aires, 08/05/2001; también, Bernal-Meza (2001a).
41. De allí que la entonces Comunidad Económica Europea instituyó,
como uno de sus primeros y esenciales instrumentos, la Corte
Europea de Justicia, que fuera pieza clave en la dinamización del
proceso de integración y para el efectivo cumplimiento de los
acuerdos entre Estados.
CASTRO, J. “La Argentina, Estados Unidos y Brasil: el triángulo
de la década del 90”. In: CISNEROS, A. (ed.). Política Exterior
Argentina 1989-1999. Historia de un éxito. Op. cit. 1998,
pp.83-106.
CAVALLO, D.F. “La inserción de la Argentina en el primer mundo. 1989-1991”. In: JALABE, S.R. (comp.). La política exterior argentina y sus protagonistas. 1880-1995. Buenos Aires,
CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales)
Grupo Editor Latinoamericano, 1996, pp.357-378.
BIBLIOGRAFÍA
CERVO, A.L. “A política exterior da Argentina 1945-2000”. Anuário de Política Internacional. Brasília, IPRI, 1999, mimeo.
________ . “Sob o signo neoliberal: as relações internacionais da
América Latina”. Revista Brasileira de Política Internacional,
Brasília, Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, año
43, n. 2, pp.5-27, 2000.
BAUMANN, R. “Mercosul: Origens, Ganhos, Desencontros e Perspectivas”. In: BAUMANN, R. (org.). MERCOSUL. Avanços e
Desafios da Integração. Brasília, IPEA/CEPAL, 2001, pp. 1968.
BERNAL-MEZA, R. América Latina en la Economía Política
Mundial, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1994.
CHIGHIZOLA, H. “Opinión de Negociador. Argentina y el ALCA”.
Archivos del Presente. Buenos Aires, año 6, n.21, julio-sep.
2000.
CISNEROS, A. “Argentina: Historia de un éxito”. In: CISNEROS,
A. (ed.). Política Exterior Argentina 1989-1999. Historia de
un éxito. Op. cit. 1998, pp.35-82.
________ . “La Globalización: ¿Un proceso y una ideología?”.
Realidad Económica, Buenos Aires, Instituto Argentino para
el Desarrollo Económico, IADE, n. 139, pp. 83-99, abril-mayo
1996.
________ . “Las percepciones de la actual política exterior argentina sobre la política exterior del Brasil y sobre las relaciones Estados Unidos-Brasil”. Estudios Internacionales, Santiago, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de
Chile, año XXXII, n.125; pp. 51-82, enero-abril 1999a.
________ . “Políticas Exteriores y Mercosur: reacciones ante una
crisis”. Carta Internacional, São Paulo, USP-Política Internacional, año VII, n.79, set. 1999b.
DI TELLA, G. “Prólogo”. In: CISNEROS, A. (ed.). Política Exterior Argentina 1989-1999. Historia de un éxito. Op. cit. 1998,
pp.13-17.
DE la BALZE, F.A.M. “La política exterior en tres tiempos. Los
fundamentos de la nueva política exterior”. In: DE la BALZE,
F.A.M.y ROCA, E. (comp.). Argentina y EE.UU. Fundamentos de una nueva alianza. Buenos Aires, CARI/ABRA, 1997,
pp.11-129.
________ . “La política exterior de reincorporación al Primer
Mundo”. In: CISNEROS, A. (ed.). Política Exterior Argentina 1989-1999. Historia de un éxito. Op. cit. 1998, pp.107178.
________ . Sistema Mundial y Mercosur. Globalización, Regionalismo y Políticas Exteriores Comparadas, Buenos Aires,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires/Nuevohacer/Grupo Editor Latinoamericano, 2000.
ESCUDÉ, C. “De la irrelevancia de Reagan y Alfonsín: hacia el
desarrollo de un realismo periférico”. In: BOUZAS, R. y
RUSSELL, R. (comp.). Estados Unidos y la transición argentina. Buenos Aires, Editorial Legasa, 1989, pp.243-272.
________ . “Argentina. La crisis del desarrollo y de su inserción
internacional”. Série Análisis e Informaciones. São Paulo, Fundação Konrad Adenauer e Programa de Estudos Europeos,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, n.1, maio 2001a.
________ . Realismo Periférico. Fundamentos para la nueva
política exterior argentina, Buenos Aires, Planeta, 1992.
________ . “El Mercosur y las contradictorias políticas de Argentina y Brasil”. Carta Internacional, São Paulo, USP-Política
internacional, n.102, ago. 2001b.
________ . “Argentina: ¿crisis coyuntural o estructural?”. Carta
Internacional, São Paulo, USP-Política internacional, n. 99,
pp. 7-10, maio 2001c.
________ . El Realismo de los Estados débiles. La política exterior del primer Gobierno Menem frente a la teoría de las
relaciones internacionales. Buenos Aires, Grupo Editor
Latinoamericano, 1995.
BERNAL-MEZA, R. y LÓPEZ, R. “La nueva política exterior
argentina”. Carta Internacional, São Paulo, USP-Política Internacional, año VII, n. 82, p.6, dez. 1999.
FERRER, A. Hechos y ficciones de la globalización. Argentina y
el Mercosur en el sistema mundial. Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica, 1998.
BOLÍVAR, J. “La cuestión de la identidad en la nueva política exterior argentina”. In: CISNEROS, A. (ed.). Política Exterior
Argentina 1989-1999. Historia de un éxito. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1998, pp.213-236.
PUIG, J.C. “La Política Exterior Argentina: incongruencia
epidérmica y coherencia estructural”. In: PUIG, J.C. (comp.).
América Latina: Políticas Exteriores Comparadas. Buenos
Aires, Grupo Editor Latinoamericano, v. 1, 1984, pp. 91-169.
BOLOGNA, A.B. “La inserción argentina en la sociedad internacional”. In: CERIR. La Política Exterior Argentina 1994/1997.
Rosario, Ediciones CERIR (Centro de Estudios en Relaciones
Internacionales de Rosario), 1998, pp. 9-21.
________ . “Política internacional argentina”. In: PERINA, R. y
RUSSELL, R. (ed.). Argentina en el mundo, 1973-1987.
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988, pp.1945.
BUSSO, A. y BOLOGNA, A.B. “La política exterior argentina a
partir del Gobierno de Menem: una presentación”. In: CERIR.
La política exterior del gobierno de Menem. Seguimiento y
RUSSELL, R. Cambio de régimen y política exterior: el caso de
Argentina (1976-1989). Buenos Aires, FLACSO, Serie de
Documentos e Informes de Investigación, diciembre 1989.
92
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA: DE MENEM A DE LA RÚA...
________ .“Los ejes estructurantes de la política exterior argentina”. América latina/Internacional. Buenos Aires, FLACSO,
v.1, n. 2, pp. 5-26, otoño-invierno 1993.
VIGEVANI, T. et alii “Globalização e segurança internacional: a
posição do Brasil”. In: DUPAS, G. y VIGEVANI, T. O Brasil
e as novas dimensões da segurança internacional. São Paulo,
Editora Alfa-Omega/FAPESP, 1999, pp. 53-86.
Raúl Bernal-Meza: Profesor de Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y
Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Director del Centro de
Estudios de las Relaciones Internacionales de América Latina.
Actualmente, Profesor Visitante de la Universidade de São Paulo
([email protected]).
93
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1):
16(1) 2002
94-104, 2002
O CANTO DA SEREIA.
AMÉRICA LATINA PERANTE A ALCA
SONIA DE CAMARGO
Resumo: O objetivo é examinar o significado para os países latino-americanos em geral, e para o Brasil em
particular, do projeto de formação da Alca proposto pelo governo norte-americano na Cúpula de Miami, em
dezembro de 1994. Para tanto, faz-se uma reconstituição dos esquemas regionais de “nova geração” que emergiram no continente nos anos 90, tomando como foco de análise o Nafta, ante-sala do que possa vir a ser a
Alca, e o Mercosul.
Palavras-chave: regionalismos de nova geração; relações Estados Unidos/América Latina.
Abstract: This article examines the significance for Brazil in particular and for Latin America in general of the
FTAA agreement proposed by the United States government at the Miami Summit in December of 1994. To
this end, the author reviews the various regional frameworks of the “new generation” that emerged throughout
the continent in the 1990´s, taking as a starting point Nafta, which may provide a notion of what can be
expected from the FTAA and Mercosul.
Key words: regionalisms of the new generation; U.S./Latin American relations.
A
Terceira Cúpula das Américas que se realizou
em Quebec de 20 a 22 de abril de 2001 – precedida pela de Miami, em fins de 1994 e pela de
Santiago, em 1998 – reuniu os 34 Chefes de Estado das
três Américas, com exclusão de Cuba. O objetivo principal do encontro foi discutir o projeto de constituição de
uma Área de Livre Comércio das Américas (Alca), cuja
data de implantação, marcada para 1o de janeiro de 2006,
obteve, depois de algumas idas e vindas em relação a sua
antecipação, consenso entre os países participantes. Contudo, a realização da “II Cúpula dos Povos”, paralela à
oficial, organizada por representantes de movimentos sociais do continente, e as manisfestações de rua em Quebec
– cidade declarada zona militar durante três dias – e em
outras cidades latino-americanas, mostrou ao Presidente
George W. Bush que os assuntos hemisféricos estavam
passando por um momento de extrema turbulência, maior
do que há apenas alguns anos.
Na realidade, essas diferentes expressões de oposição
ao projeto Alca são facilmente explicáveis se se levar em
conta que grande parte dos países em desenvolvimento
enfrentam, no presente momento, crises políticas e econômicas graves que fazem que, no seio de alguns de seus
governos e, em especial, de suas sociedades, cresçam as
restrições e as rejeições ao atual modelo econômico global e aos esquemas regionais nele inspirados, vistos como
os principais geradores das vicissitudes sociais que os
penalizam. No que se refere especificamente à América
Latina, as maiores desconfianças e dúvidas concentramse nas políticas norte-americanas de segurança para a região e nos esforços para alcançar acordos de integração
econômica e de abertura comercial no plano hemisférico.
E é justamente nesse contexto, em que se combinam,
de forma contraditória, sentimentos e atitudes de adesão,
realismo, pragmatismo, dúvida, rejeição, que as negociações dos países da região com os Estados Unidos para a
formação de uma Área de Livre Comércio das Américas
começam a adquirir um contorno mais definido, na esperança de que, para os que apostam no projeto, elas saiam
do papel e se tornem, efetivamente, uma realidade concreta no prazo previsto e, para os que dele duvidam, que
possam revertê-lo ou ajustá-lo aos objetivos e particularidades de cada nação. Partindo dessa perspectiva, e tomando como gancho as contradições apontadas, pode-se trazer para o debate alguns das principais linhas de conflito
que, velhas ou novas, imaginárias ou reais, perturbam –
94
O CANTO DA SEREIA. AMÉRICA LATINA PERANTE A ALCA
Mundial, fossem olhados com crescente desconfiança pela
opinião pública. A esse conjunto de percepções se acrescentava a de que, enquanto a América Latina estava
estancada economicamente, os Estados Unidos gozavam
o período de auge econômico mais longo de sua história
(Hakim, 2001).
Paralelamente às questões econômicas, o avanço da
consolidação democrática na região parecia perder impulso
em alguns países, desafiada pelo crescente cesarismo e
corrupção do governo de Alberto Fujimori, no Peru, pela
perda de controle institucional do governo eleito da Colômbia, fortemente golpeado pela guerra de guerrilhas e
pelo acirramento da violência criminal, pelo golpe militar vitorioso no Equador, o primeiro na América Latina,
nos últimos 24 anos, e por surtos antidemocráticos em
outros países como Nicarágua, Guatemala, Paraguai (Le
Monde Diplomatique, out. 2000). Logicamente essas turbulências político-institucionais não foram nem são imputadas diretamente aos Estados Unidos. Mesmo assim,
algumas políticas do governo norte-americano para a região, como exemplarmente o “Plan Colômbia”, em que
estão previstos mecanismos de controle policial, fiscalização das fronteiras e uma ajuda militar imediata de 1.300
milhões de dólares, seguido da “Iniciativa Andina”, para
a qual está prevista uma ajuda financeira de aproximadamente 3.000 bilhões de dólares no curso de três anos – o
que significa a militarização da luta antidrogas na região
e sua internacionalização, com efeitos desestabilizadores
para os demais países andinos – aumentaram as reticências das populações latino-americanas e de seus governos
(Bonilla, 2001).
Partindo dessa perspectiva propõe-se, neste artigo,
examinar as razões políticas e econômicas que impulsionaram o governo norte-americano a ampliar, nos anos 90,
a agenda da política externa do seu país, incorporando nela
a dimensão hemisférica. E as razões e o modo pelos quais,
do ponto de vista latino-americano, especialmente dos
países do Mercosul, o projeto Alca – visto por grande parte
da região como inevitável – é introduzido, com prazo marcado para sua realização, nas agendas de sua política externa. Antes, porém, é oportuno abordar algumas considerações gerais sobre os acordos regionais que precederam
o lançamento da proposta da integração hemisférica, ou
melhor, sobre o surgimento, na América Latina, no início
dos anos 90, de novas modalidades de regionalismos, os
chamados “sistemas continentais de nova geração”, cuja
lógica e objetivos diferem, em muitos aspectos, dos da
geração dos anos 60 (Hurrel, 1995). Como exemplos mais
neste momento em que as negociações para a implantação da Alca parecem avançar – as relações entre o norte e
o sul das Américas.
Uma das razões mais evidentes para o desgaste dessas
relações que, desde o início do governo do presidente
George Bush pai e do fim da Guerra Fria até, aproximadamente, o fim dos anos 90, haviam sido mais cordiais
que em qualquer outra época, é que a maioria dos países
latino-americanos, como já assinalado, estão em pior situação do que há algum tempo. Com efeito, no começo
dos anos 90, o otimismo coloria a região, onde a reforma
econômica de cunho neoliberal produzia um aumento do
crescimento e uma queda da inflação e onde a consolidação da democracia prometia mais justiça e maior segurança. Os dados da Cepal indicam que entre 1990 e 1997
a pobreza na região diminuíra de 41% para 36% e a indigência de 18% para 15% (Cepal, 1999). No entanto, em
1991, o lançamento da “Iniciativa para as Américas” –
que parecia abrir para a região a possibilidade de garantir
o acesso por longo prazo ao mercado norte-americano e a
entrada de maior volume de capitais produtivos, especialmente no caso dos países de menor desenvolvimento relativo – rendia aos Estados Unidos um voto de confiança
(Hakim, 2001).
Entretanto, nos três últimos anos da década, a situação
dos países da América Latina deteriora-se, com taxas de
crescimento cada vez mais irregulares, quando não decrescentes em grande parte de seus países, e com a reversão
da tendência anterior, produzindo-se um aumento do nível de pobreza e de exclusão social, com todas as suas
conseqüências, como violência e criminalidade (E. Klein
e V. Tokman, 2000). Como decorrência, embora a quase
totalidade dos governos latino-americanos continuasse a
apostar nas políticas de abertura dos mercados, ou por isso
mesmo, a confiança por parte dos setores produtivos da
região e de sua população em geral na capacidade de competir na economia globalizada sofreu um retrocesso, carregando em seu bojo a confiança irrestrita no ideário neoliberal preconizado pelos Estados Unidos.
Com efeito, a identificação desse país com as reformas reunidas no chamado “Consenso de Washington” –
que inclui além da abertura das economias, a privatização
das empresas públicas e a desregulação das atividades financeiras, comerciais e dos mercados de trabalho – ao
apresentarem resultados econômicos e sociais decepcionantes, fez que a liderança dos Estados Unidos no continente e seu poder real ou imaginado de dominar os organismos financeiros mundiais, como o FMI e o Banco
95
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
dentes da boa vontade do país em que operam. Dessa maneira, os Estados, com suas diferentes competências, continuam inevitavelmente a participar no processo capitalista
em sua atual fase de acumulação. Isso, contudo, não invalida que tenham de enfrentar o “paradoxo global”, de que nos
fala Naisbaitt (1994), isto é, que tenham que se mover e
barganhar entre o impulso voltado para a consolidação e
ampliação dos interesses nacionais, de um lado, e a promoção da mobilidade do capital, de outro (Marshall, 1998).
É essa a lógica que fundamenta e justifica os atuais
“esquemas regionais de nova geração”. Na realidade, a
emergência de um princípio novo de organização mundial torna a opção regional um meio considerado eficaz
de administrar com mais facilidade o paradoxo global referido. Se adotarmos o ponto de vista dos Estados de menor
desenvolvimento relativo que avaliam que a expansão das
oportunidades de mercados aumenta, paralelamente, às
exigências de competitividade, vemos que essa opção está
vinculada ao fato de que os regimes de integração subregional significam uma forma de aprendizado e uma ponte
que facilita e abre caminho para transações internacionais
mais amplas, permitindo-lhes alcançar, de forma mais competitiva, novos patamares em seu processo de inserção na
economia internacional. Com efeito, ao incorporarem no
âmbito da região modos de articulação da economia política global e, ao mesmo tempo, modos de ação política
antes reservados aos espaços nacionais, adquirem maiores recursos econômicos e político-institucionais para administrarem, coletivamente, as exigências de ajuste das
economias dos países-membros e assegurarem melhores
condições de competirem em mercados globais, preservando, ao mesmo tempo, características e interesses próprios da região, em seu conjunto (Camargo, 1997).
No que se refere aos Estados mais fortes, os esquemas
de integração regional, quando formados por sócios acentuadamente assimétricos, podem ser percebidos por eles
e por seus agentes econômicos como significativamente
favoráveis a seus interesses, uma vez que avaliam que os
avanços cada vez mais rápidos nos meios de comunicação e de transporte e a erosão da autonomia política dos
governos com quem se associaram, permitem a seus capitais atravessarem fronteiras com crescente liberdade, e a
seus produtos invadirem mercados em espaços cada vez
mais amplos, abertos e desregulados (Camargo, 1997).
Paralelamente, ou melhor, interligados aos fatores examinados, os blocos econômicos respondem, igualmente,
aos interesses político-estratégicos, em especial no caso
dos países centrais, que buscam não apenas assegurar o
significativos pode-se citar o Mercado Comum do Sul
(Mercosul), constituído pelo Tratado de Assunção, em
março de 1991, a Iniciativa para as Américas, lançada pelo
presidente George Bush, em junho do mesmo ano, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), implantado em janeiro de 1994, e a proposta de formação de
uma Área de Livre Comércio das Américas (Alca), apresentada em dezembro do mesmo ano.
REGIONALISMOS DOS ANOS 90
Esta análise inicia-se salientando que a formação de
blocos regionais está diretamente ligada à configuração
geopolítica e geoeconômica do sistema global no qual estão
inseridos. Ou, em outras palavras, que a emergência desses blocos econômicos traduzem as transformações espaciais e os processos de desterritorialização e reterritorialização do atual sistema-mundo, ambos movimentos
fundamentados na lógica capitalista da competição global. Na realidade os fenômenos da globalização e da regionalização, superpostos e interligados, expressam formas de acumulação do capital e formas de distribuição do
poder que reorganizam espacialmente a economia e a política no plano mundial. E essa reorganização do capitalismo, atestada pela hipermobilidade do capital e pela cessão de autonomia política que se transfere para o emergente
sistema comandado pelas grandes corporações, revestese de um número de fenômenos e de configurações analiticamente distintos, unificados pela emergência de um princípio organizativo novo, suficientemente estável para
definir os contornos de uma nova ordem mundial, pelo
menos por um determinado tempo (Marshall, 1998).
Nesse contexto, a globalização – ao redefinir o locus
do poder político, ampliando-o para fora dos governos soberanos por meio de sua concentração nas grandes corporações transnacionais, e ao reorganizar a atividade econômica, passando-a do plano nacional para a regional e
global – põe os estados nacionais diante de um impasse e
de um desafio. Com efeito, a lógica neoliberal que preside o atual processo de globalização, ao ter como utopia a
criação de um mercado global livre de controles sociais e
políticos, põe em questão a habilidade do atual sistema
de Estados para enfrentar alguns dos principais problemas e desafios de natureza transnacional (Mittelman,
2001).
Contudo, é preciso considerar o fato de que a própria
globalização da economia força as atividades das empresas
transnacionais de qualquer país a se tornarem mais depen-
96
O CANTO DA SEREIA. AMÉRICA LATINA PERANTE A ALCA
ção hemisférica, é uma referência obrigatória para a reflexão em questão. Em seguida abordar-se-á o Mercosul,
especificamente em sua função de interlocutor privilegiado com os Estados Unidos, no contexto das negociações
referentes à formação da Área de Livre Comércio das Américas. Esses dois temas levam, naturalmente, a reconstituir
os passos que pavimentaram a história recente da América Latina em seu entrelaçamento com a grande potência,
ao mesmo tempo regional e mundial, passos que, segundo algumas vozes latino-americanas, conduzem o continente, inexoravelmente, na direção de uma integração de
alcance hemisférico.
nível de riqueza que desejam preservar ou alcançar mas,
sobretudo, defender, fortalecer e ampliar a posição relativa de poder que ocupam no cenário mundial. Nessa perspectiva, a economia torna-se uma questão de segurança,
tornando as relações entre forças econômicas e atuação
política externa extremamente complexas e difusas. No caso
específico dos Estados Unidos – potência hegemônica do
capitalismo atual e, portanto, a única com interesses globais – o fim da guerra fria proporcionou a essas duas dimensões, a econômico-comercial e a de segurança, um
mesmo nível de prioridade. Isso significa que o desafio
maior para o governo norte-americano é conduzir o país
ao cume da economia mundial, dissipando ao mesmo tempo os ressentimentos provocados por sua posição hegemônica, e convencer os demais países de que a reorganização
da ordem mundial se dá tanto em seu próprio benefício
como na dos demais países. Já no caso dos países não situados no centro do sistema, os esquemas de integração
econômica, quando apoiados regionalmente em objetivos,
políticas e instituições comuns têm, além dos fins econômico-comerciais previstos explicitamente, objetivos políticos, de modo que a região adquira a possibilidade de falar com uma voz única nas negociações internacionais. Isso,
por sua vez, lhes dá maior poder para defenderem interesses regionais próprios e de seus países, assim como políticas e ações que se referem a toda a humanidade.
É, portanto, com base nessa lógica e dentro de um novo
quadro de tensões e desafios, que antigos esquemas regionais reestruturaram-se em diversas partes do mundo,
outros foram criados, apresentando diferentes modelos
institucionais, objetivos e campos de atuação. No que se
refere aos países da América Latina, que se encontram,
neste começo de século, imersos em uma economia global que não os favorece, a perspectiva de se integrarem
com vizinhos regionais mostra-se como o caminho mais
curto e promissor. Esse caminho passa, para alguns, pelos processos sub-regionais ou continentais de integração,
como a Comunidade Andina, o Mercosul, a Comunidade
do Caribe, o Mercado Comum Centro Americano, a Área
de Livre Comércio da América do Norte ou o projeto de
integração sul-americana, para outros pelo grande projeto de integração hemisférica que, lançado e liderado pelos Estados Unidos, atrai, preocupa e amedronta a região.
Levando em conta essa multiplicidade de acordos, projetos e propostas regionais, e considerando os fins específicos deste trabalho, inicialmente, irá se analisar a Área
de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) uma vez
que, constituindo-se como a ante-sala da futura integra-
O DESTINO DAS AMÉRICAS
Área de Livre Comércio da América do Norte
Do ponto de vista geral latino-americano, e brasileiro
em particular, seria possível afirmar que a presença da Alca
como projeto a médio e longo prazo e a do Mercosul, como
uma realidade imediata que parece estar perdendo fôlego
– ao lado nas negociações com a União Européia para a
constitução de um acordo de livre-comércio – ocupam,
quase que em tempo integral, os corações e as mentes, as
agendas dos governos, as diplomacias e os agentes econômicos dos países latino-americanas.
Analisar esses dois temas implica, necessariamente, trazer para o centro do debate as relações “perigosas” da
região com os Estados Unidos, já que a possibilidade de
realização de um projeto de integração hemisférica – que
tem em uma ponta a potência hegemônica mundial e, na
outra, países de menor nível de desenvolvimento e de poder
– coloca questões que, não só ameaçam a própria continuidade dos esquemas sub-regionais, como despertam desconfianças e dúvidas em seus membros potenciais.
Tomando-se como ponto de partida o início dos anos
90, principia-se a análise pela “Iniciativa para as Américas”, proposta lançada pelo então presidente norte-americano George Bush em junho de 1991, num contexto em
que as relações entre os países latino-americanos e os
Estados Unidos haviam começado a se tornar mais cordiais e cooperativas do que haviam sido em tempos imediatamente anteriores. Algumas razões explicam o relativo
otimismo daquele momento, entre as quais a redemocratização dos sistemas políticos da região e a perspectiva
de adoção de políticas econômicas neoliberais que se mostraram inicialmente exitosas na maior parte de seus países (Hakim, 2001).
97
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
abertura dos mercados, o que levou o governo norte-americano a fortalecer a posição dos líderes regionais comprometidos com esse tipo de política e a incentivar os indecisos, introduzindo ao mesmo tempo a idéia de uma
possível integração econômica com os Estados Unidos
(Hakim, 1992).
Aproximadamente três anos depois do lançamento da
Iniciativa para as Américas, em janeiro de 1994, na administração do Presidente Clinton, um novo passo é dado
no sentido de estabelecer uma efetiva integração comercial com um país em desenvolvimento com quem fazia
fronteira, o México, empreendimento que tomou a forma
de uma Área de Livre Comércio da América do Norte entre
esse país, o Canadá e os Estados Unidos (Nafta) que abriu
o caminho para que, em dezembro de 1994, no âmbito da
cúpula de Miami, o governo norte-americano lançasse formalmente a proposta de criação de uma Área de Livre Comércio das Américas.
Dessa maneira, em termos substantivos, o Nafta, implantado em janeiro de 1994, concretizou a idéia de que
um único regime continental de acumulação, que ocuparia a área que se estende da fronteira da Guatemala ao Pólo
Norte, deveria sobrepor-se às três economias separadas.
Em termos instrumentais, significou um mecanismo destinado a criar normas que assegurassem mobilidade e eficiência para os agentes econômicos, leia-se corporações
transnacionais, para não dizer norte-americanas, que transitavam livremente por meio de duas fronteiras nacionais,
e regras de origem que os protegessem contra a competição extra-regional (Clarkson, 2000).
No que se refere, especificamente, aos interesses imediatos dos Estados Unidos, o Nafta surgiu como um complemento ou uma alternativa às negociações multilaterais
que se realizavam no âmbito do que era então o GATT,
cuja rodada Uruguai não parecia saber adaptar-se às novas condições do comércio mundial. Se, nos anos anteriores, o GATT fora dominado pelos países centrais que negociavam entre si reduções tarifárias para produtos de seu
interesse, nos anos 90 dificuldades entre esses próprios países – como a resistência da Comunidade Européia em liberalizar sua Política Agrícola Comum e do Japão em abrir
seus mercados às exportações norte-americanas – deram
munição para que os Estados Unidos tentassem formar um
bloco comercial próprio no Hemisfério Ocidental e, paralelamente, pregar para o resto do mundo a integração global dos mercados, em toda sua plenitude.
Quanto ao México, a idéia de participar de um processo de negociação com o “poder imperial” e de desenvol-
Dentro desse contexto, a “Iniciativa para as Américas”
expôs, pela primeira vez, a possibilidade de um acordo
de cooperação econômico-comercial entre países do primeiro e do terceiro mundos, proposta com a qual o governo dos Estados Unidos pretendia preencher um vazio em
suas relações com os países latino-americanos que haviam
sido perturbadas, nos anos 80, por temas conflitivos como
o da dívida externa, a questão da América Central e a do
tráfico de drogas, estabelecendo um diálogo mais construtivo com o subcontinente (Hakim, 1992).
Alguns desses temas já haviam sido negociados anteriormente pelo próprio Presidente Bush no início de seu
mandato, como a questão da dívida externa, cujo Plano
Brady representou algum alívio para os países devedores,
especialmente no âmbito dos acordos com o México e a
Costa Rica. Da mesma maneira, a solução parcial de outras questões, como a da América Central, já havia sido
obtida, tendo os Estados Unidos alcançado alguns de seus
principais objetivos, como a expulsão do poder do Gen.
Noriega, no Panamá, a derrota do governo Sandinista, na
Nicarágua, e a perspectiva de um acordo negociado em
El Salvador (Garcia, 1998). Esses resultados, aliando-se
ao fato de que o componente comercial do projeto abria a
possibilidade para que as economias latino-americanas
acedessem ao crescente mercado norte-americano por meio
da formação de áreas de livre-comércio sub-regionais compatíveis com os esquemas multilaterais, contribuíram para
que a Iniciativa para as Américas, sobretudo em uma conjuntura em que os resultados da Rodada Uruguai pareciam
incertos, tivesse uma boa receptividade por parte dos países da América Latina (Fritsch, 1992).
Na realidade, a Iniciativa para as Américas apresentava um caráter mais político do que econômico, uma vez
que não se tratava de reorientar a política comercial norte-americana, nem de propor a transferência de recursos
substanciais para a região, dados os próprios limites orçamentários do país, mas de recuperar o diálogo político
com a América Latina que, depois de 1961, quando havia
sido lançada a Aliança para o Progresso, fora perdendo
importância. Várias considerações por parte da Casa Branca impulsionaram esta nova tentativa de formular uma
política interamericana, entre as quais a idéia de que a crise
econômica latino-americana poderia ter um impacto negativo sobre os processos de democratização na região e
sobre o tráfico de drogas em todo o continente.
Ao mesmo tempo, a Iniciativa para as Américas era vista
por Washington como um meio de reforçar a tendência
crescente na direção da liberalização da economia e da
98
O CANTO DA SEREIA. AMÉRICA LATINA PERANTE A ALCA
teve de negociar votos, um a um, com membros individuais ou com grupos no Congresso.
O argumento dos que se opunham ao projeto, especificamente dos trabalhadores organizados reunidos na grande Central Sindical AFL-CIO, era a possibilidade de perda de fontes de trabalho. Seus membros argumentavam
que, em razão da grande diferença salarial entre os trabalhadores mexicanos e os de seu país, haveria um deslocamento destes que seriam substituídos pela mão-de-obra
barata vinda do México para os Estados Unidos, num contexto de pouca ou baixa efetividade institucional que pudesse neutralizar os custos da transição. Já no caso do
México, os temores e resistências dos setores sociais concentraram-se, especialmente, na mudança da estrutura do
emprego e do regime da terra com seu conseqüente impacto sobre os salários reais, sobre a flexibilização do trabalho, e sobre a diminuição das medidas de proteção aos
trabalhadores e aumento de sua mobilidade. No que se
refere especificamente à mudança do regime da terra, o
deslocamento do campo para a cidade atingiu, em especial, os produtores agrícolas mexicanos vinculados à produção de grãos. Com efeito o campo mexicano, que já
passara anteriormente por uma reforma em sua legislação
de propriedade da terra em razão de sua privatização, viu
surgir, graças à liberalização comercial dos bens agrícolas, um amplo fluxo de migração que, sem proteção e sem
alternativas de fontes de trabalho, abandonou as áreas
rurais, procurando as cidades, tanto no México como nos
Estados Unidos.
Ao lado dessas questões, a crise financeira mexicana
de fins de 1994 – que surpreendeu o próprio governo norte-americano – e sua crise política em que não faltaram os
ingredientes de corrupção e violência física, como o assassinato de Colosio, candidato à presidência, e de Ruiz
Massieu, Secretário-Geral do PRI, e as revoltas constantes da população camponesa, em que se inclui o levantamento armado de Chiapas, em janeiro de 1994, representaram um bom termômetro da situação em que se deu a
implantação do Nafta (Morris e Passe-Smith, 2001).
Agora que se passaram sete anos, é difícil fazer, e a
intenção não é essa, uma avaliação dos resultados da opção mexicana de participar do regime continental. Apenas convém destacar que, em virtude da proximidade
geográfica e sua forte dependência da economia norte-americana, a desaceleração econômica desse país está atingindo seriamente o crescimento industrial do México e
seu mercado de trabalho. Segundo as notícias mais recentes, fábricas estrangeiras que haviam atravessado a fron-
ver, formalmente, laços comerciais mais estreitos com ele,
teria parecido impossível algumas décadas antes. Entretanto, no início dos anos 90, seguindo a tendência dos demais países latino-americanos e caribenhos que começavam a reduzir unilateralmente suas tarifas externas e a abrir
seus mercados, o presidente Carlos Salinas de Gortari faz
um pedido oficial para que se iniciassem as conversações
referentes à incorporação do país ao acordo de livre-comércio. É verdade que o terreno já havia sido preparado
anteriormente pela estratégia de liberalização econômica
lançada em 1985 pelo presidente De La Madrid, momento
em que o México toma a decisão de incorporar-se ao CATT
e de assinar um número significativo de acordos bilaterais
com os Estados Unidos que abrem caminho para negociações futuras mais amplas (Lustig, 1992).
Cabe destacar que a decisão do México de institucionalizar os vínculos comerciais com os Estados Unidos
apoiou-se em uma situação concreta já existente, a de uma
relação comercial em que mais de 80% das exportações
mexicanas dirigiam-se ao mercado norte-americano e perto
de 70% eram precedentes desse país, dando, assim, aos
Estados Unidos o lugar de primeiro parceiro comercial.
Em sentido inverso, o México representava, para os Estados Unidos, o seu terceiro maior mercado exportador e
importador.
Contudo, a aparente consistência das razões econômico-comerciais que justificavam a prioridade do projeto
Nafta para os Estados Unidos e para o México, não impediu o surgimento de temores, restrições e resistências, de
diferentes procedências, matizes e alcance, de acordo com
o país e o setor social de onde provinham. No que se refere aos Estados Unidos, a resistência, pelo lado da esquerda, vinha, essencialmente, dos movimentos trabalhistas,
ambientalistas, ativistas de direitos humanos e de seus
representantes Democratas, e pela direita, dos Republicanos nacionalistas. Contudo, apesar de a forte mobilização
contra o Nafta, estes setores foram derrotados no Congresso, em que as forças empresariais representadas pelos Republicanos e parte dos Democratas conservadores
moderados, apoiadas pelo próprio presidente Clinton, conseguiram aprovar o projeto, obtendo na Câmara 234 votos contra 200 e no Senado 61 contra 38 (Shoch, 2000).
Na verdade, o processo de aprovação foi bastante trabalhoso, especialmente pelo fato de que, desde 1993, não
vigorava mais o sistema de “autoridade de promoção comercial” (fast track) que dava ao Executivo a possibilidade de negociar os acordos comerciais sem estar sujeito a
possíveis emendas do Congresso. Sem ele, o Executivo
99
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
Área de Livre Comércio das Américas
teira mexicana para beneficiar-se de sua mão-de-obra barata, iniciaram um processo de demissão de dezenas de
milhares de trabalhadores, revertendo uma tendência de
expansão do mercado de trabalho decorrente de um crescimento econômico significativo na esteira do acordo
Nafta.
Um último tópico a ser examinado, o das regras e normas vigentes no acordo Nafta. Foi por meio do slogan do
“comércio livre” que o sistema político mexicano, que contava com forte presença do Estado, foi reestruturado à luz
das necessidades de liberdade das corporações transnacionais norte-americanas postas em face das crescentes
pressões por competitividade no contexto de uma ordem
globalizada. Na realidade o acordo Nafta, especificamente
em seu Capítulo 11, inclui um conjunto de novos direitos
e proteções para os investimentos das empresas, sem precedente conforme extensão e poder. O artigo 1.110, por
exemplo, garante aos investidores estrangeiros, por meio
de um sistema de arbitragem, uma compensação por qualquer tipo de expropriação direta (nacionalização) ou que
possa ser vista como indireta, ainda que perfeitamente legal, determinada pelo governo de um dos países integrantes do Nafta. Da mesma maneira, garante compensação
se um investidor estrangeiro considerar que os rendimentos de seu capital aplicados na região, ou mesmo rendimentos futuros potenciais, tenham sido prejudicados por
ações dos governos locais. O sistema de arbitragem funciona do seguinte modo: o investidor estrangeiro pode
iniciar um processo arbitral por perdas monetárias presentes ou potenciais diante de um tribunal fechado para a
observação e participação públicas e que não oferece nenhuma das garantias básicas asseguradas nas cortes nacionais. Por conseguinte, as empresas estrangeiras que
operam em um dos países do Nafta têm mais direitos que
empresas domésticas que operam em seu próprio país, o
que significa segurança e liberdade em toda a extensão
do continente, o que implica maior flexibilidade e mobilidade. A diferença fundamental deste artigo com o de
outros acordos comerciais é que as corporações globais
são livres para pleitear por conta própria sem precisar da
aprovação dos governos nacionais para agir em seu próprio benefício em fóruns internacionais (Greider, 2001).
É interessante lembrar que o Capítulo 11 do Nafta baseouse no “acordo multilateral de investimento”, no qual a
maioria dos países da Organização Mundial do Comércio
rejeitara há alguns anos por considerá-lo um ultrajante e
desrespeito à soberania nacional (Bottary e Swenarchuck,
2001).
O tema Nafta leva diretamente à Alca uma vez que
este projeto de integração das duas metades do hemisfério constitui uma ampliação, para as três Américas,
da lógica e das regras, procedimentos e políticas
desenvolvi das no âmbito do acordo entre Estados Unidos, Canadá e México.
No que se refere à conjuntura internacional, as condições que haviam levado à implantação do Nafta mostravam-se igualmente favoráveis para o lançamento de um
projeto mais ambicioso e abrangente que deveria cobrir
todo o hemisfério. Com efeito, a consolidação dos Estados Unidos como única potência global, o avanço rápido
do processo de globalização financeira que aumentara o
peso estratégico do campo econômico na política mundial, a expansão ideológica da democracia liberal e do capitalismo desterritorializado, permitindo que esses dois
processos se afirmassem como modelos hegemônicos, deu
aos Estados Unidos a possibilidade de pensar que chegara o momento de estender ao conjunto dos três continentes os benefícios de uma integração iniciada e que, julgavam, mostrara-se produtiva. Paralelamente, as próprias
condições estratégico-militares em âmbito regional e mundial também favoreciam o governo norte-americano, uma
vez – que uma das áreas de conflito político-ideológico
mais intenso, a América Central, pacificara-se e o perigo
comunista no continente, representado inicialmente por alguns países do Cone Sul e, posteriormente pela Nicarágua e Granada, parecia haver-se evaporado, permitindo
aos Estados Unidos uma redefinição de suas prioridades.
A prioridade passava, assim, por integrar as três Américas e o Caribe, criando um mercado único de pouco mais
de 800 milhões de habitantes, com um PIB de 11.220 bilhões de dólares, o que equivale a 40% do PIB mundial, e
no qual os Estados Unidos detêm, aproximadamente, 80%
do PIB do conjunto dos outros países da região. Nesse
cálculo o Brasil, cuja economia é a maior do continente
sul, pesa aproximadamente 17 vezes menos do que os Estados Unidos (SEAIN, 2000).
Um dos atrativos principais do projeto é a possibilidade de avançar em pontos que vão além dos que foram acordados no âmbito da Organização Mundial do Comércio
(OMC). Entre esses pontos, é possível destacar o acesso
irrestrito às licitações e contratos de fornecimento ao setor público dos demais países (ministérios, empresas estatais, etc.) e a interdição de quaisquer restrições à entrada de suas empresas no setor de serviços. Com efeito está
100
O CANTO DA SEREIA. AMÉRICA LATINA PERANTE A ALCA
pareça um puro exercício de futurologia, especialmente
se acrescentarmos o fato de que os Estados Unidos, sócio
maior da empreitada e seu maior idealizador, está passando por uma fase de recessão cujo alcance é ainda impreciso e pouco previsível.
Do lado dos países latino-americanos, para além das
questões ideológicas que sempre coloriram as relações com
os Estados Unidos, questões concretas dividem suas posições em relação à possível integração à Alca com efeito, a região latino-americana vive, no momento, uma sensação de insegurança econômica generalizada, cujas
causas, provenientes de várias fontes, alimentam-se reciprocamente. Grande parte delas tem suas origens na vulnerabilidade da maioria de seus países em face da instabilidade financeira internacional, do reduzido crescimento
econômico, e da crescente desigualdade e exclusão social
decorrentes da perversa distribuição de renda, da ruptura
da tênue rede de proteção social, da existência de um desemprego estrutural, todos fatores que tendem a se acentuar à medida que cresce, acima de qualquer outra alternativa, o compromisso de seus governos com as forças do
mercado.
Na realidade, um dos problemas centrais que cerca o
acordo de constituição da Área de Livre Comércio das
Américas, desde o ponto de vista latino-americano, é a
profunda assimetria econômica que separa os países da
região entre si e entre eles e os Estados Unidos. Os números citados são suficientes para mostrar as diferenças no
tamanho das economias que estão presentes no espaço
territorial que se pretende integrar, no qual convivem a
grande potência mundial com potências médias regionais
e sub-regionais e países pequenos com economias frágeis
ou em plena recessão e com pouco ou nenhum poder de
negociação em âmbito internacional. De fato, se se comparar a região das Américas com outras regiões no momento que iniciam seu processo de integração, vê-se que,
tomando como exemplo a “Europa dos 12”, a relação entre o PNB médio de sua principal economia e a média das
demais era de 3,1 vezes, proporção mais ou menos similar à dos outros esquemas de integração, como o Pacto
Andino, Mercado Comum do Caribe, Mercado Comum
Centro Americano e Nafta. No que se refere à Alca, a proporção alcança 23 vezes (Abreu, 1997).
De qualquer modo é preciso levar em conta, quando
pensamos em um possível acordo de integração das Américas, que as relações entre países e grupos de países latino-americanos com os Estados Unidos sempre tiveram e
terão uma agenda bilateral extensa, abrangendo, parale-
previsto que corporações transnacionais possam adquirir
direitos competitivos para fornecer amplo espetro de serviços em âmbito governamental e o direito de processar
qualquer governo cujas medidas de ordem pública, ainda
que legais, possam ser consideradas como prejudiciais a
seus lucros imediatos ou potenciais. Dessa maneira a Alca,
assim como o fizera o Nafta, facilitará a entrada pela porta dos fundos ao Acordo Multilateral de Investimentos.
Contudo, apesar desses privilégios, algumas dificuldades domésticas interpõem-se no caminho da realização da
Alca, as mesmas que, como já vimos, haviam aparecido
por ocasião da aprovação do Nafta. Elas têm como epicentro a oposição do Congresso norte-americano, que até
o momento não concedeu ao presidente George W. Bush,
apesar de todos seus esforços, a “autoridade de promoção
comercial” que lhe permita operar em acordos comerciais
com a rapidez e a liberdade necessárias. A recorrência na
não aprovação desse mecanismo traduz o mesmo temor
anterior de que, em face da competição de mão-de-obra
mais barata – que no caso da Alca, se estenderia aos trabalhadores de, praticamente todos os países da América
Latina – ocorresse um avanço no processo de flexibilização, de desproteção e de redução de empregos. Paralelamente, a possibilidade de acirramento da competição com
empresas estrangeiras que, ao contrário das norte-americanas que sofrem as pressões de normas e de medidas de
proteção relativas aos consumidores, ao meio ambiente,
etc., se relacionam entre si livremente, constitui um fator
a mais de preocupação.
A importância do mecanismo de “via rápida” está no
fato de que, sem ele, os demais países do continente terão
dificuldades em aceitar negociar o acordo proposto. Na
realidade, a dinâmica do processo vai depender, em grande parte, do pleno envolvimento dos Estados Unidos, como
diz Peter Hakim presidente do Inter-American Dialogue,
para quem a obtenção do fast track tem o sentido de um
convite (Hakim, The Washington Post, 18/04/01). A solução, contudo parece remota apesar do esforço do presidente George W. Bush em solucioná-la. Uma alternativa
possível, e que já foi tentada, é a de negociar com os grupos contrários ao acordo a imposição de sanções a países
que falharem na observação das normas de proteção aos
trabalhadores e ao meio ambiente. Contudo, os governos
latino-americanos, em que se inclui o do Brasil, não apóiam
essa exigência, pois consideram que seria utilizada como
elemento discriminatório nas relações comerciais entre os
países centrais e os países em desenvolvimento. Por todas essas razões não é fácil discutir a Alca sem que isso
101
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
Já, no que se refere à Argentina, considerando as declarações de seu ex-ministro da Fazenda Domingo Cavallo, o
governo considera que seria mais vantajoso para o país
estabelecer relações comerciais diretas com os Estados
Unidos do que conduzir as negociações desde Brasília.
Acrescenta, contudo, que todas as alternativas devem ser
utilizadas, incluindo-se a multilateral que envolve o
Mercosul (Financial Times, 19/07/2001). Contudo, apesar de declarações e posições, no mínimo, ambivalentes, o
governo argentino, na última Reunião de Cúpula em
Quebec, assim como os do Paraguai e Uruguai, que também em outros momentos mostraram-se reticentes em relação à permanência do Mercosul, afirmaram não querer
abandonar seu próprio projeto de integração sub-regional.
No que se refere a países fora do Mercosul, as posições também variam, como um dos exemplos o Chile, país
associado e não seu membro pleno, que negocia bilateralmente com os Estados Unidos um acordo de livre-comércio, argumentando que, se os Estados Unidos não concordarem em fazê-lo, sendo o Chile um país de economia
aberta e de tarifas baixas (8%), será difícil explicar aos
demais países da região seu compromisso real na abertura dos mercados (discurso de Ricardo Lagos na Câmara
de Comércio dos Estados Unidos em abril de 2001). E
ainda, a posição mais radical em favor da Alca dos países
da América Central que, com suas economias já de fato
na órbita dos Estados Unidos, consideram que têm mais a
ganhar do que a perder nessa parceria. Na realidade, podendo ser quase equiparados ao México – primeiro parceiro comercial dos Estados Unidos –, Costa Rica,
Honduras, Nicarágua, El Salvador e Panamá exportam
mais de 70% para o mercado americano, e um de seus
países, El Salvador, assim como o Equador, na região
andina, já estabeleceram uma “santa aliança” com o dólar, ao mesmo tempo em que outros países da região também planejam fazê-lo. Correndo por fora, a Venezuela de
Hugo Chavez tem mostrado uma posição crítica em relação ao documento assinado na Cúpula de Quebec, assumindo-se, retoricamente, como o mais novo representante do antiimperialismo norte-americano na América Latina
(Le Monde, 20/04/01).
Voltando, com mais pormenores, a examinar a posição do Brasil, vê-se que a orientação de seu governo é a
de aprofundar e fazer avançar o Mercosul e, desde esse
patamar, negociar ponto por ponto cada item do novo regime hemisférico, em especial a questão da abertura dos
mercados norte-americanos. O discurso diplomático brasileiro confirma essa posição e, mesmo, a radicaliza. Em
lamente, interesses conflitantes e metas convergentes. No
caso específico da Alca, a estratégia negociadora estará
marcada pela dicotomia entre os atrativos de um acesso
potencial ao mercado e à tecnologia de uma grande potência e os riscos de destruição da capacidade produtiva
doméstica e regional (Tavares de Araújo, 1998).
Apesar dessa ambivalência, em que convivem esperanças por parte de setores que defendem o projeto Alca como
alternativa prioritária, e temores e desconfianças de parte
de outros setores que visualizam custos políticos e sociais
graves, a integração comercial hemisférica é vista, quase
pela maioria dos governantes da região, como um destino
inexorável, não só por considerarem que o governo dos
Estados Unidos se empenhará de todas as formas para que
a rota já iniciada não se interrompa, em virtude do desenvolvimento linear do processo de globalização que estáse dando em todo o planeta.
Por outro lado, em face dessa perspectiva, avaliada como
um horizonte próximo, um consenso parece formar-se na
América Latina: o da necessidade de que os processos de
integração sub-regionais em andamento aprofundem-se e
de que desenvolvam entre si relações de maior densidade
e operacionalidade. No que se refere especificamente ao
Brasil, o compromisso com o Mercosul continua prioridade, embora, muitas vezes, o diálogo entre seus sócios tenha-se transformado em monólogo. Não se pode esquecer
que seus dois maiores sócios, Brasil e Argentina, encontram-se com suas economias em crise, suas relações recíprocas muitas vezes turvadas, enfrentando problemas cuja
solução não se descortina com facilidade. Mesmo assim, o
Mercosul ainda representa uma aposta que se acredita que
possa dar certo e um fator importante de legitimidade para
as negociações internacionais, merecendo, portanto, que
os esforços para sua continuidade sejam intensificados.
De qualquer maneira, não se pode desconhecer o fato
de que o Mercosul está diante de um impasse que compromete sua continuidade, e que tem como epicentro a crise
argentina, que se irradia por todos os demais sócios do
bloco, gerando um fracionamento em suas posições, até
aqui conjuntas, e fazendo com que alguns deles se mostrem tentados a seguir caminhos individuais como forma
de sair da crise e de melhor integrar-se à economia
hemisférica e mundial.
Com efeito, diante da Alca, as opiniões e os argumentos não apontam todos na mesma direção. Como já antecipamos, o Brasil, oficialmente, aspira a somar o peso dos
quatro países na negociação e mostra-se como o mais forte opositor às práticas protecionistas dos Estados Unidos.
102
O CANTO DA SEREIA. AMÉRICA LATINA PERANTE A ALCA
ses da região suscetível de se fazer ouvir, efetivamente,
nas negociações perante os Estados Unidos.
Quanto a opinião da sociedade brasileira sobre os temas Mercosul e Alca, está longe de ser consensual sobretudo dos setores que, por diferentes razões, a eles estão
ligados, como economistas, políticos, intelectuais, empresários, trabalhadores. De forma bastante impressionista,
já que não há pesquisas sistemáticas sobre o tema, poderse-ia dizer que, de um lado, situam-se os que concordam
com a estratégia do governo brasileiro por considerarem
que a Alca, sendo um destino praticamente inevitável,
poderá, se bem negociada, trazer benefícios para o Brasil
e para toda a América Latina. Nesse caso, pensam que a
consolidação do Mercosul constitui um recurso de poder
essencial. De outro lado, há os que consideram que os
custos de uma integração profundamente assimétrica do
ponto de vista econômico e com uma enorme diferença
de poder entre a potência que lidera o processo e os demais sócios e que, ao mesmo tempo, carece de redes de
proteção capazes de neutralizar esses desequilíbrios, é totalmente incompatível com um projeto de desenvolvimento
brasileiro e latino-americano. Os que assim pensam, apostam no avanço do Mercosul como a melhor solução a curto, médio e longo prazo para sair-se da crise, empurrando
a solução hemisférica, se é que ela vai-se concretizar, para
um horizonte sem prazo definido. Há ainda uma terceira
vertente, os que, por negarem a importância do Mercosul
ou sua viabilidade, não lamentam sua morte que consideram anunciada e apostam no ambicioso futuro próximo
hemisférico que se descortina para todos os latino-americanos e brasileiros. No que se refere a esta última posição, uma pesquisa realizada no Conselho Empresarial da
América Latina por Amâncio Jorge de Oliveira, no âmbito do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da
USP, revela que uma maioria acima de 50% dos empresários considera que a Alca trará mudanças positivas para o
País, e que esta proporção tende a subir (Estado de S.Paulo,
14/03/01).
Concluindo como síntese da posição do governo brasileiro e de boa parte da sociedade – economistas de modo
geral, acadêmicos, intelectuais, lideranças políticas de diversas facções –, poder-se-ia dizer que a estratégia que mais
conviria ao País seria o estabelecimento de relações comerciais plurais, incluindo diferentes blocos e regiões, e
uma maior participação do Brasil nas instâncias internacionais. Essa estratégia, em que se privilegia a consolidação
e aprofundamento do Mercosul, só poderia ser compatível
com a Alca se viesse acompanhada de ações paralelas, ar-
diferentes ocasiões – discursos, entrevistas coletivas com
jornalistas estrangeiros, palestras, etc. – o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer afirma: “O Mercosul é um
destino para o Brasil, a Alca apenas uma hipótese”, imagem que tem sido utilizada pelo próprio Presidente
Fernando Henrique Cardoso. E continuando a desenvolver esse tipo de lógica: “A Alca é uma opção para o Brasil. Portanto não deve ser encarada com resignação, mas
sim como um empreendimento que valerá a pena na medida em que for congruente com o projeto de desenvolvimento do país” (Lafer, 2001). Na realidade, essa posição
aponta para questões substantivas que, segundo o governo brasileiro, são prévias a qualquer entendimento, e
inegociáveis, como o corte dos subsídios na agricultura, a
eliminação das barreiras não-tarifárias e modificações na
legislação antidumping, mecanismos considerados como
uma forma de protecionismo. Segundo ainda o ministro
Celso Lafer, 60% das exportações brasileiras para os Estados Unidos defrontam-se com esse tipo de barreiras, seja
na forma de medidas antidumping para o aço, seja de direitos compensatórios para o suco de laranja, seja de medidas sanitárias que restringem a exportação de carnes.
“Não se trata apenas de uma negociação sobre tarifas, tratase de uma negociação de acesso a mercados”, enfatiza
(Lafer, 2001).
Com base nessa posição, o governo brasileiro, assumindo o compromisso com o que considera “o seu destino”, tem-se empenhado em retomar as relações bilaterias
com a Argentina, abaladas pelas medidas unilaterais tomadas por esse país. Na realidade a Argentina, ao abrir
seus mercados a terceiros países na tentativa de resolver
separadamente os graves problemas econômicos que a
afligem, rompe, na prática, com a união aduaneira do
Mercosul, revertendo o processo a uma fase anterior. O
presente conflito com a Argentina, aparentemente já contornado, é especialmente sério, pois explicita publicamente
percepções e interesses discordantes entre os dois maiores sócios do Mercosul, que pode ser interpretado como
um mau sinal para os demais sócios plenos ou potenciais,
enfraquecendo uma possível estratégia conjunta.
Mesmo com todo o empenho do Brasil e do fato de que
as posições discordantes de seus sócios terem voltado a
confluir na direção de um mesmo objetivo, o Mercosul –
na formação de um mercado comum – parece estar mortalmente ferido, muitos acreditando que possa retroceder
em seus objetivos e tornar-se apenas um acordo intra-regional de abertura comercial. Se isso se concretizar, dificilmente poderá continuar a ser o único conjunto de paí-
103
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre
Gusmão, Ministério de Relações Exteriores. Rio de Janeiro, 6
jan. 1998.
ticuladas entre si e simultâneas que, construídas ao longo
do tempo, permitissem aproveitar todas as possibilidades
econômicas do País derivadas de sua dimensão continental, da amplidão potencial de seu mercado, de uma estrutura industrial desenvolvida e de uma diversificação significativa conforme investimentos estrangeiros e fluxos
internacionais (Coutinho, 1998).
No caso específico do Mercosul, cujo avanço daria ao
Brasil e aos demais países-membros uma unidade de propostas e objetivos em face da Alca, é necessário, mais do
que nunca, que os conflitos que inevitavelmente surjam
em seu âmbito não congelem sua agenda, como os que
têm ocorrido entre Brasil e Argentina, em que atritos comerciais mal resolvidos e posições tomadas individualmente vêm produzindo, além da queda do comércio entre
eles, a percepção de que o Mercosul esgotou-se.
GREIDER, W. “Sovereign corporations”. The Nation, New York, v.272,
April 30, 2001.
HAKIM, P. “La iniciativa para las Américas: que quiere Washington?”.
BOUZAS, R. e LESTING, N. (org.). Liberalización comercial e
integración regional. De Nafta a Mercosur. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1992, p.23-35.
________ . “The Uneasy Americas”. Foreign Affairs. Nova York,
Council on Foreign Relations, v.80, n.2, mar.-abr. 2001, p.46-61.
HURREL, A. “O ressurgimento do regionalismo na política mundial”.
Contexto Internacional. Rio de Janeiro, Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, v.17, n.1, jan.-jun. 1995, p.23-59.
KLEIN, E. e TOKMAN, V. “La estratificación social bajo tensión en
la era de la globalización”. Revista da Cepal, n.72, dez. 2000.
LAFER, C. “Alca: futuro”. Discurso feito no Seminário: O continente
americano e o futuro das integrações regionais. São Paulo,
Memorial da América Latina, 04/04/2001.
LUSTIG, N. “La estrategia de apertura economica de México y el
acuerdo de libre comércio de América del Norte”. In: BOUZAS,
R. e LUSTIG, N. (org.). Liberalización Comercial e Integración
Regional. De Nafta a Mercosur. Buenos Aires, Grupo Editor
Latinoamericano, 1992, p.55-86.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, M. “O Brasil e a Alca: interesses e alternativas”. In: REIS
VELLOSO (org.). Desafios de um país em transformação. Rio de
Janeiro, J. Editora, 1997.
MARSHALL, D.D. “Nafta/FTAA and the new ariculations in the
Americas: Seizing structural opportunities”. The World Quartely.
Londres, v.19, n.4, 1998, p.673-700.
BONILLA, A. “Percepciones de la amenaza a la seguridad nacional de
los países andinos: regionalización del conflito colombiano y narcotráfico”. Trabalho apresentado no Grupo de Trabalho de Relações Internacionais, do Conselho Latino-Americano de Ciências
Sociais (Clacso), no âmbito do Seminário Internacional coordenado pelo Clacso e pelo Instituto de Relações Internacionais (IRI)
da PUC-Rio. Rio de Janeiro, 24-27 de agosto, 2001, p.1-19.
MITTELMAN, J.H. “Alternative Globalization”. Trabalho apresentado no Seminário Internacional coordenado pelo Conselho LatinoAmericano de Ciências Sociais e pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Rio de Janeiro, 24/27 ago. 2001.
MORRIS, S.D. e SMITH, J.P. “What a difference a crisis makes: Nafta,
Mexico and the United States”. Latin American Perspectives. River
Side, v.28, may 2001.
BOTTARY, M. e SWENARCHUCK, M. “Nafta’s investor rights: a
corporate dream, a citizen nightmare”. Multinational Monitor.
Washington, v.22, April 2001.
NAISBAITT, J. Paradoxo global: quanto maior a economia mundial,
mais poderosos são os seus protagonistas menores: nações, empresas e indivíduos. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1994 (Tradução
de Ivo Korytowski).
CAMARGO, S. “Economia e política na ordem mundial contemporânea”. Contexto Internacional. Rio de Janeiro, Instituto de Relações
Internacionais da PUC-Rio, v.19, n.1, jan.-jun. 1997, p.7-39.
SEAIN. Secretaria de Assuntos Internacionais. Indicadores da economia mundial. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Brasília, n.11, dez. 2000.
CEPAL. Notas da CEPAL, número especial, maio 1999.
CLARKSON, S. “Apples and oranges. Prospects for the comparative
analysis of the EU and Nafta as Continental Systems”. EUI
Working Paper RSC., Itália. European University Institute, Badia
Fiesolana, 2000.
SHOCH, J. “Contesting globalization: organized labor, Nafta, and 1997
and 1998 fast track fights”. Politicas & Society, Stoneham, v.28,
mar. 2000.
TAVARES DE ARAÚJO, J. “Alca: riscos e oportunidades para o Brasil”. Trabalho apresentado no Seminário coordenado pelo Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre
Gusmão, Ministério de Educação. Rio de Janeiro, 08/05/1998.
COUTINHO, L. “A área de livre comércio das Américas – Riscos e
oportunidades da integração continental assimétrica e acelerada”.
Trabalho apresentado no Seminário organizado pelo Instituto de
Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre Gusmão,
Ministério de Relações Exteriores. Rio de Janeiro, 6 jan. 1998.
WILLIAM, G. “Sovereign Corporations”. The Nation, Nova York,
v.272, abr. 2001.
FRITSCH, W. “Integración Economica: conviene la discriminación comercial?” In: BOUZAS, R. e LUSTIG, N. (org.). Liberalización comercial e integración regional. De Nafta a Mercosur. Buenos
Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1992, p.37-53.
SONIA
DE CAMARGO: Professora e Diretora do Instituto de Relações
Internacionais da PUC-RJ ([email protected]).
GARCIA, M.A. “Alca: riscos e oportunidades para o Brasil”. Trabalho apresentado no Seminário organizado pelo Instituto de
104
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1): 105-113, 2002
POLÍTICA EXTERNA DOS EUA E A INTEGRAÇÃO HEMISFÉRICA
POLÍTICA EXTERNA DOS EUA E A
INTEGRAÇÃO HEMISFÉRICA
REGINALDO MATTAR NASSER
Resumo: o artigo focaliza o processo de integração hemisférica com base na óptica da política externa dos
EUA, procurando chamar a atenção para as relações entre os aspectos políticos e econômicos contidos na
questão. Faz ainda algumas considerações sobre as tendências e perspectivas do atual governo Bush.
Palavras-chave: política externa dos EUA; integração na América Latina; geopolítica.
Abstract: This article examines the process of hemispheric integration from the perspective of United States
foreign policy, while highlighting the relationships between various political and economic aspects of the
issue. Further, it offers some observations regarding trends of the current Bush administration.
Key words: United States foreign policy; Latin American integration; geopolitics.
The first goal in our hemisphere is democracy. Our second goal is
free trade in all the Americas, which will be a step toward free
trade in all the world (...) My administration will foster democracy
and level barriers to trade. But we have a third great goal. We must
defend the security and stability of our hemisphere against the
grave threats of organized crime, narcotics traffickers, and terrorist
groups.” Extraído do discurso intitulado “Century of the Americas”.
George Bush em Miami (25/08/2000)
O
PT pretende colocar o debate em torno do livrecomércio e da criação da Alca como um dos pontos de sua campanha presidencial deste ano, além
dos já tradicionais temas – saúde, educação, reforma agrária. De acordo com Luiz Inácio Lula da Silva, o assunto
tem potencial para despertar interesse na sociedade, pois
a “questão do livre-comércio já mostrou ser importante
para a população na recente disputa comercial com o Canadá sobre a exportação de carne bovina” (Folha de
S.Paulo, 27/04/2001).
A avaliação não é exclusiva do político petista e já é
consensual nos meios políticos e intelectuais que, desde a
crise com o Canadá, aumentou o interesse da sociedade
pelas relações internacionais e a percepção de que têm
105
efeitos diretos na economia brasileira, como no nível de
investimento e na criação de emprego. Alguns parlamentares já vêem como inadiável o caráter de certas reformas
domésticas como a tributária, a previdenciária e a modernização da Lei das S.A. em decorrência da integração econômica que tende a se aprofundar.
O recente encontro entre Chefes de Estado na Cúpula
das Américas em Quebec veio confirmar que a política
externa do Brasil está-se tornando um dos temas principais da política doméstica, provocando debates entre empresários, sindicalistas e políticos com repercussões dentro do governo.
Para alguns, a adesão à Alca significa uma renúncia à
soberania nacional, destinada a beneficiar unilateralmente os EUA. As preocupações com o meio ambiente e com
as medidas fito-sanitárias, por exemplo, são interpretadas
como subterfúgio para reduzir a soberania brasileira, ao
passo que a política americana de antidumping e os padrões trabalhistas são tidos como pretexto para o protecionismo. Uma das críticas mais contundentes à Alca veio
do embaixador Samuel Guimarães. Segundo ele, “o
corolário desse processo de redução negociada da soberania será, como é natural, a diminuição da possibilidade
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
do Brasil promover e defender seus interesses de toda
ordem, inclusive políticos e estratégicos”. O Estado brasileiro, por um tratado internacional, teria, como conseqüência principal, a redução, ou mesmo a eliminação, de
sua capacidade soberana de promover políticas comerciais,
industriais, tecnológicas, agrícolas e de emprego do parque produtivo (Guimarães, 2001).
Para outros, a Alca faz parte de um processo natural de
internacionalização, e dependendo de nossa capacidade
de negociação, será favorável ao País. Receoso de ver o
Brasil isolado no Continente, o ex-ministro Bresser Pereira entende que é fundamental preparar-se para negociar com competência, envolvendo os diferentes setores
da sociedade civil e adotando a atitude de quem quer conquistar maiores mercados. O Brasil, de acordo com
Bresser, é um País maduro o suficiente para negociar bem,
“em vez de esconder-se num canto do mundo” (Bresser
Pereira, 2001).
Logo após a realização da Cúpula das Américas, o representante comercial dos EUA (USTR), Robert Zoellick,
percebendo o rumo que a questão da ALCA está tomando
no Brasil, apontou o calendário eleitoral brasileiro e as
resistências de empresários “beneficiários do isolamento
econômico do país” como os maiores obstáculos ao avanço nas negociações da Alca. Apesar de reconhecer “os
esforços feitos pelo presidente FHC e o ministro Lafer para
abrir a economia do país”, o representante do USTR disse que reina uma certa indefinição do Brasil quanto ao
seu papel no cenário internacional, pois terá de decidir se
quer ser um “líder global ou o maior país da América do
Sul”. Se quiser ser um líder global, “terá de chegar a um
acordo com os EUA, com a União Européia e com outros
atores no sistema de comércio global” (O Estado de S.
Paulo, 23/04/2001).
As impressões do Robert Zoellick advêm da postura
que assumiu o governo Brasileiro na Cúpula de Quebec.
O discurso de abertura do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que apresentou uma série de condicionantes para
a adesão do Brasil à Alca (acesso aos mercados mais dinâmicos; regras compartilhadas sobre antidumping; redução de barreiras não tarifárias; acabar com a distorção protecionista das boas regras sanitárias; proteger a propriedade
intelectual e promover a dos povos participantes), e a ênfase com que o ministro Celso Lafer tem declarado que o
“Mercosul é um destino e Alca uma opção”, foram avaliadas, de uma forma geral, pela mídia (internacional e nacional) e por alguns think tanks dos EUA como um “endurecimento” da posição brasileira.1
O ex-secretário de Estado e influente pensador das
relações internacionais, Henry Kissinger, vê com extrema preocupação a posição assumida pelo Brasil. O
País pode-se tornar o principal obstáculo para a realização da Alca devido, sobretudo, às “razões políticas,
resultantes da histórica aspiração do Brasil de desempenhar papel de liderança no Hemisfério Sul”. A inquietação do ex-secretário volta-se para a postura que a
Europa vem assumindo na América, valendo-se de uma
declaração do então presidente do Conselho da União
Européia, Antônio Guerres, 2 em que defende um acordo agrícola com o Mercosul como meio de “construir
uma nova ordem mundial multipolar capaz de limitar a
hegemonia natural dos EUA”. Assim, a permanecer a
tendência do afastamento do Brasil com os EUA e uma
possível aproximação do Mercosul com a Europa, tal
atitude seria não apenas um revés para perspectivas econômicas dos EUA em um mercado responsável por 20%
do comércio exterior, mas “acima de tudo, é um desafio à posição histórica dos EUA no hemisfério e à sua
aspiração por uma ordem mundial baseada numa comunidade crescente de democracias nas Américas”
(Kissinger, 2001).
O tema de criação da Área de Livre Comércio ao ingressar na sociedade brasileira politizou-se e ganhou
contornos ideológicos de tal ordem que se torna quase
impossível avaliar a questão em sua real dimensão. Das
considerações astuciosas do ex-secretário Henry
Kissinger aflora uma perspectiva que vai muito além
das empobrecedoras dicotomias ideológicas presentes
no debate brasileiro, permitindo ampliar de forma considerável o enfoque quase sempre visto apenas sob a
óptica da diplomacia comercial. Na verdade, o historiador Kissinger quer nos lembrar – a História é a memória dos Estados – que o processo de integração nas Américas faz parte de uma estratégia histórica dos EUA para
o hemisfério, no qual o comércio, ao lado da segurança
e da missão civilizadora, compõem os principais vetores de sua política externa.
Os esforços para estreitar as relações políticas e econômicas no continente, que os norte-americanos estão
conduzindo, vão muito além dos referenciais partidários
(democratas e republicanos), das orientações teóricas
(idealistas e realistas) e do mero oportunismo econômico. Baseiam-se mais no que Arthur Whitaker denominou
“a idéia de hemisfério ocidental”, uma percepção de que
as nações do hemisfério compartilham de uma relação especial entre elas. Todos os presidentes norte-americanos,
106
POLÍTICA EXTERNA DOS EUA E A INTEGRAÇÃO HEMISFÉRICA
PROCESSO DE INTEGRAÇÃO NOS ANOS 90:
ECONOMIA E POLÍTICA
desde James Monroe até George Bush, têm alentado a idéia
de estabelecer uma comunidade de nações no hemisfério
ocidental. Embora o ingrediente essencial seja o aspecto
geográfico, há um grande núcleo de idéias associadas a
ele, tanto sociais e culturais como político-geográficas e,
mesmo, místicas e racionais. Jefferson escrevia, em 1813,
que a unidade dos povos americanos compreendia todas
as formas de existência (Whitaker, 1954:1-2).
O representante dos EUA na OEA, Luís Lauredo, advertia em Quebec que a criação da Alca não era o único
componente da reunião, pois quando Bush e Clinton lançaram a proposta reconheceram a existência de uma série
de desafios que deviam ser enfrentados (democracia, trabalho, meio ambiente, tecnologia e educação) de modo
que a união do hemisfério refletiria a crença em duas idéiaschave: democracia é única forma legítima de governo e o
livre-comércio é o melhor caminho para a prosperidade
(jornal Miami Herald, 20/04/2001).
Tal entendimento foi também manifestado por Colin
Powell em artigo publicado na Folha de S.Paulo (22/
04/2001), em que atribui aos líderes políticos das Américas “a responsabilidade da decisão sobre políticas que
levem à abertura dos mercados, que enfrentem a corrupção que destrói as sociedades e as empresas, promovendo a boa governança, o livre-comércio e a liberdade numa ação conjunta para uma vida melhor e uma
vizinhança mais segura”.
Percebe-se, pois, que o Brasil (governo e sociedade de
forma geral) tem cometido o equívoco, por razões que não
nos importa no momento, de não se atentar devidamente
para necessidade de se compreender como pensa aquele
com quem estamos entabulando nossas relações. Não se
pode negligenciar a premissa básica que rege as relações
diplomáticas-estratégicas que é conhecer, ao mínimo, quais
são os objetivos da “outra parte” e o modo pelo qual tentará implementá-los – seja aliado permanente ou ocasional. Diferentemente dos EUA, o governo brasileiro tem
colocado a diplomacia comercial em primeiro plano, relegando as questões políticas.
O objetivo do presente artigo é mostrar que a Alca faz
parte da agenda da política externa dos EUA e, como tal,
apresenta-se articulada a uma série de outros temas considerados basilares de sua política externa como democracia e segurança. Que se incorpore aqui, as palavras do
estrategista chinês Sun Tzu: “Conheça o inimigo e a si
mesmo e você obterá a vitória sem qualquer perigo; conheça o terreno e as condições da natureza, e você será
sempre vitorioso.”
A política externa norte-americana em relação à América Latina e Caribe seguiu um padrão cíclico durante o
período da guerra fria. Cada vez que Washington determinava que havia concedido recursos insuficientes para
os países, desenvolvia um programa e anunciava-o com
estardalhaço; quando o suposto perigo cedia, a atenção e
respaldo norte-americano passavam a outra região. Dessa
forma, as perspectivas, conclusões e recomendações emanadas das viagens de Milton Eisenhower à região, em 1953
e 1959, repetiram-se no informe de 1961 na Missão Especial para América Latina do Presidente Kennedy, e, mais
à frente, reapareceram no informe de 1984 da Comissão
Kissinger. Estas três administrações avaliaram que a
intranqüilidade na América Latina devia-se tanto à desigualdade social como à interferência soviética, recomendando que os Estados Unidos respondessem com maiores
recursos econômicos e militares à região. O Fundo para o
Progresso Social de Eisenhower, a Aliança para o Progresso de Kennedy e a Iniciativa para a Cuenca do Caribe
(ICC) de Reagan nasceram da mesma teoria da contenção
mediante o desenvolvimento econômico, e cada uma dessas iniciativas esteve acompanhada por um incremento de
assistência externa às operações de segurança.
A política dos EUA continuou refletindo várias das
mesmas motivações contidas na Doutrina Monroe: evitar
que doutrinas de fora e não democráticas deitassem raízes
no continente americano. O continente americano já não
era a região principal dos interesses norte-americanos, mas
um setor a mais na luta, em nível mundial, entre as superpotências. A disposição dos Estados Unidos em dedicar
maior atenção política e mais recursos materiais à região
alterou-se no transcurso de sua disputa com Moscou.
Embora o Congresso de modo geral estivesse disposto a
financiar os programas de assistência externa, ou de outro tipo, solicitados pelos distintos presidentes, sempre insistia que o executivo deveria economizar e não se mostrava animado em aprovar auxílios às regiões que não
pareciam estar diante de ameaças iminentes.
As complicações políticas tornaram-se mais graves nos
anos posteriores à guerra fria, à medida que o Congresso
tornou-se mais assertivo como instituição e se desfez o
consenso bipartidário sobre os objetivos supremos dos
EUA, além disso, as limitações orçamentárias geraram uma
concorrência entre os programas internos e externos. A
desintegração da União Soviética e o fim da guerra fria,
107
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
formação de blocos econômicos regionais, e a reviravolta
para a democracia não só poderia estimular o comércio
internacional, mas promover um sentido de comunidade
entre as nações do continente. Entretanto, o poder executivo não conseguiu persuadir o Congresso a aprovar o “Fast
Track” concedendo-lhe amplos poderes para promover acordos comerciais específicos.
Pode-se dizer que com o fim do sistema bipolar, os
EUA, tal como nos momentos posteriores às duas grandes guerras, estavam de novo diante do ressurgimento do
wilsonismo que se manifesta basicamente em torno dos
seguintes pontos: a democracia se expandirá pelo mundo
inteiro, criando uma verdadeira comunidade de nações com
valores e interesses compartilhados; o livre-comércio trará prosperidade e promoverá as forças democráticas; será
necessária a liderança americana nos assuntos mundiais
para ter a certeza de que a nova ordem esteja segura.3 Tudo
isso parecia fazer sentido nos anos 90, e os policymakers
norte-americanos concluiam que a difusão da democracia
e o livre comércio pelo Hemisfério Ocidental teriam dado
uma contribuição significativa para a estabilidade na região mediante redução dos conflitos interestatais. Entendiam que a razão principal da ocorrência das guerras no
passado entre Costa Rica e Panamá, Bolívia e Paraguai,
Peru e Equador, Honduras e El Salvador, e mesmo da Argentina com a Inglaterra era decorrente do fato de que as
nações latino-americanas envolvidas encontravam-se lideradas por ditadores. Os acontecimentos pareciam comprovar a assertiva, de inspiração kantiana – governos democráticos não fazem guerra entre si (Talbott, 1994).
Passados alguns anos, os policymakers já não estavam
demonstravam o mesmo otimismo. Em artigo de 1997, Scot
Talbott, propunha usar a palavra democratização e não
democracia. Democracia – dizia ele – “soa como um absoluto, um estado de graça, um destino a qual chegou. Democratização, ao contrário, parece mais um processo –
uma jornada longa e dolorosa que requer paciência e persistência, fortaleza e poder de recuperação, não apenas
dos que participam do processo, mas também dos que o
apóiam. Nenhuma sociedade pode transformar o modo que
se governa durante a noite, um ano ou até mesmo uma
década. Democratização é o trabalho de uma geração ou
mais... Quando a comunidade de nações democráticas responde em concerto à subversão da democracia, suas
chances de sobrevivência são mais altas” (Talbott, 1997).
O Relatório da OEA de 1999, fazendo um balanço da
década, apontava a existência de sérias ameaças à democracia na América Latina, afirmando que, apesar da vi-
libertando a política externa norte-americana de sua obsessão com o comunismo; o colapso das economias da
América Latina, bastante centradas no modelo nacionalestatista, e a crise dos regimes militares, marcadamente
autoritários; tornaram possível aos Estados Unidos
conclamar os governos da América Latina e das Antilhas
para que conjugassem seus esforços na defesa de democracia, na promoção do livre-comércio e na manutenção
da segurança no continente.
Em 1990 o Presidente Bush estabelecia uma série de
medidas orientadas a fomentar as reformas democráticas
e liberais que então se empreendiam em toda a região: o
alívio da dívida externa, a liberalização do comércio e a
abertura de novas linhas de financiamento para programas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O princípio do livre-comércio proposto pelo presidente
dos EUA, por ocasião do lançamento do Empreendimento pela Iniciativa das Américas, concebia um sistema integrado abrangendo todo o continente, do Alasca ao
extremo sul do Chile. Seu significado principal era estabelecer uma relação “especial” entre os EUA e os outros
países do Hemisfério Ocidental. O Nafta aparecia como o
primeiro grande passo para levar o projeto adiante. Não
obstante, o fato de que as “coisas iam bem na região”, aliada à recessão interna e às conseqüências desastrosas resultantes do colapso da União Soviética, levaram os membros do Congresso a questionarem a necessidade de se
tomar tais ações na região. O Congresso jamais atribuiu
todos os fundos que a administração solicitava para o BID
e estabeleceu restrições orçamentárias aos planos para o
alívio da dívida esboçados pelo governo.
Coube ao sucessor de G.Bush, Bill Clinton, dar um impulso definitivo ao processo de integração nas Américas.
Após intensas discussões, em relação aos méritos do Nafta,
com uma grande parte da opinião pública norte-americana extremamente cética e receosa diante da perspectiva
de aproximação econômica e política com o México, o
presidente acabou convencendo o Congresso a aprovar o
Acordo. Logo a seguir, em dezembro de 1994, Clinton
reuniu 34 chefes de Estados em Miami, um marco para a
história das relações interamericanas, a primeira Cúpula
Hemisférica desde 1967, a primeira apresentada pelos
EUA, e a primeira na qual todos os líderes políticos representavam governos democráticos. Empolgado, o Presidente via “uma oportunidade sem precedentes para construir uma comunidade de nações livres”. Para os EUA a
América Latina reemergia, após longa depressão, como
uma zona econômica importante e dinâmica, em que a
108
POLÍTICA EXTERNA DOS EUA E A INTEGRAÇÃO HEMISFÉRICA
de integração aprofundaram-se com uma velocidade espantosa, com conseqüências marcantes para as nações envolvidas.
Com tantas e profundas mudanças, o desafio é definir
quais são as ameaças que, de fato, colocam em risco a
solidez e a segurança do hemisfério. Na Cúpula de Santiago (1998), os chefes de Estado reconheceram que, com
a construção de relações mais cooperativas entre os países do continente, os antigos referenciais geopolíticos
perderam importância, cabendo agora o estímulo ao
diálogo regional com vista a revitalizar e fortalecer as instituições do Sistema Interamericano, considerando os novos fatores políticos, econômicos, sociais e militares no
Hemisfério e em suas sub-regiões. Por “novos fatores”
entenda-se o terrorismo, o crime organizado internacional e a ação dos grupos paramilitares, todos capazes de
causar instabilidades políticas nos países da região. Ressalte-se que agora as ameaças são multidimensionais, transgredindo fronteiras e requerendo, portanto, soluções transnacionais. Nenhum país do hemisfério pode lidar com essas
circunstâncias complexas, de forma objetiva e eficaz, sem
o apoio dos demais. Dessa forma, e pensando ainda na
realização de políticas de segurança multilaterais, surge a
necessidade de se fortalecer os mecanismos de ação coletiva, já existentes, bem como avaliar a dimensão e o alcance dos novos conceitos de segurança no sistema
interamericano emergente. Os velhos padrões de comportamento – que sempre nortearam a ação no continente –
deram sinais de desgaste, incapazes em atender as exigências que as relações interamericanas, mais dinâmicas e
integradas, agora suscitam. A tradicional ambivalência e
falta de comprometimento que, de modo geral, caracterizaram a postura dos EUA, cede espaço a uma política mais
ativa, que busca a liderança, modelando o espaço hemisférico de acordo com seus valores (Strategic Assessment,
1999).
gência do regime democrático, os direitos humanos seguem sendo violados na região. De acordo com a organização, o funcionamento deficiente das instituições atrapalha o “império da lei” e causa instabilidade, dificultando
o desenvolvimento social, econômico e cultural da região.
“Apesar da vigência da democracia, numerosos habitantes do hemisfério continuam sendo vítimas de violações
de direitos fundamentais, como a vida, a liberdade e a integridade pessoal.” Segundo ainda o relatório, a constatação de tais fatos “confirmam a gravidade dos problemas que se enfrentam e as dificuldades dos sistemas
políticos em sua tentativa de dar respostas às demandas
da sociedade”. Em suas conclusões, a OEA convocava os
países membros “a adotarem medidas eficazes para proteger o direito à vida, à integridade física e à liberdade e
garantir que as violações sejam devidamente investigadas
e reparadas” (Folha de S.Paulo, 13/05/2000).
Embora a Cúpula de Miami (1994) fizesse menção, no
texto final da declaração, aos problemas das drogas ilícitas, às atividades criminosas conexas e ao terrorismo nacional e internacional como sérias ameaças às economias
de livre mercado e às instituições democráticas do hemisfério, não colocou como prioridade para ação as questões
de segurança. Entretanto, vários de seus membros levaram esse desafio no ano seguinte ao “Simpósio sobre a
Paz e Segurança no Hemisfério” (Williamsburg, jul. 1995)
para pensar em novas formas de defesa e segurança em
um ambiente estratégico modificado. A democracia parecia triunfar como forma de governo na região, mas seu
fracasso para solucionar as desigualdades econômicas, os
problemas das migrações, drogas e crimes conduzia a
perguntas persistentes sobre se a democracia implementada
seria realmente eficiente. As condições internacionais e
domésticas, radicalmente novas, exigiam para o estabelecimento de segurança no Hemisfério Ocidental sérios ajustes a serem realizados (Downes, 1995).
Sem dúvida nenhuma, nos últimos dez anos, a América Latina vivenciou uma série de transformações político-econômicas que alteraram de maneira significativa a
sua inserção no cenário internacional. O aprofundamento
dos fluxos de comércio, impulsionados, sobretudo, por iniciativas de integração sub-regional bem-sucedidas; as reformas orientadas para o mercado; e o processo de democratização ainda vigente, é evidente, contribuíram para que
novas perspectivas se abrissem aos países do continente.
O quadro atual diferencia-se profundamente da década
passada, se se levar em conta que tradicionais rivalidades
do passado, por ora, estão adormecidas, e os processos
GOVERNO BUSH: NOVA POLÍTICA EXTERNA?
Diferentemente da campanha eleitoral, os assuntos referentes à política externa assumiram um enorme grau de
relevância já nos primeiros meses da administração Bush.
À véspera da viagem de Vladimir Putin para a Cúpula da
União Européia em Estocolmo, o governo dos EUA expulsou 50 espiões russos com comentários do secretário
de defesa de que a Rússia é um “proliferador” ativo de
tecnologia de projéteis nucleares; o chefe da Agência de
Proteção Ambiental descreveu como morto o acordo de
109
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
Kyoto sobre mudanças climáticas; o secretário de Defesa
avaliou os tratados de mísseis antibalísticos, com a extinta URSS, como obsoletos; a diplomacia norte-americana
já não vê mais a China como um “parceiro estratégico”,
mas um “competidor estratégico” que está extrapolando a
sua esfera de ação.
Enfim, está-se assistindo a uma série de ações, extremamente polêmicas, que faz com que se coloque as seguintes perguntas: o governo Bush representa uma descontinuidade na condução da política externa dos EUA?
Quais parâmetros deve-se utilizar a fim de verificar a validade ou não dessa proposição? Estaria Bush desmentindo os analistas que avaliam que o fim da guerra fria, a
complexidade dos novos temas internacionais e a ausência de um potente adversário externo reduziriam as diferenças políticas entre os partidos Democrata e Republicano?4
Pode-se dizer que, de forma geral, atualmente, os partidos Republicano e Democrata nos EUA são a favor de
um programa semelhante na área de política externa: promoção dos negócios internacionais, valorização do multilateralismo econômico, fortalecimento da idéia de segurança coletiva e edificação de uma comunidade democrática
de nações. Essa coalizão não é distinta da que se formou
nos anos 40 quando os Estados Unidos estavam contemplando o mundo pós-guerra. Nem todos, porém, agem pelos mesmos motivos ou interesses. Alguns procuram democracia, a regra de lei, e direitos humanos como fins em
si mesmos; outros os vêem como um modo de se expandir
e salvaguardar negócios e mercados; e, por fim, existem
os que vêem uma forma indireta para alcançar a segurança nacional. Na verdade, tudo isso está mesclado em uma
grande estratégia que é o modo norte-americano de se ver
o mundo.5
Por vezes acontece que a mudança de governo pode ocasionar uma atenção maior para um dos objetivos em detrimento dos demais, e as diferenças entre as administrações
podem-se manifestar também no modo como esses imperativos serão implementados, ou mesmo qual região do globo
mereceria uma atenção maior. O governo de Carter foi caracterizado por empunhar a bandeira dos direitos humanos;
para Reagan, o projeto Guerra nas Estrelas constituía a sua
grande estratégia ao lado do combate ao comunismo na
América Central e Caribe; já Clinton, sobretudo depois de
sua reeleição em 1996, elegeu a diplomacia econômica como
centro de sua política externa.
Estimulando o uso de incentivos financeiros e/ou embargos econômicos para promover mudanças políticas em
outros países e chamando a atenção para um mundo no
qual não mais existiriam as rivalidades nucleares, o governo Clinton colocou o comércio à frente de direitos humanos e da segurança, acreditando que a expansão do capitalismo norte-americano ajudaria a propagar o american
way of life em um ambiente de paz. Um bom indicador
dessa conduta é verificar como se estruturavam as relações entre economia e segurança durante o seu governo.
Em 1993, foi criado o Conselho Econômico Nacional,
que passou a rivalizar com o Conselho de Segurança Nacional, a tal ponto que se engajaram em várias disputas na
Casa Branca. Na realidade, outras administrações já haviam tentado articular melhor a área de segurança nacional com os assuntos econômicos e a pressão cresceu assim que se constatou que a CIA e o Departamento de
Estado mostraram-se lentos na reorientação da política
norte-americana diante dos novos desafios da economia
mundial. Após a queda do Muro de Berlim, oficiais da
CIA passaram a fornecer mais informações para os representantes comerciais norte-americanos, mas, mesmo assim, os EUA foram freqüentemente pegos de surpresa por
crises econômicas que geraram riscos políticos para o país.
Tanto na crise mexicana quanto na da Ásia e Rússia, a
CIA e o Departamento de Estado não detectaram sinais
da crise que afetaria toda a região.6
Querendo alterar profundamente esse quadro, Bush, mesmo antes de sua posse, manifestou o propósito de incluir especialistas em assuntos da área econômica nos quadros do
Conselho de Segurança Nacional do país, capazes de prever
e detectar crises e mudanças econômicas em países que possam afetar a estabilidade política mundial. Solicitou a
Condoleeza Rice, conselheira de Segurança Nacional, e ao
chefe do Conselho Econômico, Lindsey, que “dividissem a
mesa de trabalho” para coordenar os objetivos da política
externa com a estratégia econômica que o governo deve impor nos próximos anos. O plano de Bush tem o objetivo de
alterar substancialmente o problema que o ex-presidente
Clinton teve de enfrentar: “Matérias relativas à economia
internacional ainda não estão tão integradas ao processo de
segurança nacional como deveriam”, disse Rice. No mesmo
diapasão, Robert Zoellick julga que o processo de integração,
além de seus méritos econômicos, pode dar uma boa base de
sustentação para os compromissos com a segurança, permitindo que os EUA promovam também sua “agenda geopolítica” (Zoellick, 2000). Ao que tudo indica, portanto, com
a equipe de Bush, a geopolítica está de volta.7
Outra possível alteração na conduta externa dos EUA
refere-se às prioridades regionais. Durante a campanha
110
POLÍTICA EXTERNA DOS EUA E A INTEGRAÇÃO HEMISFÉRICA
No entanto, a integração passou a ser vista, ao mesmo tempo, como causadora de problemas domésticos com o aumento do tráfico de drogas e a crescente imigração ilegal.
Em vez de responder atuando mais decisivamente para o
aperfeiçoamento do Nafta – reclamam os analistas –, o
governo retraiu-se, minando os interesses econômicos norte-americanos na América Latina e debilitando sua liderança no Hemisfério.
Além das razões econômicas, políticas e militares há
que se levar em conta também uma razão simbólica que
vê a hegemonia no Hemisfério Ocidental como um indicador da credibilidade dos EUA no mundo. Logo após a
revolução em Cuba, em 1959, o presidente Eisenhower
assegurava que o abandono ou a neutralidade dos Estados Unidos no continente “afetariam seriamente a capacidade dos EUA exercerem a liderança efetiva do mundo
livre”; em 1984, o presidente Reagan alertava que “se não
podemos (EUA) nos defender ali (América Central e
Caribe), não podemos esperar prevalecer nossa segurança em outros lugares. Nossa credibilidade entraria em
colapso, nossas alianças se esfacelariam, e a segurança de
nossa pátria estaria em perigo”.10
Por enquanto, ainda não foi possível constatar qualquer
mudança significativa na Política Externa dos EUA em
relação à América Latina. É verdade que se está no reino
das percepções, embora se saiba o relevante papel que elas
representam no âmbito das relações internacionais, principalmente quando se tem presente a constante referência
que se faz à América Latina nas eleições norte-americanas. O Estado da Flórida, por exemplo, mostrou-ser decisivo nas eleições presidenciais da década de 90. Depois
de toda a confusão eleitoral do ano 2000, Bush saiu-se
vitorioso pelo apoio dos latinos, sobretudo, da comunidade anticastrista (Caso Elian). Em 1992, Bush (pai) reverteu sua oposição a Lei (Torriceli) de Democracia Cubana, semanas antes da eleição, num momento de incerteza
eleitoral em que os democratas haviam anunciado apoio à
medida. Já nas eleições de 1996 foi a vez de Clinton reverter sua posição e assinar a Lei (Helms-Burton) de Liberdade e Solidariedade Democrática Cubana. De acordo com o historiador Lars Schoultz, embora “caprichosos
e inesperados, difíceis de prever o resultado” – os exemplos relatados acima indicam que: – “se há capital político doméstico a ser ganho fazendo-se algo para ou com a
América Latina, então os dois séculos de história das relações entre EUA – América Latina demonstram plenamente que alguém o fará” (Schoultz, 2000:411). Acrescentaria que hoje, diferentemente do passado, a América
eleitoral no ano passado, o então candidato do partido
Republicano George W. Bush, em discurso na Universidade Internacional da Flórida, acusava a administração
Clinton de haver mantido uma estratégia indefinida para
a América Latina e advertia: “aqueles que ignoram o nosso hemisfério não compreendem plenamente os interesses norte-americanos”. Chamava a atenção para a necessidade de se estabelecer prioridades na política externa
dos EUA, repreendendo a administração Clinton em colocar os assuntos hemisféricos em segundo plano: “Este
país tinha todos os motivos para se preocupar com uma
região como Kosovo, por exemplo, mas há mais refugiados causados pelos conflitos na Colômbia. Os Estados
Unidos têm motivos para se preocupar com o Kuwait, mas
parcela muito maior do nosso petróleo vem da Venezuela.
Os Estados Unidos estão certos em receber com agrado a
liberalização do comércio com a China, mas exportamos
volume praticamente igual para o Brasil”.
Poder-se-ia dizer que seria apenas uma questão de retórica de um candidato em campanha querendo conquistar os votos latinos da Flórida, do que uma proposição mais
estratégica.8 Entretanto, se olhar com atenção para os think
tanks norte-americanos mais próximos do partido republicano se perceberá que o discurso de George Bush também reflete uma percepção que veio sendo construída durante os anos 90, tendo como referencial crítico a política
do governo Clinton para as Américas.9
Em conferência realizada em 1999 na Fundação
Heritage, o senador Republicano Mike De Wine, alertava
para os perigos reinantes na América Latina (terrorismo,
tráfico de drogas), que eram da mesma proporção, ou até
mais grave do que em Kosovo. Se na Europa, dizia o senador, o desafio colocava-se para as missões e a sobrevivência da aliança com a Otan, na América Latina os EUA
são confrontados com o seguinte dilema: “vamos permitir
que a América Latina exporte seus problemas para nós –
ou, ao contrário, nós tomaremos a iniciativa, e exportaremos algumas soluções já comprovadas para a América Latina?” (De Wine, 1999).
A avaliação geral é de que os anos Clinton dissiparam
as realizações de mais de uma década com uma política
de negligência e indiferença para a América Latina. Após
a crise do peso mexicano, ao término de 1994, o livrecomércio no Nafta passou a sofrer uma série de críticas.
Com um discreto apoio dos EUA, o governo mexicano
seguiu uma política rigorosa caracterizada por sólidas
melhorias no nível de emprego e inflação, conseguindo
alcançar uma taxa de crescimento de 7% ao ano em 1997.
111
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
riáveis internacionais, mas pautam-se também em função
de possíveis redefinições no conceito de liberdades essenciais dos cidadãos norte-americanos, de teorias sobre o
bom funcionamento da economia e das convicções sobre
o que constitui uma justa distribuição de custos e benefícios na sociedade. Tais flutuações, todavia, são dimensionadas em cada governo pelo feeling presidencial em
conduzir a nação em suas ações externas diante de situações nas quais tem de ser realizados severos trade-offs
entre sobrevivência, liberdade e bem-estar material. Portanto, em certo sentido, a linha de continuidade da política externa entre os sucessivos governos será traçada mais
em função da popularidade do presidente em sustentar seus
propósitos (Brown, 1994).
No ano de 1999, o Centro de Pesquisa Pew colocou
como quesito para pesquisa de opinião pública a prioridade (de “não prioritário” a “alta prioridade”) que os Estados Unidos deveriam conceder às diversas questões de
política externa. No topo da lista apareceram: proliferação de armas nucleares (Coréia do Norte e Índia/Paquistão), e redução do terrorismo internacional tráfico de drogas (cerca de 75% concederam “alta prioridade” a essas
questões). Em pesquisa realizada pelo Instituto Aspen/
Belden Associates (janeiro/fevereiro de 2000) mais de
quatro quintos do público manifestou a crença de que os
Estados Unidos são afetados grandemente (51%) ou pelo
menos em parte (36%) por “guerras e inquietações em
outras partes do mundo”.
As relações interamericanas continuam sendo sobretudo
econômicas, mas eles também sublinham a crescente importância das crises de governabilidade, da urgência de certas
reformas institucionais, do aprofundamento das desigualdades sociais e das transformações da natureza da segurança.
Pode-se inferir que, muito embora a América Latina não figure, especificamente, como área preocupante, a alta prioridade que a opinião pública concede ao tráfico de drogas
faz com que se torne pelo menos uma zona de “inquietação” para a segurança nacional dos EUA. O tema da estabilidade regional hoje não abrange apenas as metas militares,
mas igualmente o bem-estar individual e coletivo dos cidadãos norte-americanos. A “cooperação” que os EUA “solicitam” aos latino-americanos como de interesses compartilhados, reciprocidade, transparência e responsabilidade
mútua é bem genérica e, a bem da verdade, denota nova
estratégia que, ao promover a democracia, a ampliação do
acesso aos mercados, a repressão ao tráfico de drogas e o
controle das migrações, estaria, ao mesmo tempo, assegurando a realização de seus interesses nacionais.
Latina tem um peso econômico considerável. As exportações dos EUA para as Américas, entre 1990-1999 – excluindo Canadá e México –, cresceram 7,8%, comparados com 6,3% para o resto do mundo; e os Estados da
Flórida e Texas respondem por quase 50% do total.
OPINIÃO PÚBLICA E POLÍTICA EXTERNA
Não se pode deixar de lembrar que o Congresso desempenha papel fundamental na condução da política externa dos EUA, e apesar da pouca importância dada pelo
público à política externa e das reduzidas diferenças entre os partidos Democrata e Republicano no que se refere
às relações exteriores, o público leva em conta os valores
e a competência da administração na resolução das crises
internacionais. Embora os Estados Unidos gozem de um
poder sem paralelos no cenário mundial, está cada vez mais
difícil para o presidente lidar com o congressistas e mobilizar apoio para sua ação internacional. Clinton triunfou em questões como a ampliação da Otan, o final da
guerra na Bósnia e a aprovação do Senado à Convenção
sobre Armas Químicas, após intensas negociações. Mesmo assim, as margens de sua vitória foram bastante estreitas. Em outras questões, como a política de aproximação com a China, o aquecimento global e a autorização
para o fast track viu suas iniciativas caírem vítimas da
disputa partidária no Congresso.
Deve-se ressaltar que, na maioria das vezes, quando se
fala o “Congresso”, não é algo monolítico em seus pontos
de vista e raramente atua como organismo unitário. A atenção deve-se fixar, de fato, para os atos de uma das câmaras, ou de uma comissão, ou mesmo de alguns de seus
membros mais atuantes. É importante ter em conta que a
influência do Congresso não pode ser medida unicamente
pelo registro de seus votos, pois está sempre reagindo aos
acontecimentos mundiais, por meio de suas freqüentes
interações com o Presidente da República, os think tanks,
os meios de comunicação e a opinião pública. Freqüentemente o presidente pode não adotar uma medida ou
postergá-la porque o preço político de forçar sua aprovação e mobilizar apoio da opinião pública pode ser demasiadamente alto, ou prejudicar outros objetivos da administração, externos ou internos.11
Embora os presidentes dos EUA tenham a clara compreensão do dever de guiar suas ações em prol do interesse nacional, há certa margem de manobra para justificar
sua implementação, que varia de administração para administração. As mudanças não dependem apenas das va-
112
POLÍTICA EXTERNA DOS EUA E A INTEGRAÇÃO HEMISFÉRICA
FERREIRA, O.S. Nossa américa: indoamérica. São Paulo, Livraria
Pioneira – USP, 1973.
Em resposta ao artigo de Kissinger, citado anteriormente, o ex-embaixador dos EUA no Brasil, Lincoln Gordon,
rebate minuciosamente com argumentos bem fundamentados as considerações do ex-secretário, ponderando que
“sujar ainda mais essas águas já turvas (Relações BrasilEUA), injetando fantasmas geopolíticos, não atende a
nenhum propósito construtivo” (Gordon, 2001).
Parafraseando o famoso adágio espanhol diria que:
pode-se não acreditar nos “fantasmas geopolíticos”, mas
que eles existem, não resta a menor dúvida.
________ . “O momento das grandes decisões”. Conjuntura Política. Belo Horizonte, n.26, jun 2001.
FRIEDMAN, G. “Let the games begin: Bush, Putin and the return of
geopolitics”. Stratfor. Austin, 26/03/2001 <http://www.stratfor.com>
GORDON, L. “Alca e Mercosul não são incompatíveis”. O Estado de
S.Paulo, 01/07/2001.
GUIMARÃES, S.P. “Alca: sonho de Monroe e pesadelo de Bolivar”.
Jornal do Brasil, 20/04/2001.
HENRIKSEN, T. “Confronting the post-post-cold war world”. Hoover
Digest, n.2, 2001.
NOTAS
HOLBORN, F.L. “U.S. Constitution invites ‘tug and pull’ on foreign
policy”. Congress And Foreign Policy, USIA Electronic Journals,
v.1, n.9, july 1996.
1. Sobre os problemas que envolvem a posição brasileira na Alca ver
Ferreira (2001).
IKENBERRY, G.J. “Why export democracy?: the hidden grand strategy
of american foreign policy”. The Wilson Quarterly, v.23, n.2,
Spring 1999.
2. De acordo com Alain Touraine “Desde a posse do presidente Bush,
as divergências entre os EUA e a Europa vêm sendo formuladas mais
e mais claramente... Os próprios europeus sofrem em razão da ausência de um grande projeto geopolítico e devem, portanto, escolher a
grande aliança com o Mercosul como seu projeto principal (Folha de
S.Paulo, 22/07/2001) (grifos meus).
JOHNSON, S. “A new U.S.Policy for Latin America: reopening the
window of opportunity”. The Heritage Foundation, feb. 2001.
KISSINGER, H. “Brasil e EUA precisam evitar o confronto”. O Estado de S.Paulo, 06/05/2001.
POWELL, C. “O trabalho de um hemisfério”. Folha de S.Paulo, 22/
04/2001.
3. O ressurgimento do wilsonismo nos anos pós-guerra fria é tratado
por Smith (1995).
4. Essa questão é tratada por Henriksen (2001).
SANGER, D.E. “Plano quer unir economia e segurança”. Folha de
S.Paulo, 18/02/2001.
5. Sobre as relações entre democracia e estratégia norte-americana ver
Ikenberry (1999).
SCHOULTZ, L. Estados Unidos: poder e submissão. São Paulo, Universidade do Sagrado Coração, 2000.
6. As comparações entre o tratamento dado às relações entre segurança e economia nos governos Clinton e Bush são abordadas por Sanger
(2001).
SMITH, T. America’s mission: the United States and democracy in
the twentieth century. New York, Twentieth Century Fund Press,
1995.
7. Sobre esse debate ver Friedman (2001) que aponta para o retorno da
geopolítica.
STRATEGIC ASSESSMENT. Priorites for a turbulent world. For
Institute National Strategic Studies, Washington DC, 1999.
8. Digo apenas, pois trataremos mais adiante da influência que o colégio eleitoral tem representado na condução da política externa dos EUA.
SWEENEY, J.P. “Clinton’s Latin America Policy: a legacy of missed
opportunites”. The Heritage Foundation. Washington DC, jul.
1998.
9. Confrontar os artigos na Heritage Foundation, sobretudo Sweeney
(1998) e Johnson (2001).
TALBOTT, S. “The new geopolitics: defending democracy in the postcold war era”. Bureau of Public Affairs. US Department of State,
v.5, n.46, oct. 1994.
10. Ver Schoultz, 2000, sobretudo os Capítulos 19 e 20.
11. Os problemas que envolvem a participação do Congresso na formulação da política externa dos EUA são tratados por Holborn (1996).
________ .“Democracy and the international interest”. Bureau of
Public Affairs, US Department of State, oct. 1997.
TOURAINE, A. “Um apelo à União Européia”. Folha de S.Paulo, 22/
07/2001.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
WHITAKER, A. The western hemisphere idea: its rise and decline.
Ithaca, New York, Cornell University Press, 1954, p.1-2.
BRESSER PEREIRA, L.C. “A geografia nos aproxima”. O Estado de
S.Paulo, 15/05/2001.
ZOELLICK, R.B. “A republican foreign policy”. Foreign Affairs, v.79,
n.1, jan./feb. 2000.
BROWN, S. The faces of power: united sates foreign policy from
Truman to Clinton. New York, Columbia University Press, 1994.
DE WINE, M. “Future challenges to secure democracy in Latin
America”. The Heritage Foundation. Washington DC, n.633, may
1999.
REGINALDO MATTAR NASSER: Professor do Departamento de Política
e Coordenador do Curso de Relações Internacionais da PUC-SP
([email protected]).
DOWNES, R. “New security relations in the Americas”. The Heritage
Foundation. Washington DC, n.47, sep. 1995.
113
16(1) 2002
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1):
114-124, 2002
OS BLOCOS ASIÁTICOS E O
RELACIONAMENTO BRASIL-ÁSIA
HENRIQUE ALTEMANI DE OLIVEIRA
Resumo: Até pouco tempo não se podia falar em relações brasileiras com a Ásia, já que estavam basicamente
restritas ao relacionamento com o Japão. Somente na década de 90 são ampliadas as relações com a Coréia do
Sul, Sudeste Asiático, além da China. Assim, o relacionamento brasileiro com os blocos asiáticos restringe-se
às tentativas de aproximação do Mercosul com a Asean, adquirindo agora maior intensidade política através
do processo de institucionalização do relacionamento entre Ásia e América Latina com o Focalal.
Palavras-chave: bloco asiático; relações Brasil-Ásia; Focalal.
Abstract: Until recently, the only Asian country with which Brazil had any significant relations was Japan.
Only in the 1990´s was this scope widened to include South Korea, Southeast Asia and China. Up until now,
the relationship between Brazil and the Asian blocks has been limited to Mercosul´s overtures to Asean. This
relationship is currently gaining in political intensity through the institutionalization of the relationship between
Asia and Latin America, through Focalal.
Key words: Asian block; Brazil-Asia relations; Focalal.
N
o momento em que, devido às dificuldades de
acordo entre as principais potências na Organização Mundial do Comércio (OMC), as perspectivas de integração regional aparentam estar na agenda dos
mais diferentes Estados, a presente análise procura refletir sobre o relacionamento brasileiro com as instituições
asiáticas de integração regional.
A reflexão parte da premissa de que os principais atores
internacionais (Estados Unidos, Japão/Ásia e Alemanha/
União Européia) estão num processo de disputa pelo poder
internacional, no qual interagem não só as variáveis econômicas, como também as estratégicas. Assume-se a pressuposição da existência de uma íntima relação entre as variáveis
econômicas e estratégicas como garantia de um continuado
desenvolvimento econômico mundial. “Um inter-relacionamento interativo e sinérgico desenvolveu-se entre economia,
política e segurança militar, não podendo ser significativamente separado: paz é precondição para a prosperidade e uma
criativa diplomacia para gerenciar rivais econômicos e relações comerciais no mercado global é, por sua vez, precondição para uma paz duradoura” (Kegley, 1998:7).
Esse processo acaba incentivando, de um lado, o desenvolvimento de mecanismos regionais e, de outro, a
formatação de alianças entre grupamentos regionais, tendo em vista a disputa pelo poder internacional.
Dessa forma, em primeiro lugar, serão analisadas as tentativas de formatação de blocos econômicos asiáticos,
considerando-se que a região, por características internas,
estaria muito mais propensa a esquemas de cooperação
regional do que de estabelecimento de blocos propriamente
ditos. Mas que, de outro lado, a crise asiática vai suscitar
uma série de questionamentos sobre a região, os atores e
seu papel no sistema internacional, induzindo à necessidade de definição de um esquema de bloco regional reativo aos já estabelecidos (UE – União Européia, Nafta –
North American Free Trade Agreement) ou em negociação (Alca – Área de Livre Comércio das Américas).
Em segundo lugar, será avaliado o atual relacionamento
brasileiro com a Ásia, ponderando-se que historicamente se
apresentava quase que integralmente restrito às relações econômicas com o Japão, com o acréscimo da relação política
com a China a partir da metade dos anos 70. Apenas na última década do século passado, o relacionamento é ampliado
e diversificado com a inclusão de novas parcerias.
Por fim, algumas considerações sobre as novas perspectivas de integração na Ásia e as possibilidades de in-
114
OS BLOCOS ASIÁTICOS E O RELACIONAMENTO BRASIL-ÁSIA
cias: Pacific Trade and Development Conference (Paftad);
Pacific Basin Economic Council (PBEC) e Pacific
Economic Cooperation Conference (PECC).
Peter Drysdale, acadêmico australiano e incentivador
da Paftad, define essas conferências como “privadas no sentido de que são convidados a título pessoal economistas
de diferentes países do Pacífico. Os participantes não-acadêmicos não são representantes de seus governos nem de
organizações internacionais, sendo convidados por sua capacidade profissional privada. Os participantes provêm
principalmente do setor acadêmico e muitos tiveram uma
experiência política importante no governo. As reuniões
destinam-se, primeiramente, à consideração e ao exame dos
aspectos de política econômica de importância para os
países do Pacífico. Essa é a finalidade das análises e textos apresentados. Focalizar as políticas econômicas é o que
marca a diferença em relação à pesquisa econômica pura e
sua contribuição vai auxiliar e complementar as daqueles
que aplicam na prática tais políticas, na esfera dos governos e no mundo dos negócios” (Legorreta, 1994:7).
Da mesma forma que a Paftad, o PBEC, constituído
em 1967, é uma organização não-governamental operando como uma rede de relações comerciais, com o objetivo de estabelecer um ambiente mais favorável para os
negócios na região. Em outros termos, trabalha na perspectiva de coordenação de políticas que possam influenciar governos e organizações internacionais na manutenção de políticas de mercados abertos e na diminuição de
barreiras ao comércio e ao investimento.
No final dos anos 70, enquanto nos Estados Unidos,
com base no relatório Patrick-Drysdale, encomendado pelo
Senado norte-americano, crescia a expectativa de implementação de uma Comunidade do Pacífico, no Japão
sedimentava-se a perspectiva de que, antes de uma organização voltada para a integração econômica, seria necessária a superação das diversidades culturais e ressentimentos históricos.
Assim, dentro dessa visão japonesa, em 1980, iniciase a série PECC, com a presença de delegações de 11 países: os cinco desenvolvidos (Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia), os cinco membros da
então Asean – Association of Southeast Asian Nations
(Malásia, Indonésia, Cingapura, Filipinas e Tailândia) e a
Coréia do Sul. Cada delegação tem uma composição tripartite: um representante acadêmico, um do setor privado
e um do setor governamental a título privado.
As conferências PECC “têm podido levar a cabo amplo e profundo trabalho exploratório dos mais diversos
tegração com o Brasil ou com o processo regional sulamericano.
Em decorrência da imprecisão do termo Ásia, a região
que estará sendo abordada corresponde à Ásia-Pacífico, ou
seja, o Leste Asiático (Japão, China, Hong Kong, Taiwan,
Coréia do Sul e do Norte), o Sudeste Asiático (Indonésia,
Malásia, Tailândia, Filipinas, Cingapura e Brunei) e outros
países da região, como Vietnã, Laos, Camboja e Myanmar.
OS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO NA ÁSIA
A primeira iniciativa asiática concreta de desenvolvimento de um esquema regional de cooperação ou de integração, no plano econômico, surgiu em 1965, com a formalização da proposta apresentada pelo professor japonês
Kiyoshi Kojima de criação de uma área de livre-comércio (Pafta – Pacific Asian Free Trade Area).
A motivação para essa primeira tentativa decorreu, entre outros fatores, dos receios do crescimento dos blocos
regionais e da sensação de que poderiam criar entraves para
o acesso ao mercado mundial. “A motivação original foi a
preocupação japonesa de que a formação do Mercado
Comum Europeu e os esquemas de livre-comércio na América Latina e em outros lugares estavam sinalizando para
uma ruptura da economia mundial para blocos regionais,
deixando o Japão de fora” (Arndt, 1990:563).
A proposta previa como membros plenos Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, com a
possibilidade dos países em desenvolvimento da região
aderirem como membros associados. No entanto, essa proposta não foi bem aceita no Sudeste Asiático devido à
ênfase na forte presença ocidental, e, na realidade, o fator
fundamental para seu fracasso foi a indisposição dos Estados Unidos em participar de esquemas de cooperação
regional que pudessem afetar interesses americanos.
Ainda que não tenha obtido êxito formal, a proposta
do professor Kojima, como reflexo de uma preocupação
regional sobre as questões econômicas, propiciou o desenvolvimento de uma série de conferências com o objetivo de refletir sobre as possibilidades de cooperação regional. É necessário frisar que essas conferências, as quais
vão caracterizar o processo asiático, abandonam completamente as perspectivas de área de livre-comércio e vão
se concentrar especificamente nas questões de cooperação, e mesmo assim entendendo-se cooperação não como
integração, mas como coordenação.
É exatamente essa idéia de coordenação de políticas
econômicas que vai gerar as seguintes séries de conferên-
115
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
livre-comércio (Asean Free Trade Area – Afta) em 1992,
com previsão de redução tarifária até sua efetivação em
2008. E, de outro, a ampliação da Asean em seu papel de
mecanismo garantidor da segurança estratégica, não só
restrito ao Sudeste Asiático, mas incluindo o total da ÁsiaPacífico através do ARF – Asean Regional Forum.
Esse Fórum Regional (ARF) foi institucionalizado em
1993 com caráter intergovernamental para discussão de
questões políticas e de segurança. No início, foram incluídos como participantes do ARF os membros da Asean
(Brunei, Cingapura, Malásia, Indonésia, Filipinas e
Tailândia), seus sete maiores parceiros comerciais (Estados Unidos, União Européia, Japão, Canadá, Coréia do
Sul, Austrália e Nova Zelândia), dois convidados (China
e Rússia) e três observadores (Vietnã, Laos e Papua-Nova
Guiné).
A inserção do ARF dentro da Asean decorreu, entre
outros, do fato de ela ser a única organização na região
com um fórum de diálogo estabelecido e de já ter uma
forte importância na arquitetura de segurança regional
através dos princípios contidos no Tratado de Amizade e
Cooperação (pelo qual se assegura que nenhum membro
procurará resolver suas disputas pelo uso da violência).
Utilizando o mesmo canal da Asean, mas muito mais
em decorrência da experiência das conferências Paftad,
PBEC e PECC, criou-se a Apec (Asia-Pacific Economic
Cooperation forum) com um caráter essencialmente econômico e como um fórum informal em resposta ao aumento
do regionalismo econômico e, conseqüentemente, para discussão de questões econômicas e ampliação da cooperação regional.
Constituída em 1989 com 12 membros (Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, Nova Zelândia
e os seis membros da Asean – Indonésia, Malásia,
Tailândia, Filipinas, Brunei e Cingapura), a Apec conta
hoje com 21 membros.1
De sua criação até 1992, a Apec caracteriza-se pela ausência de propostas concretas que pudessem levá-lo a ter uma
atuação mais ativa no contexto regional. De acordo com
Donald Crone (1992), essa rede organizacional não emergiu
rapidamente nem está definida ainda: antes de sua formação, algumas questões foram levantadas e, em princípio, permanecem, em torno de sobre o que cooperar e com quem.
A primeira questão seria a participação dos Estados
Unidos, de uma forma genérica percebida como fator de
estabilidade para a segurança regional e de instabilidade
especificamente para o comércio e para outras áreas
correlacionadas, a partir de suas constantes críticas quan-
aspectos das relações intrapacíficas, terminando por pesar nas políticas governamentais da região. (...) Destruíram muitas das ilusões em torno da rápida formalização
da cooperação econômica no Pacífico mas, por outro lado,
vão mantendo vivo, e até robustecendo, o ideal correspondente. Têm a seu crédito duas importantes realizações:
a lenta elaboração de vasta malha de relacionamentos pessoais entre entusiastas oriundos dos quatro cantos do grande oceano e o acúmulo de impressionante massa de informações sobre as necessidades e possibilidades da área”
(Oliveira, 1995:104-105).
Enquanto essas iniciativas de cooperação se processam
no Leste Asiático, detectam-se diferentes propostas voltadas para o campo da segurança no Sudeste Asiático,
desde o final da Segunda Guerra Mundial, culminando com
a estruturação da Asean, em 1967. A criação da Asean só
foi possível após a solução parcial das reivindicações territoriais envolvendo principalmente Indonésia, Malásia e
Filipinas; da separação de Cingapura da Federação Malaia;
e a instalação de governos mais pró-americanos na Indonésia com a deposição de Sukarno em 1965 e, nas Filipinas, com a posse de Ferdinando Marcos em 1966.
Apresentada como tendo o objetivo de promover o crescimento econômico, a Asean, na realidade, tinha a missão
de evitar o avanço do comunismo. “Durante os primeiros
20 anos de sua existência, Asean foi essencialmente uma
organização política antes do que econômica. Os objetivos políticos predominaram em larga medida por causa
da ameaça comum interna dos grupos guerrilheiros comunistas, da ameaça externa do Vietnã comunista e os imperativos de manter boas relações dentro do Sudeste Asiático não-comunista de forma a ser capaz de estabelecer e
manter a estabilidade regional” (Stubbs, 2000:300).
Concisamente, Gutiérrez (1993) aponta que a Asean
apresenta três fases desde sua criação, sendo a primeira
correspondente ao processo de manutenção da segurança
regional, evitando-se a transformação dos regimes políticos nacionais em comunistas e colaborando para a diminuição dos conflitos internos, bem como para a estabilidade entre fronteiras.
A segunda fase, com maior ênfase nos anos 80, abrange o período em que o Sudeste Asiático se insere no processo de desenvolvimento econômico asiático, por intermédio da transferência de empresas e investimentos tanto
do Japão quanto dos Tigres Asiáticos.
A terceira fase, já no pós-guerra fria, representa um
novo direcionamento de seus objetivos. De um lado, o lançamento do projeto de estabelecimento de uma área de
116
OS BLOCOS ASIÁTICOS E O RELACIONAMENTO BRASIL-ÁSIA
americanas e asiáticas do Pacífico, dentro do contencioso
econômico-comercial entre o Japão (compreendendo a
economia asiática) e os Estados Unidos.
Em outros termos, os momentos iniciais da Apec deixam
bem claro que sua proposta não é de estabelecimento de um
mecanismo de integração econômica nos moldes da UE, mas,
muito mais, de um fórum de coordenação política de questões econômicas regionais. “Quando o Primeiro-Ministro
australiano Bob Hawke propôs o estabelecimento da Apec,
em 1989, ele tomou como modelo a OCDE, a Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Europeu, o grupo
baseado em Paris que promove a coordenação de políticas
econômicas domésticas e internacionais entre seus Estadosmembros. O principal papel da OCDE é aumentar a transparência, coletando e divulgando informações sobre as políticas de seus membros. A OCDE não é um fórum para
negociações comerciais e a Apec inicialmente também não
estava desenhado para sê-lo” (Ravenhill, 2000:321).
No entanto, a partir de 1993, na reunião de Seattle, a
perspectiva de liberalização comercial torna-se a peça-chave da agenda da Apec. Na reunião de Seattle, presidida
pelos Estados Unidos, procurou-se estabelecer, em primeiro
lugar, uma Estrutura de Comércio e Investimento para futura liberalização de comércio e investimento. Em segundo, o Grupo de Personalidades Eminentes, que em 1992
tinha recebido a incumbência de preparar a institucionalização da Apec, apresentou um relatório (Para uma comunidade econômica da Ásia-Pacífico) propondo que a Apec
acelerasse a cooperação econômica com vistas ao estabelecimento de um regime de livre-comércio e de investimento
na região. E, em terceiro, procurou-se instrumentalizar a
reunião para se obter um consenso mútuo de apoio à conclusão da Rodada do Uruguai do GATT.
Na reunião na Indonésia, em 1994, deu-se seqüência
ao objetivo de estabelecimento da área de livre-comércio, com um cronograma de adaptação até 2010 para os
países desenvolvidos e até 2020 para os em desenvolvimento. Permaneceu, no entanto, a questão de definição
de quais membros eram desenvolvidos e quais estavam
em desenvolvimento.
Entretanto, essa disposição para definição de uma área
de livre-comércio decorria precipuamente das intenções
norte-americanas e dos países ocidentais membros, sofrendo uma velada oposição dos membros asiáticos, principalmente do Japão e da Malásia. “Os membros asiáticos procuram evitar a evolução da Apec para um outro fórum no
qual os governos ocidentais possam atacar suas políticas
comerciais. Além disso, dada sua dependência comercial
to às condições sociais dos trabalhadores e aos direitos
humanos e pressões sobre direitos intelectuais. Deve-se
notar que a proposta inicial excluía os Estados Unidos e o
Canadá, primeiramente, devido às mudanças no protecionismo norte-americano em relação ao Pacífico e, em seguida, devido a um posicionamento contrário à participação dos Estados Unidos num mesmo organismo com o
Japão, temendo-se que seu relacionamento bilateral monopolizasse as atividades da organização.
Na realidade, essa questão da presença norte-americana em organismos regionais asiáticos estava igualmente
na base da proposta do Primeiro-Ministro da Malásia
(Mohamad Mahatir) sobre a criação dos Eaeg (East Asian
Economic Grouping). O Eaeg previa somente a participação de Estados asiáticos, excluindo tanto os Estados Unidos, quanto o Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Previa
igualmente que o Japão se predispusesse a liderá-lo.
De outro lado, e favoravelmente à presença dos Estados Unidos, havia o receio de predominância do Japão.
Nesse sentido, Malásia e Tailândia preocupavam-se com
o predomínio norte-americano, enquanto Cingapura achava
que a ausência dos Estados Unidos e a ameaça de um bloco do yen desestimularia a proposta australiana. Já a Indonésia questionava se um ou outro isoladamente teria
condições de liderar o processo, raciocinando que a presença de ambos seria favorável às economias abertas da
região. Porém, os Estados Unidos conseguiram sua participação devido às suas pressões e ao pedido japonês de
sua inclusão.
A proposta inicial de Hawke (Primeiro-Ministro australiano) para o estabelecimento da Apec era vista como
uma resposta à emergência de blocos regionais, principalmente na Europa e na América, tendo Sueo Sudo (1994)
subentendido que essa divergência de posições decorria
principalmente de fatores regionais, como o surgimento
de um novo regionalismo, a reinserção do Sudeste Asiático na era pós-hegemônica e a dificuldade do Japão em
assumir um novo papel tanto no contexto regional quanto
no internacional.
Desde sua constituição e, principalmente, nesse primeiro momento, está bem patente a perspectiva de ser um mecanismo que está buscando seu sentido, isto é, decorre do
reconhecimento da necessidade e do interesse de desenvolvimento de consultas e cooperação em âmbito regional, porém com um caráter deliberadamente vago.
Independentemente dessa aparência de indefinição de
objetivos e de estratégias, pode-se visualizar a Apec como
o resultado de um processo de interação das perspectivas
117
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
um forte mercado consumidor além de fornecedor. Essa
retomada tem clara conotação econômica, mas também é
influenciada pela disputa comercial entre os países desenvolvidos e a proposta de criação da Alca, por muitos entendida como uma modalidade de protecionismo regional,
com entraves para a inserção de atores externos.
Assim, até quase o final do século XIX pode-se afirmar que não havia qualquer tipo de relacionamento entre
o Brasil e a Ásia. No que se refere ao Japão, por exemplo,
somente com a Restauração Meiji (1867) é que o Japão
vai sofrer uma série de modificações estruturais que possibilitam o estabelecimento do Japão moderno e também
uma abertura para o exterior.
Em decorrência da Restauração Meiji, a economia japonesa sofre um processo de desestabilização provocando fluxos migratórios inicialmente para o Havaí e a Costa
Oeste dos Estados Unidos. Do lado brasileiro, com a abolição da escravidão em 1888 e o crescimento rápido da
lavoura cafeeira no Estado de São Paulo, tornou-se necessária a ampliação da migração de mão-de-obra externa.
Dessa forma, o relacionamento bilateral entre o Brasil
e o Japão inicia-se com a vinda de migrantes para o trabalho nas lavouras cafeeiras. A base legal para esse relacionamento é criada, primeiramente, pela assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em novembro
de 1895 e, depois, pelo estabelecimento de companhias
que trabalhavam especificamente no recrutamento e transporte de imigrantes.
Pode-se notar que inicialmente a opção era por mãode-obra chinesa, motivando o deslocamento de uma missão brasileira para a China em 1879. Mesmo com a nãoconcretização dessa corrente migratória, pela proibição
formal da China em permitir emigração para o Brasil, os
dois países assinaram o Tratado de Amizade, Comércio e
Navegação em 1881, com a abertura de um consulado brasileiro em Xangai em 1883.
A chegada do navio “Kosato Maru”, em 1908, dá início à
imigração japonesa ao Brasil, tendo um crescimento significativo até 1934 quando a nova Constituição brasileira limita
o fluxo migratório, o qual praticamente se interrompe com a
Segunda Guerra Mundial e é retomado somente após 1955.
Já com a China, os contatos bilaterais foram escassos em decorrência da sucessão de conflitos internos e externos que
afetaram esse país no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Com a vitória de Mao Zedong em 1949,
o Brasil rompe as relações diplomáticas.
Dessa forma, é interessante ressalvar que o relacionamento entre Brasil e Ásia até a década de 50 ficou quase
da Europa Ocidental como da América do Norte e outras
partes da Ásia, eles se opõem radicalmente a qualquer mudança para a Apec se transformar numa área comercial preferencial (na realidade, um de seus interesses no estabelecimento do grupo, no momento em que as negociações na
Rodada Uruguai do GATT estavam estagnadas, era diminuir as possibilidades de fragmentação da economia global
em blocos comerciais rivais)” (Ravenhill, 2000:321).
Assim, já na próxima reunião, sob liderança japonesa,
1995 em Osaka, a perspectiva de transformação da Apec
numa área de livre-comércio é praticamente descartada.
Essa reunião vai se caracterizar pela retomada da via asiática, pela definição da idéia de regionalismo aberto, segundo o qual as vantagens tarifárias que os membros da
Apec se concederem mutuamente devem ser estendidas a
todos os não-membros, via cláusula da Nação Mais
Favorecida e sem exigências de contrapartida.
Além disso, flexibilizou o disposto na reunião de Bogor
sobre os prazos de liberalização comercial, deixando a
cargo de cada país-membro decidir sobre os prazos e o
calendário para implementação de seus compromissos de
liberalização.
AS RELAÇÕES BRASILEIRAS COM A ÁSIA
Em seu atual projeto de inserção internacional, o Brasil delega à região asiática um espaço especial, considerando-se a grande demanda por investimentos e por acesso a tecnologias de ponta, bem como por um mercado com
alta capacidade de consumo. Por sua vez, o Brasil levanta
interesses na Ásia por se caracterizar como uma importante fonte supridora de matérias-primas, principalmente
produtos alimentícios e insumos básicos. Nesse sentido,
à medida que a Ásia se dinamiza e se especializa em produtos manufaturados, é mantido ou ampliado o interesse
na importação de produtos básicos do Brasil.
A presente análise aponta que até a década de 70 o relacionamento brasileiro com a Ásia restringia-se basicamente às relações com o Japão, e à aproximação, de caráter mais político, com a República Popular da China na
metade dos anos 70. Mesmo esse estrito relacionamento
sofre uma retração com a sucessão de crises nos anos 80,
retomando força na década de 90.
Nessa última década, a retomada e ampliação do relacionamento com a Ásia adquire novo vigor pela maior presença tanto da Coréia do Sul e dos países do Sudeste Asiático,
quanto da China que, em decorrência de seu desenvolvimento acelerado, não é mais apenas um ator político, mas
118
OS BLOCOS ASIÁTICOS E O RELACIONAMENTO BRASIL-ÁSIA
lidação do Japão como potência econômica e com a valorização do iene. Além da idéia de desenvolvimento e manutenção de fornecedores seguros e estáveis, o Brasil, nesse
momento, mostra-se atrativo em decorrência de seu crescimento acelerado. Note-se que a maior parte desses investimentos foi realizada em associação com empresas
estatais indicando, de um lado, uma possível convergência de interesses entre o Estado japonês e o brasileiro e,
de outro, a busca de maior estabilidade política e econômica aos investimentos realizados.
Como emblema dessa convergência entre os dois Estados aponta-se, por exemplo, a estratégia utilizada pelo Japão de incentivo ao desenvolvimento da produção de soja
no Brasil. Quando os Estados Unidos, em 1973, decide
instrumentalizar o mercado de soja como uma arma em
relação ao Japão, inicia-se o investimento japonês no Programa de Desenvolvimento do Cerrado (Prodecer), fazendo com que o Brasil, de produtor marginal, se transformasse, já no início dos anos 80, no segundo maior produtor
de soja, logo após os Estados Unidos.
Denota-se, assim, certa complementaridade entre os
dois países: fornecimento de matérias-primas em troca de
investimentos e fornecimento de produtos industrializados. A relação comercial do Brasil com o Japão, no entanto, mantém-se no esquema tradicional de colocação de
produtos básicos, enquanto a tendência geral, na pauta de
exportações brasileiras, era de ampliação da venda de produtos manufaturados.
Essa complementaridade nipo-brasileira sofre, porém,
um processo de retração a partir do início dos anos 80,
em decorrência, por um lado, da diminuição da importância da garantia de fornecimento de matérias-primas, seja
pelo aumento da oferta como pela queda dos preços reais
e, por outro, pela aceleração da crise econômica brasileira, revertendo as expectativas de que a economia brasileira continuaria crescendo a ritmo acentuado.
Essa crise vai inclusive propiciar o surgimento do fenômeno chamado dekassegui, ou seja, o estabelecimento
de um fluxo migratório de descendentes de japoneses para
trabalho no Japão. Os dekasseguis, atualmente em torno
de 250 mil, passaram a ser um fator importante no relacionamento nipo-brasileiro como fonte significativa de fluxo de capitais.
O Brasil só retoma relações diplomáticas com a China
em 1974, num momento em que o país, em decorrência
de seu desenvolvimento econômico e de uma conjuntura
internacional favorável, está diversificando suas parcerias internacionais e buscando uma inserção mais compe-
unicamente restrito ao campo sociocultural representado
pelo fluxo migratório japonês. E que nas décadas de 50 a
70 não se pode, então, pensar propriamente num relacionamento Brasil-Ásia. Apesar de presente em discursos,
principalmente a partir da política externa independente
no governo Jânio Quadros, constata-se, na realidade, somente uma interação, no plano multilateral, de construção de uma agenda política comum a países em desenvolvimento no processo de defesa de instauração de uma nova
ordem econômica internacional.
Sukarno, em 1959, foi o primeiro presidente asiático a
visitar o Brasil. E, em maio de 1961, foi assinado um acordo bilateral econômico. Excluindo esses dois eventos,
pode-se afirmar que inexistiu, até a década de 80, um relacionamento concreto entre os dois países, ou mesmo com
o Sudeste Asiático. Na realidade, a Indonésia passa a compor o imaginário político no que se refere ao estreitamento de vínculos com o mundo afro-asiático, dentro dos pressupostos da política externa independente.
A intensificação das relações com o mundo afro-asiático seria conseqüência da necessidade de autodeterminação não só nacional, mas também do contexto afro-asiático com vistas à superação mútua do subdesenvolvimento.
Nesse sentido, as perspectivas de inter-relacionamento
mantêm-se no contexto do espírito de Bandung (conferência realizada na Indonésia em 1955 e que daria origem
ao Movimento dos Não-Alinhados), sem que se chegue a
uma definição objetiva.
Dessa forma, nesse período, o relacionamento brasileiro com a região asiática esteve restrito às relações com
o Japão, considerando-se ainda que decorria basicamente
da iniciativa japonesa. Nesse sentido, aponta-se a ocorrência de dois ciclos de investimento direto japonês no
Brasil e que condicionam igualmente o fluxo comercial.
O primeiro ciclo, na segunda metade da década de 50,
esteve claramente relacionado à constituição de uma infraestrutura comercial, a cargo de trading companies japonesas. Seu objetivo era assegurar fontes regulares de fornecimento de matérias-primas, bem como firmar-se como
exportador de manufaturados. Assim, as primeiras empresas que se instalam no Brasil, nesse período, são do ramo
têxtil e de comercialização. Embora sem muita expressão
econômica internacional e em decorrência de sua extrema fragilidade devido à escassez de matérias-primas em
seu território, o Japão investe pesadamente no projeto de
aço da Usiminas.
O segundo ciclo, nos anos 70, coincide com os anos
dourados do milagre econômico brasileiro, com a conso-
119
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
ca Latina, seja no Brasil, procurando suplantar o papel
tradicional desempenhado pelo Japão. Sua ação parece
estar orientada pelo objetivo de formação de redes de distribuição e de comercialização, criando possibilidades de
investimentos diretos como base para uma integração produtiva em setores de manufaturados.
O Sudeste Asiático, por seu desenvolvimento econômico acelerado e pelo fato de estar integrado através da
Asean, passou a ser visualizado como um possível parceiro político e econômico, principalmente depois do estabelecimento do Mercosul. De qualquer forma e independentemente das respectivas crises financeiras, desenha-se a
perspectiva de uma aproximação inicial mais de cunho político, para posterior crescimento do intercâmbio comercial.
Quando da visita do Secretário-Geral da Asean ao Brasil, em 1997, discutiram-se alternativas para uma maior
aproximação entre Mercosul e Asean. Chegou-se à conclusão que seria pertinente desenvolver mecanismos para
tornar mais concreta a prioridade política e, igualmente,
superar as falhas de conhecimento recíproco. Com base
na percepção desse distanciamento, concordou-se também
que, no atual momento, não é objetivo o estabelecimento
de uma área de livre-comércio entre as duas regiões.
Mesmo assim, houve um crescente aumento no intercâmbio comercial entre o Brasil e a Asean, demonstrando a
potencialidade de maior estreitamento. No caso da Asean,
assim como da China, chama igualmente a atenção a existência de imensas possibilidades quanto à prestação de serviços no desenvolvimento de infra-estrutura, em especial
no campo energético e de transportes. Vale lembrar que
recentemente a Companhia Brasileira de Projetos e Obras
liderava o consórcio que venceu a licitação internacional
para a construção da hidrelétrica de Bakun, na Malásia. No
entanto, essa que seria a primeira grande obra de engenharia do Brasil na Ásia não foi ainda iniciada em função da
crise asiática. No que se refere à construção da hidrelétrica
de Três Gargantas, na China, apesar do reconhecimento da
competência brasileira, a participação foi prejudicada pela
dificuldade de obtenção de financiamento para a obra.
Em decorrência da retomada da atratividade do Brasil,
de um lado, pela abertura do mercado e estabilidade financeira e, de outro, pela ampliação do mercado através
do processo integrativo regional com o Mercosul, percebe-se claramente um crescente interesse asiático pelo Brasil. Esse interesse não é só econômico-comercial, mas
igualmente político-estratégico em função da disputa por
poder e por mercados que se processa na OMC e em outros fóruns multilaterais.
titiva. Dentro de seu projeto de política externa, com forte atuação nos fóruns multilaterais e com ênfase nas teses do Terceiro Mundo, a reaproximação com a China
era fundamental para dar credibilidade e legitimidade à
ação brasileira.
Assim, ainda que de início tenha implicado um aumento dos fluxos comerciais, as relações sino-brasileiras vão
se manter mais restritas ao campo político-diplomático realçando as similaridades de posicionamentos comuns perante o sistema internacional. Somente na década de 90,
com a abertura econômica brasileira e com a maior inserção chinesa, processa-se uma maior aproximação comercial entre os dois países, ainda que prioritariamente se resguarde a importância do relacionamento político. Por esse
posicionamento e considerando-se ainda o potencial de
aprofundamento das relações em longo prazo, a expressão parceria estratégica, cunhada por Zhu Rongji em
1993, passa a ser enfaticamente utilizada.
No plano político, um ponto central da agenda internacional dos dois países refere-se às suas pretensões em relação à OMC e à Organização das Nações Unidas (ONU).
A China utiliza-se de seu assento permanente no Conselho de Segurança para se aproximar dos países em desenvolvimento e nesse sentido acena com a possibilidade de
apoiar o interesse brasileiro em aceder ao Conselho de
Segurança. De outro lado, o Brasil, em seu posicionamento
por regras mais justas no comércio, internacional e defendendo o sistema multilateral de comércio, apóia a entrada da China na OMC.
A parceria estratégica ganha um contorno mais definido na área de cooperação técnica e científico-tecnológica. Nessa área encontra-se o mais ambicioso projeto das
relações entre os dois países: o trabalho conjunto para o
desenvolvimento de satélites de sensoreamento remoto,
tendo sido lançado em 1999, com sucesso, o primeiro satélite. O projeto, inclusive, foi ampliado, planejando-se
produzir mais dois satélites, além dos dois inicialmente
previstos. Os satélites permitirão aos dois países uma independência na área de imagens por satélites, possibilitando-lhes inclusive passar de usuários a exportadores
desse tipo de serviço.
Já as relações com a Coréia do Sul e com o Sudeste
Asiático adquiriram relevância somente a partir dos anos
90, dentro do contexto de reestruturação do sistema internacional pós-guerra fria. A crescente participação coreana
no comércio brasileiro parece ter sido reforçada pelo fato
de os conglomerados coreanos (chaebol) mostrarem-se
mais agressivos na conquista de mercados seja na Améri-
120
OS BLOCOS ASIÁTICOS E O RELACIONAMENTO BRASIL-ÁSIA
China e seu desafio ao Japão; o rápido avanço da informação e o desenvolvimento das tecnologias de comunicação em outros países asiáticos, como a Índia, Cingapura
e Coréia do Sul; o rebaixamento do Japão, de modelo do
desenvolvimento asiático para um exemplo de confusão e
paralisia; e o impacto da globalização na tradicional abordagem japonesa da ajuda externa como foco de investimentos externos governamentais para investimentos externos diretos privados. Outros países asiáticos estão se
transformando em grandes atores econômicos na região e
o Japão não é mais o único” (Funabashi, 2000-01:77).
Nesse sentido, com suas implicações na reivindicação de
um posicionamento mais claro e cooperativo de recuperação regional e manutenção da competitividade internacional, a crise forçou a definição de novos papéis e o arranjo de
novas alianças. Assim, no caso do Japão, pode-se perceber a
pressão para uma maior atuação regional no encaminhamento
de soluções para a crise. E a China, ao não se engajar numa
desvalorização competitiva, procurou transmitir a imagem
de um poder cooperativo e pacífico.
A reunião informal da Asean, em novembro de 1999,
ressuscitou a idéia defendida em 1990 pelo Primeiro-Ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, de institucionalização de um bloco regional, com características essencialmente asiáticas.
No entanto, agora, a reunião da Asean demonstra que
ainda constitui uma força regional e que a adesão dos três
líderes do Nordeste Asiático – Japão, China e Coréia do
Sul –, constituindo o processo Asean + 3, reflete a tendência para uma crescente cooperação, especialmente em
economia. A ênfase no reforço da cooperação econômica
indica igualmente o cuidado em evitar eventuais discussões sobre questões políticas e de segurança.
Evidentemente, não é provável que um mercado comum
asiático seja institucionalizado em curto prazo, levandose em consideração a persistência de profundas divergências históricas entre os principais atores. “Inimizades históricas permanecem profundas na região e não vão
desaparecer da noite para o dia. Mas o principal fato é
que a definição de objetivos mostra uma tendência para
uma crescente integração da região, a qual se preocupa
com a emergência de blocos em outras partes do globo,
como o Nafta e a União Européia” (Ching, 1999:36).
Apesar dessas dificuldades, não se duvida que o processo pode contribuir para ampliação da mútua compreensão e confiança e uma mais durável estabilidade e paz no
Leste Asiático. Mas, além disso, há o interesse dos três
atores do Nordeste Asiático em atuar em conjunto com o
De outro lado, o presente relacionamento econômicocomercial apresenta uma clara tendência de crescimento,
principalmente pela diversificação dos parceiros comerciais, o que corresponde igualmente à constatação de que
o Japão não constitui mais o único mercado asiático para
os produtos brasileiros.
Em seu atual projeto de inserção internacional, o Brasil delega à região asiática um espaço especial. Entretanto, em decorrência de contradições internas e de conjunturas externas, não conseguiu ainda delinear as formas de
atingir esse objetivo. O Japão continua mantendo um locus
importante no relacionamento econômico-comercial, enquanto no político destaca-se o relacionamento com a
China. A Coréia do Sul e o Sudeste Asiático, pelos respectivos processos de desenvolvimento econômico acelerado, passaram igualmente a ser visualizados como possíveis parceiros políticos e econômicos.
NOVAS PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NA
ÁSIA E DE RELACIONAMENTO COM O BRASIL
A crise asiática pode ser considerada como o momento de inflexão das políticas regionais asiáticas, a partir do
momento em que passou a exigir uma maior atuação regional para encaminhamento de soluções para a crise em si.
Na realidade, a crise desnudou as fragilidades regionais,
demonstrando que a interdependência por si só não tem
capacidade de manter a região isolada de instabilidades,
como também que o processo de disputa por poder econômico entre Estados Unidos, União Européia e Japão não
afeta só o Japão, mas acaba englobando toda a região,
exatamente em função da forte interdependência regional.
Nesse sentido, retomam-se as expectativas de desenvolvimento de um processo de integração regional, com
características essencialmente asiáticas, sem a participação de atores externos, podendo ser canalizado para estruturas institucionalizadas com o objetivo de encarar questões transnacionais comuns. Ou, mesmo, como uma
resposta necessária à tendência de aprofundamento dos
regionalismos europeu e americano.
No que se refere especificamente à esfera econômica,
Funabashi aponta que o Japão estava acomodado com a
metáfora dos flying geese, que ressaltava sua liderança no
processo de desenvolvimento econômico asiático, ao mesmo tempo que o colocava como o principal interlocutor
asiático com o resto do mundo. “Mas a visão do Japão
sobre a Ásia e seu próprio papel nela está sendo desafiada pelas novas realidades econômicas: o crescimento da
121
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
ximos anos, o desafio para os Estados Unidos será manter
seu papel como responsável pela segurança regional, ao
mesmo tempo que deve evitar ser marginalizado dos planos econômicos e diplomáticos” (Brookings, 2000-01:7-8).
Em conjunto com a atual disposição de estabelecimento de um mecanismo regional que possa propiciar melhores condições de desenvolvimento regional, assim como
de inserção internacional, detectam-se dois instrumentos
complementares que buscam exatamente manter e/ou ampliar os relacionamentos asiáticos com duas outras regiões:
a União Européia e a América Latina.
O projeto Asem (Asia-Europe Meeting), uma iniciativa do Primeiro-Ministro de Cingapura, Goh Chok Tong,
tem como objetivo estreitar os laços políticos, econômicos e culturais entre os dois continentes. Para a UE, a institucionalização do Asem, estrategicamente, tem o papel
de ser um instrumento de aproximação política com a Ásia,
com o objetivo precípuo de evitar que Estados Unidos
possam se manter isolados na região. Em outros termos, a
UE espera, com o Asem, ser um ator político regional,
além de econômico, de forma que possa relativizar a importância que os Estados Unidos detêm na região.
O Asem, cuja primeira reunião foi em 1995, antes então da concordância no desenvolvimento do Asean + 3,
tem como participantes asiáticos os membros da Asean,
mais Japão, China e Coréia do Sul. Para o Japão, ainda
que as diferentes questões a serem discutidas já estivessem embutidas no seu relacionamento bilateral com a UE,
a importância do Asem está no fato de representar um diálogo inter-regional sem a presença dos Estados Unidos.
Nesse sentido, note-se que Japão reagiu lentamente à proposta até ter ciência de que os Estados Unidos não se opunham ao encontro.
“Em adição aos óbvios benefícios econômicos, o desenvolvimento de futuras relações com a Europa ao nível
de região para região era visualizado no Japão como oferecendo um contrapeso ao crescente papel ambivalente jogado pelos Estados Unidos na região. Essa linha particular
de raciocínio está alicerçada na contabilidade contemporânea de estruturas econômicas tripolares baseadas no
Japão (Ásia), UE (Europa) e Estados Unidos (Nafta). Acomoda os próprios interesses do Japão de desempenhar um
maior papel internacional dentro de uma estrutura multilateral” (Gilson, 1999:737).
Mas, mais do que isso, começou-se a ter ciência de que
o Asem poderia ser um instrumento de reaproximação com
a Ásia e de uma forma em que não estivessem presentes
os constrangimentos históricos, possibilitando um conta-
Sudeste Asiático, mesmo que em função de uma disputa
para ampliação do poder individual.
No plano da cooperação econômica, a presença do Japão mostra-se fundamental para transferir credibilidade a
qualquer desenvolvimento do bloco, porque é um instrumento que possibilita uma atuação japonesa sem cobranças de seu passado.
Retoma-se ainda a idéia de que a proposta de um mercado comum sem a presença dos Estados Unidos tem significativa importância enquanto se busca a definição de
uma identidade regional, na qual não só se aceita mas também se requisita a presença japonesa. Sob outra perspectiva, enquanto Asean + 3 pode desempenhar um papel
fundamental na aproximação dos atores regionais, pode
igualmente ser visualizado como um entrave à liberalização do comércio internacional, num processo no qual a
Ásia, com sua extrema dependência dos mercados externos, apresenta-se relativamente mais fragilizada.
“Entretanto, a provável institucionalização de um bloco econômico do Leste Asiático na próxima década enfrenta grandes obstáculos. Um contínuo constrangimento
contra um bloco comercial asiático discriminatório é a
dependência das economias regionais dos mercados de fora
da Ásia. Ainda que a participação do comércio intra-regional tenha crescido rapidamente na década anterior à emergência da crise asiática, mais da metade de suas exportações ainda é direcionada para mercados de fora da região.
O receio de que a institucionalização de um bloco asiático
discriminatório possa provocar uma guerra comercial global, na qual as economias asiáticas poderiam ser as maiores vítimas, ainda preocupa muitas capitais” (Ravenhill,
2000:331).
Nesse sentido, o Relatório Brookings 2000-01 aponta
a emergência de uma forte tendência para o multilateralismo na Ásia, considerando que, de um lado, propicia a
reinserção dos principais atores regionais, enquanto, de
outro, pode marginalizar o papel norte-americano nos campos econômicos e diplomáticos.
“Apesar dessas persistentes realidades, os Estados Unidos não deveriam rejeitar as tendências e os benefícios do
multilateralismo na região. A maior utilidade dessas organizações pode ser aproximar os principais atores da região
– particularmente China e Estados Unidos – de uma forma
que possa regularizar os contatos e afastar desavenças, desconfianças e conflitos. Além disso, o impulso para encontrar soluções multilaterais ressoa de forma muito mais intensa do que anteriormente. Há tanto benefícios quanto
perigos para os Estados Unidos nessa tendência. Nos pró-
122
OS BLOCOS ASIÁTICOS E O RELACIONAMENTO BRASIL-ÁSIA
a região da América Latina, sem a presença dos Estados Unidos. Demonstra não só um crescente interesse
asiático pelo espaço latino-americano, mas também a
disposição de diferentes Estados, como Japão, China e
Coréia do Sul, em participar desse processo. Considera-se que um dos incentivos para a iniciativa Focalal é
a percepção asiática de que Alca tende a se efetivar no
prazo estabelecido e que, conseqüentemente, pode afetar ou diminuir as possibilidades de inserção da Ásia
no espaço latino-americano.
Note-se que essa iniciativa asiática corresponde, de um
lado, às demandas latino-americanas de ampliação dos
contatos políticos e econômicos com a Ásia e, de outro,
soma-se à tentativa regional de desenvolvimento de um
bloco asiático, com identidade asiática, através da assim
denominada Asean + 3 (Japão, China e Coréia do Sul),
sem a presença de países ocidentais. Focalal nada mais é
do que a réplica do processo de aproximação, já em desenvolvimento, entre a Ásia e a Europa, o Asem.
to mais íntimo entre os diferentes Estados em torno de um
objetivo comum. Nesse sentido, o processo em si colabora para construção e reforço de uma identidade asiática,
ou, em outros termos, de um posicionamento asiático perante os outros agrupamentos políticos e econômicos.
“A originalidade do processo Asem reside em sua proposta fundamental de uma região contra a outra (ao contrário da Apec, ARF e a Conferência Pós-Ministerial da
Asean). Posiciona, assim, dois corpos coerentes e externamente diferenciados cuja composição permanece altamente inquestionável dentro do Asem. Esta nova instituição promove um mecanismo inter-regional regular e
coordenado que aproxima esta ‘Ásia’ e esta ‘Europa’. Paradoxalmente, este diálogo inter-regional pode servir mais
efetivamente para aumentar a cooperação intra-regional,
porque pode mais claramente articular explicitamente a
presença de uma Ásia vis-à-vis uma precisa e visível Europa. Como resultado, este mecanismo pode até mesmo
induzir à criação de uma identidade regional asiática...”
(Gilson, 1999:749).
Este crescente regionalismo pode ser canalizado para
estruturas institucionalizadas com o objetivo de encarar
questões transnacionais comuns. Ou, mesmo, visualizado
como uma resposta necessária à tendência de aprofundamento dos regionalismos europeu e americano.
Da mesma forma que o Asem, o recente processo de
aproximação entre Ásia e América Latina vai ter como
ponto inicial uma proposta de Cingapura e vai englobar
os países-membros da Asean mais o Japão, China e Coréia
do Sul. Como proposta básica, trata-se de uma iniciativa
com vistas a institucionalizar uma aproximação política
de alto nível e implementar programas e planos que ampliem os laços econômicos, políticos e culturais entre as
duas regiões.
Seus objetivos oficiais podem ser definidos em termos
de gerar condições favoráveis para ampliação e aprofundamento das relações inter-regionais em cooperação econômica e social e a troca de visões sobre desenvolvimento, estratégias de mercado, educação, formação de capital
humano, criação de emprego e desenvolvimento social.
Assim, na Primeira Reunião de Chanceleres, em março
de 2001, definiu-se que o Fórum de Cooperação América Latina – Ásia do Leste (Focalal)2 insere-se no contexto do adensamento das relações entre as diferentes regiões
do mundo e tem por objetivo preencher lacunas no relacionamento entre as duas regiões.
Dessa forma, o Focalal apresenta forte conteúdo simbólico ao procurar ampliar e aprofundar relações com
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em decorrência da retomada da atratividade do Brasil
pela abertura do mercado e estabilidade financeira e, paralelamente, pela ampliação do mercado através do processo integrativo regional, o Mercosul, percebe-se claramente um crescente interesse asiático pelo Brasil. Esse
interesse não é só econômico-comercial, mas igualmente
político-estratégico em função da disputa por poder e por
mercados que se processa na OMC e em outros fóruns
multilaterais. Dessa forma, considera-se que a iniciativa
de aproximação entre as duas regiões, através do Focalal,
deve gerar a ampliação das potencialidades brasileiras.
Isto é, o presente interesse mútuo, além da busca das
complementaridades óbvias em termos de comércio e
alianças políticas tanto nos planos bilaterais quanto nos
multilaterais, demonstra a vontade política de estreitamento de relações em função da necessidade de estabelecimento de parcerias, de um lado, no processo de distribuição de poder internacional e, de outro, na disputa pela
garantia de acesso a mercados.
NOTAS
1. Em 1991 foram aceitas as participações das três Chinas, sendo as
de Taiwan e Hong Kong, como economias não como países. Em 1993,
ocorreu a aceitação do México e de Papua-Nova Guiné e, em 1994, do
Chile. Rússia, Peru e Vietnã tornaram-se membros plenos em novembro de 1998.
123
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 16(1) 2002
2. O Fórum de Cooperação América Latina-Ásia do Leste (Focalal)
teve sua reunião inaugural em setembro de 1999, em Cingapura (Reunião de Altos Funcionários). Em agosto de 2000, houve a segunda reunião de Altos Funcionários em Santiago do Chile, seguida em outubro
de 2000, pelo primeiro encontro acadêmico. Em março de 2001 realizou-se a primeira reunião de ministros de Relações Exteriores. E, em
junho de 2001, dentro desse espírito de aproximação com a Ásia, a
Divisão de Ásia e Oceania do Ministério das Relações Exteriores do
Brasil realizou o Seminário O Brasil e a Ásia no século XXI: ao encontro de novos horizontes.
GILSON, J. “Japan’s role in the Asia-Europe Meeting”. Asian Survey.
Berkeley, UCP, v.39, n.5, September/October 1999.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OLIVEIRA, A.P. “Duas Visões da Apec (Conselho Econômico da ÁsiaPacífico)”. Revista Brasileira de Política Internacional. Brasília,
Ibri, v.38, n.1, 1995.
GUTIÉRREZ, H. “La Asean ante el emergente orden mundial:
reordenamiento regional y diplomacia colectiva en el Pacifico”.
Estudios Internacionales. Santiago do Chile, Instituto de Estudios
Internationales, v.XXVI, n.101, Enero-Marzo 1993.
KEGLEY, C. “Prospects for prosperity with peace in the Pacific Rim”.
Carta Internacional. São Paulo, Nupri/USP, n.64, junho 1998.
LEGORRETA, O.M. “Las Organizaciones Multilaterales en la Cuenca
del Pacífico”. Asia Pacífico 1994. México, El Colégio de México, n.1, 1994.
ARNDT, H.W. “The GATT system, free trade areas and regional
cooperation”. In: FUKUCHI, T. e KAGAMI, M. (orgs.)
Perspectives on the Pacific basin economy: a comparison of Asia
and Latin America. Tóquio, Institute of Developing Economies &
The Asian Club Foundation, 1990.
RAVENHILL, J. “Apec adrift: implications for economic regionalism
in Asia and the Pacific”. The Pacific Review. Londres, Taylor &
Francis, v.13, n.2, 2000.
STUBBS, R. “Signing on to liberalization: Afta and the politics of regional economic cooperation”. The Pacific Review. Londres, Taylor
& Francis, v.13, n.2, 2000.
BROOKINGS Northeast Asia Survey, 2000-01.
CHING, F. “An Emerging East Asia”. Far Eastern Economic Review.
Hong Kong, Dow Jones, v.162, n.50, december 16, 1999.
SUDO, S. “Japan and Southeast Asia in the Post-Cambodian Conflict
Era”. Asean Economic Bulletin, Cingapura, Asean, v.11, n.1, July
1994.
CRONE, D. “The politics of emerging Pacific Cooperation”. Pacific
Affairs. Vancouver, University of British Columbia, v.65, n.1,
Spring 1992, p.68-83.
FUKUCHI, T. e KAGAMI, M. (orgs.). Perspectives on the Pacific basin
economy: a comparison of Asia and Latin America. Tóquio,
Institute of Developing Economies & The Asian Club Foundation,
1990.
HENRIQUE ALTEMANI DE OLIVEIRA: Professor do Departamento de
Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Coordenador
Adjunto do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo.
FUNABASHI, Y. “Japan’s moment of truth”. Survival. Oxford, IISS,
v.42, n.4,Winter 2000-01.
124
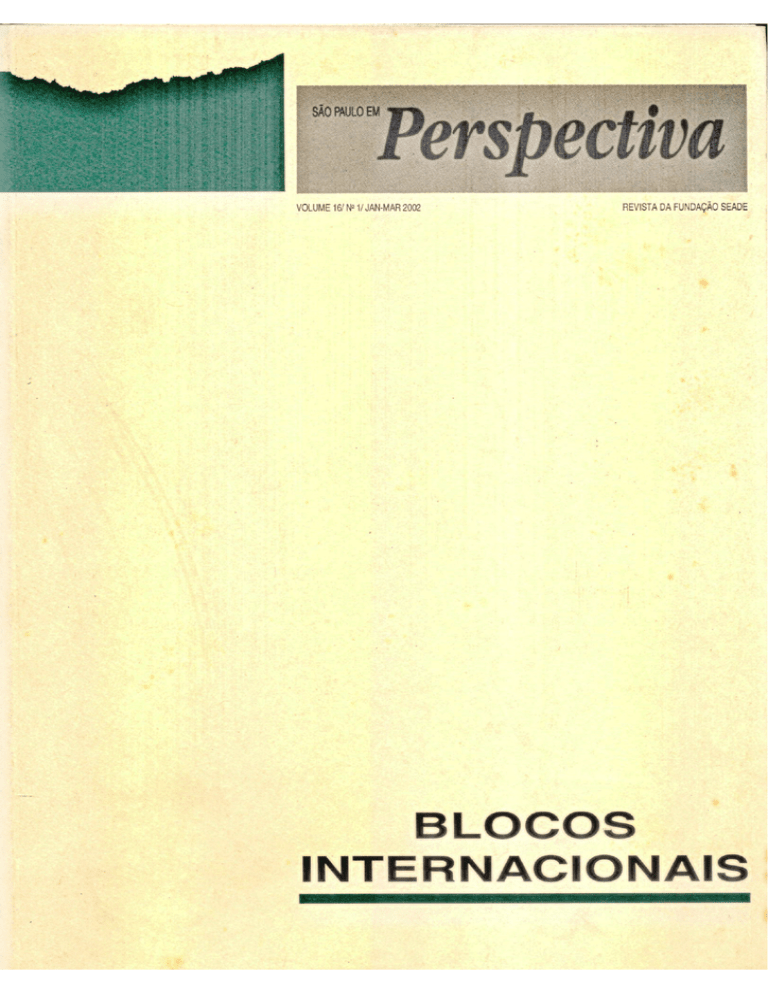
![(Conteúdos P4 - 6º ANO [2012])](http://s1.studylibpt.com/store/data/001441427_1-f77105d4780d7efb2e8f3779ebc28b10-300x300.png)