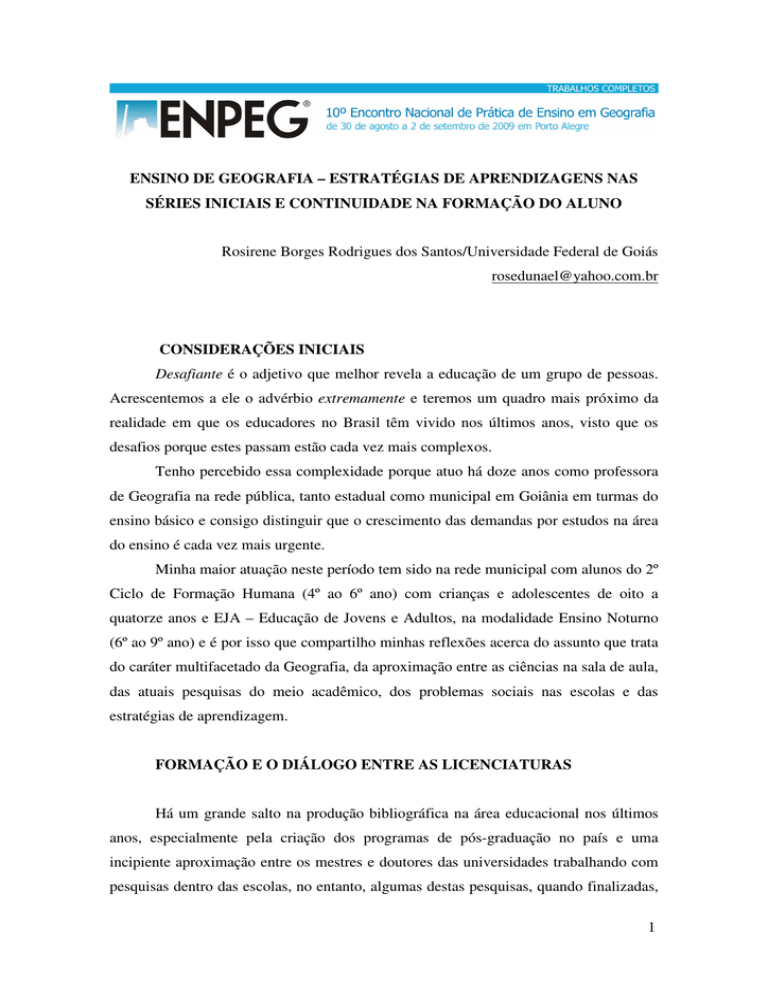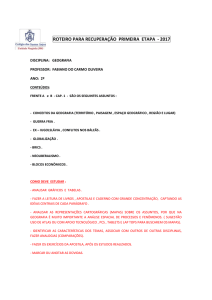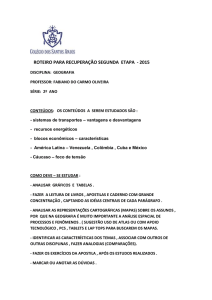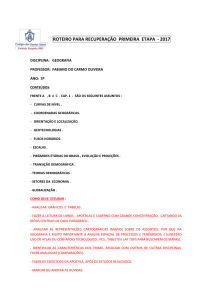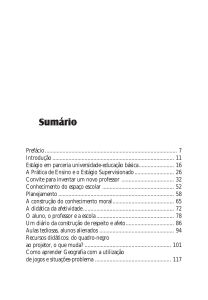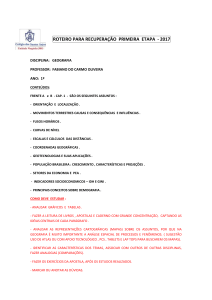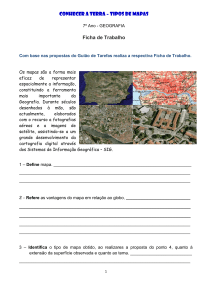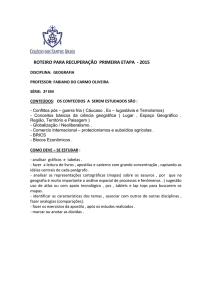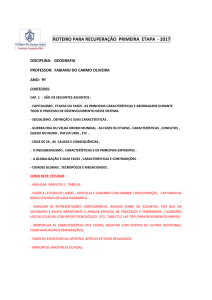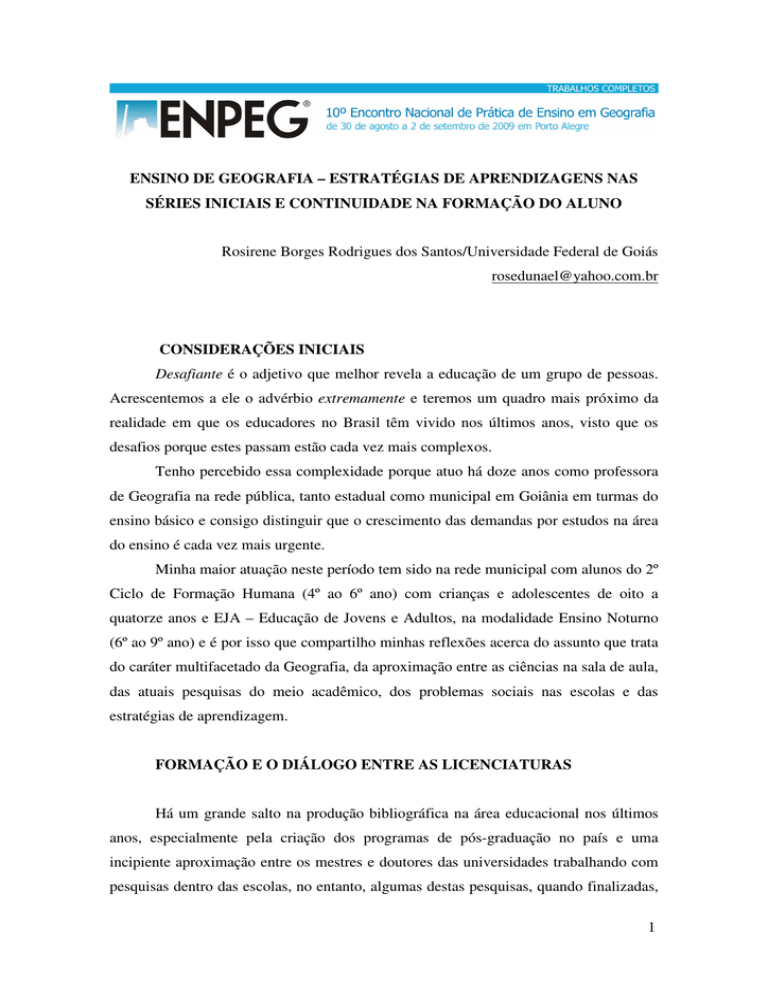
ENSINO DE GEOGRAFIA – ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGENS NAS
SÉRIES INICIAIS E CONTINUIDADE NA FORMAÇÃO DO ALUNO
Rosirene Borges Rodrigues dos Santos/Universidade Federal de Goiás
[email protected]
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Desafiante é o adjetivo que melhor revela a educação de um grupo de pessoas.
Acrescentemos a ele o advérbio extremamente e teremos um quadro mais próximo da
realidade em que os educadores no Brasil têm vivido nos últimos anos, visto que os
desafios porque estes passam estão cada vez mais complexos.
Tenho percebido essa complexidade porque atuo há doze anos como professora
de Geografia na rede pública, tanto estadual como municipal em Goiânia em turmas do
ensino básico e consigo distinguir que o crescimento das demandas por estudos na área
do ensino é cada vez mais urgente.
Minha maior atuação neste período tem sido na rede municipal com alunos do 2º
Ciclo de Formação Humana (4º ao 6º ano) com crianças e adolescentes de oito a
quatorze anos e EJA – Educação de Jovens e Adultos, na modalidade Ensino Noturno
(6º ao 9º ano) e é por isso que compartilho minhas reflexões acerca do assunto que trata
do caráter multifacetado da Geografia, da aproximação entre as ciências na sala de aula,
das atuais pesquisas do meio acadêmico, dos problemas sociais nas escolas e das
estratégias de aprendizagem.
FORMAÇÃO E O DIÁLOGO ENTRE AS LICENCIATURAS
Há um grande salto na produção bibliográfica na área educacional nos últimos
anos, especialmente pela criação dos programas de pós-graduação no país e uma
incipiente aproximação entre os mestres e doutores das universidades trabalhando com
pesquisas dentro das escolas, no entanto, algumas destas pesquisas, quando finalizadas,
1
ainda permanecem nas bibliotecas acadêmicas, em que seu resultado sequer é informado
às escolas participantes, conforme registra Perez (2002):
No Brasil, a mais notável deficiência do sistema de pesquisa
científica e tecnológica é seu confinamento, quase absoluto, aos
limites estritos do ambiente acadêmico. (...).
Todos os graduandos de licenciatura – ou quem se permite entrar numa sala de
aula e ser chamado professor - devem estudar a obra dos grandes pensadores,
educadores, psicólogos e filósofos que teorizam sobre educação. Mas, acima de tudo,
perceber na prática, in loco, como se processam as relações cotidianas entre
conhecimento,
professor,
aluno
e
ambiente
educacional,
conforme
reforça
CAVALCANTI (2008):
(...) ações individuais, ou de grupo, por exemplo, numa pesquisa
colaborativa ou num projeto de estágio curricular integrador, são
relevantes e contribuem, de fato,
para mudanças mais
significativas das práticas, mas é preciso ir além e aproximar
instituições e contextos, além dos sujeitos.
Um exemplo marcante de que há uma distância entre teoria da universidade e
prática nas escolas é a desistência de quatro professores recém formados, em menos de
dois meses, numa escola da rede pública municipal, região noroeste de Goiânia, em que
eu atuava. Aos que tive oportunidade de conversar sobre suas motivações, as respostas
foram parecidas: “trabalhar na educação não era bem o que eu pensava” e “eu não
estava preparado para esta realidade”.
A tradução destas falas, pelas discussões que fazemos em cursos de capacitação
ou no diálogo com os colegas é que três motivos são a base para um possível desânimo
dos educadores:
(1) Há um crescente aumento da violência em sala de aula, que se expressa na
agressividade verbal do aluno, na apatia do mesmo e no choque de valores morais entre
as gerações – professores e alunos.
2
(2) Problemas sociais de toda ordem: alimentação inadequada, higiene e saúde
pessoal, violência doméstica, falta de perspectiva financeira, falta de objetivo de vida,
família ausente, alcoolismo, drogas, criminalidade, demências entre outros problemas.
(3) Sistema de ensino que inibe a retenção dos alunos, permitindo que alguém
quase analfabeto chegue ao último ano do ensino fundamental.
A política das redes públicas é exigir que a escola suporte todas as demandas
sociais que envolvem desde a alimentação e higiene, passando por campanhas
ambientais e contra as doenças tropicais como a dengue, visitar as famílias até
encontrar alternativas para os psicóticos. E, obviamente, ensinar a quem ainda não foi
alfabetizado e, além de tudo, ensinar os conteúdos de forma precisa. Na maioria dos
casos, em apenas quatro horas por dia.
Cresce o oferecimento de cursos de capacitação sobre as práticas dos
professores. Em geral, as redes conhecem nossas falas e desafios, no entanto, não
consegue suportar todas as demandas, como garantir atendimento psicológico aos
alunos com reais déficits de aprendizagem ou aos que fazem uso de drogas. O melhor da
capacitação é o compartilhamento das experiências bem-sucedidas, no entanto, poucas
vezes durante o ano letivo e algumas vezes descontextualizado daquela realidade.
Assim, aumentam-se as demandas para as questões de saúde profissional dos
professores e do corpo diretivo das escolas.
Não basta identificar os problemas da escola, é preciso pesquisar e usar os
resultados em benefício daquela comunidade escolar. Daí, a imperiosa necessidade de
se fazer pesquisa observando o que há no lugar e divulgado o resultado final àorigem da
pesquisa para que a formação do estudante de licenciatura fique estanque e presa aos
moldes da universidade e não haja resistência ao apoio dos professores do ensino básico
para as próximas pesquisas.
Com todos os desafios o ensino básico brasileiro necessita apoio direto do meio
acadêmico, não apenas das pesquisas em Licenciatura e Pedagogia, mas também dos
profissionais de saúde, neurologia, psicologia, sociologia, filosofia, economia,
estatística etc. Entretanto, tenho ciência de que esta afirmação parece um tanto utópica,
vez que sequer as ciências das áreas vinculadas diretamente estão cumprindo o papel do
diálogo entre elas mesmas.
Vejamos o que MORIN (2008:115) coloca sobre o diálogo entre as disciplinas:
3
(...)
termos
interdisciplinaridade,
multidisciplinaridade
e
transdisciplinaridade, difíceis de definir, porque são significar,
pura e simplesmente, que diferentes disciplinas são colocadas
em volta de uma mesma mesa, como diferentes nações se
posicionam na ONU, sem fazerem nada além de afirmar, cada
qual, seus próprios direitos nacionais e suas próprias soberanias
em relação às invasões do vizinho. Mas interdisciplinaridade
pode
significar
também
troca
de
cooperação
(...)
multidisciplinaridade (...) associação de disciplinas (...) as
disciplinas ora são convocadas como técnicos especializados
para resolver tal ou qual problema; ora, ao contrário, estão em
completa interação para conceber esse objeto e esse projeto,
como no exemplo da hominização. No que concerne à
transdisciplinaridade, trata-se frequentemente de esquemas
cognitivos que podem atravessar as disciplinas, às vezes com tal
virulência, que as deixam em transe. De fato, são os complexos
de
inter-multi-trans-disciplinaridade
que
realizaram
e
desempenharam um fecundo papel há história das ciências; é
preciso conservar as noções chave que estão implicadas nisso,
ou seja, cooperação; melhor, objeto comum; e melhor, projeto
comum.
De fato, há momentos que a linha que divide as disciplinas para o ensino na
escola é muito tênue, não havendo uma definição clara sobre se o professor está
ingressando na disciplina do outro (Língua Portuguesa, Geografia, Língua Estrangeira,
História, Matemática etc.). Sobre isso, nas universidades, percebe-se que há um respeito
por todas as áreas do conhecimento, porém não há diálogo suficiente entre elas e,
obviamente, refletem-se nas práticas dos professores em sala de aula. Ainda na mesma
obra, Morin utiliza um termo capaz de equacionar o desafio de inter-multi-transdisciplinaridade, ou seja, da união das ciências.
Devemos “ecologizar” as disciplinas, isto é, levar em conta tudo
que lhes é contextual, inclusive as condições culturais e sociais,
ou seja, ver em que meio elas nascem, levantam problemas,
4
ficam esclerosadas e transformam-se. É necessário também o
“metadisciplinar”; o termo “meta” significando ultrapassar e
conservar. Não se pode demolir o que as disciplinas criaram;
não se pode romper todo o fechamento: há o problema da
disciplina, o problema da ciência, bem como o problema da
vida; é preciso que uma disciplina seja, ao mesmo tempo, aberta
e fechada.
É preciso que se juntem todos os ramos do conhecimento para salvaguardar a
educação formal no Brasil sob pena de escrevermos sem fim sobre o assunto, alguns
profissionais de educação – os que têm acesso as pesquisas acadêmicas - aliarem teoria
e prática, mas não se resolver problema algum devido às inúmeras demandas nas
escolas.
2.1. Rede de Pesquisa em Ensino de Cidade, um estudo de caso.
Uma boa perspectiva de trabalho que tem surgido, a meu ver, de forma inédita é
um grupo de trabalho que tem procurado preencher a lacuna da distância entre as
licenciaturas e as escolas. É a Rede de Pesquisa em Ensino de Cidade – REPEC,
constituída por professores UFG, UEG e UCG, alunos de graduação e pós-graduação e
professores de Geografia da Rede Municipal de Educação de Goiânia e vinculada ao
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação – LEPEG que funciona no Instituto de
Estudos Sócio-Ambientais, responsável pelos cursos de Geografia e o recém-criado,
Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás.
Elaborar materiais didáticos temáticos sobre a região metropolitana de Goiânia,
em parceria com professores de Geografia da Educação Básica é seu objetivo
primordial. Foram elaborados dois fascículos didáticos: um sobre alfabetização
cartográfica e outro sobre bacias hidrográficas, ambos relacionados à Região
Metropolitana de Goiânia.
Na fase atual, estes dois fascículos são aplicados por professores da Rede
Municipal de Ensino de Goiânia entre seus alunos, como projeto-piloto. Ainda estão
sendo elaborados mais dois fascículos com a temática Urbano e a temática Violência.
Estas temáticas foram escolhidas após uma pesquisa realizada com professores da Rede
Municipal de Ensino de Goiânia , os quais indicaram a necessidade de se produzir
5
materiais didáticos desses conteúdos específicos, para contribuir na mediação da relação
ensino-aprendizagem de Geografia na escola básica, uma vez que há a constatação da
escassez desses recursos didáticos, notadamente ao se tratar de Goiânia e seu entorno.
3. ESTRATÉGIAS DE ENSINO DA GEOGRAFIA
Em início de carreira, atuando no Ensino Médio, há doze anos, percebi que
mapas não eram ferramentas de uso autônomo dos meus alunos, pois muitos tinham
conhecimento cartográfico quase sem significância. Classifico-os este modelo como
equívocos de uso de um mapa por parte dos alunos:
a) Na forma - quando um aluno apontava um mapa político da África como sendo
o Brasil com a divisão territorial porque lhe teria um formato semelhante. Isso
poderia soar normal não fosse absolutamente contextualizado, pois eu não lhes
mostrava o mapa africano e sim o mapa-múndi;
b) Na compreensão de cidade e Estado - quando os alunos apontam, ao olhar num
mapa político do Brasil mudo (sem nomes), que o Estado de São Paulo é o
Estado do Amazonas (porque em suas referências São Paulo é grande, portanto o
maior desenho que há lá só pode ser São Paulo);
c) Na compreensão das categorias dos lugares - quando os alunos não entendem
que estão na sala de aula (e esta sala de aula tem um nome ou n°) que esta sala
de aula está inserida numa escola (e esta escola tem um nome), que por sua vez
se localiza num bairro (e este bairro é conhecido por um nome) que juntamente
com outros bairros, formam uma cidade (que têm um nome) que por sua vez
estão num modelo de unidades da federação (e cada um têm um nome) que por
sua vez formam um país que tem um nome que está num continente, num
sistema de planetas, numa galáxia e todo o conjunto chamamos Universo, que é
o todo;
d) Na orientação com o uso da rosa-dos-ventos – quando eles confundem a posição
dos pontos (especialmente leste-oeste) impressas no papel em comparação à
realidade.
e) Nas escalas – quando eles não conseguem perceber que se o mapa de Goiás é
maior que o Brasil não quer dizer que o Estado de Goiás é maior que o país
Brasil e etc.
6
f) No uso indiscriminado do conceito “crítico” vinculado à Geografia – classes
inteiras usavam o conceito “crítico” para indignação e/ou zombaria, no sentido
de se armarem contra tudo: todos os políticos, a televisão, a direção da escola, o
vereador do bairro... no entanto, desconheciam linhas imaginárias, nomes de
oceanos da Terra e pontos cardeais, entre outros equívocos.
Tantos foram os equívocos observados entre esses alunos do Ensino Médio que
um exemplo destoante da situação me surpreendeu, ao encontrar um casal de irmãos que
compreendia o mapa-múndi muito melhor que os demais, apesar de terem estudado na
mesma escola nos anos anteriores. Eles conheciam o mapa-múndi, as fronteiras, os
nomes dos países e ainda participavam mais das aulas. Eu não os considerava mais
interessados ou mais inteligentes ou ainda mais receptivos aos conteúdos das aulas, até
porque havia outros alunos com estas características e, no entanto não tinham esta
mesma abordagem em Geografia. Procurei saber o porquê desta diferença e eles me
contaram que achavam que era devido ao jogo War que sempre jogavam em casa. Cabe
aqui lembrar que este jogo era no formato cartela e não para uso virtual, no computador,
como existe no mercado atualmente. A partir desta constatação, comecei a trabalhar
com o mapa-múndi de forma mais consistente.
Procurando entender o porquê dos alunos não terem acesso aos mapas, apesar
deles estarem presentes em todas as publicações e serem considerado ferramentas
importantes por parte dos professores de Geografia, verifiquei que poucos alunos
haviam tido oportunidade de realizarem atividades com mapas, sejam locais, regionais
ou globais, políticos ou físicos. E que conteúdos como coordenadas geográficas,
legendas, escalas eram abordados apenas na 5ª série (hoje 6º ano).
Busquei, então, saber o porquê desta aparente contradição, questionando entre os
professores mais experientes das licenciaturas e soube que os próprios professores, ou
seus antecessores, especialmente dos anos 80, teriam renunciado ao uso de mapas – no
caso em Goiânia - porque houve a retomada da Geografia política, econômica e social
após o fim da ditadura no início dos anos 80. Por décadas, a Geografia foi meramente
descritiva e em nome da ditadura quando o ensino da memorização era o exercício mais
usado da Geografia.
Com a abertura política, os professores formados passaram a priorizar
priorizando tudo o que fosse “crítico” ou tivesse cunho político, econômico e social.
7
De fato, na minha formação dos anos 90 não me lembro de estudos com
informações tais como o posicionamento dos estados brasileiros, o conhecimento das
capitais ou um incentivo por exercitar a memória visual nos mapas de bairros, ou dos
municípios de Goiás, do Brasil, dos países do mundo.
3.1. A alfabetização cartográfica
Felizmente, existe atualmente um movimento para a alfabetização cartográfica
em trabalhos de vários pesquisadores nos cursos de pós-graduação pelo país, como
SIMIELLI (1996) que além dos atlas publicados, oferece estudos e linhas de pesquisa
que desenvolvem técnicas para aprimoramento deste conhecimento como na
representação
tão
abstrata
das
formas
topográficas
e
nas
passagens
da
tridimensionalidade (realidade) para a bidimensionalidade (mapa). Também MORAES
(2006) que se preocupa em pesquisar e divulgar o trabalho nas séries iniciais com
mapas, enfatizando que o trabalho com a alfabetização cartográfica :
(...) são indicadas para os anos iniciais do ensino básico (2º ao 5º
ano). Entretanto, caso o aluno não tenha tido essa formação, a
sugestão é que sejam implementadas também em anos
posteriores (6º e 7º ano especialmente). Após esse trabalho de
alfabetização cartográfica o professor terá condições de
trabalhar mais adequadamente com produtos cartográficos já
elaborados (mapas, cartas e plantas), os quais têm maior rigor
nas
suas
representações,
com
símbolos
e
convenções
cartográficas, muitas delas internacionalmente padronizadas.
Ao encontrar tanta publicação acerca do assunto “alfabetização cartográfica”,
termo este desconhecido na época de minha formação levou-me à franca alegria porque
entendo que a cartografia é um excelente recurso para se entender o mundo. O aluno o
vê, sente o “pulsar” do mundo, ouve falar cidades, lugares tidos como distantes, em
países, em continentes, nas reportagens, no convívio familiar.
As atividades a seguir foram aplicadas a alunos de 6º ano, 7º e 8º ano e foram
devidamente ilustradas por um conjunto de mapas com boa visualização em quadros de
cerca 1,5m2 e ficam expostos nas paredes das salas de aula permanentemente. São
mapas de Goiânia, (embora esteja defasado, com a ausência de alguns bairros), do
8
Estado de Goiás com todos os municípios goianos, do Brasil político e do planisfério
político.
Estou
sentado
numa
cadeira
e
eu
me
chamo
__________________.
Essa cadeira faz parte de uma sala de aula que é a sala _________
que
está
dentro
de
uma
____________________________________
escola
que
está
chamada
num
bairro
cujo
nome é ___________________________________ que fica numa cidade
chamada
_____________________
________________
________________
que
que
se
é
um
que
é
localiza
dos
a
capital
do
em
um
país
países
do
Estado
de
chamado
continente
chamado
_________________________________ que fica num planeta chamado
__________________
que
________________
é
que
um
dos
está
______________________.
Todos
nove
planetas
na
esses
do
galáxia
lugares
recebem
Sistema
chamada
o
nome
de
__________________________.
Ocupamos um lugar no espaço. Estamos sentados na cadeira dentro de uma
sala de aula que fica na escola que está dentro do bairro que está dentro da
cidade que fica em um estado que se localiza numa região que é uma das
cinco regiões de um país que está dentro de um continente que está no
planeta que fica num sistema dentro da galáxia. Isto é tudo que existe.
Agora enumere de acordo com os lugares.
( 1 ) Eu
(
Universo
(
) Terra
) Goiânia
Região Centro-Oeste (
Morais
(
(
) Escola
(
) Sala
(
5ª
) Brasil
(
(
) América do Sul
) Goiás
) Via Láctea
(
( 13 )
(
)
) Setor Cândida de
) Sistema Solar
Municipal Cel. José Viana Alves
Apesar disto, 20% dos alunos ainda tiveram dificuldade em compreender que
Goiânia é uma cidade/município do Estado de Goiás, que por sua vez é um estado
brasileiro de um país que está na América do Sul que é a parte sul do continente
americano, um dos continentes do planeta Terra. Isso porque a visualização do mapa
para alguns não leva em conta a ampliação dos mapas. Há alunos que levam muito
tempo para compreender que o mapa de Goiânia está maior que o Brasil apenas por
estar ampliado. Para estes, apenas mostrando o “formato” do mapa de Goiânia inserido
num “tamanho menor” no mapa de Goiás e este no Brasil é que a aprendizagem se fez
presente.
9
Este problema da noção de escala poderá ser resolvido através das novas
tecnologias de imagens como as resultantes do Google Earth, que tornam claras a noção
de local-global e global-local conforme se utilizam a ferramenta de aproximação e
afastamento no planeta. Sobre isso, realizo uma pesquisa na área de geotecnologias
aplicadas à educação, em fase de finalização.
Registro que concluí nos últimos anos que é feliz o professor que cria suas
próprias técnicas, observando, interagindo, e depois os resultados são concretos. Como
é bom registrar os acertos dos alunos nas avaliações individuais e sem consulta. Eles
aprenderam, conseguiram visualizar o que planejei.
3.2. Cartografia e Topônimos
Gostaria de poder contribuir com o fim de falas de educadores sobre o ensino de
topônimos. Há uma comunidade virtual na famosa rede de relacionamentos Orkut
“Geógrafo não é atlas”, com mais de 5.000 participantes. Entendo que não temos
condições de saber os nomes de todos os acidentes geográficos, localidades no mundo,
bairros do nosso município (Goiânia registra mais de 500 bairros), ou a posição de todos
as centenas de países com suas capitais, mas devemos saber a posição dos estados
brasileiros e se esforçar para conhecer pelo mapa – e in loco – se possível, dos
municípios dos estados brasileiros. Esta medida ajuda nosso alunado a ver maior
significância em sua aprendizagem e fortalece nossa confiança ao ensinar sobre
determinados assuntos. Segundo Menezes (2008):
os nomes geográficos tornam os lugares testemunhos
históricos
do
povoamento,
descobrimento,
presença
e
permanência sobre e do espaço geográfico. Este registro
histórico é marcado pela passagem de gerações, raças, povos e
grupos lingüísticos na sucessão e ocupação de um território.
Revela tendências sociais, religiosas, políticas. Os nomes
geográficos singularizam lugares, identificando-os claramente.
(...)
São
os
testemunhos
históricos
do
povoamento,
descobrimento, conhecimento, presença, permanência entre
outros do espaço geográfico. Através
deles é marcada a
10
passagem de gerações, raças, povos e grupos lingüísticos, na
sucessão da ocupação de um território.
Oliveira (2005) cita Vygotsky, que refere-se à memória infantil como diferente
do adulto, não em termos da quantidade de material que pode ser lembrado, mas dos
modos de organização do processo de rememoração. Ele afirma que a criança “pensa
lembrando” e o adulto “lembra pensando”. É muito mais fácil à criança usar seu poder
de memória nas aprendizagens de forma lúdica dos topônimos. E assim como a
alfabetização cartográfica deve perpassar aos adolescentes, jovens e adultos que não
tiveram a oportunidade deste estudo, lembro que é possível trabalhar com topônimos na
continuidade da formação do aluno do ensino básico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas vinculadas às metodologias de aprendizagem, às didáticas e a
constante vigilância sobre como o aluno aprende não devem estar nas faculdades
dedicadas à formação de pedagogos. Elas devem perpassar sobre todos os cursos de
licenciatura porque os que estão indo para a sala de aula não são apenas os pedagogos e
nossos coordenadores pedagógicos na maioria das vezes não conseguem auxiliar nas
dificuldades dos professores em sala de aula, até porque cabe ao professor licenciado a
informação daquele conteúdo.
REFERÊNCIAS
CAVALCANTI, Lana S. Formação inicial e continuada em geografia: trabalho
pedagógico, metodologias e (re) construção do conhecimento. In: Formação de
professores: reflexões do atual cenário sobre o ensino da geografia/ org. Beatriz A.
Zanatta, Vanilton C. Souza – Goiânia: NEPEG, 2008, ed. Vieira, 180 p.
11
MENEZES, Paulo M. L; SANTOS, Cláudio J. B. Geonimia e
Cartografia: da pesquisa histórica ao geoprocessamento.
Portal da Cartografia. Londrina, v.1, n.1, maio/ago., p. 75 92, 2008.
MORAES, L.B. A alfabetização cartográfica nas séries inicias da educação básica. In: V
Seminário das Licenciaturas, 2006.
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento;
tradução Eloá Jacobina. – 15ª ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.
OLIVEIRA, Marta Khol. História, consciência e educação. Viver Mente e Cérebro –
Coleção Memória da Pedagogia, São Paulo, v.2, p. 6-13, 2005.
PEREZ,
José
Fernando.
Pesquisa:
a
construção
de
novos
paradigmas. São Paulo em Perspectivas. 16(4), 30-35, 2002.
SIMIELLI, Maria E. R. Cartografia e ensino: proposta e
contraponto de uma obra didática. São Paulo, 1996. Tese
(Livre Docência) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo.
12