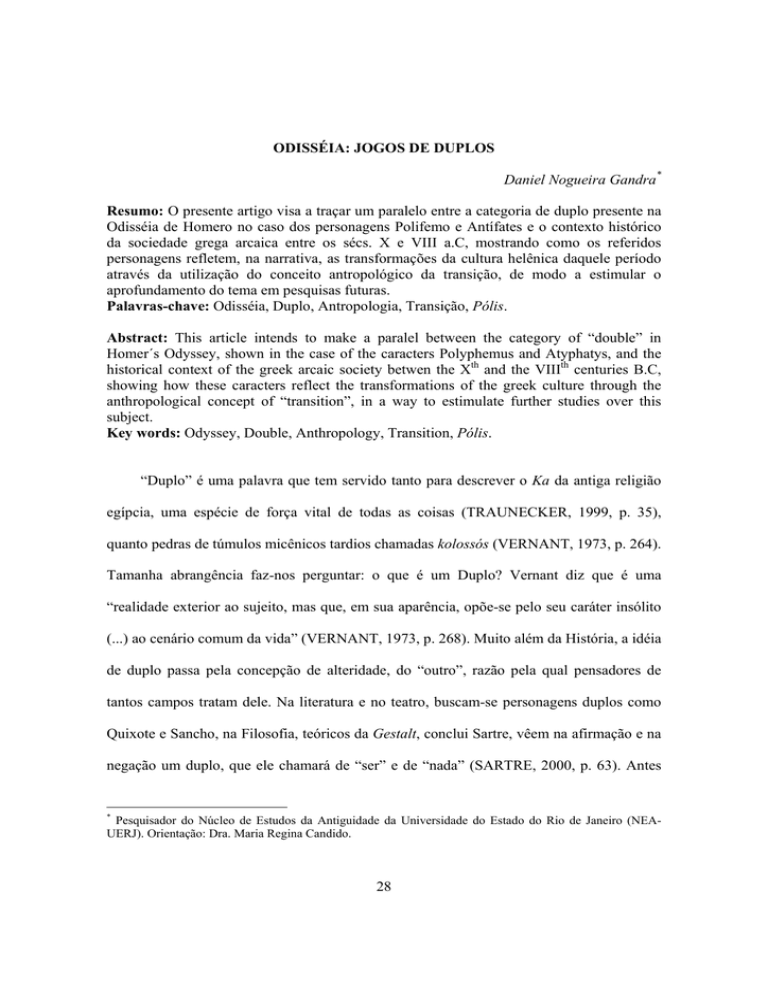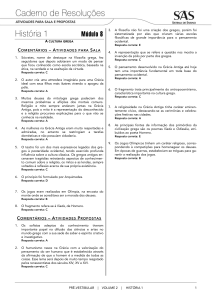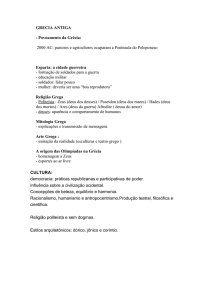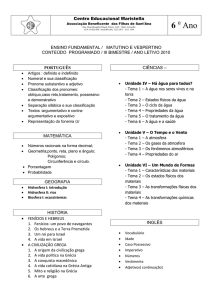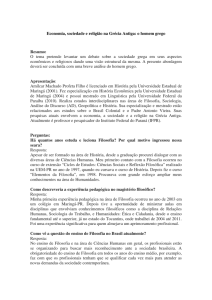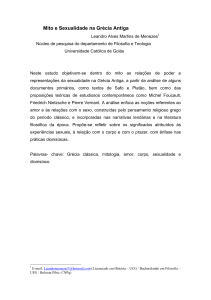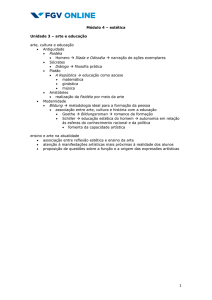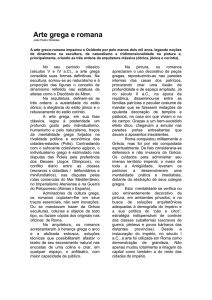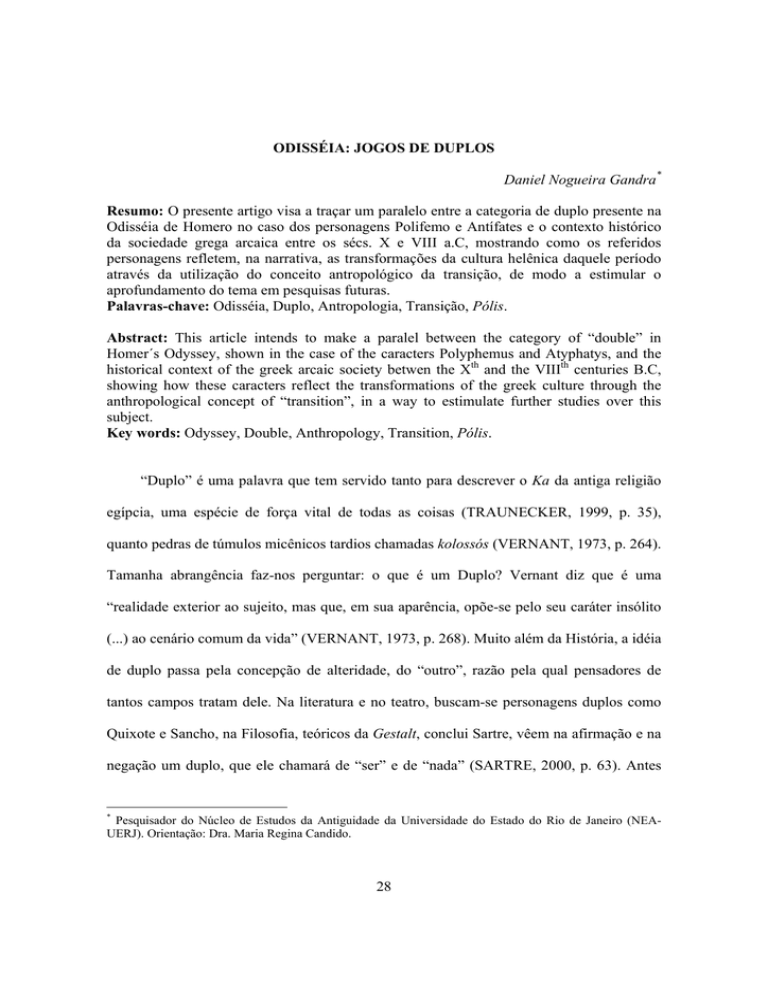
ODISSÉIA: JOGOS DE DUPLOS
Daniel Nogueira Gandra*
Resumo: O presente artigo visa a traçar um paralelo entre a categoria de duplo presente na
Odisséia de Homero no caso dos personagens Polifemo e Antífates e o contexto histórico
da sociedade grega arcaica entre os sécs. X e VIII a.C, mostrando como os referidos
personagens refletem, na narrativa, as transformações da cultura helênica daquele período
através da utilização do conceito antropológico da transição, de modo a estimular o
aprofundamento do tema em pesquisas futuras.
Palavras-chave: Odisséia, Duplo, Antropologia, Transição, Pólis.
Abstract: This article intends to make a paralel between the category of “double” in
Homer´s Odyssey, shown in the case of the caracters Polyphemus and Atyphatys, and the
historical context of the greek arcaic society betwen the Xth and the VIIIth centuries B.C,
showing how these caracters reflect the transformations of the greek culture through the
anthropological concept of “transition”, in a way to estimulate further studies over this
subject.
Key words: Odyssey, Double, Anthropology, Transition, Pólis.
“Duplo” é uma palavra que tem servido tanto para descrever o Ka da antiga religião
egípcia, uma espécie de força vital de todas as coisas (TRAUNECKER, 1999, p. 35),
quanto pedras de túmulos micênicos tardios chamadas kolossós (VERNANT, 1973, p. 264).
Tamanha abrangência faz-nos perguntar: o que é um Duplo? Vernant diz que é uma
“realidade exterior ao sujeito, mas que, em sua aparência, opõe-se pelo seu caráter insólito
(...) ao cenário comum da vida” (VERNANT, 1973, p. 268). Muito além da História, a idéia
de duplo passa pela concepção de alteridade, do “outro”, razão pela qual pensadores de
tantos campos tratam dele. Na literatura e no teatro, buscam-se personagens duplos como
Quixote e Sancho, na Filosofia, teóricos da Gestalt, conclui Sartre, vêem na afirmação e na
negação um duplo, que ele chamará de “ser” e de “nada” (SARTRE, 2000, p. 63). Antes
*
Pesquisador do Núcleo de Estudos da Antiguidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NEAUERJ). Orientação: Dra. Maria Regina Candido.
28
que nos percamos em uma lista infindável, é importante apontar o seguinte: o duplo é uma
categoria de “outro”, e “outro” é aquele que é diferente, mas o duplo, em sua diferença, tem
algo que o faz semelhante, uma espécie de transição ou ponto indefinido entre o igual e o
diferente.
Esta concepção pode parecer confusa, e se o é, atingimos nosso objetivo. Isto
porque são conhecidos os estudos em Antropologia que tratam das transições, das
categorias que não são bem uma coisa nem outra: esquinas de rua, portais (reais ou
simbólicos), fórmulas mágicas que misturam elementos sem qualquer conexão aparente
como asas de morcego com pernas de barata. Tais categorias, explicam-nos os
antropólogos, estão deslocadas da identidade, daquilo que podemos categorizar,
“normatizar” e, portanto, compreender e aceitar. Por esta razão, por exemplo, excluídos dos
grupos sociais como mendigos esmolam nos “portões das cidades” (rodoviárias) ou na
transição entre o sagrado e a vida cotidiana (portas de igreja), ou ainda ritos de magia são
realizados em esquinas e cachoeiras - local de transição do rio de um nível mais elevado
para um mais baixo (RODRIGUES, 1995, p. 78-81). Assim, a categoria de duplo, uma
espécie de indefinição entre o “um” e o “outro”, também nos parece desajeitada e pouco
clara como qualquer categoria de transição, seu conceito é estranho e oclusivo, refletindo
sua natureza.
Nada disto é novo e já foi bastante estudado na Antropologia. A necessidade deste
“outro” também já foi analisada em profundidade por Augée. Segundo o pesquisador, a
alteridade é o fundo sobre o qual recortamos a silhueta de nossa identidade, fundo essencial
e sem o qual a perdemos, o que parece, em sua opinião, estar ocorrendo na
contemporaneidade onde a tentativa de apagar as diferenças joga o indivíduo em uma
29
espécie de “vazio identitário”, terreno fértil a frutificar extremistas e radicais (AUGÉ, 1999,
p. 57-76, 142-149, 162-166).
Não é nossa intenção aqui estudar estes pressupostos tão bem trabalhados nas obras
que referimos neste artigo, mas partir deles para buscar nossa concepção de duplo. O duplo
é, portanto, aquele que é outro, mas um outro que guarda semelhanças suficientes com o
objeto comparado a ponto de os confundirmos ou, pelo menos, conseguirmos ver neles
traços comuns de identidade. À parte a obviedade simbólica da figura de gêmeos, Vernant
dá como exemplo de duplos o que ele chama de eidólon (imagem ou aparição) de Pátroclo
para Aquiles, a psiché de Pátroclo é o duplo da sua pessoa viva, ela não é o próprio
Pátroclo, como nossa má compreensão em razão da tradução de psiché por alma faz sugerir,
mas é kapnós (fumaça), skiá (sombra) ou óneiros (sonho), intangível e, ainda assim,
confundível ou identificável com Pátroclo: Aquiles sabe com quem está falando, mas a
eidólon é apaté (engodo), são as roupas, a aparência de Pátroclo, há algo de sua identidade
na sua psiché, mas não é o próprio Pátroclo vivo (VERNANT, 1973, p. 268; HOMERO.
Ilíada. XXIII, 59-72). Sendo o duplo uma categoria de transição, não é difícil entender
porque a aparição de Pátroclo dá-se também em um momento de transição ou indefinição
de identidade: Aquiles estava dormindo, porém consciente, uma espécie de sonho, categoria
nem bem no domínio da inconsciência do sono, nem bem seu oposto. Os estudos
antropológicos a que nos referimos a pouco esclarecem esta passagem da Ilíada: o duplo e
o sonho, duas categorias de transição, que amalgamam em si identidades de categorias
diferentes, do “outro”, encontram-se nesta passagem épica como lugar e voz que pede a
Aquiles que realize os ritos funerários de Pátroclo para que possa adentrar no Hades, ele
30
que também está em uma categoria de indefinição, não está vivo nem propriamente onde
deveria estar, no mundo dos mortos.
Os conceitos podem parecer bastante enigmáticos, o que nos leva a perguntar: então,
como compreender a idéia de duplos aplicada à Odisséia poderia lançar um novo olhar
histórico sobre a cultura desta sociedade? Comecemos pelo princípio: quem são os duplos
na Odisséia?
Do par de duplos de que trataremos aqui, um gozou de imensa fama, encontramos
representações suas em vasos áticos, mosaicos em Pompéia e pinturas oitocentistas Polifemo, o ciclope; Antífates, seu duplo, ficou quase relegado ao esquecimento. Ciclopes e
Lestrigões (povo do qual Antífates é soberano) são gigantes humanóides comedores de
homens. Odisseu aporta em suas ilhas e tem que fugir para não ser devorado, porém seus
companheiros não escapam ao fim fatídico de se tornarem ceia de gigantes. A identificação
entre eles é clara, são os únicos gigantes, e que se alimentam de homens, na narrativa. Aí
terminam as semelhanças. Odisseu descreve os ciclopes como primitivos, “povo rude, sem
lei”, que não conhece as agorai buléforoi, não constroem navios, não cultivam a terra,
vivem em cavernas e se organizam em famílias, não em grupos sociais mais amplos. Em
oposição, os Lestrigões vivem em casa, possuem um basileus (soberano), organizam-se em
assembléia e agem coletivamente. Polifemo é solitário, convive ao lado de ovelhas e cabras
em meio aos seus dejetos. Atífates coabita ao lado de milhares e caça os companheiros de
Odisseu em grupo (HOMERO. Odisséia. IX, 106-189, X London B 502 in
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/image?lookup=1990.14.014779-134). Os Lestrigões
estão próximos da vida que Odisseu levava em Ítaca ou, genericamente, a do aqueu (grego)
em sua polis. São uma sociedade organizada, a filha de Antífates era bela, e sua casa
31
resguardada por sua esposa. Polifemo, por sua vez, difere em absoluto da vida na políade
hélade: desrespeita os deuses, “não mexe um só dedo para plantar ou lavrar” pois seu “solo
produz sem cultivo nem semente, trigo, cevada e videira”, ele “não lembrava em nada
comedores de pão” (HOMERO. Odisséia. IX, 191-192, 109-110).
Vemos, nos ciclopes, o oposto do homem grego, uma espécie de selvageria, reforçada
na narrativa pela descrição de Odisseu, com a função de ressaltar as qualidades da vida na
polis pelo contraste das diferenças. Ocupada pelos pretendentes que querem desposar
Penélope, a Ítaca de Odisseu não nos oferece uma descrição muito clara da vida políade,
contudo, ao aportar na terra do basileus Alcinoo, vemos na sua plenitude a estrutura social
da polis grega: jogos, hierarquia, isegoria (o livre direito à palavra) e a emergência dos
princípios de igualdade entre os aristoi (HOMERO. Odisséia. VIII, 109-226). Sendo o
avesso deste modo de vida, ensina-nos o já citado Augé, os Ciclopes são o “outro” por cujo
contraste os gregos constroem sua identidade ao ressaltar os valores políades de sua cultura
(AUGÉ, 1999, p. 123-128). Por assim dizer, helenos e Ciclopes estão em lados opostos.
Onde estão, então, os Lestrigões? Eles são gigantes como os Ciclopes, porém, ao
contrário de Polifemo, têm dois olhos como os humanos. Vivem em casas e reúnem-se
politicamente como os gregos, entretanto, devoram homens como Polifemo. Eles são a
categoria de transição, o duplo que não se enquadra exatamente nem na categoria do grego,
anfitrião e cidadão, nem na categoria do selvagem chulo e despolido; são algo de
intermédio, deslocado e estranho como a eidólon de Pátroclo.
Ao descrever a Lestrigônia, Odisseu diz que “lá, o pastor que entra saúda o pastor que
sai. Quem escuta, responde (...) se aproximam ali os caminhos do dia e da noite”
(HOMERO. Odisséia. X, 82-86). Novamente vemos categorias opostas (entrar e sair,
32
escutar e responder, dia e noite) amalgamadas em um mesmo local, tornando-o difícil de
categorizar, indefinindo-o em uma transição de categorias bem estabelecidas. Como no
exemplo de Vernant, em que o duplo aparece em um momento de indefinição entre o sono
e a vigília, aqui o duplo de Polifemo, Antífates, governa uma terra de transições. José
Carlos Rodrigues aponta a ambivalência destes lugares como no caso dos
“eclipses, que interrompem a diacronia regular do Sol ou da Lua. Das madrugadas,
entre um dia e outro, nem manhã nem noite (...) Das esquinas, nem uma rua nem outra,
talvez abas a um só tempo, lugares destinados a ritos mágicos, à localização de lixeiras, à
permanência de certos tipos de pessoas e a certas práticas do comércio. (...) Das estações
ferroviárias e rodoviárias, com freqüência consideradas sujas, suspeitas de servidas por
comerciantes e taxistas desonestos (...) porque são simbolicamente portas de entrada e de
saída das cidades, porque simultaneamente posicionadas no interior e no exterior delas.
Esta lógica significacional torna muito claro para nós o porquê da recorrência da
meia-noite, nem um dia nem outro e exatamente entre ambos, nos filmes de terror. Torna
nítida a razão de celebrarmos ritualmente a meia-noite no dia 31 de dezembro (...)
Podemos observar como os monstros se explicam pr meio desta lógica,
configurando-se pelo embaralhamento de elementos saídos de categorias em princípio
diferentes e mutuamente afastadas: (...) lobisomem (homem e lobo) (...) sereia (mulher e
peixe) (...) todos estes casos ambíguos, ambivalentes, ou intersticiais exigem de nós uma
atitude muito especial, aquilo que Radcliffe-Brown designava por ´atitude ritual´: atenção,
proteção cuidado.” (RODRIGUES, 1995, p. 79-81)
Vemos, portanto, duas categorias que se opõe: gregos e ciclopes, “os outros”, em
tudo diferentes, mas por cujas dessemelhanças ressalta-se a identidade hélade, e o duplo de
33
Polifemo, Antífates, um meio-termo deslocado destas duas categorias, um paradoxo que
guarda, em si, um jogo de antíteses insolúvel. Podemos especular, seguindo o raciocínio
dos estudos antropológicos, que o desconforto causado pelas categorias de transição
relegam-nas a um tratamento com menor consideração, o que explicaria tanto o
esquecimento do duplo de Polifemo, que carece de maiores referências artísticas e
literárias, quanto a longa narrativa sobre os Ciclopes (aproximadamente 460 versos do livro
IX, do 106 ao 566) se comparada com a curta sobre os Lestrigões, descritos em apenas 54
versos (do 80 ao 134 do livro X). A própria divisão em livros do épico, fruto de estudioso
no período helênico (VIDAL-NAQUET, 2002, p. 19-21), colocou o episódio com Polifemo
na conclusão de um dos livro (IX) e o de Antífates entre dois episódios no livro X – o do
encontro com Éolo e com a feiticeira Circe, o que denota o aspecto de transição do trecho.
Agora é o momento adequado para nos perguntarmos: o que o duplo pode oferecer à
História que lhe enseje uma nova visão sobre a sociedade grega?
Podemos traçar uma história própria para os textos de Homero, que vão desde sua
gênese até as publicações atuais, passando pela Grécia clássica, quando eram utilizados
como textos de alfabetização do cidadão grego, Idade Média, quando ficaram restritos aos
arquivos monásticos, e Renascimento, quando ressurgiram as publicações, contudo,
manteremos o foco nos séculos em torno dos quais houve a criação das obras que
representaram uma grande transformação na vida do homem grego.
Muito embora careçamos de uma data precisa, apesar dos esforços dos estudiosos ao
longo dos séculos para localizá-la, há um certo consenso de que a Odisséia foi criada para
recitação oral pelos aedos (espécie de trovadores que cantavam histórias) por volta do séc.
IX ou VIII a.C. Neste período, a região do Egeu, dominada por povos de língua grega,
34
vivenciou o que Finley chamou de “renascimento após um período de trevas” (FINLEY,
1990, p. 79-97; LEVÉQUÊ, 1967, p. 103). Muito embora esta nomeclatura para épocas
históricas seja contestável, já que pressupõe um ponto de vista eucêntrico que vê no
desmantelamento de determinadas estruturas sociais um caráter negativo, ela consegue
traduzir o imenso impacto trazido pelas mudanças do período.
No continente da Grécia durante o Heládico tardio (1600-1200 a.C), floresceu uma
civilização de língua grega genericamente denominada de Micênica, cuja política
centralizava-se em torno do poder palaciano do wanax (rei). Contudo, os Dóricos, um povo
vindo das margens do Danúbio e de estreita ligação com os gregos do noroeste, a julgar
pelos seus dialetos, iniciou um movimento de migração inicialmente à Grécia central e
posteriormente à Ática e Peloponeso por volta dos sécs. XIII e XII a.C, que se tornou
progressivamente mais agressivo. Durante este prolongado movimento migratório, os
palácios tornaram-se fortalezas, vemos surgir a Acrópole em Atenas na tentativa de salvar
as estruturas políticas Micênicas, porém tudo foi em vão. Ao final deste período, o poder
dos wannax fragmentou-se em pequenos núcleos de cidadelas e vilarejos, a escrita,
instrumento de controle administrativo dos palácios, foi perdida juntamente com os ricos
ornamentos artísticos, também objetos oriundos desta centralização ao chamado modelo
oriental (LEVÉQUÊ, 1967, p. 90-99).
Durante três ou quatro séculos os povos de língua grega não possuíram escrita ou
formas de governo mais complexas como tiveram anteriormente, poucas eram as
representações antropomórficas nas artes que passaram a adotar repetições de padrões
geométricos ou “proto-geométrico”. Todavia, não podemos deixar de ver mudanças
significativas na cultura, como o início de rituais funerários crematórios e movimentos
35
demográficos importantes como a intensificação da colonização na Ásia Menor (atual costa
oeste da Turquia), região onde os estudiosos acreditam que foi criada a Odisséia.
Em torno do final do séc. X e séc. IX, observam-se grandes transformações na
região. Importa-se o alfabeto fenício para adaptá-lo à língua grega, fazendo surgir uma
nova escrita, aparecem os primeiros templos e instituições pan-helênicas como oráculos e
jogos, ressurgem as representações humanas na arte, as cerâmicas, com uma técnica mais
desenvolvida que originou o que se chama de “período geométrico”, são encontradas por
todo o mediterrâneo, o que nos leva a vislumbrar uma retomada do comércio em grandes
proporções. As concentrações humanas nos pequenos vilarejos aumentam, nascem as
estruturas sócio-políticas da polis grega que conhecerá seu resplandecer poucos séculos
depois, a aristocracia proprietária de terras ascende medindo forças com o basileus (não
mais o wannax micênico com seu poder incontestavelmente centralizado), dando origem ao
princípio de igualdade entre os aristoi que, nos sécs. V e IV em algumas cidades, originará
o que Péricles denominou democracia.
É também neste período que vemos aparecer as obras mais importantes da literatura
arcaica grega: Ilíada e Odisséia, sob a autoria do que se convencionou denominar Homero,
muito embora creditem-se os épicos a autores diferentes, e a Teogonia e Trabalhos e Dias
de Hesíodo (LEVÉQUÊ, 1967, p. 103-122). Elas retratam em suas narrativas a emergência
desta nova sociedade, profundamente transformada.
É importante ressaltar que quando nos referimos às mudanças ocorridas nesta época
não estamos negando ao período anterior a relevância histórica que lhe é devida, isto é, não
vemos na chamada “idade das trevas grega” um tempo menor, medíocre ou inferior, o que
implicaria em um julgamento de valor que não acabe ser feito aqui, porém sim buscamos
36
evidenciar as rupturas históricas que são inegáveis e deram origem a uma nova estruturação
social, assim como o desmantelamento da sociedade micênica fez brotar a realidade a que
nos referimos.
É certo que esta nova modelagem sócio-cultural representa um período de transição,
o estabelecimento de um novas idéias, uma nova identidade que possibilitou a ruptura com
o passado para a construção de um novo porvir. É exatamente esta transição que vemos
representada na Odisséia pela figura do Duplo Polifemo e Antífates.
A narrativa coloca de um lado a representação da rusticidade, selvageria, aquilo que
se deve evitar, o indesejado – os ciclopes; de outro, mostra a vivacidade da nova sociedade
grega no reino de Alcínoo. Entre os dois, Antífates, o deslocado, aquele sem categoria
definida, sem identidade certa, uma espécie e monstro que mistura elementos opostos, a
incômoda categoria de transição a que se refere a Antropologia. Esta tríade formada pela
oposição de Polifemo a Alcínoo, e pela duplicidade do ciclope em Antífates, é o elemento
narrativo que nos permite acessar o imaginário grego da época que frutificava na ruptura
com o anterior e no estabelecimento de uma nova identidade, tentando categorizá-la pela
oposição ao “outro”, literalmente para “colocar as coisas em seus devidos lugares”, ou seja,
ressaltar esta nova estrutura de vida hélade como modelo exemplar opondo-lhe ao seu
avesso. Antífates, por sua vez, é aquele sem categoria, em uma bizarra transição indefinida.
Pela leitura destes trechos épicos temos revelado o pensamento do homem grego
refletido em sua arte, um pensamento que passava por intensas transformações, criador de
novas estruturas, novos contextos históricos, de uma nova realidade.
Polifemo e Antífates não são os únicos duplos presentes na obra. Podemos
vislumbrar em Circe e Calypso um interessante jogo de oposições: a primeira vive em um
37
palácio, a segunda em uma caverna; Circe vive na companhia de homens transformados em
animais e Calypso solitária como Polifemo. Contudo, o reduzido espaço deste artigo faz
dele não um estudo que exaure o tema, mas somente uma breve análise que procura
incentivar um aprofundamento posterior do tema, deixando, talvez, mais perguntas que
respostas. Mas não seria esta a função da História?
Documentação textual
HOMER. Iliad II. London and Massachusset. Loeb Classical Library, 1999.
HOMER. Odyssey I. London and Massachusset. Loeb Classical Library, 1999.
HOMER. Odyssey II. London and Massachusset. Loeb Classical Library, 1999.
Bibliografia
AUBRETON, R. Introdução a Homero. São Paulo. USP, 1968.
AUGÉ, Marc. O Sentidos dos Outros. Petrópolis. Vozes, 1999.
______. Por uma antropologia dos mundos contemporâneos. Rio de Janeiro. Bertrand,
1997.
BACCEGA, Maria A. Palavra e discurso – história e literatura. São Paulo. Ática, 1995.
CRIELARD, J.P. Homeric Questions. Amsterdam. Gieben, 1995.
DETIENNE, Marcel. Comparar o Incomparável. São Paulo. Idéias e Letras, 2004.
__________.Os Gregos e Nós. Uma Antropologia Comparada da Grécia Antiga. São
Paulo. Loyola, 2008.
__________.Os Mestres da verdade na Grécia Arcaica. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 1988.
FINLEY, M I. Grécia Primitiva: Idade do Bronze e Idade Arcaica. São Paulo. Martins
Fontes, 1990.
38
_______ O Mundo de Ulisses. Lisboa. Presença, 1982.
_______(org.). O legado da Grécia. Brasília. UNB, 1998.
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro. Zahar Editores, 1978.
GERNET, L. Antropologie de la Grèce Antique. Paris. Maspero, 1968.
LÉVÊQUE, Pierre. A Aventura Grega. Lisboa. Cosmos, 1967.
LEVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro,
1967.
MOSSÉ, Claude. A Grécia Arcaica de Homero a Ésquilo. Lisboa. Edições 70, 1989.
RODRIGUES, José Carlos. Higiene e Ilusão. Rio de Janeiro. Nau, 1995.
___________. O Corpo na História. Rio de Janeiro. Fiocruz, 2000.
ROMILLY, Jacqueline de. Homero: Introdução aos poemas homéricos. Lisboa. Edições
70, 2001.
SCHEID-TISSINER, Evelyne. L´homme grec aux origines de la cité (900 – 700 av. J.-C.).
Paris. Armand Colin, 1999.
TRABULSI, José Antônio Dabdad. Ensaio Sobre a Mobilização Política na Grécia Antiga.
Belo Horizonte. UFMG, 2001.
TRAUNECKER, Claude. Os Deuses do Egito. Brasília. UNB, 1992.
VERNANT, Jean-Pierre. Entre Mito e Política. São Paulo. Edusp, 2002.
__________ Mito e Pensamento entre os Gregos. São Paulo. USP, 1973.
__________ Mito e Religião na Grécia Antiga. São Paulo. Martins Fontes, 2006.
_________ (org). L´home Grec. Paris. Sueil, 1993.
VIDAL-NAQUET, Pierre. O Mundo de Homero. São Paulo. Companhia das Letras, 2002.
39