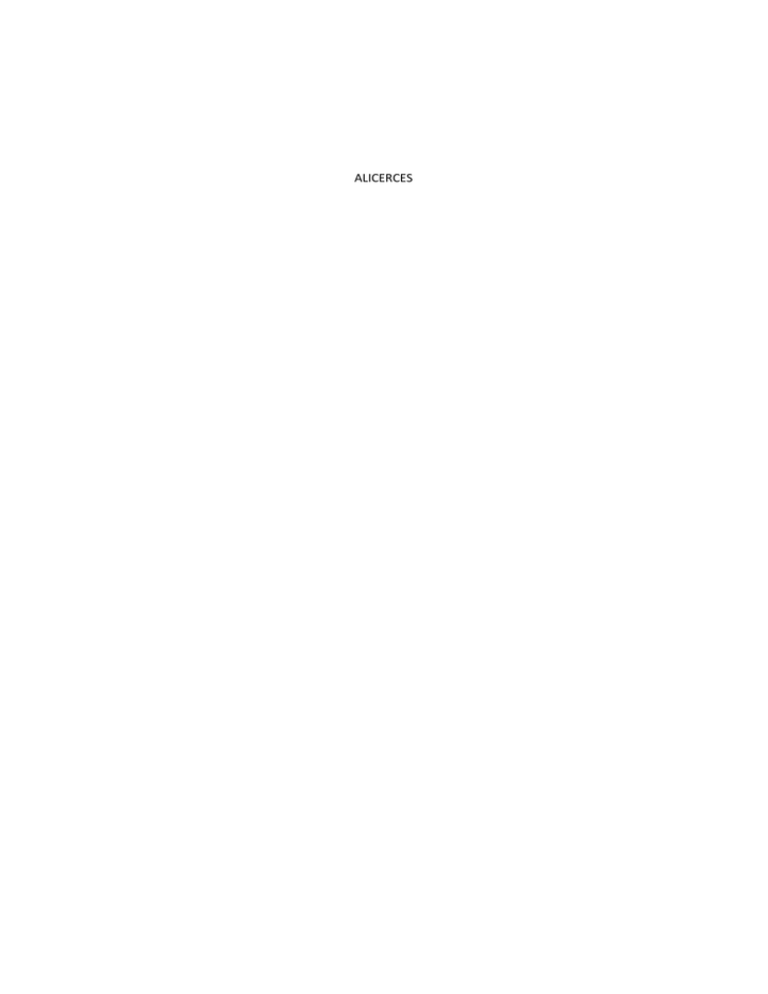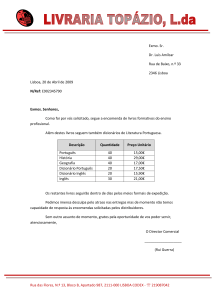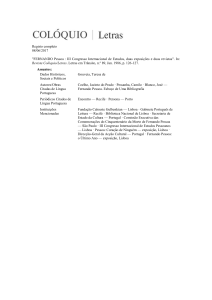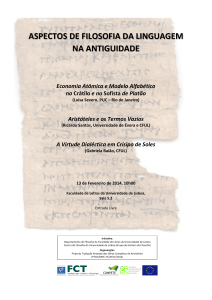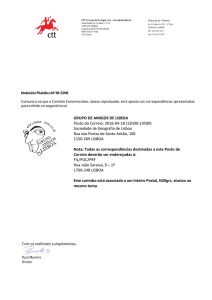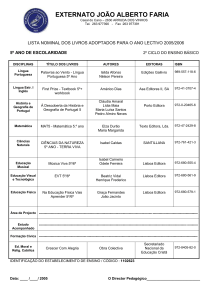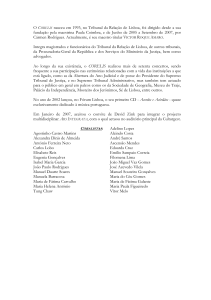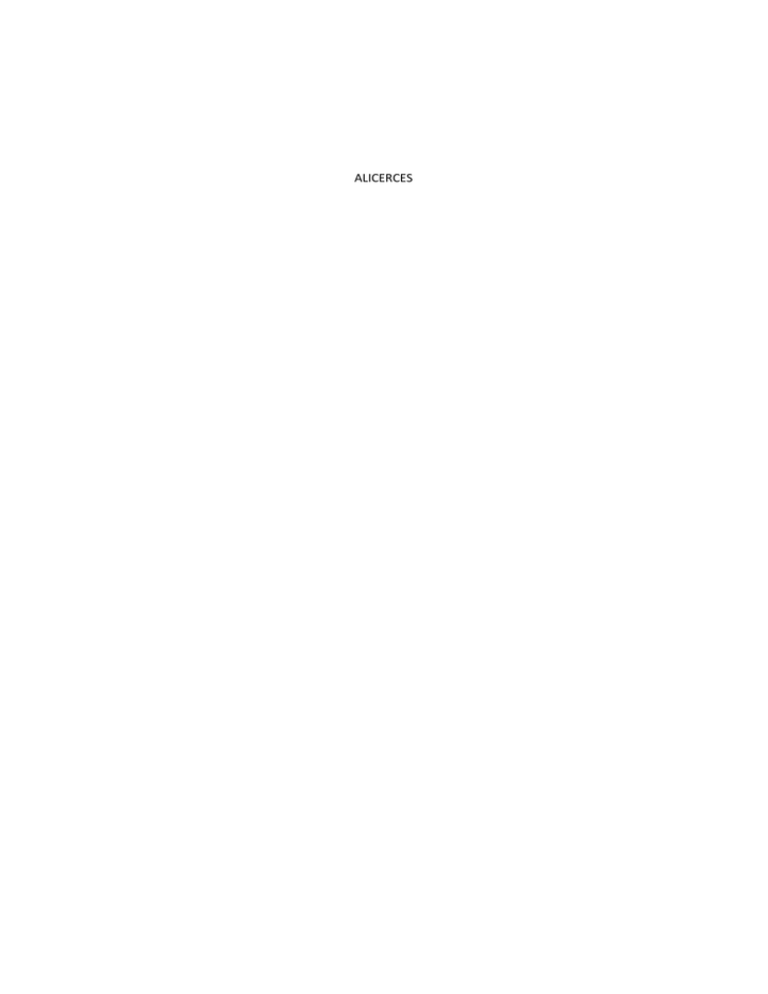
ALICERCES ALICERCES CONVERSANDO SOBRE DIREITOS HUMANOS E DA CRIANÇA Catarina Tomás e António Belo [Orgs.] Edições Colibri . Instituto Politécnico de Lisboa Fonte: Trabalho desenvolvido por um grupo de crianças de 6‐7 anos da Escola E.B. 1 Igreja – Carapeços, Barcelos (Tomás, 2011) ÍNDICE PREFÁCIO ............................................................................................................................. 9 INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 11 UM ROTEIRO PELA HISTÓRIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA Catarina Tomás ....................................................................................................... 15 DELINQUÊNCIA DE CRIANÇAS E JOVENS: UMA QUESTÃO DE OLHAR(ES)? Maria João Leote de Carvalho ................................................................................ 23 AS GERAÇÕES» DOS DIREITOS HUMANOS Victor Nogueira ...................................................................................................... 37 HISTÓRIAS COM DIREITOS DENTRO Maria Encarnação Silva .......................................................................................... 55 O PAPEL DO INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA (IAC) NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA EM PORTUGAL Maria João Malho ................................................................................................... 65 BREVE REFLEXÃO SOBRE A HISTÓRIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA EM PORTUGAL: O PAPEL DA CNCPCJR Maria do Céu Costa ................................................................................................ 75 MOVIMENTOS SOCIAIS, ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS E ONG Melanie‐Anne Morais ............................................................................................. 85 OS DIREITOS DAS VÍTIMAS DE CRIME Daniel Cotrim .......................................................................................................... 95 PREFÁCIO Este livro partiu de um desafio simples colocado pela direcção da Amnistia Internacional à Escola Superior de Educação de Lisboa – pensar como é que a temática dos direitos humanos poderia integrar os currículos do ensino superior. Quando há um bom desafio basta encontrar alguém que o agarre. A licenciatura em Educação Básica foi a entrada escolhida porque, apesar dos currículos super preenchidos pela formação científica, tem alguns créditos destinados a unidades curriculares eletivas, totalmente livres do ponto de vista dos conteúdos. Assim nasceu no ano letivo 2010‐11 a unidade curricular “Direitos Humanos e da Crian‐
ça”. Uma parceria entre duas escolas do Instituto Politécnico de Lisboa, a Escola Superior de Educação e a Escola Superior de Comunicação Social, e a Secção Por‐
tuguesa da Amnistia Internacional. Para assuntos novos, novas metodologias. Com a coordenação dos professo‐
res Catarina Tomás e António Belo, esta unidade curricular organizou‐se num con‐
junto de seminários abertos sobre temas dos direitos humanos e da criança. Para dinamizar esses seminários foram convidados vários especialistas de diversas áreas de intervenção e estudo deste assunto. Temas tão diversos como a história dos direitos humanos ou os movimentos sociais e as organizações que lhe estão ligados, a problemática da criança neste âmbito e as medidas protectoras, de acompanhamento e intervenção que a sociedade vai implementado, a perspectiva da quebra dos direitos e o lado das vítimas, chegando a aspectos da literatura, constituíram linhas mestras de um programa construído de uma forma diferente. São esses temas que constituem os capítulos deste livro. O desafio comple‐
tou‐se pedindo aos responsáveis pela sua dinamização que passassem a escrito o assunto apresentado e debatido. Foi assim que nasceu este livro: um desafio, uma boa ideia, uma boa equipa que desenvolve e põe em prática a ideia, uma aposta em ampliar e divulgar a experiência. Do ponto de vista da ESE de Lisboa, a unidade curricular consolidou‐se e vol‐
tou a ser oferecida este ano. Além disso mais duas novas unidades curriculares foram organizadas com a mesma metodologia de seminários abertos dinamizados por convidados exteriores, especialistas da temática tanto na perspectiva teórica como na prática, “Género e cidadania” e “Educação sexual”. Uma boa semente que dá frutos e gera novas ideias. A experiência da unidade curricular “Direitos humanos e da criança” marca na ESE de Lisboa um momento de viragem na con‐
cepção de unidades curriculares abertas sobre temáticas de interesse social. A criação de unidades curriculares que partem da realização de aulas abertas, com a intervenção de especialistas, é um caminho seguro para a renovação de conteúdos e de métodos de ensino. A abertura destas aulas é uma ligação de dois sentidos, traz a comunidade à escola e abre a escola à comunidade. 10 Prefácio Do ponto de vista da Amnistia Internacional Portugal, a resposta a violações de direitos humanos passa muito mais pela prevenção do que por acções e cam‐
panhas de reacção a situações intoleráveis. A prevenção, contudo, não é fácil de realizar. É uma tarefa longa e não imediata, que passa pela evolução da cidadania e da consciência social de toda a sociedade. O melhor lugar para a realizar é, obviamente, a escola – e passa, necessariamente, pela formação dos professores. Mas, para a Amnistia Internacional, o acesso às escolas nem sempre é fácil. Muitas vezes, somos convidados para colóquios, ou debates, mas essas sessões constituem, sobretudo, acções de sensibilização para os níveis escolares mais avançados, estando relativamente desligadas da prática educativa em sala de aula. É útil e desejável que sejam feitas, por constituírem uma abertura da escola ao mundo, mas não são, tecnicamente falando, educação para os direitos humanos – formação transversal que pode ser desenvolvida para todos os níveis escolares e etários, para a qual os professores devem ser sensibilizados e preparados. Ser professor hoje não é apenas ser competente na dimensão científica, téc‐
nica, relacional, ou pedagógica. Exige‐se conhecer a realidade e ajudar os alunos a terem chaves de conhecimento, aberto à inclusão social, à descoberta, à acção sobre a realidade, à confiança na transformação e na solidariedade, num quadro de valores integradores, sem tabus ou preconceitos, dando aos jovens a capacida‐
de de fazer escolhas informadas. A educação para os direitos humanos não é um bicho de sete cabeças, não obrigando os docentes a dominar questões jurídicas, ou complexos temas económico‐sociais, nem é nenhum catecismo laico que dou‐
trine, ou induza os alunos a serem “bonzinhos”, mas, apenas, cidadãos do mundo, conscientes e responsáveis. A oportunidade de integração da temática dos direitos humanos numa uni‐
dade curricular de ensino superior, no caso, na licenciatura em educação básica, é um passo importante na colaboração entre as instituições de ensino superior (tan‐
tas vezes encerradas na teoria científica) e as organizações da sociedade civil (tan‐
tas vezes limitadas ao seu voluntarismo bem intencionado). Este livro contribui para o estabelecimento dessa ponte. INTRODUÇÃO Catarina Tomás e António Belo As sociedades contemporâneas enfrentam profundos processos de mudança, especialmente de reorganização do sistema económico, político e social. Este con‐
texto coloca‐nos novos desafios teóricos, metodológicos, educativos e éticos e exi‐
ge uma reflexão que possibilite compreender a relação entre essas mudanças e as suas implicações nos direitos humanos e da criança. Este livro resulta de uma parceria estabelecida entre a Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) e a Amnistia Internacional (AI). No ano letivo 2010/2011 foi criada, na licenciatura em Educação Básica (pós‐laboral), uma uni‐
dade curricular de opção denominada Direitos Humanos e da Criança, que inte‐
grou um Ciclo de Seminários Conversando sobre Direitos Humanos e da Criança, aberto à comunidade educativa. Os textos editados neste volume resultam desse Ciclo, que reuniu diferentes atores, saberes e instituições em torno do debate de questões ou temáticas sobre os Direitos Humanos e da Criança. Este Ciclo teve como principal objectivo contribuir, a partir de uma abordagem interdisciplinar e interinstitucional, para a promoção de espaços de informação, divulgação e refle‐
xão na área dos direitos humanos e da criança. Neste espaço foram abordados temas que são de grande actualidade e rele‐
vância social, educativa e académica. Nas diversas sessões, estiveram presentes prestigiados investigadores, professores, técnicos, activistas dos direitos humanos e da criança. Estabelecer uma relação articulada entre direitos humanos e direitos da criança constitui‐se um desafio, não só académico mas também social sobretudo nos tempos turbulentos em que vivemos. Os desassossegos e desafios face a viola‐
ções e não cumprimentos dos direitos interpela‐nos a percorrer uma multiplicida‐
de de caminhos e olhares que, no seu cruzamento, nos permitem refletir e agir em prol da sua defesa. A atualidade dos discursos sobre os direitos humanos e da criança apresenta‐
dos no Ciclo corporizam‐se neste livro. Através dos textos percorremos vários caminhos e olhamos a questão dos direitos a partir de várias e de diferentes olha‐
res disciplinares – históricos, sociológicos, literários, psicológicos, educacionais e económicos – e diversas perspectivas de análise e de intervenção. No primeiro texto desta coletânea, intitulado “Um Roteiro pela História dos Direitos da Criança”, Catarina Tomás caracteriza o processo e enquadramento sociopolítico e jurídico dos direitos da criança. A autora mapeia o caminho percor‐
rido pelos direitos da criança, com incidência nos séculos XIX e XX e na Europa e América do Norte. 12 Introdução Maria João Leote de Carvalho, reflecte sobre a delinquência de crianças e jovens, problema que tem ganho destaque. Começando pela contextualização do conceito de delinquência, são ainda descritos os principais contornos do sistema jurídico português nesta área. No final, são apresentadas várias questões resultan‐
tes da análise dos trabalhos e vários autores sobre esta matéria. O terceiro texto, de Victor Nogueira, faz um enquadramento histórico da evo‐
lução dos direitos humanos em torno do conceito de “gerações de direitos”, per‐
correndo‐se esta evolução desde os direitos individuais, civis e políticos, direitos de primeira geração, até aos mais recentes, ligados à protecção contra riscos de apli‐
cação de inovações tecnológicas também designados, por alguns, como de quarta geração. Encarnação Silva aborda a possibilidade de utilização de obras de literatura de potencial receção infantil como instrumentos que ajudem as crianças a reflectir em torno de direitos e deveres, proporcionando‐lhes oportunidades de interioriza‐
rem valores que as ajudem a crescer respeitando o mundo e as pessoas à sua vol‐
ta, bem como exigir, relativamente a elas próprias, esse mesmo respeito. Esta abordagem é concretizada a partir de quatro sugestões de histórias, bem como algumas atividades, destinadas, preferencialmente, a crianças nos primeiros anos de escolaridade para a sua exploração. Maria João Malho, escreve sobre o papel do IAC na defesa dos direitos da criança em Portugal No seu texto, começa por uma abordagem ao início deste ins‐
tituto e as razões que levaram à sua criação, bem como do pioneirismo da existên‐
cia de uma instituição privada preocupada com a divulgação, promoção e defesa dos direitos das crianças. Numa segunda parte, são abordadas várias atividades que o IAC realizou ao longo dos seus quase 30 anos. Maria do Céu Costa apresenta uma breve história dos Direitos da Criança em Portugal, começando por uma breve reflexão sobre a criança ao longo da história até à promulgação da declaração dos direitos da criança, fazendo depois a trans‐
posição para Portugal desta evolução. É apresentada depois a Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco, o seu historial, os seus objetivos e o seu papel na promoção e garantia dos direitos da criança. O texto de Melanie Morais, aborda a questão dos movimentos sociais, orga‐
nizações internacionais e organizações não governamentais e do papel que estas têm na sociedade civil, centrando‐se mais detalhadamente na área dos direitos humanos, em particular a amnistia Internacional. Daniel Cotrim, fala dos direitos das vítimas de crime, começando por abordar o próprio conceito de vítima de crime, são ainda referidos outros aspectos relacio‐
nados como as reações mais comuns durante a ocorrência do crime e logo após este. Por fim são apresentados os principais direitos, enquadrando‐os em termos da sua evolução histórica. UM ROTEIRO PELA HISTÓRIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA Catarina Tomás Escola Superior de Educação de Lisboa e Centro de Investigação em Ciências Sociais, Universidade do Minho 1. Introdução Num largo período, compreendido entre o final do século XIX e à atualidade, assistimos ao crescimento e desenvolvimento de vários movimentos que enceta‐
ram ações, lutas, reivindicações e estratégias contra os mecanismos sociais, políti‐
cos, culturais, jurídicos e económicos relacionados com a desigualdade geracional. Os discursos e as práticas tenderam, de uma forma gradual, ainda que não linearmente em todos os países, a conferir uma especificidade à infância enquanto categoria social. Produziu‐se legislação e exercícios de crítica a um paradigma que considera as crianças seres passivos, associais, destinatários da ação dos adultos, sem voz nem vez. Se nos limitarmos aos países centrais pode dizer‐se que há a consagração formal de um conjunto de direitos das crianças, ainda com diferentes cambiantes, conseguida mediante mudanças introduzidas na legislação e pela ação de movi‐
mentos sociais e organizações internacionais (ver anexo 1). A expansão do discurso da promoção dos direitos das crianças foi penetrando nos discursos e em algumas práticas institucionais e políticas. Não obstante, estamos muito longe de uma situação ideal e plena no respeito e garantia desses direitos. Nesta discussão é importante caracterizar o processo e enquadramento sociopolítico e jurídico dos direitos da criança. Por conseguinte, neste texto pre‐
tende‐se mapear o caminho percorrido pelos direitos da criança, com incidência nos séculos XIX e XX na Europa e América do Norte, que é em si mesmo, uma cons‐
trução social, cuja análise implica sempre uma contextualização social, política, cultural, económica e ideológica. A análise sociológica da história dos direitos da criança permite‐nos identifi‐
car duas grandes correntes: uma que coloca a tónica na proteção e na garantia das condições de vida dignas para as crianças; outra que aponta para a igualdade de direitos e a participação ativa das crianças na sociedade. Não sendo contraditórias, as duas correntes têm desenvolvimentos distintos (Liebel, 2009). Na Europa e América do Norte a marca o processo de constituição direitos da criança foi o conceito de liberdade e não o de proteção. Se entendermos os direi‐
tos da criança como os direitos das crianças significa que elas próprias os podem ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2012, pp. 15-22.
16 Maria João Leote de Carvalho exercer, o que significa que, deste ponto de vista, a sua história é bastante recen‐
te, como veremos de seguida. 2. “À Procura da Terra do Nunca”? O caminho percorrido na luta pelos direitos da criança A infância enquanto categoria social é uma construção social e, como afirma Queloz, passámos: da descoberta da infância e do seu afastamento do mundo dos adultos, na sociedade como no direito penal (séculos XVI‐XVIII), à descoberta da protecção à infância (fim do século XIX‐XX), à descoberta dos direitos do homem (fim do século XVIII, e, sobretudo, segunda metade do século XX, depois à descoberta dos direitos das crianças e dos jovens (como aplicação dos direitos do homem aos menores, nos últimos 20 anos do século XX) (1990, p. 55). Podemos afirmar que houve uma evolução dos sentimentos e das atitudes para com a infância e com a criança – que vão desde uma etapa inicial marcada pela indi‐
ferença até ao momento em que ela vai ocupar um lugar central na família. No século XIX, através do contributo das diversas ciências, tais como a Peda‐
gogia, a Psicologia e a Medicina infantil, foi possível marcar claramente a separa‐
ção das crianças relativamente aos adultos. O enfoque era o de considerar a infân‐
cia como uma categoria social especialmente vulnerável com necessidades de proteção, o que gerou uma nova consciência coletiva acerca da realidade e valor da infância. Algumas ideias centrais e que marcaram o conhecimento produzido acerca da infância nos últimos séculos podem ser aqui apresentadas de forma sucinta: a ideia de infância como negatividade e a ideia de infância como proprie‐
dade privada Os paradigmas que defendem estes pressupostos defendem essencialmente uma ideia de criança como ser passivo que, apesar de ter reconhecido direitos, está totalmente dependente da tutela adulta, sendo‐lhe cerceados espaços de participação e cidadania. O conceito de direitos das crianças é um conceito que resgata especificidades próprias deste grupo social, o que só é possível devido ao gradual reconhecimento das crianças como pessoas. É no século XX que este reconhecimento encontra o con‐
texto necessário para tornar visível o tempo e o espaço de ser criança, possibilitar a desocultação de um grupo social, que à semelhança de outros grupos sociais minori‐
tários, se manteve na invisibilidade subjugado pelo poder exercido por outros gru‐
pos mais poderosos, neste caso, o grupo social dos adultos (Fernandes, 2009). 2.1. Enquadramento político e legislativo dos direitos da criança
A legislação para proteger as crianças tem o seu marco importante no século XIX, quando a criança foi objeto do primeiro diploma legal que estabelecia o limite mínimo de idade para o trabalho nas minas de carvão. Em 1842, o Mines Act abo‐
lia o trabalho das mulheres no subsolo e estabelecia a proibição de que nenhum rapaz pudesse trabalhar com menos de 10 anos. Mais tarde, em 1844, o Factory Um roteiro pela história dos direitos da criança
17
Act reduzia o tempo de trabalho para as crianças em idade escolar, na Inglaterra que, como a Bélgica e a França, se mostraram pioneiras nesta matéria. O final século XIX caracterizou‐se como um tempo de grande privação para muitas crianças. Na Inglaterra, o Reverendo George Staite afirmava, numa carta para o Liverpool Mercury em 1881: “temos uma Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, não podemos fazer algo para evitar a crueldade sobre as crianças?” [tradução própria]. Quatro anos mais tarde, a 8 de Julho de 1884, foi estabelecida a Sociedade Londrina para a Prevenção da Crueldade sobre as Crianças. Um século depois, o escocês Thomas Spence (1750‐1814) escreveu The Rights of Infants. Na sua obra mais conhecida, Spence’s Plan, defendia a ideia das crianças s libertarem dos abusos e da pobreza. Nos EUA, o movimento de defesa dos direitos da criança nasceu no século XIX, com enfoque especial sobre as crianças órfãs. Nas grandes cidades, a orfanda‐
de, o trabalho infantil e a miséria conviviam lado a lado. Em 1853, Charles Brace1 fundou a Children’s Aid Society com o objetivo de retirar das ruas as crianças. O National Child Labor Committee foi criado em 1890. O presidente Franklin Roose‐
velt assinou o Fair Labor Standards Act, em 1938, que, entre outras dimensões, colocava limites a muitas formas de trabalho infantil. No início do século XX acentua‐se a ideia da relação estreita entre o investi‐
mento social na infância com a qualidade da sociedade futura. Fenómenos como a urbanização e a industrialização levaram muitos reformadores a concentrarem a sua atenção no bem‐estar da criança e a um reconhecimento dos direitos das crianças. Por exemplo, em 1905, a assistente social norte americana Florence Kel‐
ley publicou Alguns Ganhos Éticos através de Legislação, em que defende a criação de um gabinete federal focada em questões da infância e do “direito à infância.” Nove anos mais tarde, o Congresso criou o Bureau the Children EUA. Trata‐se da primeira agência federal no mundo mandatada para se concentrar exclusivamente nos interesses dos cidadãos mais jovens de uma nação. Da mesma forma, em 1909, a sueca Ellen Key2 declarou que uma nova tinha chegado: O Século da Criança (1900). Na obra Amor e Casamento (1911) reclama alguns direitos das crianças que resultam das suas condições de vida, nomeada‐
mente direitos iguais para os filhos legítimos e ilegítimos. Eglantine Jebb3 dedicou a sua vida ao bem‐estar das crianças e à tentativa de alteração da forma como se considerava as crianças e a infância. Para Fernandes, “ao defender que os custos das guerras dos adultos, das suas repressões políticas e contingências económicas e sociais são pagas pelas crianças, e ao ser presa e acusada de obscenidade por ter distribuído fotografias de crianças famintas, víti‐
mas da guerra, Jebb gerou uma onda de solidariedade e apoio à sua causa” (2009, p. 37). Juntamente com Dorothy Buxton, em 1919, constitui a organização Save the Children Fund4. Inicia, desta forma, o movimento internacional de defesa dos 1 Filantropo norte‐americano (1826‐1890). É considerado o pai do movimento moderno do aco‐
lhimento de crianças. 2 Escritora feminista da Suécia (1849‐1926). 3 Reformista social britânica (1876‐1928). 4 The International Save the Children Union foi fundada em Genebra em 1920, nomeadamente 18 Maria João Leote de Carvalho direitos da criança e foi responsável da redação, em 1923, da Ata sobre os Direitos da Criança, ou Declaração de Genebra como ficou conhecida, e que se constituiu como a primeira formulação de um direito internacional das crianças. A promoção da ideia dos direitos da criança, distintos dos adultos e reque‐
rendo reconhecimento explícito, foi também defendida por Janusz Korczak5, que escreveu sobre os direitos da criança no seu livro Como Amar uma Criança6 (1919) e em O direito da criança ao respeito (1929). Este autor foi um pouco mais longe do que os seus colegas pedagogos, quando defende um papel mais ativo e inde‐
pendente para as crianças órfãs que tinha a seu cargo no orfanato judeu que diri‐
gia. Lutou, ainda, pela igualdade de direitos das crianças na vida social. Em 1913, estabelece‐se o primeiro esboço de um projeto para a organização de uma associação internacional de proteção à infância, com a participação de cerca de 37 estados, o qual foi interrompido devido à eclosão da I Guerra Mundial. Em 1917, a seguir à revolução russa, a organização russa Proletkult7, produziu a Declaração dos Direitos da Criança. Contudo, a primeira tentativa para promover os direitos da criança foi a Declaração de Genebra. Em 1919 foi criado o Comité de Proteção à Infância, pela Sociedade das Nações, o qual se apresentou como um dos mecanismos pioneiros no questiona‐
mento do poder dos Estados sobre as crianças. Em 1921 foi constituída a Associa‐
ção Internacional para a Proteção à Infância e em 1924 a Sociedade das Nações adota a Declaração de Genebra, organizada por Eglantyne Jebb um ano antes. Curiosamente, uma década depois, aprova‐a novamente. O Conselho Económico e Social das Nações Unidas recomenda a adoção da Declaração de Genebra em 1946 e, logo após a II Guerra Mundial, um movimento internacional se manifesta a favor da criação do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infân‐
cia (UNICEF). Uma década depois a ONU proclama a Declaração dos Direitos do Homem, a 10 de Dezembro de 1948. Contudo, os temas específicos da infância não figuravam nela; só em 1959 a Assembleia‐Geral das Nações Unidas promulga, por unanimidade, a Declaração dos Direitos da Criança. O ano de 1979 foi também importante porque se celebrou o Ano Internacio‐
nal da Criança. Um grupo de trabalho das Nações Unidas, por proposta do governo polaco, começou a preparar uma Convenção dos Direitos da Infância. Mas, só em meados do século passado, com a adoção pelas Nações Unidas, em 1989, da Con‐
venção Internacional relativa aos Direitos da Criança (CDC), a criança passa a ser considerada como cidadão dotado de capacidade para ser titular de direitos. A CDC foi rapidamente adotada e seguida pelo Programa de Ação para a aplicação da Declaração Universal sobre Sobrevivência, Proteção e Desenvolvimento da Criança, na Cimeira Mundial da Infância, em 1990. pelo British Save the Children Fund e a Swedish Rädda Barnen. 5 Pediatra e educador polaco (1878 ou 1879 – 1942). 6 O autor proclama na obra uma “Magna Carta Libertatis para as crianças” onde apresenta três direitos fundamentais para as mesmas: o direito da criança à sua morte; o direito da criança ao dia de hoje; o direito da criança a ser como é (Liebel, 2009). 7 Movimento ativo na União Soviética de 1917‐1925 que propunha fornecer as bases para o que estava destinado a ser uma arte verdadeiramente proletária desprovida de influência burguesa. Um roteiro pela história dos direitos da criança
19
A Child Rights Information Network (CRIN) é criada em 1983 por 1600 organi‐
zações não‐governamentais de todo o mundo que advogam a implementação da CDC. Em 1996 foi aprovada a Convenção Europeia para o Exercício dos Direitos da Criança. Três anos depois, a Organização Internacional de Trabalho aprova a Convenção 182 e a Recomendação 190 sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil. Com o objetivo de melhor realizar os objetivos da CDC, a Assembleia Geral da ONU adotou, a 25 de Maio de 2000, dois Protocolos Facultativos: o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à venda de crianças, prostituição e pornografia infantis e o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados. Em Maio de 2002, foram adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração e Plano de Acão designado de “A world fit for children”, que surgem como um reforço e atualização dos direitos da CDC. Uma reunião para realizar um seguimento cinco anos depois da Sessão Espe‐
cial da Assembleia Geral das Nações Unidas a favor da Infância, finaliza com uma Declaração sobre a Infância, que é aprovada por mais de 140 governos. A Declara‐
ção reconhece os progressos alcançados e os desafios que permanecem e reafirma o seu compromisso com o pacto a favor de Um mundo apropriado para as crian‐
ças, a Convenção e os seus Protocolos Facultativos. Recentemente, a 16 de novembro de 2011, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas adotou o novo Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas que estabelece um mecanismo de comunicação para as violações dos direi‐
tos das crianças. O Terceiro Protocolo Facultativo à CDC será enviado à Assembleia Geral das Nações Unidas para adoção durante a sua 66ª Sessão. Caso seja adotado pela Assembleia Geral o instrumento estará aberto para ratificação em Janeiro de 2012. Este Protocolo irá permitir que o Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas tenha competência para examinar as comunicações de crianças e de seus representantes que aleguem violações dos seus direitos. De seguida, apresenta‐se um friso cronológico que, de forma sucinta, ordena os principais diplomas legais e acontecimentos relativos aos direitos da criança (fig. 1). 20 Maria João Leote de Carvalho Um roteiro pela história dos direitos da criança
21
Considerações Finais A história dos direitos da criança pode ser entendida como o resultado de um longo e conturbado caminho. Na maioria das vezes, os avanços legislativos ocorre‐
ram a partir de situações de rutura social ou de reformas políticas, como por exemplo, as guerras mundiais. Neste texto pretendeu‐se caracterizar esse caminho. Na nossa opinião, o conhecimento deste património histórico pode ser considerada como uma das formas de valorizar o olhar sobre a infância, como resultado da ação de individuas e agentes coletivos que compartilharam a ideia de que as crianças têm direitos a ter direitos Desde 1989, com a CDC, que assistimos a um processo de harmonização legis‐
lativa, porque é o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo8 que incorpora a gama completa de direitos humanos: direitos civis e políticos assim como direitos económicos, sociais e culturais. Ao ratificar a CDC, os governos nacionais comprometeram‐se a proteger e assegurar os direitos da criança e acei‐
taram a responsabilidade, frente à comunidade mundial, pelo cumprimento desta convenção. Não obstante, podemos afirmar que foi (é) longa a trajetória da consti‐
tuição dos direitos da criança, pautada por avanços e retrocessos e por discursos, que ainda estão longe da sua concretização efetiva nos quotidianos das crianças. O trabalho em prol dos direitos da criança é decisivo porque reforça a luta pela redefinição e ampliação da democracia. No final, a procura por um mundo melhor, para as crianças e para todos nós! Referências Bibliográficas Ariès, P. (1973). L’Enfance et la vie familiale sous l’ancien régime. Paris: Seuill (Ed. Orig.1960). Fernandes, N. (2009). Infância, direitos e participação: representações, práticas e poderes. Porto: Edições Afrontamento. Ferreira, M. (1995). Salvar os Corpos, Forjar a Razão. Contributo para a análise crítica da criança e da infância como construção social. Porto: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Liebel, M. (2009). Significados de la historia de los derechos de la infancia. Em Liebel, M. & Muñoz, M. (coords.) Infancia Y Derechos Humanos., Hacia una ciudadanía participativa e protagónica (pp. 23‐40). Perú: IFEJANT. Queloz, N. (1990). Protecção, intervenções e direitos das crianças e dos jovens. Revista Infância e Juventude, 90(2), pp. 39‐59. Renaut, A. (2002). La Libération des Enfants: contribution philosophique à une histoire de l’enfance. Paris: Calmann‐Lévy. Tomás, C. (2011). «Há muitos mundos no mundo» Cosmopolitismo Infantil, Participação e Direitos das Crianças. Porto: Edições Afrontamento. 8 Este aspeto é uma novidade importante já que a Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança e a Declaração dos Direitos da Criança adotada pelas Nações Unidas em 1959, antecessoras da CDC, estavam desprovidas de carácter vinculativo. 22 Maria João Leote de Carvalho ANEXO 1 Conhecer e promover os Direitos da Criança: alguns recursos Organizações Oficiais Internacionais, Redes, Programas, Projetos Internacionais: Child Rights Information Network (CRIN) ENOC (The European Network of Ombudsmen for Children) EUROCHILD European Children’s Network (EURONET ) European Network of Masters in Children’s Rights European Network of National Observatories on Childhood European Network of National Observatories on Childhood (CHILDON) Global Movement for Children International Research network (Childwatch) Save the Children The Bernard van Leer Foundation UNICEF Nacionais: CEDIC, Universidade do Minho Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco Espaço a Brincar – “Uma Viagem pelos Direitos da Criança”, Câmara Municipal de Lisboa Gabinete de Documentação e Direito Comparado (GDDC) Instituto de Apoio à Criança (IAC) UNICEF Portugal Recursos e Materiais Educativos, Pedagógicos e Lúdicos
Jogos: “Derechito y Caminando” Cruz Roja Juventud (Espanha) O Mundo de Dina – Convenção dos Direitos da Criança (http://www.elmundodedina.org/) (Espanha) Jogo Direitos à Solta. Edição: Associação para a Promoção Cultural da Criança (APCC). Filmes: All the invisible children, Mehdi Charef (2005) DELINQUÊNCIA DE CRIANÇAS E JOVENS: UMA QUESTÃO DE OLHAR(ES)? Maria João Leote de Carvalho CESNOVA – Centro de Estudos de Sociologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa Introdução9 No Jardim‐de‐Infância, o rapaz, de quatro anos e meio, contou à sua educadora que tinha encontrado em casa uma pistola: «Eu apanhei a pistola do meu tio, o que é ladrão… Eu tentei disparar mas ela não fez pum‐pum!… Não fez!…» Cerca de um ano depois, com pouco mais de cinco anos, numa situação de violência para com os colegas na sala do pré‐escolar, ameaçou trazer a pistola do tio para matar os colegas e a auxiliar e virando‐se para a Educadora disse: «Só não mato tu!...» (Carvalho, 2011a) A delinquência de crianças e jovens é um problema social que tem vindo a ganhar visibilidade nas sociedades ocidentais tanto ao nível do debate público como no campo da decisão política. Os contornos da discussão espelham a com‐
plexidade e a multidimensionalidade do fenómeno cujo estudo constitui elemento importante na análise das mudanças e dinâmicas sociais num determinado contex‐
to e época. Nas últimas décadas tem‐se assistido à modificação dos processos de transição para a vida adulta, traduzida no alongamento da condição de jovem, o que obriga a repensar a extensão do conceito de delinquência. Não se trata ape‐
nas de ver como o prolongamento dessa condição se reflecte e vem a caracterizar parte de uma criminalidade de adultos jovens que, em Portugal, tende a manter traços que habitualmente caracterizam a actuação dos mais novos, designada‐
mente pela maior imprevisibilidade e riscos crescentes na actuação, mas igual‐
mente como a entrada precoce de muitas crianças na designada juventude, pelo antecipar de comportamentos que tradicionalmente são vistos como mais pró‐
prios de jovens do que da infância, se pode manifestar numa eventual precocidade neste tipo de práticas. Um olhar mais atento sobre os territórios onde a(s) delinquência(s) se pro‐
duz(em) traz para discussão contornos sociais e jurídicos que requerem maior 9 Este texto tem origem num projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BD/43563/2008) no âmbito de dissertação de Doutoramento em Sociologia, sob a orientação do Prof. Doutor Nelson Lourenço, apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, em Julho de 2011. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2012, pp. 23-35. 24 Maria João Leote de Carvalho reflexão e conhecimento. A segregação espacial, social e étnica vivenciada em alguns espaços, especialmente nas grandes cidades e metrópoles, a degradação das zonas urbanas, a alteração da natureza dos laços sociais, as transformações nos modelos de organização familiar, os fenómenos de agrupamento de crianças e jovens sob diversas formas (tribos, bandos, gangs, etc.) e as variações no sistema de ensino e no mercado de trabalho são apenas alguns dos aspectos a que se deve atender quando se analisa esta problemática. As questões de fundo que se levantam nesta área remetem para a segurança das sociedades, dos cidadãos, no fundo, do próprio Estado de Direito (Lourenço, 2009). Vários autores sugerem que, desde a morte de James Bulger, em Inglaterra, em 1993, num acto perpetrado por dois rapazes, ambos de 10 anos, as atitudes públicas e judiciais relativamente a crianças e jovens envolvidos em delinquência têm vindo a endurecer. Outros questionam esta ideia e chamam a atenção para a ausência ou o aparente enfraquecimento da reacção social, sobretudo informal, que se traduz na falta de capacidade de iniciativa dos indivíduos para actuar junto destes casos, inclusivamente quando através de normativos, sociais e jurídicos, se dispõe de meios para o fazer mas, por razões de ordem diversa, não se quer ou não se consegue accioná‐los. Um dos maiores desafios que se coloca no presente é o de saber se se está perante sociedades que se alheiam e demitem do exercício de uma cidadania activa, abdicando da aplicação da normatividade perante as gerações mais novas, logo a nível do controlo social informal, acabando isso por se reflectir na transmissão de um sentimento de impotência, de impunidade, de medo ou de total desvalor pelos actos delinquentes, o que pode potenciar o refor‐
ço da não conformidade às normas sociais e jurídicas. Ao mesmo tempo que se detecta uma aparente maior preocupação sobre os direitos das crianças e dos jovens e um crescente reconhecimento de necessidades e interesses específicos, os seus discursos ainda são relativizados pela maioria dos adultos, nomeadamente em questões mais complexas, como as relativas à delin‐
quência. Do mesmo modo, as possibilidades de participação na vida social que lhes são conferidas na qualidade de cidadãos de pleno direito numa sociedade estão distantes dos ideais consagrados juridicamente. E nesta dualidade entre o indivi‐
dual e o social emerge uma ambiguidade estrutural das sociedades que leva a que se torne necessário entender as razões que levam as trajectórias de muitas crian‐
ças e jovens a serem atravessadas por problemas sociais de ordem diversa quan‐
do, paradoxalmente, nunca como agora se dispôs de tanta informação e de tantos meios para efectivar a melhoria das condições da população (Wyness, Harrison e Buchanan, 2004). À luz deste enquadramento, neste texto apresenta‐se uma breve reflexão sobre a delinquência começando pela problematização do conceito, ao que se segue a descrição dos principais contornos do sistema jurídico português nesta área. Termina‐se (re)pensado um conjunto de questões que emergem da análise das perspectivas de vários autores sobre esta matéria. Definindo delinquência Quando se fala sobre delinquência, torna‐se fundamental ter consciência da forma como se emprega este conceito, uma vez que existem perspectivas de natu‐
As gerações» dos direitos humanos 25 reza diversa que resultam essencialmente de nele se evidenciar uma tensão entre os campos sociológico e jurídico. Não há uma definição que seja absoluta. Na sua raiz etimológica o termo “delinquere” refere‐se a acto ilegal, infracção (delito) ou viola‐
ção punida por lei (Martins, 1995), o que desde logo remete qualquer abordagem que se pretenda fazer para a necessidade de se considerar os quadros normativo‐
‐jurídicos em vigor numa sociedade, patamar último da regulação e do controle social formal. O delito é visto como uma infracção individual, uma acção social de violação das normas que se encontram definidas em códigos e diplomas legais. Da análise complementar das razões de ordem sociológica e jurídica, a delin‐
quência é entendida, num sentido restrito, como uma categoria do desvio repor‐
tada aos actos desenvolvidos por crianças e jovens que, à luz das leis penais, confi‐
gurariam a prática de crime pela quebra ou violação do estabelecido nos normativos jurídicos mas que, pela idade, se encontram numa situação de inimpu‐
tabilidade criminal, beneficiando de legislação específica em detrimento da aplica‐
ção de um código penal (Binder, Gilbert e Bruce, 2001). No caso português, e até à data,10 engloba‐se neste conceito todos os actos correspondentes a infracções penais cometidas por crianças e jovens menores de 16 anos de idade que pela prá‐
tica de actos delinquentes ficam abrangidos por legislação específica no âmbito da protecção e intervenção judiciária relativamente à infância e juventude. Esta demarcação etária é uma das principais características na diferenciação desta problemática e o modo como se vê definida depende do entendimento que uma sociedade faz sobre estas duas categorias sociais – infância e juventude – não podendo a reacção social posta em execução delas ser dissociada. Em Portugal, sob o ponto de vista jurídico só a partir dessa idade se considera que uma pessoa reúne condições para responder no sistema penal pelos seus actos. Qualquer infracção cometida até este limite etário, mesmo que à luz da lei penal pudesse vir a ser quali‐
ficada como crime, apenas pode ser objecto de uma intervenção que conduza ao estabelecimento de medidas de protecção e educativas, nunca podendo a criança ou jovem ser submetido a julgamento criminal que leve à execução de uma pena de prisão. Tal decorre do facto de a sociedade que assim o define entender que não se coloca a necessidade de imposição de um código na execução de uma pena, que reveste um carácter retributivo perante a comunidade, mas antes uma medida tute‐
lar à luz do que o acto traduz de falta de capacidade de discernimento entre os modos de actuar legais e ilegais, fortalecendo‐se a ideia da possibilidade de (re)educação que promova a não reincidência pelo reforço da conformidade social. Esta linha de orientação, eminentemente normativo‐legal, suscita o levanta‐
mento de algumas questões. Deslocando o enfoque do campo estritamente jurídi‐
co para o sociológico, salienta‐se, na linha do sugerido por Martins (1995, p. 397), que “nem todos os indivíduos, mesmo cometendo delitos, são conotados de delinquentes, porque nem todos os delitos são apropriados para adquirir essa identidade social”. Coloca‐se aqui em jogo as condições ecológicas, económicas, sociais e ideológicas que levam à etiquetagem de quem é e de quem não é consi‐
derado como delinquente num determinado contexto. Neste propósito, Becker (1963) foi mais longe, chegando a afirmar que rotular os mais novos de delinquen‐
10 Agosto/2011 26 Maria João Leote de Carvalho tes constitui uma atitude de defesa por parte dos adultos para lançarem sobre outras categorias geracionais o peso dos seus próprios erros. Nesta ordem de ideias, este autor sugere que em vez de rotular os autores de delitos se deveria voltar o interesse para os motivos e valores que levam os adultos e a sociedade a essa rotulagem, residindo provavelmente aí o cerne da problemática. Mais do que se poder falar em crianças ou jovens delinquentes, o que está efectivamente em causa são os actos designados por delinquentes, cuja classificação varia em função dos quadros normativo‐jurídicos vigentes em cada época e em rela‐
ção aos quais determinados actores sociais, ao serem referenciados pela sua even‐
tual prática, se tornam passíveis de uma reacção social particular, informal ou for‐
mal, independentemente da prova jurídica. Esta posição ajuda a compreender melhor como é que aquilo que aparentemente sugere o mesmo tipo de comporta‐
mento de violação de uma norma social pode levar a reacções tão díspares quando ocorrido em contextos diferenciados: as reacções que origina diferem fundamen‐
talmente do contexto onde se situam e do momento temporal onde se desenrolam, numa necessidade de equacionamento entre os direitos individuais e a ordem social estabelecida. Estas variações sobre o entendimento da gravidade dos actos delin‐
quentes cometidos, independentemente do traço comum que os une por constituí‐
rem sempre uma infracção das normas sociais e jurídicas de uma sociedade, é exemplo claro dos contornos da interacção social e de como nem sempre a sua expressão adquire igual configuração para todos os envolvidos (Negreiros, 2001). O interesse sociológico sobre a delinquência reside especialmente no facto de esta resultar da interacção social, de ocorrências que são fruto da vida social e que não só traduzem maneiras de pensar, agir e sentir individuais e grupais, como também reflectem um poder (coercivo) aparentemente exterior aos indivíduos (Negreiros, 2001) que ganha corpo em determinadas formas de organização social. Este poder vê‐se consubstanciado na rejeição por parte de outros grupos sociais e na aplicação de sanções administrativas ou judiciárias junto de crianças e jovens que cometem actos delinquentes. A construção jurídica da delinquência em Portugal: à procura de uma idade Até ao início da década de 1980, a administração da justiça relativa aos casos de delinquência era assunto da competência única dos Estados, não existindo documentos no plano internacional que favorecessem uma concertação e uma apreciação conjunta relativamente à intervenção a desenvolver neste campo. As duas últimas décadas do século passado revelaram‐se decisivas para a inversão desta situação, registando a produção de diversos textos fundamentais de cariz supranacional. Nesta linha, diferentes instrumentos internacionais reflectindo preocupações comuns a várias nações no domínio particular da protecção e inter‐
venção judiciária nesta área vieram a ser adoptados em Portugal. Complementarmente a textos de valor universal,11 esses instrumentos procu‐
11 Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948); a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e Garantias das Liberdades Fundamentais (Conselho da Europa, 1950, 4 de Novem‐
bro) e a Carta Social Europeia, de 1961. As gerações» dos direitos humanos 27 ram uma certa harmonização e a modificação, no plano internacional, de medidas e directrizes que definem, de maneira mais ou menos explícita, as regras que visam assegurar a protecção das crianças e jovens na aplicação de princípios fun‐
damentais de liberdade, igualdade, legalidade e presunção da inocência, sem dis‐
criminação. Na base da sua elaboração está a tomada de consciência internacional sobre a nova representação da condição social da infância, da qual decorreu a necessidade de estabelecimento de regras e quadros jurídicos próprios que asse‐
gurem às crianças e jovens a efectivação dos seus direitos. No caso dos suspeitos de actos delinquentes, devem ser concretizadas as garantias de apenas passarem a estar sujeitos ao sistema penal quando se encontrar reunido um certo número de condições (idade mínima, natureza da limitação da privação de liberdade, provisó‐
ria ou definitiva, manutenção das garantias e direitos processuais). Este processo começou a ganhar uma maior expressão na primeira metade do século XX, tendo a Assembleia da Sociedade das Nações adoptado, em 1924, uma resolução a endossar a Declaração dos Direitos da Criança, promulgada em 1923 pelo Conselho da União Internacional de Protecção à Infância e, em 1946, o Conselho Económico e Social das Nações Unidas recomendou a adopção da Decla‐
ração de 1924, conhecida como Declaração de Genebra sobre os Direitos da Crian‐
ça, que se estruturava em torno de cinco princípios relacionados com o bem‐estar das crianças, o seu normal desenvolvimento, a alimentação, a saúde e a protecção contra a exploração (Santos et. al, 2010). Nesse ano, foi ainda criado pelo Conse‐
lho Económico e Social o Fundo de Emergência das Nações Unidas para as Crianças (UNICEF). Desde então, tem‐se assistido a uma crescente produção normativa neste campo evidenciando‐se de modo particular a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989).12 Paralelamente outros instrumentos internacionais fixam regras e estabelecem recomendações aos Estados em matéria de prevenção da delinquência e da administração da justiça de crianças e jovens.13 O princípio 12 Nos termos do artigo 1º da Convenção dos Direitos da Criança (1989), define‐se “criança como todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável atingir a maioridade mais cedo.” A Convenção foi assinada por Portugal em 26/1/90, aprova‐
da para ratificação pela Resolução da Assembleia da República Portuguesa nº20/90, publicada no D.R., I Série, nº 211, de 12/09/90, constituindo direito interno português por força do arti‐
go 8, nº 2 da Constituição da República Portuguesa. 13 Sem preocupação de exaustividade salienta‐se, entre outros: Regras Mínimas para a Adminis‐
tração da Justiça de Menores (Regras de Beijing), Nações Unidas, 1985; Recomendações NºR(87)20 e NºR(88)6 do Conselho da Europa; Directrizes para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Directrizes de Riade), das Nações Unidas, 1990; Regras Mínimas para o desenvolvi‐
mento de Medidas Não Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio) e as Regras Mínimas para a Protecção de Menores Privados de Liberdade (Regras de Havana), das Nações Unidas, 1990; Directrizes para Acções Relativas à Crianças no Sistema de Justiça Criminal (Directrizes de Vie‐
na), Conselho Económico e Social das Nações Unidas, 1997; Recomendação (2001)1532, Con‐
selho da Europa, Assembleia Parlamentar, Setembro de 2001; Recomendação Rec(2003)13 do Conselho da Europa, 10 de Julho de 2003; Recomendação Rec (2003)20 do Conselho da Euro‐
pa, 24 de Setembro de 2003; Parecer “A prevenção da delinquência juvenil, as formas de tra‐
tamento da mesma e o papel da justiça de menores na União Europeia”, Comité Económico e Social Europeu (CESE) da União Europeia, em 10 de Fevereiro de 2005, aprovado em 2006; Observação Geral N.º 10: os Direitos das Crianças nos Sistemas de Justiça de Menores, Nações Unidas, 2007; Resolução ECOSOC 2007/23 sobre a reforma da justiça de crianças e jovens, 28 Maria João Leote de Carvalho comum a todos releva a importância do desenvolvimento de políticas sociais de pre‐
venção da delinquência centradas nas comunidades, nas famílias, de modo precoce e integrado. Assiste‐se a uma valorização da execução de apoios e programas canali‐
zados para a família, para o desenvolvimento de competências parentais e a promo‐
ção da educação de crianças e jovens, assim como para o envolvimento da comuni‐
dade, nomeadamente ao nível da desjudicialização da intervenção de reacção social e da implementação de formas de justiça restaurativa. Num dos mais recentes destes documentos, Observação Geral N.º 10: os Direitos das Crianças nos Sistemas de Justiça de Menores, Nações Unidas, de 2007, além destes pontos, evidencia‐se uma síntese dedicada à fixação do limite etário mínimo de responsabilidade penal e de uma idade até à qual pode ser aplicado o sistema de justiça para crianças e jovens. É recomendada a idade mínima de 12 anos para uma responsabilização e os 18 anos para a imputabilidade criminal, de acordo com o proposto na Convenção sobre os Direitos da Criança. Na Europa, os limites etários para a actuação dos sistemas oficiais na resposta aos casos de delinquência variam significativamente de país para país e correspondem a concei‐
tos e modelos de intervenção que nem sempre se sobrepõem entre si, sendo difícil o estabelecimento de comparações directas. Nuns, há um patamar de responsabi‐
lidade criminal em idade inferior à da imputabilidade penal – relativa à atribuição de uma responsabilização plena do ponto de vista criminal numa posição idêntica à de um adulto –, que pode ser entendida como uma “menoridade penal”. Esta é a linha de orientação que caracteriza a maioria dos países europeus (Dümkel e Stan‐
do‐Kawecka, 2010). Noutros, onde se inclui Portugal, não existe esta noção de res‐
ponsabilidade penal de menores, nem, consequentemente, uma lei penal especial para os mesmos; existe uma lei especial não penal que legitima a aplicação de medidas educativas a partir dos 12 anos (Lei Tutelar Educativa), ainda que respon‐
sabilizadoras e idênticas às penas para menores previstas por ordenamentos de outros países.14 No território nacional, decorrente da acção da Comissão de Reforma do Sis‐
tema de Execução de Penas e Medidas, criada em 1996, duas novas leis sobre a infância e juventude foram aprovadas pela Assembleia da República, em 1999: a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei nº 147/99, de 1 de Setembro, Ministério do Trabalho e da Solidariedade) e a Lei Tutelar Educativa (Lei nº 166/99, de 14 de Setembro, Ministério da Justiça), dando corpo ao consagrado em conven‐
ções internacionais ratificadas pelo Estado português desde os anos 1980. Tendo entrado em vigor no dia 1 de Janeiro de 2001, estes dois novos diplomas vieram substituir, em larga medida, o modelo consubstanciado na Organização Tutelar de Menores (OTM, 1978). Ambos têm subjacente um novo paradigma que visa a Conselho Económico e Social das Nações Unidas, 26 de Julho de 2007; Recomendação (2008)11, Comité de Ministros, 5 de Novembro de 2008; Resolução sobre direitos humanos na administração da justiça, em particular da justiça para menores, Assembleia‐Geral das Nações Unidas, 20 de Março de 2009 (Resolução A/HRC/10/L.15). 14 Para um aprofundamento desta matéria, recomenda‐se a consulta da obra em quatro volu‐
mes (1.882 págs.) editada por Dünkel, Grzywa, Horsfield e Pruin (2010). Nela traça‐se um retrato da situação em cada país e identificam‐se as linhas comuns e as diferenças de actua‐
ção neste campo. A situação portuguesa é abordada por Anabela Rodrigues e António Duarte Fonseca (Vol. 2, pp. 1027‐1076) As gerações» dos direitos humanos 29 promoção de intervenções claramente diferenciadas: de protecção junto de crian‐
ças e jovens vítimas de diversas circunstâncias pessoais e sociais; de responsabili‐
zação e de “educação para o direito” para aqueles que, com idade igual ou supe‐
rior a 12 anos e inferior aos 16, tenham praticado factos que, à luz da lei penal, seriam considerados crimes. Os termos “criança” e “jovem” surgem nestas leis, representando uma nova abordagem no campo do Direito. Até então, o termo “menor” era recorrentemen‐
te usado na legislação aplicável a indivíduos com idade até aos 18 anos, patamar em que se alcança a maioridade civil. Pouco a pouco, tem‐se assistido também à substituição da expressão Direito de Menores pela Direito das Crianças e dos Jovens. Este ponto reflecte uma nova intenção por parte do legislador que assim integra os princípios decorrentes da representação social da infância nas socieda‐
des ocidentais. No entanto, ainda persiste em alguns sectores da sociedade portu‐
guesa uma ideia de “menoridade” quando se debate a infância e a condição das crianças no país (Carvalho, 2011). Daqui resulta a construção em Portugal de um quadro jurídico que, relativa‐
mente à delinquência, determina como limite para a imputabilidade criminal os 16 anos, dois abaixo da maioridade civil alcançada aos 18 anos.15 Em função do esca‐
lão etário relativo às crianças e jovens menores de 16 anos, a intervenção dos mecanismos de controlo social formal faz‐se ao abrigo de diferentes diplomas. A definição dos limites etários não é socialmente alheia à intervenção política e social vigente num dado contexto. Mesmo que artificiais, os critérios etários são decisivos com vista à operacionalização das medidas expressando muito mais do que simples números. Um dos aspectos que emerge de imediato nesta análise é a não coincidência entre a maioridade civil (18 anos) e a penal (16 anos), situação que já se observava no país no século XIV (Carvalho, 2011). Assim, no caso da prática de actos que à luz da lei penal seriam considerados crime, se praticados por crianças até aos 12 anos, a acção oficial a desenvolver é enquadrada exclusivamente no âmbito da Lei de Protecção de Crianças e Jovens. O acto designado por delinquente nestas idades é, em si mesmo, e nos termos do modelo vigente, encarado como expressão do perigo em que o desenvolvimento da criança se encontra daí decorrendo só a intervenção desse sistema. No entanto, a actuação deste sistema perante a delinquência não se restringe a esses casos pois existem outros relativos a jovens que cometeram ilícitos acima dos 12 anos e em que à abertura de inquérito tutelar educativo se sobrepõe a necessidade de uma medida de promoção e protecção, decorrendo a respectiva intervenção num plano de interactividade com a Lei Tutelar Educativa. Estas últimas situações tra‐
duzem a reacção social considerada adequada a situações e ofensas de menor gra‐
vidade praticadas por aqueles que, simultaneamente, já se encontram abrangidos no sistema tutelar educativo. 15 Quando da prática de crime aos 16 ou mais anos fica‐se abrangido pelo sistema penal, ainda que, entre os 16 e os 21 anos, possam ser aplicadas medidas e penas específicas ao abrigo do Regime Penal Especial para Jovens Adultos consubstanciado no Decreto‐Lei nº 401/82, de 23 de Setembro. De salientar que se trata de um normativo que desde a sua publicação, há 29 anos, não sofreu alteração, mantendo‐se possível a aplicação nos moldes inicialmente previs‐
tos, o que se traduz num desfasamento perante o que era a concepção de jovem à época e a evolução registada desde então. 30 Maria João Leote de Carvalho Um segundo patamar abarca os indivíduos com idade igual ou superior a 12 anos mas inferior a 16 anos e que pela prática de ilícitos ficam abrangidos por esta última Lei. A intervenção tutelar educativa aí preconizada está reservada a jovens que, nesse intervalo etário, tenham praticado facto qualificado pela lei como cri‐
me, colocando em causa os valores jurídicos essenciais à vida social pela violação dos quadros legais estabelecidos. Para que seja aplicada uma medida é necessário que existam factos, indícios suficientes para que se faça prova dos mesmos e acresce a verificação da necessidade de “educação para o direito” por parte do jovem. Não se verificando uma destas condições, não há lugar a este tipo de inter‐
venção. Numa época em que o alargamento da condição juvenil se prolonga, de modo quase indefinido no tempo, numa difícil encruzilhada de transição para a vida adulta, considera‐se que os limites etários definidos no actual modelo são relati‐
vamente equilibrados. Alterar os limites etários da intervenção tutelar educativa, designadamente para um patamar inferior aos 12 anos, seria negar à partida a especificidade e diferença de significados que os actos delinquentes encerram em si mesmos por reportados diferenciadamente à condição social da infância. O que se impõe é uma agilização da prevenção e das respostas em relação a estes pro‐
blemas, em tempo útil, sobretudo através de um papel mais activo de indivíduos e entidades nas comunidades onde os mesmos vêm a acontecer, num patamar de controlo social informal. O maior desafio reporta‐se ao limite etário da imputabilidade criminal e à consideração da necessidade de uma discussão mais alargada sobre os motivos que justificam, ou anulam, o desfasamento existente entre maioridade civil e maioridade penal. Defende‐se que uma e outra deveriam ser coincidentes e difi‐
cilmente se entende a manutenção desta diferença: por um lado, inibe‐se a parti‐
cipação social dos jovens numa vertente que possibilite o exercício activo da cida‐
dania (i.e. idade para votar e assumir outras responsabilidades), desvaloriza‐se a sua capacidade de acção, autonomia, liberdade e responsabilidade até aos 18 anos e vê‐se promovido o alargamento da escolaridade obrigatória até essa idade; mas por outro, aceita‐se o entendimento da sua competência individual para delinquir promovendo‐se a sua responsabilização criminal aos 16 anos. Como entender este espartilhamento da concepção do jovem, que não é exclusivo deste campo, mas aqui assume a expressão mais significativa por remeter para a mais grave inter‐
venção do Estado relativamente à privação de dois direitos fundamentais, o da liberdade e da autodeterminação individual, é algo que importaria aprofundar verificando se as representações fragmentadas de juventude subjacentes aos qua‐
dros normativos dos diferentes sistemas sociais encontram a devida correspon‐
dência na realidade social. (Re)Pensar a delinquência de crianças e jovens: uma questão de olhar(es)? A delinquência não é um fenómeno exclusivo das sociedades contemporâneas; existiu desde sempre e em todos os grupos sociais, variando apenas a forma como se caracteriza e se torna visível ao longo dos tempos. De igual modo, também a preocupação social sobre esta problemática não é nova. No entanto, a actual drama‐
tização e politização das violências e do crime tende a fazer crer que se está perante As gerações» dos direitos humanos 31 um cenário social único, desvalorizando‐se que não se trata de fenómenos novos; novos poderão ser alguns dos seus traços e das suas actuais dinâmicas assim como dos contextos onde se produzem. Como evidenciam Lourenço e Lisboa (1998) na abordagem sobre estas problemáticas, a preocupação sobre estas questões e a ideia de se estar perante um seu agravamento numa linha sem precedentes não são, his‐
toricamente, situações exclusivamente contemporâneas; inscrevem‐se, pelo contrá‐
rio, nos discursos sobre a crise ou crises sociais que atravessam as sociedades em diferentes épocas, particularmente em períodos de intensas e profundas mudanças como aquelas que marcam os dias de hoje. Os fenómenos desviantes, nas suas mais variadas formas onde se inclui a delinquência de crianças e jovens, são componente estrutural nas dinâmicas sociais de qualquer comunidade e dificilmente podem ser abordados com base em modelos de causalidade assentes em relações lineares potencialmente passíveis de generalização como se de causas únicas e globais se pudesse falar ignorando‐se a complexidade da vida social. Um dos traços mais relevantes apontado a nível europeu, e especificamente a nível nacional, prende‐se com a identificação da delinquência como um problema social eminentemente urbano e suburbano, numa estreita relação com o desenvol‐
vimento desordenado das cidades e a constituição de grandes metrópoles. De igual modo, está identificada a sua forte associação às profundas transformações que afectam as principais instâncias de socialização e a fenómenos de exclusão social, económica e cultural, parte dos quais originários em movimentos migratórios que vêm a marcar as dinâmicas demográficas do território europeu nas últimas décadas e que, em larga medida, se têm visto reflectidos em dificuldades de integração social e no reforço da diluição dos mecanismos informais de controlo social. Na origem da delinquência estão processos e dinâmicas sociais cuja discussão se revela pertinente incrementar tanto a nível científico como social. Para isso importa identificar as suas formas de produção a partir dos contextos onde se manifesta, dos protagonistas que envolve e dos instrumentos de reacção social de que uma sociedade dispõe num quadro alargado de mudanças sociais. Reflectir sobre esta problemática atendendo às configurações que toma na realidade social portuguesa, requer ter presente a diversidade e complexidade de modelos e dinâmicas sociais decorrentes das profundas alterações demográficas, culturais, políticas, económicas e sociais registadas no país nas últimas três décadas e meia e que se reflectem directamente na condição social da infância e da juventude. No caso português, o Estado da Arte sobre esta matéria traduz‐se num conhecimento difuso e pouco profundo (Santos et al., 2010). Ainda que não seja uma situação exclusivamente nacional, uma leitura restrita das estatísticas oficiais e dos mais diversos estudos pode levar a situar este problema social exclusivamen‐
te junto daqueles que provêm de estratos sociais socioeconómicos mais desfavo‐
recidos num acentuar de problemáticas negativas. No entanto, sabe‐se que tal não corresponde à realidade social devendo ter‐se em linha de conta os procedimen‐
tos de recolha de informação e a natureza dos dados recolhidos, a maioria junto dos sistemas oficiais de justiça que se constituem como o último patamar de acção dos mecanismos de controlo social formal. Como outros factos sociais, a delin‐
quência atravessa todas as classes sociais variando apenas a intensidade e o grau de visibilidade que a mesma adquire em função da eficácia dos mecanismos de 32 Maria João Leote de Carvalho controlo que os actores de uns e outros estratos sociais dispõem para os suster (Gersão, 1998). Muitas vezes, os quadros de violência em que a delinquência de crianças e jovens emerge parecem ser percepcionados e interiorizados como um fenómeno ‘natural/normal’ em função da recorrência com que os seus contornos tendem a manifestar‐se. Deste modo, mais do que poder falar em subculturas delinquentes terá de se questionar o eventual alargamento de uma noção e cultura de violência, que os indivíduos e os mais diversos grupos sociais vão aceitando no seu quotidia‐
no, muitas vezes de forma passiva, num nível que ultrapassa fronteiras de comu‐
nidades locais, bairros, cidades e até mesmo de países. Até que ponto as designa‐
das “violências doces”, debatidas por Lipovestky no final do século XX, não estarão a ser arrastadas por um aparente recrudescimento das ditas “violências de san‐
gue”, é algo que fica por responder neste texto mas que os resultados de investi‐
gação recente sobre o contexto português impelem a questionar (Carvalho, 2011). A leitura destes fenómenos é complexa. As não‐conformidades de crianças e de jovens têm de ser pensadas a partir da sua articulação com as lógicas de exclu‐
são e de segregação em relação com os espaços onde tomam corpo. Não se trata apenas de identificar os actos delinquentes por si cometidos, mas analisá‐los à luz do que são as violências dos espaços físicos e sociais sobre eles exercidas. Numa sociedade que faz da segregação e do individualismo um modo de gestão social, os laços de sociabilidades e as relações de poder são construídos tendo por pano de fundo uma lógica desenfreada de consumo e uma mercantilização dos mais varia‐
dos aspectos da vida social. Neste sentido, o exercício da delinquência pelos mais novos, sob diferentes formas, que variam entre o lúdico e o mais ofensivo e violen‐
to, são, na maioria das vezes, parte integrante de uma cultura de desregulamento social, fortemente mediatizada e amplificada pelos media, onde muitas crianças e jovens vêm a crescem. Não será por isso de estranhar que a violência e o acto delinquente apare‐
çam, por assim dizer, ‘normalizados’ aos olhos de muitos daqueles que deles parti‐
cipam e não hesitam em recorrer desde idades bem novas, perante modelos sociais e políticos que na definição de medidas e políticas sociais e de justiça ten‐
dem a oscilar perigosamente entre uma polaridade marcada por dois extremos: ora colocando os seus autores estritamente como vítimas passivas dos sistemas sociais; ora passando‐os ao pólo diametralmente oposto, o da extrema perigosi‐
dade (Carvalho, 2011). Esta é uma tendência que acarreta potenciais ameaças em termos de reforço de sentimentos de insegurança assente na simplificação do entendimento sobre estes fenómenos. Como defendem vários autores, parte da actual delinquência nas sociedades ocidentais inscreve‐se numa designada lógica de acção predatória que atinge o núcleo central de segurança das comunidades (Robert, 1997). Grande parte dos delitos terá essencialmente uma finalidade: o consumo de bens que conferem prestígio e aceitação social e que promovem a afirmação de um poder e estatuto social. Por vezes, inserem‐se numa lógica de resistência e de combate à exclusão e à marginalização estando presente, em muitas destas condutas, um imaginário vir‐
tual e mediático infantil e juvenil tantas vezes associado a uma incapacidade de reconhecer “o outro” com um estatuto de sujeito, como alguém igual a si próprio, como se de um jogo de computador se tratasse. É assim que, muitos dos actos As gerações» dos direitos humanos 33 delinquentes, acabam por ser vistos como um mero exercício de poder, sobretudo sobre outros que também já se encontram destituídos de poder, numa vertigem de violência aparentemente gratuita mas que serve o fim de construção e afirma‐
ção de uma identidade social (Carvalho, 2010). Muitas vezes aquilo que é visto como disfuncional para a sociedade em geral adquire um valor funcional para um determinado grupo de indivíduos, em especial entre jovens (Vala, 1985). De uma maneira geral, as crianças e jovens são eloquentes sobre as suas rela‐
ções sociais, sobre a importância de determinados valores e sobre a violência e delinquência nas suas vidas (Carvalho, 2010). Esta acaba por servir para a constru‐
ção das suas competências, não apenas em termos de preparação para o seu futu‐
ro funcionamento em sociedade, mas estrutura já no presente, muitas das suas relações actuais entre pares contribuindo para a organização social e posiciona‐
mento no universo da sua classe (Rayou, 2005). A visão do mundo vai‐se cons‐
truindo em torno de uma dualidade identitária que oscila entre os “fortes” e os “fracos” e a “lei do mais forte”, enquanto forma de organização familiar e social legitimada individual e colectivamente em vários contextos, é uma regra presente no desenvolvimento de muitas crianças e jovens (Carvalho, 2011). A questão de honra, valor fortemente assumido em quadros sociais de acen‐
tuada precariedade social, constitui frequentemente um elemento catalisador da passagem ao acto violento e delinquente. Trata‐se de uma noção central pela qual crianças, jovens, famílias e grupos sociais se envolvem numa linha de disciplina moral a partir da qual avaliam as suas interacções e quais os efeitos perniciosos quando consideram que a sua honra foi beliscada por outrem, inclusivamente por parte do próprio Estado. A percepção de um acto como violento e intencional é, tendencialmente, objecto de uma acção reparadora que pode até mesmo envolver outra violação de normas, numa escalada de infracções, sendo a procura deste tipo de acções inevitável em diversos contextos sociais. A oralidade é parte fun‐
damental nestes processos e, muitas vezes, a vítima exterior é encarada como res‐
ponsável na agressão que sofre(u) (Moignard, 2008). Embora a expressão mais significativa da delinquência de crianças e jovens em Portugal se insere no quadro de uma pequena criminalidade, essencialmente patrimonial, a par de uma crescente visibilidade das designadas “incivilidades”, legais ou ilegais (Roché, 1993), importa reter como uma parte mais reduzida desta problemática se encontra associada à criminalidade de adultos, sobretudo a crimi‐
nalidade organizada. Tal vem a traduzir‐se sobretudo em actos de roubo, assalto, tráfico de drogas, furto de veículos e uso de armas. Destas vivências emerge um quadro de (inter)dependências que se vai criando e reformulando entre uns e outros. Da parte dos mais novos que encontram nestes grupos um reconhecimen‐
to e apoio que lhes confere um determinado suporte e estatuto social, eventual‐
mente até mesmo uma certa protecção que se pode estender à família e ao círculo mais próximo de pares; da parte dos adultos, a necessidade de recurso a menores em função das suas competências ou na exploração da sua inimputabilidade perante a lei penal. E tende a ser perante quadros desta natureza que se evidencia um agravamento do grau de violência nos actos cometidos, assim como uma maior diversificação dos perfis das vítimas (Carvalho, 2010). Como destaca Lourenço (2009), na actualidade, incivilidades, desordens, delinquências, pequena e grande criminalidade, criminalidade nacional e transna‐
34 Maria João Leote de Carvalho cional, interpenetram‐se e entrecruzam‐se nos mais diversos níveis e dimensões da vida social produzindo realidades sociais dinâmicas e de difícil controlo. No quadro de globalização, marcado por processos de intensa e permanente, mas também difusa, mediatização, que se traduzem na amplificação dos problemas sociais, torna‐se imprescindível a reafirmação de que a violência não tem nada de natural, sendo um fenómeno socialmente construído que constitui uma das mais fortes violações no campo dos Direitos Humanos. Na base deste imperativo, a bus‐
ca de um equilíbrio, forçosamente instável, entre os vértices de um mesmo triân‐
gulo – segurança, sentimento de insegurança e Estado de Direito –, que constitui o alicerce da ordem social (Lourenço, 2009). Nesta ordem de ideias, mais do que poder ser entendida estritamente como um caso de polícia ou de tribunal, a delinquência de crianças e jovens é, funda‐
mentalmente, um problema social que diz respeito a toda a sociedade, começando no modo como informalmente cada um se posiciona e reage perante os outros e, de modo mais específico, relativamente a actos desta natureza e ao entendimento que se tem sobre a infância e a juventude. É no campo da prevenção que tudo se joga, numa intervenção que deseja necessariamente atempada e de sucesso. Os mais diversos estudos realçam a importância das redes sociais informais na resolu‐
ção mais eficaz destas situações, evitando‐se a sua continuidade, pelo que se reve‐
la fundamental promover oportunidades precoces para a participação cívica e democrática das crianças e jovens no sentido de uma construção colectiva de res‐
ponsabilidade que vise a resolução conjunta de problemas. E ao longo dos tempos tem ficado claro que não chega uma via que se coloque apenas ao nível da gestão do conflito social no imediato quando ele adquire maior visibilidade, reafirmando‐
‐se que enquanto se mantiverem os efeitos “de uma dualização dos espaços urba‐
nos e a desigualdade dos seus habitantes” (Fernandes, 2008, p. 95) há que perce‐
ber que todo o investimento no campo da prevenção será pouco quando comparado com o que a posteriori se virá a gastar em segurança caso uma actua‐
ção preventiva não seja realizada. Referências bibliográficas Becker, H.S. (1963). Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press. Binder, A., Gilbert, G. e Bruce, D. (2001). Juvenile Delinquency. Historical, Cultural and Legal Perspectives. Ohio: Anderson Publishing Co. Carvalho, M.J.L (2011a, Março). Delinquência de Crianças e Jovens: uma Questão de Olhar(es)?. Comunicação apresentada na Unidade Curricular de Direitos Humanos e da Criança, do 1º ano da Licenciatura em Educação Básica, Escola Superior de Educação de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa. Carvalho, M.J.L. (2011b). Do Outro Lado da Cidade. Crianças, Socialização e Delinquência em Bairros de Realojamento (Dissertação de Doutoramento em Sociologia). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa (documento não publicado). Carvalho, M.J.L. (2010). A Delinquência Juvenil Portuguesa em Perspectiva. Em Direcção‐geral da Administração Interna (Ed.), 1ªs Jornadas de Segurança (pp. 71‐87). Lisboa: Direcção‐Geral da Administração Interna, Ministério da Administração Interna. As gerações» dos direitos humanos 35 Dümkel, F. e Stando‐Kawecka, B. (2010). Juvenile imprisonment and placement in institutions for deprivation of liberty – Comparative aspects. Em Dünkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P. e Pruin, I. (Eds.). Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments, Vol. 4 (pp. 1763‐1812). Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg GmbH. Fernandes, L. (2008). Condição juvenil: do risco de ser vítima ao perigo de ser actor. Direito das Crianças e Jovens. Actas do Colóquio “Direito das Crianças e Jovens (pp. 85‐96). Lisboa: Centro de Estudos Judiciários e Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Gersão, E. (1998). A violência nos comportamentos juvenis e a revisão da Organização Tutelar de Menores. Infância e Juventude, nº4, Outubro‐
‐Dezembro, 9‐20. Lourenço, N. (2009). Segurança, sentimento de Insegurança e Estado de Direito. O espectro axial da relação de direitos, liberdades e garantias dos poderes do Estado. Em Ministério da Administração Interna (Ed.), Liberdade e Segurança (pp. 81‐92). Lisboa: Ministério da Administração Interna. Lourenço, N. e Lisboa, M. (1998). Dez Anos de Crime em Portugal. Análise Longitudinal da Criminalidade Participada às Polícias (1984‐1993). Lisboa: Ministério da Justiça, Centro de Estudos Judiciários. Martins, E.C. (1995). A Problemática Socio‐Educativa da Protecção e da Reeducação dos Menores Delinquentes e Inadaptados entre 1871 a 1962 – Vol. 1 e 2 (Tese de Mestrado). Lisboa: Universidade Católica Portuguesa (documento não publicado). Moignard, B. (2008). L’École et la Rue: Fabriques de Délinquance. Paris: Presses Universitaires de France. Negreiros, J. (2001). Delinquências Juvenis. Trajectórias, Intervenções e Prevenção. Lisboa: Editorial Notícias. Rayou, P. (2005). Crianças e jovens, actores sociais na escola, como os compreender? Educação e Sociedade, Campinas, Vol. 26, nº91, 465‐848. Robert, P. (2002). O Cidadão, o Crime e o Estado. Lisboa: Editorial Notícias. Roché, S. (1993). Le Sentiment d’Insecurité. Paris: Presses Universitaires de France. Santos, B.S. (direcção científica), Gomes, C. (coord.); Fernando, P.; Portugal, S.; Soares, C.; Trincão, C.; Sousa, F.; Aldeia, J. e Reis, J. (2010). Entre a Lei e a Prática. Subsídios para uma Reforma da Lei Tutelar Educativa. Coimbra: Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Vala, J. (1985). Contribuições para uma análise psicossocial da delinquência. Infância e Juventude, nº2, 53‐65. Wyness, M., Harrison, L., e Buchanan, I. (2004). Childhood, politics and ambiguity: towards an agenda for children’s political inclusion. Sociology, Vol. 38, nº 1, 81‐99. AS GERAÇÕES» DOS DIREITOS HUMANOS Victor Nogueira Introdução Os direitos humanos constituem hoje uma expressão fundamental na termi‐
nologia política e filosófica contemporânea, base de referências, discursos e agen‐
das políticas, adoptado por cada vez mais actores sociais, reconhecido nas leis nacionais, ensinado nas escolas. Apesar disso, o desconhecimento dos direitos humanos e da sua “cultura” é relativamente estranha a uma grande parte da Humanidade, talvez por ser uma aquisição historicamente muito recente, com pouco mais de 60 anos. Sendo uma referência para tantos, nem sempre se sabe do que se fala: há quem confunda direitos humanos com sonhos, aspirações, princípios ou desejos, o que, convenhamos, não é exactamente o mesmo. Muitos consideram ser uma matéria árida e distante, ou um instrumento de combate político, apenas acessível a especialistas, ou técnicos de direito. A verdade é que os direitos humanos, sendo assunto para especialistas, pode ser acessível a todos – a começar pelas crianças, na escola. De que falamos quando falamos de Direitos Humanos? Muitas noções e valores do que hoje chamamos direitos humanos, aparece‐
rem no discurso religioso, filosófico e em práticas políticas e códigos de épocas e áreas muito diferentes, podendo dizer‐se que a sua introdução, no Ocidente, é herdeira da filosofia grega, do direito romano, da tradição judaico‐cristã, do humanismo, da luta pela democracia. Mas há exemplos de uma mesma história contra as injustiças, os abusos, a arbitrariedade e a tirania por todo o mundo, do Egipto, à Pérsia, Índia, China ou ao Japão. Por alguma razão os direitos humanos são universais. Desses movimentos derivaram documentos históricos de grande significado como, entre outros, a Magna Carta, o Édito de Nantes, o Bill of Rights, o Instituto do Habeas Corpus, a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que enuncia‐
ram e perspectivaram para o futuro temas como a igualdade perante a Lei, os direitos à liberdade e segurança, e até a legitimidade de desobediência e resistên‐
cia à opressão. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2012, pp. 37-54.
38 Victor Nogueira Também contribuíram, para o património dos direitos, as lutas pela abolição da escravatura, contra a exploração do trabalho, a fome, a pobreza, que levaram, no século XX, ao reconhecimento internacional de direitos colectivos e de direitos económicos, sociais e culturais. A designação direitos humanos, considerada por alguém, “um dos principais indicadores do progresso histórico”16 é, ela própria, relativamente recente, tendo sido enunciada, apenas no século XIX, numa obra de Henry David Thoreau17. Antes disso, foi principalmente usado, entre 1775 e 1815, o termo Direitos do Homem, na altura com uma conotação sobretudo teológica18, na sequência de teorias sobre o direito natural. Entre nós, as designações Direitos do Homem ou Direitos Humanos, são geralmente utilizados indistintamente, como sinónimos, o que não parece inteiramente correcto19. Os “direitos naturais” do Homem, enunciados a partir da aplicação da Razão à antiga Lei Natural incluíam o direito à vida, de não ser sujeito à escravidão, à liber‐
dade de pensamento e de consciência, de propriedade, de discussão, reunião, ele‐
ger e ser eleito. Afirmaram‐se contra as intervenções tidas como “ilegítimas” do Estado, em defesa da autonomia e da liberdade individual, os quais virão a ser consagrados, no processo histórico das revoluções democráticas burguesas, como aqueles que decorrem da aplicação da Lei escrita, de carácter obrigatório. São chamados Direitos negativos, no entendimento de que o Estado não tem legitimi‐
dade de impedir o exercício desses direitos, pressupondo‐se a limitação do poder do Estado e a separação de poderes. Para muitos, estes também designados Direi‐
16 Bobbio, Norberto A Era dos Direitos, p. 2. A sua tese é a seguinte: “1. os direitos naturais são direitos históricos; 2. nascem no início da era moderna, juntamente com a concepção individualista da sociedade ... 3. tornam‐se um dos principais indicadores do progresso histórico” 17 Thoreau também lançou as raízes dos movimentos cívicos de objecção de consciência, resis‐
tência e desobediência civil e muito influenciou Tolstoi, Gandhi e Luther King. 18 “‘rights of man’usually had a theological setting […] Talk on human rights generally assumes a world without God”, Thomas, Geoffrey, (2000), Introduction to Political Philosophy, London, Duckworth. Não é casual que Thomas Paine tenha dado ao seu mais conhecido livro o título Rights of Man, expressão entretanto caída em desuso em inglês, embora se possa pensar que o tenha feito em homenagem à Revolução Francesa. A Declaração Francesa também inclui esta conotação, de referência religiosa. Na sua versão original, “L’Assemblée Nationale recon‐
naît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être‐Suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen”, acentuado nosso. 19 Quando hoje falamos de Direitos Humanos ou do Homem, ambos os termos designam o Género Humano, sem discriminação de género, mas nem sempre assim foi. Historicamente, a Assembleia Constituinte da Declaração Francesa de 1879 recusou expressamente que aos direitos “de l’Homme et du Citoyen”, se alargasse a menção aos da “Femme et de la Citoyen‐
ne”. Numa época em que as mulheres tinham limitada participação cívica, os constituintes, quando falavam “do Homem” estavam a pensar mesmo na criatura do sexo masculino. Uma das duas deputadas proponentes dessa alteração, Olympe de Gouges acabou guilhotinada. O seu Projecto (de 1792) para uma Declaração dos Direitos das Mulheres, pode ser consultado em Ishay, Micheline (1997), The Human Rights Reader, Routledge. Em Portugal, a versão “oficial” da Declaração, publicada em Diário da República, chama‐lhe Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas o sítio do Diário da República, fala em Declaração dos “direitos humanos”, expressão que há anos vem sendo utilizada correntemen‐
te na maioria da produção legislativa. Não há nenhuma tradução oficial das Nações Unidas, em português. As gerações» dos direitos humanos 39 tos Fundamentais, ou Direitos de Cidadania, constituem os únicos direitos, por serem aqueles cujo cumprimento os cidadãos podem exigir do Estado e dos quais pode recorrer à Justiça20. A nosso ver essa é uma visão equivocada, porque os “direitos fundamentais” de hoje já se alargaram para lá da esfera individual e por‐
que os direitos de cidadania não se podem sobrepor aos direitos humanos dos não cidadãos – como é o caso das crianças, ou estrangeiros, que são titulares de direi‐
tos, sem plena cidadania. Os direitos individuais, civis e políticos, são habitualmente conhecidos por direitos de primeira geração, designação também relativamente recente21, que, embora discutível, aqui utilizaremos, por razões práticas. Quando se fala de direitos humanos, também é habitual a referência a outros tipos de direitos, como, por exemplo, o direito à educação, ao trabalho ou à segu‐
rança social. Esses direitos, económicos, sociais, ou culturais também são conheci‐
dos por direitos de segunda geração. Ao contrário dos de primeira geração (em que o estado se deve abster de interferir), nestes, pressupõe‐se uma intervenção, ou acção (positiva) do Estado, com vista a assegurar a realização desses direitos, de obtenção de condições de igualdade e dignidade à população. Nem sempre o sujeito dos direitos é a pessoa, considerada individualmente. Nalguns casos, há direitos que parecem expressar aspirações e desejos de comu‐
nidades não caracterizadas, como o direito à Paz, à Solidariedade, à Identidade, à autodeterminação, ou ao desenvolvimento económico e social. São direitos colec‐
tivos, cujo objecto são comunidades, como famílias, grupos étnicos, ou povos22, alguns dos quais aparecem expressos em Declarações, Pactos, Tratados ou Proto‐
colos internacionais ou em constituições nacionais. São também chamados direi‐
tos de terceira geração. E há ainda novos direitos que resultam da protecção contra riscos de aplicação de inovações tecnológicas em áreas, como a engenharia genética, ou as biotecnolo‐
gias, cuja intervenção e consequências não estão confinadas a actores locais, ou fronteiras estatais. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, por exem‐
plo, já inclui estas temáticas no seu catálogo de direitos, como é o caso do “direito à integridade do ser humano” – o qual implica a proibição da clonagem reprodutiva, o tráfico de órgãos, ou o registo de patentes do genoma humano. Estes novos direitos são designados, por alguns, como de quarta geração. Os principais documentos internacionais de direitos humanos, como a Decla‐
ração Universal incluem tanto os chamados direitos de primeira, como os de segunda geração”23. 20 Burke, por exemplo dizia que podia saber quais eram os direitos dos ingleses, mas não os direitos do homem. E Jeremy Bentham, dizia: “Right is the child of Law; from real laws come real rights, but from imaginary laws, from ‘laws of nature’ come imaginary rights”, citado de Laqueur, W.& Barry Rubin, The Human Rights Reader, p. 18 21 A noção das “gerações de direitos” foi pela primeira vez formulada há pouco mais de trinta anos (1977) pelo jurista checoslovaco Karel Vasak, que assim sintetizou, simplificando, as distinções entre os direitos individuais, civis, políticos, dos direitos económicos, sociais e culturais. 22 Num caso, aparece enunciado no próprio título: É o caso da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. 23 “Os direitos do homem constituem um conceito de Direito constitucional e de Direito interna‐
cional, cuja função é defender, de forma institucionalizada, os direitos da pessoa humana 40 Victor Nogueira Importa referir que, em direito internacional, as Declarações não obrigam os Estados, ou seja, não são vinculativas para os Estados signatários – ao contrário dos Pactos, Convenções e Tratados, esses sim, obrigatórios. As Declarações, limi‐
tam‐se a enunciar valores de referência, cujos princípios os Estados se comprome‐
tem a respeitar e a tentar aplicar. Vejamos um pouco melhor como surgiram cada uma destas chamadas “gera‐
ções” de direito. As Revoluções Burguesas e os Direitos: Direitos Civis e Políticos (ou de 1ª Geração) As Revoluções Francesa e Americana, e as Declarações que delas saíram, marcaram profundamente a filosofia política contemporânea em matéria de cida‐
dania e de direitos humanos, constituindo autênticos “bancos de ensaio em que tudo o que tinha podido ser concebido pela história do direito natural ou pelos teó‐
ricos do contratualismo”24. Ambas as Declarações são herdeiras do direito natural moderno, reconhe‐
cendo que os homens são seres independentes e livres por natureza, com direitos inalienáveis que o Estado não pode violar. E que a legitimidade de governar depende do “contrato” que possa existir entre os Estados e os indivíduos para garantir esses direitos. Ambas são individualistas, no sentido de estarem referidas a modelos abstractos de indivíduos isolados, produtos do Estado‐natureza e do direito natural. Contudo, apesar de se terem desenvolvido num mesmo processo histórico e de serem numerosas as suas inter‐relações, também há diferenças assinaláveis em qualquer dessas revoluções/declarações. A Declaração americana, apesar de invocar como primeiro dos direitos, o da “igualdade” (All men are born equal), não expressa preocupações de carácter igualita‐
rista25, mas sobretudo a ideia que os direitos humanos se realizam a partir do funcio‐
namento natural e espontâneo de uma sociedade autónoma, entregue a si própria, e com reduzida intervenção do Estado26. Thomas Paine, declarava rejeitar a alegação de contra os excessos de poder cometidos pelos órgãos do Estado e de promover, paralelamen‐
te, o estabelecimento de condições humanas devida, assim como o desenvolvimento multidi‐
mensional da personalidade humana”, sublinhado nosso, in Szabo, Imre. “Fundamentos histó‐
ricos e desenvolvimento dos direitos do homem” in [1978], (1983), As Dimensões Internacionais dos Direitos do Homem, Lisboa, Editora Portuguesa de Livros Técnicos e Cientí‐
ficos / UNESCO, p. 27 24 Renaul, Alain, “Révolution Americaine, Révolution Française”, (1999), in Histoire de la Philoso‐
phie Politique, Paris, Calmann_Lévy, Vol. IV, p. 21 25 “Ouvimos chamar aos Direitos do Homem um sistema nivelador, mas o único sistema ao qual a palavra nivelador é verdadeiramente aplicável é ao sistema monárquico hereditário. É um sistema de nivelamento mental” Paine, Thomas, op. cit, p. 116 26 Releia‐se, a propósito, um protagonista, Thomas Paine, numa polémica com Edmond Burke, em defesa da Revolução Francesa,: “Grande parte da ordem que reina entre a humanidade não é efeito do governo. Tem a sua origem nos princípios da sociedade e na constituição natu‐
ral do homem. Esta existia antes do governo, e continuaria a existir se a formalidade do governo fosse abolida. A dependência mútua e o interesse recíproco que o homem tem no homem, e toda e todas as partes de uma comunidade civilizada, umas nas outras, criam aque‐
la grande cadeia de ligação que a mantém junta. O proprietário de terras, o agricultor, o As gerações» dos direitos humanos 41 que “a declaração de direitos deveria conter os grandes princípios da liberdade natural e civil”, pois isso confundiria direitos com princípios: “para mim, uma bill of rights deve ser uma declaração objectiva e positiva dos próprios direitos”27. No seu Common Sen‐
se, distinguindo sociedade e governo, declara que a promoção da felicidade cabe à sociedade, deixando aos governos a restrição dos vícios28. O modelo decorrente da Declaração francesa é distinto, apresentando‐se como uma viragem histórica, de derrube de um regime e instituição de uma nova ordem social, a partir de um texto dos “representantes do povo francês”, visando estabelecer a base de legitimação de uma nova sociedade, com os seus direitos sagrados e inalie‐
náveis, deveres e equilíbrios dos órgãos sociais. “A Declaração de 1789 é uma declara‐
ção conforme com o direito natural, mas não submetida ao direito natural”29. Ou seja, “onde a Declaração americana procurava os direitos do homem no respeito pela lei natural, a Declaração francesa construía os direitos dos cidadãos na fundação de uma sociedade civil”30, em que, contra o espontaneísmo do pen‐
samento liberal, se entende que “o direito natural só pode adquirir positividade graças ao poder político”31. Como refere Habermas, sobre as diferenças de pers‐
pectiva em análise “Trata‐se lá [Declaração de 1776] de dar livre curso às forças livres de uma auto‐regulação de acordo com o direito natural, enquanto aqui [1789], se procura impor, contra uma sociedade depravada e uma natureza huma‐
na corrompida, um núcleo constitutivo fundado no direito natural”32. Da primeira decorreria um projecto de limitação do poder do Estado, da segunda a constituição de uma nova ordem social. Naturalmente que desta distin‐
ção poderão ser melhor compreendidas a evolução e as divergências em matéria definição e limites de direitos humanos, entre uma perspectiva minimalista e maximalista dos direitos e das responsabilidades do Estado, entre uma democracia que se limite a assegurar os chamados direitos fundamentais (perspectiva liberal) e uma outra que procure garantir e alargar as condições de exercício pleno dos direitos (perspectiva intervencionista). Dir‐se‐ia que a trindade referencial da Revolução Francesa, Liberdade, Igual‐
dade e Fraternidade se esfacelou desde logo na oposição entre os valores de Liberdade e os de Igualdade, ficando os de Fraternidade praticamente ignorados33. fabricante, o comerciante, o negociante, e todas as ocupações, prosperam com a ajuda que cada uma recebe da outra, e do todo. O interesse comum regula os seus assuntos e forma a sua lei; e as leis que o uso generalizado determina, tem uma influência maior que as leis do governo. Em resumo, a sociedade realiza quase tudo o que é imputado ao governo”, Paine, Thomas, [1791/92, The Rights of Man], Direitos do Homem, 1998, ed. Europa‐América, p. 109 27 Citado por Schwartz, Bernard, [1977], (1979), Os Grandes Direitos da Humanidade, Rio de Ja‐
neiro, ed. Forense Universitária, p. 87 28 “Society is produced by our wants, and government by our wickedness; the former promotes our happiness positively by uniting our affections, the latter negatively by restraining our vic‐
es. The one encourages intercourse, the other creates distinctions” 29 Barret‐Kriegel, Blandine, (1989), Les Droits de l’Homme et le Droit Naturel, PUF, p. 25 30 Barret‐Kriegel, op. cit, p27. 31 Reanult, Alain, op. cit, p. 24 32 Habermas, J, (1963), “Droit Naturel et Revolution”, Paris, Payot (1975), p. 109 [citado por Renaul, p. 26, op. cit] 33 O filósofo Frederic Bastiat (sec. XIX), respondia assim a um opositor de debate: “O senhor 42 Victor Nogueira Os Movimentos Sociais e os Direitos Sociais (ou de Segunda Geração) O pensamento socialista constitui uma escola relevante em termos dos direi‐
tos humanos, particularmente pela sua contribuição para os direitos de natureza económica, social e cultural, que foram obtidos na sequência de lutas reivindicati‐
vas, ou revolucionárias, contra formas de exploração laboral, por melhores condi‐
ções de vida e de trabalho, por direitos de expressão e organização colectiva, ou por novas formas de organização social revolucionária. No entanto, em matéria de direitos humanos, nem tudo foram conquistas, assistindo‐se, durante o século XX, ao desenvolvimento, nos países socialistas34, de uma cultura de poder que, em nome dos direitos dos trabalhadores, desvalorizou, menosprezou e violou os direi‐
tos humanos. O processo da Revolução Francesa já incluiu, entre os mais radicais dos seus participantes, a defesa do reconhecimento de direitos sociais, como a educação universal ou a partilha da terra, numa perspectiva de “a cada um, segundo as suas necessidades”. Mas só com o marxismo, “reformista” (social democrata/socialista) ou “revolucionário” (comunista) se constituem os direitos económicos e sociais, como um edifício teórico autónomo. Marx foi um filósofo e activista destacado, animador de muitos debates e pola‐
rizador de movimentos políticos, tendo tido numerosos seguidores, de quase todas as orientações socialistas. Muitos direitos sociais hoje existentes resultaram das lutas sociais e laborais, do movimento sindical, de governos socialistas e de outras orientações35, em países capitalistas, e são consequência de algumas das suas ideias. O homem para Marx, não é uma entidade abstracta, mas sim uma entidade concreta, produto da luta de classes e da prática social. Para ele não há direitos naturais, nem imutáveis, nem de origem divina. Nem Estado, nem Direito, nem valores, existem fora da luta de classes. Tudo isto é, para ele, apenas parte da superestrutura, que constitui todo um aparato de mecanismos de legitimação do domínio da classe dominante, correspondente a determinadas relações de produ‐
ção e um certo desenvolvimento das forças produtivas materiais. Vivendo em capitalismo, os “direitos naturais do Homem” só poderiam ser uma ficção, que assimilou aos do homem burguês: “Os pretensos direitos do homem, les droits de l’homme, distintos dos droits du citoyens não são mais que os direitos do homem da sociedade burguesa, o homem egoísta, o homem enquan‐
to membro da sociedade burguesa, ou seja do homem separado do homem e da sua comunidade, voltado sobre si próprio, unicamente preocupado com o seu inte‐
resse pessoal e obedecendo ao arbitrário da sua privacidade”36. Lamartine disse‐me um dia que a minha doutrina, que acaba na Liberdade, é apenas metade do seu programa, que também se ocupa da fraternidade. Ao que eu respondi que a segunda parte do seu programa, liquidaria a primeira metade, por ser inconcebível impor a fraternida‐
de sem, com isso, destruir legalmente a liberdade e espezinhar a justiça. 34 Referimo‐nos aqui, aos países de inspiração marxista‐leninista 35 Depois da Constituição Soviética, a Constituição mexicana foi a primeira a reconhecer esses direitos, a que se seguiram muitas outras, incluindo a Constituição Portuguesa actual. 36 Marx, Karl, (1843, 1968, ed francesa), La question juive, Paris, ed. Sociales, p. 39, em francês no original As gerações» dos direitos humanos 43 Ao contrário dos críticos que atacam a Declaração Francesa pela sua excessi‐
va “abstracção”, Marx fá‐lo pela excessiva conotação, negando a aquisição históri‐
ca do Individualismo, que cortou as aos poderes e instituições tradicionais37. Marx irá distinguir os direitos do Homem dos direitos do cidadão, apresenta‐
dos, estes sim, uma força política portadora da liberdade socialista, defendendo, como publicista e activista, a liberdade, e a resistência à injustiça. “A liberdade é tão pouco criticada em Marx que ela é, pelo contrário, o direito do homem que pelo seu brilho e humanidade lhe permite criticar a propriedade privada.”38. Ainda que abordadas a partir de uma visão filosófica de alienação, a denúncia das condições de vida, exploração e desigualdade revela a ausência de usufruto de direitos, incluindo daqueles que hoje chamaríamos “ambientais”: “Esta alienação está em parte patente no facto do refinamento das necessidades e dos meios de as satisfazer, produzir, como contrapartida, uma selvajaria bestial, uma simplicidade completa, primitiva e abstracta das necessidades (…). Para o trabalhador, até a necessidade de ar livre deixa de ser uma necessidade. O homem volta novamente a viver em cavernas, mas agora é envenenado pelo ar pestilento da civilização. O trabalhador só tem um direito precário de habitá‐las, pois elas transformaram‐se em residências estranhas, que de repente podem já não estar disponíveis, se não pagar o aluguer. Ele tem que pagar por este sepulcro. (…). Luz, ar e a mais singela limpeza animal deixam de ser necessidades humanas. A imundice, essa corrupção que corre pelos esgotos da civilização torna‐se o elemento em que o homem vive. Negligência total e antinatural, a natureza putrefacta passa a ser o elemento em que ele vive. Nenhum dos seus sentidos sobrevive, seja sob a forma humana, seja sob forma não‐humana, animal.” Relativamente à (in)capacidade dos Estados em reformar, ou resolver alguns dos males sociais da época, Marx, céptico, faz ironia com algumas preocupações que considera pueris e estúpidas e pronuncia‐se sobre o que considera (necessá‐
rias) inconsequência de medidas, até de sinal contrário, tomadas pelos Estados, que, perante as anomalias sociais, procurariam justificar a sua incapacidade por supostas “leis naturais” – assim a pobreza e a miséria seriam explicadas, em Ingla‐
terra, porque os pobres tendem a viver acima das suas posses, na Prússia pela má vontade dos pobres e em França pela mentalidade contra‐revolucionária dos pro‐
prietários”39. 37 Curiosamente, parte dos modernos críticos da universalidade dos direitos humanos partilham com Marx esta crítica à noção de “individualidade” desligada da sua comunidade, e da dinâ‐
mica dos seus direitos e obrigações para com ela 38 Bloch, Ernst, (1976), Droit Naturel et Dignité Humaine, Paris, Payot, p182 39 “L’État c’est l’organisation de la societé. Dans la mesure oú l’État reconnaît des anomalies so‐
ciales, il en cherche la raison soit dans les lois naturelles qu’aucune puissance humaine ne pet plier, soit dans la vie privé qui est independent de l’État, soit dans une inadaptation de l’administration qui depend de l’État (…) Cést pourquoi l’Angleterre punit les pauvres, le roi de Prusse exhorte les riches, et la Convention guillotine les proprietaires”Marx. K., [1844], “Gloses Critiques à l’Article: ‘Le roi de Prusse et la reforme sociale par un Prussien”, in, Textes (1842‐1847), op. cit. p. 74. Neste artigo publicado no “Vorwärts” (que lhe valeu a expulsão de França), o autor desenvol‐
ve a sua crítica a medidas variadas de carácter social, relativas á miséria, educação, habitação, infância, etc. Os marxistas reformistas tentarão alterar este modelo de administração. 44 Victor Nogueira Na sua perspectiva, só com um Estado de tipo novo, dirigido pelo proletaria‐
do explorado, transformado de classe em si para classe para si, seria possível mudar o mundo, na via do progresso social. Como filósofo materialista, encarava os “direitos do homem” como puramen‐
te ideológicos, inexistentes na prática. A causa de toda a servidão política, material e moral seria a sujeição do trabalhador ao capital, razão pela qual a sua emancipa‐
ção económica, como classe, deveria ser o seu primeiro objectivo. O que importa‐
va era o avanço do movimento dos trabalhadores, que, efectivamente se alargou, na altura, à maioria dos países industrializados. A Revolução de Outubro, na Rússia, constituiu o desembocar destes processos de transformação social. Mas Lenine vai mais longe que Marx: “O essencial, na dou‐
trina de Marx, é a luta de classes [mas] apenas é marxista quem estende o reconhe‐
cimento da luta de classes ao reconhecimento da ditadura do proletariado.”40. Num outro texto, após a tomada do poder, Lenine expressa em síntese alguns dos aspectos mais marcantes da visão dos bolcheviques sobre o Estado, a democracia e o exercício dos direitos. Segundo ele “em nenhum país civilizado, em nenhum país capitalista existe democracia em geral: apenas existe a democracia burguesa”41. Tomemos um exemplo de como ele entendia o exercício dos direitos: “A liberdade de reunião pode ser considerada como exemplo dos princípios da demo‐
cracia pura. Qualquer operário consciente e fiel à sua classe, compreenderá sem esforço que seria absurdo permitir a liberdade de reunião aos exploradores (…) A burguesia, quando era revolucionária, em Inglaterra em 1649, como em França em 1793, também nunca concedeu liberdade aos monárquicos nem aos nobres (…) Por outro lado, os operários sabem perfeitamente que a liberdade de reunião, mesmo na república burguesa mais democrática, é uma frase sem sentido, porque os ricos possuem as melhores salas públicas e privadas e o tempo livre necessário para se reunirem, usufruindo da protecção do aparelho governamental burguês. Os prole‐
tários da cidade e do campo e os pequenos camponeses, ou seja, a maioria da população, não possuem nem uma coisa nem outra”. Com o regime soviético desenvolve‐se toda uma nova fraseologia sobre o Estado e os direitos humanos (e também justificações para a sua violação). Seria dada prioridade aos direitos colectivos, por natureza mais importante que os direi‐
tos civis e políticos (individuais); os novos direitos sociais seriam direitos de facto, em oposição aos puramente formais das constituições capitalistas. Alguns dos direitos individuais, civis e políticos, continuaram a ser formalmente consagrados na Constituição, embora não respeitados (aliás, o mesmo acontecia com muitos direitos sociais). O exercício de direitos, como, por exemplo, de expressão, asso‐
ciação, organização sindical, ou greve, era proibido, por estar ilegitimamente em oposição ao “Estado dos trabalhadores”. Os direitos económicos, sociais e culturais, foram pela primeira vez constitucio‐
nalmente consagrados após a Revolução de Outubro (1917), mas o seu reconheci‐
40 Lenine, Vladimir Ilitch, [1917], (1975), O Estado e a Revolução, sublinhado no original, in Sobre a Revolução Proletária e a Ditadura do Proletariado, Lisboa, Povo e Cultura, pp. 13‐14 41 Lenine, Vladimir Ilitch, [1919], “Teses sobre a Democracia burguesa e a Ditadura do Proleta‐
riado”, in (1976), Manifestos, Teses e Resoluções dos Quatro Primeiros Congressos da Interna‐
cional Comunista (1919‐1923), I Vol., Lisboa, SLEMES, p. 35 As gerações» dos direitos humanos 45 mento foi sendo feito na sequência de muitas lutas políticas, sociais e laborais, um pouco por todo o mundo. O direito à greve e à sindicalização, começou por ser duramente reprimido pelos governos mais reaccionários, mas também os liberais não aceitavam que os trabalhadores agissem, no mercado de trabalho, “em mono‐
pólio”. Houve lutas muito duras antes do reconhecimento dos direitos laborais, do direito a férias, ou à segurança social, até se desenvolverem políticas intervencionis‐
tas ou redistributivas com dimensão social, como o New Deal do Presidente Roose‐
velt, dos Estados Unidos, ou o Welfare State (Estado do Bem Estar), em muitos paí‐
ses europeus, especialmente após a II Guerra. Mas em grandes espaços mundiais, estes direitos ainda hoje continuam absolutamente ausentes. Pode dizer‐se, sumariamente, que os direitos de “segunda geração”, que mui‐
tos designam como direitos de Igualdade, são direitos positivos que os Estados devem assegurar, e incluem aqueles que dizem respeito à igualdade de acesso a condições básicas de existência, como direito ao emprego, a cuidados de saúde, educação, segurança social, habitação, lazer, não discriminação. Entre os direitos económicos incluem‐se aqueles que podem assegurar a segurança e dignidade materiais mínimas, a igualdade de acesso a bens e serviços económicos básicos, a um nível adequado de vida, o direito à habitação, ou a pro‐
tecção social. Entre os direitos sociais estão aqueles que podem permitir as condi‐
ções de plena participação na vida social, como, por exemplo, o direito à educa‐
ção. Os direitos culturais, para além do acesso a bens culturais relevantes, também podem englobar direitos identitários. A Declaração Universal e os Direitos Humanos (de Primeira e Segunda Geração) Como foi anteriormente referido, a evolução histórica e as perspectivas políti‐
cas, filosóficas e sociais entre partidários dos direitos de primeira e segunda geração seguiram, no fundamental, caminhos paralelos, em feroz oposição ideológica. Mas, em qualquer dos casos, a legitimidade da protecção, ou da violação dos direitos pelos Estados, nunca foi realmente contestada na arena internacional que sempre os considerou enquadrados na esfera da soberania (interna) de cada Estado. Já no século XX, a Liga das Nações, antecessora das Nações Unidas, tomou algumas medidas de protecção às minorias, na sequência da I Guerra, mas, em 1919, recusou uma proposta japonesa, para não ser autorizada legalmente a dis‐
criminação de minorias nacionais e, anos mais tarde, as autoridades alemãs recu‐
saram a preocupação que a Liga expressou, em nome de um “dever moral”, relati‐
vamente à perseguição dos judeus42, por esta constituir uma “interferência” tida como inadmissível, numa altura em que de facto, as questões de direitos humanos eram consideradas um assunto exclusivamente interno, no quadro da soberania do Estado43. A ideia da protecção universal, independentemente das fronteiras 42 Citado por Cassse, Human Rights in a Changing World, p. 19 43 Hitler viria, mais tarde, a abandonar a Liga das Nações. Naturalmente, a posição da Liga das Nações era então mais um reflexo dos principais interesses imperiais das potências que a constituíam, do que uma “ingerência humanitária”, como a chamaríamos hoje 46 Victor Nogueira nacionais, é muito recente, só tendo sido enunciada na Declaração Universal (1948) Porque foi escrita e aprovada a Declaração Universal? Essencialmente por‐
que, no complexo quadro do pós‐guerra, era necessário estabelecer um quadro de relações internacionais estáveis e pacíficas, em que foi considerado importante que a comunidade internacional deveria dispor de um documento que constituísse um quadro moral de referência, que pudesse dar resposta a situações dramáticas e protegesse as populações face aos abusos e monstruosidades cometidos pelos Estados e favorecesse a Paz. Foi nesse contexto que foram criadas as Nações Unidas, encarregada de man‐
ter a paz e a segurança internacionais, e de favorecer o respeito pelos direitos humanos. Há que recordar o momento histórico que se vivia: fim da II Guerra com a derrota do nazi‐fascismo, rejeição mundial das doutrinas de superioridade racial, desmantelamento de impérios coloniais, aparecimento na cena internacional dos países socialistas e do Terceiro Mundo, difusão de um espírito de fraternidade e abertura ao desenvolvimento à reconstrução do mundo, à Paz, reconhecimento da importância, ou existência de políticas económico‐sociais em alguns dos países mais desenvolvidos economicamente. A “Carta” das Nações Unidas (1945) definiu o cumprimento dos princípios relativos aos Direitos Humanos em três etapas: Definição dos direitos humanos, através de uma Declaração de referência, de carácter não obrigatório; Estabelecimento de um Pacto de direitos humanos, de carácter obrigatório para os Estados; Criação de mecanismos de apresentação de queixas contra as violações de direitos humanos pelos Estados; O primeiro passo foi cumprido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua sessão de 10 de Dezembro de 1948, com a aprovação, por 48 votos a favor e oito abstenções, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As abstenções, foram justificadas por três ordens de razões (que ainda hoje tem seguidores): Por considerarem que o texto poderia implicar uma “ingerência nos assuntos internos” que a Declaração Universal legitimaria (ao poder permitir no futuro “ingerências nos assuntos internos”, se fossem questionadas, ou denunciadas, vio‐
lações cometidas pelos governos, voto da Bielorrússia, Checoslováquia, Jugoslávia, Polónia, Ucrânia e URSS)44; Por esta consagrar o carácter “universal” dos direitos humanos, e pior que 44 Até então o direito das internacionais entre Estados entre regimes de sistema social diferente estava basicamente centrado na coexistência pacífica e na não ingerência nos assuntos inter‐
nos, sendo inquestionável que entre os assuntos constituintes da soberania estavam as rela‐
ções do governo com a população residente, por mais brutal que esse governo regime pudes‐
se ser. A Declaração ao consagrar a “Universalidade” dos direitos abria uma porta que mais tarde foi escancarada. A posição soviética não mudou nunca: Veja‐se Kartashkin, op. cit. p. 663 “Quanto à garantia directa dos direitos em relação a cada indivíduo, trata‐se de uma prerrogativa do Estado e não da comunidade internacional” As gerações» dos direitos humanos 47 isso, uma visão ocidentalizante dos mesmos, que desrespeitaria outras identidades culturais e religiosas (no entendimento da Arábia Saudita)45; Pelo facto do texto incluir os direitos sociais, económicos ou culturais46 (de que muitas populações, eram excluídas e a África do Sul desejava, legalmente, consagrar47); Aprovada a Declaração, nem todos se deram conta da importância do Docu‐
mento. Vejamos alguns aspectos essenciais: Importância da DUDH Antes da Declaração Universal não havia nenhum instrumento internacional, de carácter geral, que se ocupasse da protecção dos direitos humanos. Os poucos que havia, eram parcelares e embrionários, no campo do direito humanitário, de defesa das populações civis em situação de guerra (Convenções de Genebra), sobre escravatura e trabalho servil (Convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho). Nenhum instrumento também admitira o direito de qualquer cidadão a uma nacionalidade e ao direito de qualquer perseguido em obter um asilo. Não havia até então nenhum documento internacional que reconhecesse legitimidade aos direitos de “segunda geração” e nenhuma Constituição nacional até então incluíra, conjuntamente, os chamados direitos individuais, civis e políti‐
cos (os chamados de primeira geração), e os direitos colectivos, económicos, sociais e culturais (ou de segunda geração). Ao admitir colocar num mesmo documento e com a importância deste, todos esses direitos tidos como “opostos” e contraditórios, provenientes de histórias e culturas políticas em confronto como parte de um mesmo património humano, agora indivisível e interdependente constituiu um enorme e uma alteração no enquadramento da questão com profundas consequências no futuro, procurando ultrapassar divergências ideológicos entre os partidários dos direitos civis e políti‐
cos e os partidários dos direitos económicos, sociais e culturais. A Declaração Universal torna‐se assim o ponto de encontro de diferentes ideologias e concepções do homem e da sociedade, que conseguiu constituir o primeiro texto de Direito Internacional, universal e positivo, que consagra num 45 Na redacção da Declaração Universal também participaram muçulmanos. No entanto, na perspectiva integrista da Arábia Saudita, a Declaração não deveria ser aprovada por ofender o Islão em muitos aspectos: ao proibir a escravatura (então ainda legal no país), exprimir‐se a favor da liberdade e igualdade da mulher, ou a liberdade de se escolher religião (e de renun‐
ciar a ela), entre muitos outros. Na sua perspectiva, os seres humanos não deveriam ter os mesmos direitos 46 Sublinhe‐se o facto do Discurso das Quatro Liberdades, do Presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, o Presidente do New Deal incluir o “Freedom to Want”, o que foi considerado como uma referência expressa aos direitos económicos sociais e culturais. Alguns delegados consi‐
deraram a Declaração como um Testamento que deveriam deixar do falecido Presidente, cuja viúva, aliás, foi a Presidente da Comissão de Redacção da Declaração. Ver Cassese, Human Rights in a Changing World, p. 30 47 Estava em curso o lançamento do processo do “Desenvolvimento Social Separado”, leia‐se Apartheid 48 Victor Nogueira mesmo documento de referência o conjunto dos direitos, dela resultando a indivi‐
sibilidade, interdependência e a ausência de hierarquização entre o seu enunciado e os direitos ao seu exercício, e a sua interdependência. O reconhecimento da legitimidade de resistência à opressão aparece expres‐
so claramente no Preâmbulo,48 reflexo da resistência ao nazismo, inclusão tam‐
bém defendida, em oposição ao colonialismo, pelos delegados do Terceiro Mundo, com a aquiescência dos Estados Unidos49. Os direitos naturais (dignidade intrínse‐
ca dos seres humanos e os seus direitos inalienáveis) aparecem como fonte inspi‐
radora para os direitos individuais, tal como a dimensão simbólica e histórica na aquisição de direitos50, mas a Declaração também inclui referências a grupos sociais, como a família, a comunidade nacional e a comunidade internacional e refere também os deveres para com a comunidade, inovando e abrindo caminho para a expressão de outro tipo de direitos – que virão a ser designados como de “terceira geração”. Um aspecto essencial e inovador em direito internacional, foi atribuir aos direitos humanos uma dimensão Universal e não meramente internacional, dei‐
xando de os subordinar à “soberania” dos governos (e à sua tirania). Com isso, que permitiu que os direitos humanos deixassem de ter fronteiras e que a solidarieda‐
de às vítimas pudesse ser acusada ingerência política em “assuntos internos” (nacionais). René Cassin, um dos principais redactores, considerava que o Direito Internacional não era exclusivo dos Estados soberanos, mas também das pessoas individuais, posição então muito pouco ortodoxa51. Particularmente importante foi a preocupação de “despolitizar” o texto. Numa intervenção pública, Cassin esclarece que a Declaração Universal não é um instrumento jurídico, nem político, mas antes um programa de acção, um docu‐
mento de carácter ético e pedagógico52. E refere, também, que ela visa pôr os homens ao serviço dos outros e de elevar os seres humanos em dignidade e capa‐
cidade, o que seria, por si, justificação bastante para os direitos sociais, económi‐
cos e culturais. 48 “considerando que é essencial a protecção dos direitos do homem, através de um regime de direito, para que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tira‐
nia e a opressão…” (segundo o DR, 9 de Março de 1978) 49 Os EUA, possivelmente pelo seu próprio passado, sempre defenderam os levantamentos pela independência “O que pode levar os povos à luta com um governo opressor pela (re)conquista dos seus direitos de cidadania não é de âmbito diferente daquilo que pode motivar, justamen‐
te, um povo a combater um Governo colonizador e opressivo”, Jefferson, citado por Sorome‐
nho‐Marques, Viriato, (1996), “A Cidadania no Novo Mundo, Thomas Jefferson e a Revolução Americana”, in “A Era da Cidadania”, Lisboa, Europa‐América, p. 170 50 Por exemplo, o Artigo 1º da Declaração retoma quase integralmente o texto da Declaração Francesa (“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”). 51 Veja‐se Cohen‐Jonathan, Gérard, “René Cassin et la Conception des Droits de l’Homme” in revue des droits de l’homme – human rights journal sobre René Cassin (1887‐1976), Dezem‐
bro de 1985, p. 70. Sean McBride, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Irlanda, activista e prisioneiro político conseguiu ir mais longe. A partir de uma visão similar, lutou e conseguiu que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos (1951) consagrasse o cidadão individual como sujeito de direito internacional. Sean Mc bride seria mais tarde Pre‐
sidente da Amnistia Internacional e Nobel da Paz (1974) 52 Discurso na Academia francesa de Ciências Morais e Políticas, a 5/12/58 As gerações» dos direitos humanos 49 Naturalmente que, por muito bela que fosse, a Declaração Universal ficaria imperfeita se se quedasse por um conjunto de boas intenções, pelas quais os Esta‐
dos (não) ficassem responsáveis e não estivesse ligada à implementação e fiscali‐
zação dos direitos que defende. Definida e aprovada a Declaração Universal, havia que avançar do quadro Declaratório (não vinculativo) e para os mecanismos de imposição e reconhecimento dos direitos humanos (vinculativo) e para a respon‐
sabilização dos Estados (com mecanismos de aceitação de queixas e sancionató‐
rios). Das Declaração aos Pactos, ou das intenções às obrigações Aprovada a primeira fase, com a aprovação da Declaração, havia que avançar para a segunda fase, tornar obrigatório o cumprimento dos direitos, através de um Pacto de carácter obrigatório para os Estados. No quadro da Guerra Fria, essa fase constituiu um processo longo e comple‐
xo, feito de tensões internacionais, desconfianças e denúncias mútuas e lutas ideo‐
lógicas. Foi um período longo, em que a Declaração, desrespeitada e menorizada por todos, era praticamente apenas utilizada como arma de arremesso e de denúncia das violações cometidas por agentes do outro Bloco. As maiores viola‐
ções de direitos humanos (execuções extrajudiciais, “desaparecimentos” forçados, massacres e execuções em massa, tortura, julgamentos injustos, abusos psiquiátri‐
cos), invasões de outros países, actos de conspiração e realização de golpes de estado eram justificadas no quadro da luta política e ideológica entre Blocos, imperando a mais absoluta impunidade para os violadores, desde que feitos por aliados das superpotências, EUA e URSS – no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o regimento da utilização do veto, permitia que nada de incómodo para elas fosse sequer discutido. É por esta altura que surgem algumas das mais importantes ONG de direitos humanos (como a Amnistia Internacional, 1961), que aparecem fazendo investiga‐
ção sobre violações de direitos humanos – independente, objectiva e imparcial – mobilizando a opinião pública, na base dos princípios da Declaração Universal, sem juízos geopolíticos e recusando explicitamente quaisquer apoios estatais. Foram as organizações da sociedade civil que, neste período, deram alento e sustentaram os movimentos de direitos humanos, não apenas pela denúncia pública, mas também pela criação de formas de intervenção novas, em áreas temáticas específicas – como a tortura, ou os “desaparecimentos”. Os Estados pouco fizeram. O “Pacto” previsto na Carta das Nações Unidas nunca chegou a ser escrito, só tendo sido possível estabelecer, vinte e oito anos depois da Declaração (1976) dois Pactos, um para cada uma das gerações de direi‐
tos – o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Interna‐
cional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) – o que, curiosamente, ocorreu num período de enormes transformações democráticas, em Portugal, Grécia, Espanha e queda de ditaduras militares em África e na América Latina. Os direitos civis e políticos, que já integravam a Declaração Universal (dos artigos 3.º ao 21.º) após a ratificação do PIDCP passam a ser parte do direito inter‐
nacional vinculativo das Nações Unidas para os Estados signatários, para além de outros instrumentos regionais (como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 50 Victor Nogueira ou a Carta dos Direitos Fundamentas da EU) – para além das constituições nacio‐
nais. O mesmo se passa com os direitos económicos sociais e culturais, que cons‐
tavam da Declaração Universal (artigos 22º a 27º), tornados vinculativos para os Estados com a ratificação do PIDESC, para além de outros instrumentos regionais como a Carta Social Europeia. A terceira fase, definição de mecanismos de queixas, também avançou, em especial na sequência da acção dos movimentos de opinião, das sociedades civis e novos actores políticos, que se vão tornando um factor de sensibilização e inter‐
venção cada vez mais público e reconhecido. As agências das Nações Unidas foram incorporando os direitos humanos nos seus programas, bem como as organizações regionais (Conselho da Europa, Liga Árabe, Organização dos Estados Americanos, Organização de Unidade Africana) e um número crescente de Estados foi acedendo às principais convenções interna‐
cionais nesta matéria. As Organizações Não Governamentais tornaram‐se mesmo parte do sistema internacional de protecção e promoção dos direitos humanos, com o estatuto de observador junto desses órgãos, mobilizando a opinião pública e contribuindo para o avanço e cumprimento dos padrões internacionais – em matérias tão diversas como a protecção contra a tortura, as execuções arbitrárias e sumárias, a protecção de minorias, ou prevenção de violações, o uso responsável da força na aplicação da lei e aplicação de códigos de ética profissional. A Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas passou a examinar situações em que haja indícios seguros de violações sistemáticas pelos Estados, dirigindo publicamente recomendações aos governos, ou recebendo queixas indi‐
viduais sobre abusos, a ser investigadas. A partir de 1980 foram criados os chama‐
dos mecanismos temáticos, através dos quais se puderam desenvolver estudos e apresentar propostas relativamente a situações particularmente graves e específi‐
cas em matéria de abusos de direitos humanos, como a tortura, os desapareci‐
mentos, ou a intolerância religiosa. Desde 1993 (Conferência de Viena) existe o Alto Comissariado para os Direi‐
tos Humanos, autoridade política de alto nível, com capacidade para agir de forma rápida e independente em situações de urgência, cabendo‐lhe a coordenação das actividades das Nações Unidas no campo de todos os direitos humanos, incluindo a sua protecção e promoção. As obrigações legais não são retórica – são para cumprir Cumpridas formalmente aquelas fases que a Carta das Nações Unidas enun‐
cia, há que regressar à Declaração e ao cumprimento do seu espírito original – pro‐
tecção e respeito por todos os direitos, indivisíveis e interdependentes. Não se trata de uma tarefa fácil. Muitos governos continuam a violar impu‐
nemente todo o tipo de direitos e outros continuam fechados à evolução mundial, não admitindo que os direitos humanos seja assunto da comunidade internacional. Mesmo alguns dos países mais desenvolvidos e democráticos, como os Estados Unidos da América, a Índia, ou o Japão, ainda retém a pena de morte nos seus códigos penais e continuam a fazer execuções, contra o crescente movimento da comunidade internacional pela abolição. Em certos casos, como a condenação ou As gerações» dos direitos humanos 51 execução de deficientes mentais, ou de menores, violam claramente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e outros normativos internacionais. Os argumentos dos governos para se eximiram às suas responsabilidades são mais evidentes no caso dos direitos económicos, sociais e culturais. Muitos políti‐
cos e académicos continuam a não os considerar “verdadeiros direitos”, mas antes princípios, ou enunciados políticos, ideológicos, ou morais, que não podem ser vinculativos por parte dos Estados. Perguntam eles: acaso os governos podem assegurar a justiça, ou a educação, ou a saúde? Haveria recursos e condições materiais suficientes para os fazer cumprir? Não seria um programa desse tipo financeiramente insuportável para a sociedade, em burocracia, e aumento de impostos? Em caso de negação pelo Estado, que tribunal poderia impor o seu cumprimento? A sua imposição não constituiria uma limitação inadmissível no exercício dos direitos civis e políticos? Não deveria a educação, saúde, ou habita‐
ção ser uma responsabilidade pessoal de cada um e não um encargo para todos? Como é evidente, não há respostas acabadas para perguntas como estas, tal como não existe uma fronteira clara entre as chamadas “gerações” de direitos, tão interdependentes eles são – sendo, desde logo, claro que a limitação de exercício dos direitos de primeira geração prejudica a dimensão socioeconómica dos segun‐
dos. E que a ausência de usufruto mínimo dos direitos sociais implica exclusão social e a impossibilidade do pleno exercício dos direitos de cidadania. Há que reconhecer que o acesso à justiça em matéria de direitos económicos ou sociais pode ser difícil. E que estes são mais difíceis de configurar que os civis e políticos, por dependerem dos contextos em que se inserem. Também não pode ser ignorado que pode haver limites na disponibilização de recursos para o conse‐
guir, se considerarmos realidades tão diferentes como a Etiópia, ou a Somália. Apesar disso, é conveniente esclarecer alguns mitos muito disseminados sobre os direitos económicos, sociais e culturais. Desde logo, que os direitos económicos, sociais e culturais (DESC) não sejam verdadeiros direitos, vinculativos para os Estados, mas apenas princípios, valores, ou enunciados ideológicos Não é verdade: eles já aparecem prefigurados nas Declarações fundadoras que citámos, tanto na americana53, como na Francesa54, países que também os formalizaram em legislação doméstica (vinculativa, portan‐
to), desde o século XVIII. Como também se referiu, o direito internacional já contemplava, ainda antes da Declaração Universal, preocupações de natureza social, nomeadamente através de Convenções da OIT, desde 1919, que mais tarde se alargaram a outros temas55. O Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, das Nações Unidas, já ratificado por 155 Estados56, responsabilizou‐os no cumprimento destes direitos. 53 que visa “the pursuit of happiness” 54 Inspirada nos valores da Liberté, Egalité, Fraternité 55 Entre outros, Convenção Internacional sobre o Estatuto dos Refugiados (1951); Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1968); Convenção pela Elimina‐
ção de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (1979); Convenção dos Direitos da Criança (1989); Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Traba‐
lhadores Migrantes e Suas Famílias (2003); 56 Um número maior do que os que ratificaram o Pacto dos Direitos Civis e Políticos (152) 52 Victor Nogueira O texto do Pacto compromete57 cada Estado a tomar medidas e a cooperar internacionalmente, técnica e economicamente, em função da capacidade máxima que os seus recursos o permitam, com o objectivo de conseguir, progressivamen‐
te, a realização dos direitos reconhecidos no Pacto, mediante todas as medidas apropriadas, incluindo medidas legislativas As implicações do reconhecimento destes direitos têm consequências práticas para os Estados, comprometendo‐os a protege‐los e respeitá‐los, bem como a inves‐
tigar e punir quem os viole ou deles abuse – incluindo actores não estatais, entida‐
des económicas, ou indivíduos. Para além destas questões genéricas, os Estados obrigam‐se também a fazer relatórios e a responder perante a comunidade interna‐
cional às questões que lhe sejam colocadas, relativamente às obrigações que assu‐
miram e cujos progressos devem ser acompanhados. Por exemplo: um Estado sobre o qual haja queixas de abusos em esquadras de polícia está obrigado a responder sobre a sua capacidade (e vontade) de investigar esses abusos, que punições foram realizadas, que melhoria no recrutamento, ou na formação dos agentes foi realizada, entre outros aspectos. Em alguns casos, como acontece na Europa, pode até autori‐
zar missões internacionais de fiscalização, sem aviso prévio. Perante a dificuldade em cumprir certos direitos (segurança social, educação, habitação, saúde, …) os Estados devem indicar os passos concretos que devam ser prosseguidos, definindo obrigações mínimas, obrigando‐se a dar a devida atenção aos mais vulneráveis, ou a não discriminar populações. As Nações Unidas também já indicaram peritos como relatores especiais para o direito à educação, saúde, alimentação, ou habitação, que reportam regularmente os progressos que se vão verificando nas suas áreas. Em certos casos, como os Objectivos do Milénio das Nações Unidas, existem também compromissos e cooperação dos países mais desenvolvidos nestes processos. Tomemos o exemplo do direito à saúde: a inacção governamental em matéria de direitos ambientais com impacte sobre a saúde já foi analisada e punida dife‐
rentes órgãos – o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou Itália por ausência de medidas contra a poluição industrial, com impacte na saúde, vida pri‐
vada e familiar da população; o Supremo Tribunal Indiano considerou que a ausência de medidas perante a degradação ambiental, violava o direito à vida, educação e saúde; a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos conde‐
nou a Nigéria por inacção na protecção da saúde, habitação e modos de vida do povo Ogoni, face aos permanentes desmandos da exploração petrolífera. Apesar do reconhecimento de situações dramáticas, há que ir mais longe, sendo necessária uma resposta global na sua abordagem. Veja‐se o caso das crian‐
ças, cuja Convenção Internacional dispõe de quase unânime reconhecimento internacional58 e cujo cumprimento é obrigatório, sem que medidas necessárias sejam tomadas nos países signatários, contra claras violações de direitos humanos: há cerca de 220 milhões de crianças trabalhadoras, das quais 180 milhões (1/8 das crianças do mundo) vivem situações perigosas de trabalho; destes, 73 milhões tem 57 Artigo 2(1) 58 A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada a 20 de Novembro de 1989, é o tratado internacional mais ratificado do mundo – com a excepção dos Estados Unidos e Somália As gerações» dos direitos humanos 53 menos de 10 anos de idade; 8,4 milhões vivem em situação de escravidão, ou explorados por redes de pornografia ou prostituição infantil59. As estatísticas, nou‐
tras áreas, são igualmente reveladoras60 As dificuldades enunciadas a respeito dos direitos de “3ª Geração” são seme‐
lhantes, com a circunstância agravante de terem menor reconhecimento normati‐
vo internacional (em matéria de Desenvolvimento Ambiental, ainda se está na fase das Declarações – de Estocolmo, do Rio, ou de Quioto), embora alguns países e organizações intergovernamentais tenham feito assinaláveis progressos nestes campos – como é o caso, entre outros, da sua integração na Constituição portu‐
guesa61, da Constituição espanhola62, da Carta Africana63 da Carta Americana de Direitos Humanos64, da OCDE, UE, entre outros. Menos reconhecidos, e ainda mais limitados a especialistas, são os chamados direitos de “4.ª geração”, sobre os riscos de aplicação de novos conhecimentos científicos, embora já tenham merecido desenvolvida atenção por parte do Conse‐
lho da Europa65, da UE66, ou da Unesco67, que identificaram algumas das implica‐
ções éticas e nos direitos humanos que deles decorrem68. E Agora? O mundo globalizado em que vivemos já não é o mesmo de há 60 anos. Os cinquenta Estados mundiais que existiam em 1948, deram origem aos 189 actuais. A população mundial mais que triplicou, dos 2200 milhões para os actuais 7000 milhões. Novas temáticas apareceram a merecer resposta como a protecção dos povos indígenas, dos grupos desfavorecidos ou vulneráveis (crianças, idosos, defi‐
cientes, seropositivos). A Declaração Universal é, necessariamente, um documento historicamente datado, que há que adaptar aos tempos actuais, incorporando e alargando novos direitos, em função das circunstâncias actuais. 59 O Pacto da OIT sobre as Consequências Nefastas do Trabalho Infantil (1999) também conside‐
ra “um assunto de urgência” a tomada de medidas contra este flagelo 60 115 milhões não vão à escola, 20 milhões sofrem de má nutrição severa, 13 milhões são órfãos de sida, 10 milões de crianças com menos de 5 anos morrem diariamente de enfermi‐
dades várias, a maioria das quais evitáveis. A Unicef tem ampla informação estatística sobre esta questão 61 CRP, Art.º 66 62 Art.º 45(1)) 63 Art.º 24 64 Art.º 11(1) do Protocolo San Salvador (1988) 65 A Convenção de Oviedo (1999), feita no quadro do Conselho da Europa, sobre a Protecção dos Direitos Humanos e a Dignidade do Ser Humano, foi assinada por 30 países e já ratificada por 10 66 A Carta dos Direitos Fundamentais contempla‐os 67 Veja‐se a Declaração Universal do Genoma Humano, aprovado pela Conferência Geral de Novembro de 1997, que estabelece limites a intervenções médicas e herança genética da humanidade em indivíduos; Declaração sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos (1998) e Protocolo Adicional da Unesco ao Pacto de Protecção dos Direitos Humanos e da Dignidade do Ser Humano 68 é o caso de discriminação genética, engenharia genética, direitos do genoma humano, etc. 54 Victor Nogueira Os direitos humanos deixaram ser uma protecção defensiva contra os abusos do Estado, passando a constituir um sistema internacional de protecção, respon‐
sabilização e punição de violações de crimes contra a humanidade, em que os Estados não são os actores exclusivos. Apesar de limitado, o movimento pelos direitos humanos tornou‐se um movimento social transformador, envolvendo milhões de pessoas por todo o mundo. Mas há muito que fazer: apesar dos pro‐
gressos conseguidos, grande parte da população mundial ainda está excluída: por exemplo, ainda não existe qualquer regime de protecção regional de direitos humanos na Ásia69, nem no Médio Oriente70. Apesar dos avanços conseguidos, a situação dos direitos humanos é difícil e mais uma vez a história tem mostrado como pode ser ilusória a crença num pro‐
gresso constante da Humanidade. O terrorismo apocalíptico e velhos conflitos nacionais, étnicos ou religiosos reapareceram, quando muitos esperariam paz e desenvolvimento. Em países democráticos reapareceram justificações para a tor‐
tura, em nome da segurança e a extrema‐direita cresce ao abrigo de temores xenófobos e racistas. O chamado “realismo” e o “pragmatismo” dos “nossos” governos levam‐nos a ignorar e a atirar para debaixo do tapete as violações de direitos humanos se envolverem grandes potências (como é o caso da China, ou da Rússia), enquanto os média diabolizam os grandes violadores, “amigos”, ou aliados de véspera (como Gadhafi, ou Saddam Hussein). Propõe‐se até que os órgãos de comunicação do Estado sejam controlados pelos responsáveis pelas relações externas do Estado, filtrando (censurando) informação para não incomodar acordos ou negócios com governos menos recomendáveis. Os direitos humanos não são propriedade dos Estados, governos, Igrejas. Per‐
tencem a todos. A melhor forma de impedir violações, é preveni‐las. E para isso, há que fortalecer o conhecimento dos direitos, exercitando a participação demo‐
crática de todos. A começar na escola. 69 Na Ásia, considera‐se não existir uma tradição histórica e de valores que o justifique. Mas, se for para negar a universalidade de direitos, lá aparecem os (inexistentes) “valores asiáticos” como álibi justificativo 70 Apesar de haver alterações positivas, como a recente posição a respeito de violações de direi‐
tos humanos pelo governo da Síria, a Liga Árabe, Associação mais antiga que as Nações Uni‐
das, muito dificilmente denuncia as violações dos países da região, excepto se cometidas nos territórios ocupados. Ver Boutros‐Ghali, Boutros, “A Liga dos Estados Árabes”, in [1978], (1983), As Dimensões Internacionais dos Direitos do Homem, Lisboa, Editora Portuguesa de Livros Técnicos e Científicos / UNESCO; HISTÓRIAS COM DIREITOS DENTRO Maria Encarnação Silva Escola Superior de Educação de Lisboa Resumo Neste artigo pretende‐se dar conta das possibilidades de utilização de obras de literatura de potencial receção infantil como contextos desencadeadores da reflexão em torno de direitos e deveres, propiciando às crianças oportunidades de interiorizarem valores que as ajudem a crescer respeitando o mundo e as pessoas à sua volta e exigindo dos outros o respeito que a elas também é devido. Em concreto, são apresentadas quatro sugestões de histórias que remetem direta ou indiretamente para a temática dos valores, bem como algumas ativida‐
des para a sua exploração. As atividades destinam‐se, preferencialmente, a crian‐
ças nos primeiros anos de escolaridade. Podem ser realizadas em contexto escolar e algumas delas também em contexto familiar. Os objetivos em vista são: i) apren‐
der a reconhecer e respeitar os direitos dos outros; ii) aprender a conhecer os seus direitos e a exigir que os mesmos sejam respeitados. 1. Introdução A escolha de textos para serem lidos na escola ou no jardim de infância acarre‐
ta para professores e educadores uma grande responsabilidade. Azevedo (2007, p. XIII), convocando Davis (1991), alerta para a “elevada atenção” que deve ser dada aos textos que selecionamos para partilhar com as crianças. Segundo o autor, os tex‐
tos devem ser “pessoalmente relevantes” e “semanticamente ricos”, apelando “à cooperação interpretativa do leitor” e sugerindo “múltiplos percursos de leitura” (Azevedo, 2007, p. XIII). Só textos com estas características possibilitam o desenvol‐
vimento de um espírito crítico e reflexivo fundamental na formação de cidadãos capazes de agir no mundo de forma a torná‐lo um lugar onde todos se sintam felizes. O texto programático dos Programas de Português do Ensino Básico (Reis (coord.), 2009) inclui, para todos os ciclos do ensino básico, uma secção intitulada Corpus Textual, que apresenta um conjunto de critérios a ter em conta na seleção de textos para os diferentes ciclos do ensino básico. De acordo com este docu‐
mento: “A qualidade dos conteúdos, estimulando a capacidade para despertar emoções, para obrigar a pensar e a refletir, para fazer sonhar, para divertir e aprender, deve aliar‐se à qualidade literária, linguística, de grafismo e de imagem.” ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2012, pp. 55-64.
56 Maria Encarnação Silva (Reis, 2009, p. 75) O cuidado na escolha dos textos é, portanto, uma preocupação que este documento normativo também põe em evidência. As obras de literatura para a infância, quando criteriosamente selecionadas, podem, pois, constituir‐se como contextos significativos para desencadear apren‐
dizagens em diferentes áreas. Apesar da liberdade que o universo ficcional confe‐
re, os textos literários recriam muitas vezes o universo real, possibilitando desco‐
bertas e aprendizagens de vida. As histórias ajudam a compreender o funcionamento do mundo e desenvolvem‐se em torno de conceitos organizado‐
res, conceitos‐chave que são centrais em todas as sociedades (Cooper, 2002). De acordo com Morais (1994), o convívio das crianças com as histórias (lidas, ouvidas, discutidas, partilhadas) contribui para o desenvolvimento da criança a diferentes níveis: cognitivo, linguístico71 e afetivo. A partir da leitura de histórias podem ser criadas oportunidades de trocas de pontos de vista, de perspetivas diferentes e de partilha de experiências que, sob a mediação do adulto, contribuam para o estabelecimento de regras sociais e para a aprendizagem de valores. De acordo com Oliveira (2007, p. 121), o trabalho peda‐
gógico à volta da literatura infantil deve permitir um levantamento de dilemas morais e não desencadear “lições de moral”. 1. Aprendendo valores com as histórias
As histórias que se apresentam de seguida veiculam valores que podem ser discutidos numa situação privilegiada de descentração e de disjunção, favorecen‐
do a resolução de conflitos e o levantamento de dilemas a partir da discussão em interação e das atividades que se propõem. Começar‐se‐á sempre pela leitura da história, seguindo‐se um debate a partir do levantamento das situações/conflitos que emergem da história. 1.1. Valéria e a vida: o direito de viver num planeta saudável
As questões que se prendem com a preservação do planeta e dos seres que nele vivem estão na ordem do dia. As crianças são a esperança de um mundo novo e melhor, pelo entusiasmo com que abraçam as boas causas e pelo papel que podem desempenhar na educação dos adultos com quem convivem diretamente. Valéria e a vida é o título de uma história da autoria de Sidónio Muralha e ilustrada por Inês de Oliveira. A primeira edição desta obra data de 1974, mas o seu conteúdo continua plenamente atual. Esta é a história de uma menina chamada Valéria que, ao passear num vale, descobre que o riacho onde brincava quando tinha cinco anos está cheio de cobre, zinco e chumbo. E as descobertas subsequentes vão sendo cada vez mais desagra‐
dáveis. Os peixes que vivem no rio e as plantas que são regadas com a sua água estão a ficar doentes. A chuva não os pode salvar porque vem do mar, que tam‐
bém está poluído... E, de descoberta em descoberta, Valéria percebe que a terra, a 71 Sobre o contributo do contacto com as histórias para o desenvolvimento linguístico das crian‐
ças, veja‐se Viana (2001). Histórias com direitos dentro 57 água, o ar e todos os seres que aí habitam estão doentes. Decide, então, lançar um alerta e enviar mensagens para todos os cantos da Terra para salvar a Natureza. Atividade 1: Ouvir ler a história Antes da leitura da história, apresenta‐se o livro. A partir da observação da capa e da leitura do título, pede‐se às crianças que antecipem possíveis conteúdos para a história. Algumas das questões que podem ser colocadas são: Quem será Valéria? O que está a fazer? O que estará escrito nas cartas? Para quem serão tantas cartas? Ainda antes da leitura, anuncia‐se que vão ouvir uma história sobre uma menina, Valéria, que vai passear junto de um rio e descobre que os homens não andam a tratar muito bem a Natureza. São também apresentados claramente às crianças os objetivos de escuta: i) enumerar as descobertas que Valéria fez sobre o estado da natureza; ii) descobrir qual a decisão tomada pela Valéria, e iii) confir‐
mar se as antecipações feitas anteriormente se aproximam ou afastam do conteú‐
do real da história. Após a audição da história, avaliam‐se os objetivos de escuta, discutindo com as crianças, e propõem‐se as atividades que se seguem. Atividade 2: Relações de causa efeito Compreender que todas as ações têm consequências, que o que acontece antes determina o que vai acontecer a seguir é importante para que as crianças percebam que as suas atitudes fazem diferença e que este princípio é válido para o bem e para o mal. Após discussão sobre o que acontece na história, refletindo sobre as consequências que as ações dos homens têm na saúde do planeta, pro‐
põe‐se o preenchimento de um quadro semelhante ao quadro abaixo. Esta tarefa pode ser realizada em grande grupo ou em pequenos grupos. No caso de se optar pelo trabalho em pequeno grupo, seguir‐se‐á um momento de apresentação e dis‐
cussão em grande grupo. Quadro 1: Relações de causa e efeito Ações Os homens permitem que o mercúrio, o cobre, o zinco e o chumbo sejam deitados no rio.
Os peixes bebem a água do rio. As plantas e as árvores são regadas com a água do rio. Os homens atiram garrafas para o oceano.
Os homens atiram cobre, zinco... para o mar
As chaminés das fábricas, os automóveis e os aviões atiram gases para o ar. Efeito
As águas do rio ficam poluídas.
Ficam doentes.
Ficam infelizes.
O oceano fica poluído.
Os recifes de coral são destruídos. O ar está poluído e falta oxigénio para a respi‐
ração das plantas, dos animais e do próprio homem.
Os caçadores enchem a natureza de chumbi‐ Os patos, os gansos e os marrecos comem o nhos. chumbo e ficam envenenados.
Os caçadores caçam aves envenenadas e Os caçadores também ficam envenenados. comem‐nas. Os homens derrubaram as florestas, queima‐ Os insetos morrem, as vacas dão leite envene‐
ram a vegetação e usaram herbicidas. nado e as crianças que bebem esse leite ficam doentes.
58 Maria Encarnação Silva Atividade 3: O mundo é a nossa casa, vamos limpá‐lo Na atividade anterior, as crianças perceberam que tudo o que se faz tem con‐
sequências e que às vezes essas consequências não são as melhores. Com a pre‐
sente atividade, pretende‐se que as crianças percebam que, fazendo as coisas cer‐
tas, se pode tornar o mundo melhor. As crianças são convidadas a realizar desenhos sobre as situações de poluição descritas pela Valéria. Cada criança desenha uma situação e faz a legenda do seu trabalho ou pede ao professor ou educador que a faça. De seguida, cada criança apresenta o seu trabalho e discute‐se que atitudes poderiam ser tomadas para melhorar a situação. Por fim, imaginam e desenham como ficariam as coisas depois de serem tomadas as medidas que discutiram anteriormente. Organizam, depois, um grande painel onde expõem os trabalhos, recorrendo a três colunas: Quadro 2: O mundo é a nossa casa, vamos limpá‐lo O que está mal O que podemos fazer para melhorar a O mundo que nós quere‐
situação mos Colar os desenhos Registo, feito pelas crianças ou pelo Colar os desenhos. legendados. adulto, das propostas que se podem implementar para tornar o mundo melhor. Atividade 4: Todos juntos é mais fácil Propõe‐se às crianças que sigam o exemplo da Valéria e escrevam cartas para distribuir pelos meninos e meninas da escola ou jardim de infância a pedir‐lhes que ajudem a manter o mundo limpo e explicando o que podem fazer para isso. No 1º. Ciclo, as crianças utilizam a escrita, no jardim de infância podem recorrer ao desenho. Atividade 5: Aprender a viver melhor Todas as crianças devem refletir sobre coisas simples que podem fazer, a par‐
tir de agora, para manter o planeta mais saudável. Escrevem essas decisões numa tira de papel e comprometem‐se a cumprir a decisão tomada. As tiras são assina‐
das e coladas num cartaz. Periodicamente, o cartaz deve ser relido e as crianças devem relatar se têm ou não cumprido a sua promessa. Este movimento pode ser estendido às famílias, convidando‐as para ver o painel da atividade anterior e explicando‐lhes que também devem ajudar a salvar o planeta. 1.2 Sabes que também podes ralhar com os teus pais: o direito a fazer-se
ouvir
Usar a palavra para fazer valer os nossos direitos, ou para resolver situações com as quais não se concorda, é uma aprendizagem de vida importante. Histórias com direitos dentro 59 O texto cuja leitura se sugere é particularmente indicado para crianças mais jovens e intitula‐se Sabes que também podes ralhar com os teus pais?. É da autoria de Maria Inês de Almeida e ilustrado por Paulo Galindro. Trata‐se de um álbum profusamente ilustrado e com muito pouco texto, desempenhando a ilustração um papel fundamental. Apresenta imagens de página inteira, retratando comportamentos menos corretos por parte dos pais, sendo a outra página ocupada por uma legenda. Ao longo do livro vão sendo apresentadas situações em que os pais descuram um pouco o seu papel de pais. A coerência do texto constrói‐se a partir da pergunta‐título que se constitui como enunciado de abertura do texto: “Sabes que também podes ralhar com os teus pais?” Segue‐se um conjunto de enunciados, um em cada página, sempre introduzi‐
dos pelo marcador temporal quando, seguido da explicitação de uma situação em que supostamente é permitido ralhar com os pais. O livro fecha com uma pergunta final aos leitores, inquirindo‐os sobre se já sabem quando é que podem ralhar com os pais. Os recursos gráficos são muito bem utilizados para ajudar a construir sentido. A palavra RALHAR aparece destacada no título através de: maiúsculas, cor verme‐
lha, sublinhado e utilização de um R inicial desenhado com um traço mais grosso. Junto das palavras podes e ralhar, aparecem salpicos de tinta preta, como que a chamar a atenção para o facto inusitado de as crianças também poderem ralhar com os pais. O grafismo da palavra ralhar ajuda a corroborar a ideia de proibido e permitido ao mesmo tempo. Percebe‐se que a pergunta do título é dirigida às crianças, através da ilustração da capa. A estranheza causada pela pergunta‐título é esbatida ao longo do texto atra‐
vés da pertinência das situações apresentadas, que justificam que as crianças, às vezes, possam ralhar com os pais. A pergunta final esclarece que só se pode ralhar quando... temos razão para isso. Atividade 1: Ouvir ler a história Antes da leitura, realiza‐se uma discussão centrada na observação da capa. Faz‐se uma viagem da capa à contracapa. Colocam‐se questões sobre as situações retratadas na capa e na contracapa. Discute‐se sobre a pergunta do título. Pede‐se às crianças que respondam a essa pergunta e discute‐se em que situações acham que podem ralhar com os pais. Apresenta‐se o objetivo de escuta: “Vão ouvir ler a história para descobrir em que situações se pode ralhar com os pais”. Após a leitura, deverão ser mostradas as imagens e discutidas com as crianças as situações nelas recriadas. Atividade 2: A falar é que a gente se entende Depois de lido o álbum e observadas as imagens, desencadeia‐se uma discus‐
são a propósito das situações apresentadas no álbum. As crianças imaginam como 60 Maria Encarnação Silva lidariam com as situações apresentadas e que argumentos poderiam utilizar para convencer os pais referidos na história a mudar de atitude. No caso das crianças mais crescidas, pode ser feito um registo semelhante ao proposto no quadro abaixo. Propõe‐se às crianças que ajudem os meninos da história a convencer os pais a mudar de atitude. A discussão é centrada no contexto da história, permitindo algum distanciamento da realidade ao mesmo tempo que se ensina a lidar com ela. Quadro 3: Pai, mãe, ouçam o que tenho para dizer Não gosto quando os meus Falo com eles e digo‐lhes que... Espero que ... pais... – compreendam que tenho Acham que não tenho que ter – ainda sou pequenino(a); medo do escuro. – penso que os monstros estão mesmo medo; (nome da criança) no armário ou debaixo da – me ajudem a vencer o medo. cama e só aparecem quando está escuro; – não percebo a origem dos barulhos; – preciso de uma luz acesa; – quero que fiquem junto de mim um bocadinho. ... ... ... Atividade 3: Brincar ao faz de conta Propõe‐se às crianças uma atividade de simulação a pares. Cada par escolhe uma das situações apresentadas no livro e um elemento faz o papel de filho e outro faz o papel de pai ou mãe. Preparam‐se com a ajuda do adulto e depois fazem uma apresentação ao grande grupo. À medida que cada par finaliza a sua apresentação, o adulto vai colocando questões: – Acham que X podia dizer mais alguma coisa? – Parece‐vos que Y utilizou os argumentos certos para convencer o pai/mãe a mudar? 1.2. Orelhas de borboleta: o direito à diferença
No universo infantil deparam‐se‐nos muitas vezes situações em que as crian‐
ças revelam dificuldade em aceitar que os outros sejam diferentes, seja na forma de vestir, seja na forma de estar ou ser. Aprender a respeitar e a aceitar o outro na sua individualidade é um passo importante na construção de uma personalidade saudável. Por outro lado, as crianças que se sentem diferentes, ou que são olhadas como diferentes também têm dificuldade em lidar com essa situação. Orelhas de borboleta é uma história da autoria de Luísa Aguilar com ilustra‐
ções de André Neves. É a história da Mara, uma menina que se veste de forma um pouco diferente e se comporta de forma pouco usual. É alvo de chacota por parte de outras crianças, mas é muito amada pela sua mãe. Lida muito bem com os comentários desagradáveis dos colegas, tendo sempre uma resposta pronta e à altura da situação. Histórias com direitos dentro 61 No início, Mara aconselha‐se com a mãe para saber se é orelhuda e fica encantada por descobrir que não é nada orelhuda, tem é orelhas de borboleta. No final da história, quando todos voltam a chamá‐la de orelhuda, Mara já se aceitou tal como é e responde que tem orelhas grandes mas não se importa. Atividade 1: Ouvir ler a história Antes da leitura, observa‐se a capa do livro e discute‐se a partir do título. Indica‐se o objetivo de escuta: “Vão ouvir ler a história para ficarem a saber como é a menina desta história. Depois de ouvirem ler a história, vão desenhar essa menina tal como a imagi‐
nam.” Ao longo da leitura, as crianças podem ser convidadas a participar, repetindo em coro as falas dos colegas da Mara. Desta forma, tornam‐se ouvintes participan‐
tes e há um envolvimento maior das crianças. Após a leitura, desenham a Mara tal como a imaginam. Em seguida, apresen‐
tam os desenhos e discutem sobre o que está de acordo com a história e o que não está. Por último, observam as imagens da história, retomam os desenhos e podem melhorá‐los com a informação nova obtida através das imagens. Atividade 2: Sou como sou Depois de ouvirem ler a história e de discutirem sobre a atitude dos colegas da Mara e sobre o que diriam/fariam se pertencessem ao grupo dos colegas da Mara, as crianças relembram a informação da história, organizando‐a de acordo com o exemplo dos quadros abaixo. Quadro 4: Quem diz o quê na história Situação O que dizem os outros A Mara tem o cabelo A Mara tem cabelo de espetado. palha de aço. ... ... Resposta da Mara Não! Não! O meu cabelo é como relva recém‐cortada. ... Quadro 5: Se eu entrasse na história diria uma palavra simpática à Mara Situação O que diriam à Mara se fos‐ O que responderiam se estives‐
sem os colegas dela sem no lugar da Mara A Mara tem um buraco na ... .... meia ... ... ... Depois da discussão e dos registos, propõe‐se às crianças que façam uma dramatização da história, substituindo as falas da história pelas falas registadas no quadro anterior. Deverá haver um momento de treino e depois apresentarão a dramatização a outra turma. 62 Maria Encarnação Silva Atividade 3: Somos todos diferentes Solicita‐se às crianças que falem um pouco de si próprias e elabora‐se um registo dessa informação, de acordo com o quadro 6. Primeiro, registam‐se os dados da Mara e depois registam‐se os dados de todas crianças do grupo. Este registo pode ser escrito pelo adulto ou pelas crianças. No caso de crianças mais jovens, poderá recorrer‐se a um registo de natureza icónica. Quadro 6: Somos todos diferentes Nome Altura Cabelo Olhos Mara é alta João ... Roupa Gostos Qualidades Uma coisa que sei fazer bem cabelo grandes vestido andar sem alegre, bem subir às árvo‐
escuro e escuros aos qua‐ mochila, nem disposta res drados carteira; brancos e ler livros usa‐
vermelhos dos ... ... ... ... ... ... Depois de elaborado o registo, deverão tirar‐se conclusões, que vão no senti‐
do de que todos somos diferentes porque temos cabelo diferente, roupa diferen‐
te, gostos diferentes qualidades diferentes e sabemos fazer coisas diferentes. Ser diferente é bom porque podemos aprender uns com os outros. Atividade 4: O jogo da simpatia: aprender a aceitar os outros Propõe‐se às crianças que pensem em palavras simpáticas que possam dizer umas às outras de forma a valorizarem o que cada uma tem de diferente. Cada criança escolhe um colega e pensa numa frase para lhe dizer. Depois, a um sinal combinado, começam a circular na sala, sempre com um sorriso, até ouvirem de novo o sinal combinado. Então, devem parar todos e cada criança procura o colega que quer elogiar e oferece‐lhe as palavras bonitas que escolheu. 1.3. Nadadorzinho: o direito à entreajuda
Juntar esforços para conseguir atingir um determinado objetivo comum e saber organizar‐se dentro de um grupo para se ser mais eficaz e enfrentar os mais fortes sem medo são estratégias importantes para sobreviver na sociedade atual. É securizante saber que, se nos entreajudarmos, conseguimos resolver situações que sozinhos não conseguiríamos. A história Nadadorzinho, com texto e ilustração de Leo Lionni, conta as aven‐
turas de um peixinho preto como a casca de um mexilhão e dos seus muitos irmãos e irmãs que são todos vermelhos. Um dia é preciso enfrentar um atum, feroz e muito esfomeado, mas os peixinhos vermelhos têm medo. É então que o peixinho preto tem uma ideia brilhante: todos juntos e bem organizados agrupam‐
‐se de forma a parecerem um enorme peixe vermelho com um olhinho preto. Assim conseguem enfrentar o peixe grande e voltar a viver sem medo. Histórias com direitos dentro 63 Atividade 1: Ouvir ler a história Antes de ouvir ler a história, discute‐se com as crianças sobre quem será e como será o Nadadorzinho, a partir do título e da observação da capa. Explica‐se claramente o objetivo de escuta: “Vamos ouvir ler a história para descobrir qual é o problema que o Nadadorzi‐
nho tem de resolver e qual a solução que ele encontra”. A história deve ser lida até ao momento em que o Nadadorzinho se pôs a pen‐
sar para tentar encontrar uma solução para o dilema da história e neste momento pede‐se às crianças que proponham soluções para a resolução da situação. Após a leitura, verifica‐se se as crianças conseguem cumprir os objetivos de escuta. Discute‐se sobre a solução encontrada pelo Nadadorzinho para ajudar os outros peixinhos e vencer o peixe grande, pondo‐se em destaque a importância da organização para obter bons resultados nas tarefas. Atividade 2: Sozinho consigo... Nesta atividade, discute‐se com as crianças sobre tarefas que conseguem rea‐
lizar sozinhas. Distribui‐se um cartão a cada criança para que cada uma desenhe uma tarefa que consegue fazer sozinha. Legendam‐se as imagens, colam‐se num painel e expõe‐se o trabalho. Atividade 3: Coisas que eu gostava de fazer e não consigo fazer sozinho Pede‐se às crianças que pensem em coisas que gostariam de fazer e que não conseguem fazer sozinhas. Organiza‐se um registo com as intervenções das crian‐
ças, de acordo com o exemplo abaixo. Quadro 7: Quem me pode ajudar? Nomes das crianças João O que eu gostava de Quem me pode Como fazer ajudar um bolo para oferecer a minha avó ensinando‐me a partir os à minha mãe ovos e a ligar o forno, porque são coisas que eu não sou capaz de fazer sozinho Atividade 4: É bom cooperar uns com os outros Distribui‐se às crianças um modelo de um peixinho. Cada criança contorna e recorta peixinhos vermelhos. Em seguida, organizam‐se todos os peixinhos de forma a reconstituírem um peixe grande semelhante ao que é referido na história. Valoriza‐se o trabalho das crianças, fazendo‐as sentir que, quando se trabalha em equipa, é possível fazer trabalhos muito bonitos. Atividade 5: Aprender a cooperar Elabora‐se com as crianças uma lista de tarefas que possam realizar ao longo do ano e que exijam a cooperação entre todos. Faz‐se um mapa dessas tarefas e, 64 Maria Encarnação Silva ao longo do tempo, deve ir‐se monitorizando o cumprimento das mesmas. Apre‐
senta‐se abaixo um exemplo de mapa. Quadro 8: Mapa de tarefas Tarefas Limpar e embelezar o recinto do recreio ... Calendarização Ao longo da semana do ambiente ... Conclusão Por falta de espaço, impõe‐se uma conclusão muito breve. Selecionaram‐se histórias em que os heróis são de idade aproximada à dos destinatários para que os ouvintes estabeleçam rapidamente relações de empatia e se sintam envolvidos nas situações retratadas. Procurou‐se que cada história desse sempre origem a debate, partilha de experiências e procura de soluções. Houve ainda a preocupa‐
ção de incluir atividades que implicassem a criação de hábitos. Vejam‐se os exem‐
plos: atividade 5 em 2.1 e atividade 5 em 2.4. Não basta a realização de uma ativi‐
dade pontual, por muito significativa que a mesma seja, para se aprender a ser cidadãos de pleno direito. Referências bibliográficas Aguilar, L. (2009). Orelhas de borboleta. Matosinhos: Edições Kalandraka. Almeida, M. I. (2011). Sabes que também podes RALHAR com os teus pais?. Portela: Booksmile. Azevedo, F. (2007). Nota de Abertura. In F. Azevedo (coord,). Formar Leitores – das Teorias às Práticas (pp. XIII‐XVI). Lisboa: Lidel. Cooper, H. (2002). Didáctica de la História en la Educación Infantil y Primaria. Madrid: Ediciones Morales, S. L. Lionni, L. (2007). Nadadorzinho. Lisboa: Kalandraka. Morais, J. (1994). L’Art de Lire. Paris: Editions Odile Jacob. Muralha, S. (2004). Valéria e a Vida. Vila Nova de Gaia: Edições Gailivro. Oliveira, A. (2007). Literatura Infantil: o trabalho com o processo de construção de valores morais, na educação infantil. EDUCAÇÃO: Teoria e Prática – v.16, nº. 28 (pp. 101‐121). Consultado em 22 de setembro de 2011 através de http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp. br/index.php/educacao/article/vie
wFile/765/697. Reis, C. (coord). Programas de Português para o Ensino Básico. Consultado em 29 de março de 2009 através de http://www.dgidc.min‐edu.pt. Viana, F. L. (2001). Melhor Falar Para Melhor Ler. Centro de Estudos da Criança: Universidade do Minho. O PAPEL DO INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA (IAC) NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA EM PORTUGAL72 Maria João Malho Técnica no Instituto de Apoio à Criança (IAC) e doutoranda em Estudos da Criança, Universidade do Minho Este texto resume o que procurei transmitir sobre o IAC no encontro da vossa escola: a razão de ser da sua criação, o pioneirismo da existência de uma institui‐
ção privada preocupada com a divulgação, promoção e defesa dos direitos das crianças e algumas atividades que realiza. O registo notarial correspondente à criação do IAC tem o nº 88990 e a apro‐
vação dos seus estatutos aconteceu a 25 de Fevereiro de 1983, através do Decre‐
to‐Lei nº 119/83. A data oficial da sua criação é 14 de Março de 1983 e em 1999 passamos a ser considerados como uma instituição de superior interesse social pelo nº 3, do art.º 1 do Decreto‐Lei 74/99 de 16 de Março. Foram seus sócios fundadores personalidades de diferentes áreas do saber e de intervenção social da sociedade portuguesa. Destacamos alguns deles: o seu sócio nº 1 João dos Santos, Manuela Eanes, Lourdes Levy, Eduarda Ramirez, Antó‐
nio Torrado, Matilde Rosa Araújo, Maria Lúcia Namorado, Jacinto Magalhães, Sara Cardigos, Sérgio Niza, Maria José Lobo Fernandes, Ana Vieira de Almeida, Joana de Barros Baptista, Armando Leandro, Violante Vieira, António Gentil Martins, Emílio Salgueiro, Cecília Menano, Zoé Santos, José Ramos de Almeida, Natália Pais, Maria Alberta Menères, Alfredo Bruto da Costa… Também houve artistas que à época colaboraram voluntariamente com o IAC, por exemplo, o logótipo foi idealizado pelo Professor Lima de Freitas. Para uma melhor compreensão do porquê da criação do IAC e da sua impor‐
tância na sociedade portuguesa refiro, muito sucintamente, alguns pontos que ajudam a compreender o pioneirismo desta instituição na defesa e efectivação dos direitos da Criança, criança entendida como como sujeito de direito. Alguma cronologia sobre história e aparecimento dos direitos das crianças: 1919 a Sociedade das Nações (SN) ou a Liga das Nações (LN) – organização interna‐
cional criada após a primeira Grande Guerra, antecessora da actual ONU, criou o Comité de Protecção da Infância em que se aborda o direito à protecção da criança. 72 Muitas das referências que surgem neste texto constam de documentos internos do IAC a partir dos quais me foi possível escrever assumindo total responsabilidade por qualquer falha que exista. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2012, pp. 65-73. 66 Maria João Malho Em Maio de 1919 duas irmãs inglesas – Eglantyne Jebb e Dorothy Buxton criam em Londres a organização, que ainda hoje existe, Save the Children, cujo grande objectivo é a melhoria das condições de vida das crianças em qualquer par‐
te do mundo. A razão de ser da sua criação prende‐se, segundo as fundadoras com as consequências nefastas na vida das crianças e das famílias decorrentes da pri‐
meira Grande Guerra Mundial e da Revolução Russa. Anos mais tarde, em 1923 a mesma Eglantyne Jebb apresenta, em conjunto, com a União Internacional de Auxílio à Criança, a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, conhecida por Declaração de Genebra e em 1924 é adoptada pela Sociedade das Nações, que foi antecessora da ONU. Esta Declaração virá a ser a base do texto que mais tarde foi designado por Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) em 1989. Mas voltemos um pouco mais atrás para referir que a 20 de Novembro de 1959 em reunião da Assembleia da Organização das Nações Unidas é aprovada a Declaração Universal dos Direitos da Criança, organizada em 10 princípios que foram considerados fundamentais: 1 – Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade; 2 – Direito à protecção para o desenvolvimento físico, mental e social; 3 – Direito a um nome e a uma nacionalidade; 4 – Direito à alimentação, habitação e assistência médica adequada para a criança e a mãe; 5 – Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física e/ou men‐
talmente deficiente; 6 – Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade em geral; 7 – Direito à educação gratuita e ao brincar; 8 – Direito a ser primeiramente socorrida, em caso de catástrofes; 9 – Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração; 10 – Direito a crescer em ambientes de amizade, compreensão, tolerância, solidariedade e justiça entre povos. Foi decidido que a monitorização e verificação do cumprimento daqueles princípios passaria a caber à UNICEF (Fundo das Nações Unidas para as Crianças). Este organismo foi criado a 11 de Dezembro de 1946 funcionou como um fundo de emergência com o objectivo inicial de ajudar as crianças que viviam na Europa e que tinham sofrido com as consequências da Segunda Guerra Mundial. Posterior‐
mente em 1953 a UNICEF torna‐se numa instituição permanente de intervenção à escala mundial. Voltando à cronologia do discurso internacional e cruzando com o nacional, a data de 1924 corresponde à adopção da Declaração de Genebra pela Sociedade das Nações. Em 1934, e pela segunda vez, a Sociedade das Nações aprova a Declaração de Genebra. Em 1948 a Assembleia das Nações Unidas proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estando incluídos neste documento os direitos e liberdades das crianças e dos jovens. O papel do Instituto de Apoio à Criança (IAC) 67 Em 1959 é adoptada por unanimidade a Declaração Universal dos Direitos da Criança (não sendo de cumprimento obrigatório). A 21 de Dezembro de 1976 (2 anos após o 25 de Abril, marco histórico portu‐
guês para o início da democracia como agora a vivemos) a Assembleia das Nações Unidas decidiu celebrar o 20º aniversário da Declaração dos Direitos da Criança (1959) proclamando o ano de 1979 como o Ano Internacional da Criança (AIC) O director executivo da Unicef, à época, Henry Labouisse, propôs que os vários governos dos países com assento na ONU colaborassem activamente atra‐
vés de conferências, grupos de trabalho… que analisassem as condições de vida das crianças no mundo (mortes prematuras, fome, analfabetismo, trabalho infan‐
til, órfãos de guerra…). Assim, Portugal já como membro da ONU passou a ter também a incumbência de fazer algo em prol das crianças. Parece não ter sido rápida essa acção pois a 26 de Julho Dulce Rebelo escreveu no suplemento do jornal O Diário um texto com o título Em Portugal a Infância não é Felicidade. De que destaco a seguinte passagem. Portugal foi um dos que aderiu na altura, não tendo todavia feito o menor esforço para alterar a situação das crianças que vinham ao mundo em estrumei‐
ras, nos caminhos, sem assistência médica ou de enfermagem, que viviam em miseráveis condições, sem um tecto, uma habitação com o mínimo de conforto ou de higiene, que brincavam na rua por as mães não terem onde as eixar durante o seu trabalho, que aprendiam a sobreviver mediante os mais variados expedientes, na idade em que deviam frequentar a escola. O governo português criou por despacho ministerial a Comissão Nacional para o Ano Internacional da Criança (CNAIC) presidida pela presidente da Comis‐
são da Condição Feminina, Maria do Carmo Romão Sacadura dos Santos. Esta comissão para as comemorações do AIC era composta por representantes de vários organismos oficiais: Ministério dos Assuntos Sociais – Carolina Tito de Morais; Ministério da Educação e Ciência – Ana Maria Guardiola; MFP – João dos Santos; Ministério da Justiça – Maria Manuela Lopes; Ministério dos Negócios Estrangeiros – Isabel Pádua; Secretaria de Estado da Cultura – Teresa Santa Clara Gomes; Secretaria de Estado da Comunicação Social – Olinda Santos. Foram tam‐
bém nomeados como “dinamizadores” Armando Gomes Leandro, Domingos Morais, João Seabra Diniz, José Barata Moura, José Ramos de Almeida, Maria Helena Correia Guedes, Maria João Ataíde e Matilde Rosa Araújo. Esta comissão elaborou um programa de acção para as comemorações do AIC de que se salienta, por exemplo, o compromisso da publicação mensal de um Boletim com o título Criança ANO INTERNACIONAL (cujo preço era de 3 escudos) em que se abordavam várias temáticas relacionadas com os 10 princípios (orienta‐
dores) dos direitos da criança apelando à participação de “(…) todos os grupos e entidades que desejem participar activamente naquilo que se pretende: um gran‐
de movimento em defesa das crianças (…)”. Como exemplo do que então se publi‐
cava retiro duas frases do Boletim nº 2 de Dezembro de 1978 em que, relativa‐
mente à participação da criança, se refere “Julgamos todos que o Ano Internacional da Criança, para além de outras acções, deve encontrar a Criança Portuguesa.” E, mais adiante se escreve “É este respeito pela criança como pessoa que nos importa alertar – e o respeito necessita conhecimento.” 68 Maria João Malho Durante todo o ano de 1978 (ano de preparação do AIC) realizaram‐se reu‐
niões no edifício da Comissão da Condição Feminina com o objectivo de discutir, de forma alargada, o que fazer, como fazer, como levar a população a participar, como dar visibilidade sobre a vida das crianças portuguesas. De entre o grupo de técnicos que periodicamente eram chamados a participar saliento Seabra Diniz, Domingos Morais, João dos Santos, Orlando Monteiro, Manuel Abecassis, Judite Marçal Grilo, José Barata Moura, José Ramos de Almeida, Armando Gomes Lean‐
dro, Carolina Tito de Morais, Maria João Ataíde, Eduardo Serra, Sara Cardigos e Ana Guardiola. Todos estes cidadãos irão mais tarde desempenhar um papel importante na formação do Instituto de Apoio à Criança, IAC. Em 1979 celebra‐se o Ano Internacional da Criança (AIC); a sua proclamação é assinada a 1 de Janeiro pelo Secretário‐Geral das Nações Unidas, Kurt Waldheim, tendo tido lugar a 9 de Janeiro o concerto Music for Unicef para dar início oficial às diversas acções do AIC. No documento português em que se fazia apelo à participação de todos, (como já referido), pedia‐se à comunicação social o contributo da sua participação activa. Assim, o suplemento de 28 de Abril de 1979 do Jornal Expresso publica vários textos de individualidades portuguesas – que vieram a ser em 1983 sócios fundadores do IAC – de que saliento pela sua actualidade, apesar de terem passa‐
do 22 anos, o texto com o título “Principais problemas da intervenção dos Tribu‐
nais de Menores na protecção à criança” do Juíz Conselheiro Armando Leandro, de que destaco uma pequena passagem “Melhorar a realidade existente implica, em primeiro lugar, que essa realidade seja conhecida. (…) E a indispensável acção comunitária, para se concretizar, importa o apelo à iniciativa dos cidadãos e ao apoio dos responsáveis por uma política integrada da infância, que não deverá subalternizar‐se nunca a outras políticas (…)”. Ainda no mesmo suplemento do Jornal Expresso, o médico pediatra Manuel Abecassis escreveu “Não morrer de morte fútil…” em que aborda as questões da saú‐
de infantil ou melhor, da falta dela (relembro que nessa época Portugal tinha altas taxas de mortalidade infantil) propondo melhorias de que destaco uma como “(…) a presença de equipas de saúde imaginosas e dinâmicas, a colaboração das comunida‐
des em que se insiram e um equipamento mínimo em meios de tratamento.” Maria Manuela Correia de Jesus escreveu “A criança e a Cultura” em que salienta sobretudo aquilo que à época se ía fazendo de bom pelo país, mas que pela sua actualidade me atrevo a referir em excerto “(…) ainda existe no nosso país todo um manancial de possibilidades por explorar. Refiro‐me aos espaços abertos, a todo o terreno onde as crianças de outrora se perdiam em aventuras infindas e que hoje parece estar‐lhes completamente vedado. Ou será que, longe da capital, ainda há miúdos que conhecem pássaros pelo nome e sabem distinguir cogumelos venenosos?” Há que salientar também o texto da educadora de infância Maria João Ataíde com o título “Os primeiros anos de vida são fundamentais” de que refiro “(…) o Ano deve ser aproveitado para uma mobilização de recursos, interesses e esforços, (…), sem demagogia e evitando as actividades de fachada, pois as crianças mere‐
cem pelo menos o nosso respeito”. Mais adiante escreve “Não houve nem há entre nós uma política de infância, embora a infância sirva ocasionalmente a polí‐
tica ou as políticas de alguns.” No final do artigo conclui “Há muitos pais que gos‐
O papel do Instituto de Apoio à Criança (IAC) 69 tariam de debater temas relacionados com o desenvolvimento e educação dos filhos; os meios de comunicação poderiam aqui colaborar (…)” Um outro texto intitulado “Uma pedagogia de vida que não ignore a criança como pessoa total” (publicado no mesmo suplemento) escrito por Matilde Rosa Araújo, afirma “Ouvir a criança é saber que um Ano Internacional não vai tornar a ser necessário daqui a uns anos por insólito e escusado: que ânsia de paz, de justi‐
ça, de amor ela expressa com tanta nitidez e força!”. Que bom seria se assim tivesse acontecido. Após o ano de 1979, às pessoas que já se interessavam por estas matérias, juntaram‐se outras que continuaram a discutir o que fazer, como organizar uma entidade que defendesse os direitos das crianças (tal como estão consignados na carta da ONU). A dada altura muitos destes momentos de discussão e reflexão tiveram o apoio da esposa do Presidente da República (da época), Manuela Rama‐
lho Eanes que desde o primeiro momento acolheu e incentivou esta iniciativa e a vontade de se criar um Instituto da Criança. Podemos afirmar que a vontade de se criar um Instituto da Criança resultava das condições socioeconómicas, culturais e políticas que se viviam em Portugal e da consciência de se saber ser possível con‐
gregar vários saberes, ideias e vontades em promover os direitos das crianças. Voltando à cronologia dos direitos das crianças é curioso saber que no verão de 1974 o então ministro dos Assuntos Sociais convidou várias personalidades a realizarem um trabalho sobre as condições da saúde materno‐infantil, e que, con‐
forme João dos Santos refere, foi nesse “(…) estudo realizado sobre a Protecção Materno‐Infantil, que surgiu, no grupo de trabalho, a ideia dum Instituto da Crian‐
ça. Seria este um organismo não estatal, destinado essencialmente a promover o estudo da evolução infantil no contexto duma organização familiar e social em constante transformação.” (1982: 12) este estudo baseou‐se num princípio de que “(…) a unidade mãe‐filho, apoiada pela figura paterna, devia ser o ponto de parti‐
da” (ibidem: 39). Ainda segundo o mesmo autor “(…) o Instituto (…) não devia ser um organismo centralizador de serviços já existentes, mas uma instituição de defesa dos Direitos da Criança” (ibidem: 32, 33). Após o trabalho realizado o mes‐
mo foi apresentado ao Ministério dos Assuntos Sociais que não aceitou a proposta da criação do tal instituto, ao que Alice Gentil Martins (fazia parte deste grupo de trabalho) perante a desaprovação afirmou, segundo João dos Santos, “Se o Institu‐
to da criança é uma utopia, estamos no bom caminho” (ibidem: 33). Esta é a minha descrição de factos, que decorrem do meu conhecimento, sobre a criação e razão de ser do IAC. E assim, e como referido no início deste texto o seu registo notarial teve lugar, realizando‐se logo a 23 de Maio de 1983 a primeira reunião do Conselho Coordenador, constituído por 9 membros: Manuela Eanes, Natália Pais, Ana Maria Bénard da Costa, Pedro Loff, Joaquim Bairrão Ruivo, Torrado da Silva, Manuela Aguiar, Eduarda Ramirez e Aurora Fonseca. Nesta reunião elege‐se o Presidente (Manuela Eanes) e o Secretário‐Geral (Eduarda Ramirez), assim como o Presidente do Conselho Técnico (João dos Santos). Nesta mesma reunião decidiu‐se fazer a inauguração da sede do IAC a 1 de Junho – dia internacional da criança e que a mesma funcionaria em instalações cedidas por empréstimo pela Fundação Calous‐
te Gulbenkian (FCG), na Av. de Berna, 56 – 3ª (edifício que entretanto foi demoli‐
do, existindo hoje no local um outro). 70 Maria João Malho Desde o primeiro momento o IAC sempre se assumiu como a entidade defen‐
sora dos direitos das crianças e sempre defendeu os seus direitos junto de várias entidades, instituições e comunidade em geral. Felizmente há neste momento outras entidades, serviços, etc., que lutam pelos mesmos objectivos; todavia o país ainda não conseguiu que em termos políticos se criassem condições para que hou‐
vesse uma política global para a infância – daí ainda ser tão actual “A caminho de uma utopia… um Instituto da Criança”. No ano da criação do IAC – 1983, várias Organizações Não Governamentais (ONG’s) organizam‐se para elaborar uma Convenção Internacional sobre os Direi‐
tos da Criança para que passe a funcionar como um organismo de consulta junto da ONU. A 20 de Novembro de 1989 e pela Resolução nº 44/25 da Assembleia Geral da Nações Unidas abre‐se o período para a assinatura da CDC que só não foi ratificada pela Somália e pelos Estados Unidos da América. Portugal ratificou este documento a 26 de Janeiro de 1990 e o mesmo entrou em vigor na ordem jurídica portuguesa a 21 de Outubro do mesmo ano porque por força do Art. 8º da Constituição da Repú‐
blica Portuguesa as normas de documentos internacionais devidamente ratificadas por Portugal, passam a ser consideradas direito interno português. Considero pioneiras em Portugal algumas acções do IAC, a saber: – Em 1984 o IAC organiza o seminário “A Criança em Portugal: que Direitos?” na FCG onde pela primeira vez se aborda publicamente as questões relacio‐
nadas com a violência contra a criança. – Em Dezembro de 1987 tem lugar na Bélgica, na cidade de Ghent o 1º Con‐
gresso Internacional sobre Ombudswork for Children (provedor da criança) onde o IAC esteve presente em representação de Portugal. Voltou a estar presente no 2º congresso sobre a mesma temática que teve lugar em Amesterdão, na Holanda em 1990. – Em 1988 o IAC publica o seu primeiro boletim (Janeiro / Fevereiro) em que no editorial Manuela Eanes escreve “Concretizamos hoje um sonho de há muito: a publicação do boletim do IAC, através do qual pretendemos criar mais laços entre todos que querem para as nossas Crianças condições de vida com mais alegria e dignidade.” – Ainda em 1988 faz‐se o lançamento da publicação editada pelo IAC Cres‐
cendo e Aparecendo que teve eco na comunicação social. Este lançamento teve lugar no Centro de Paralisia Cerebral, em Lisboa, a 18 de Abril e consti‐
tui uma homenagem póstuma e simbólica ao sócio fundador e nº 1 do IAC, João dos Santos. Vários jornais fazem eco deste acontecimento, como Comércio do Porto, Correio da Manhã, Diário de Notícias, O Jornal, Jornal de Notícias, Tempo, Nova Gente… com títulos chamativos para o grande púbico como “IAC edita primeira obra e evoca João dos Santos”, “Recado para os pais e futuros pais”, “As crianças já são gente antes de crescerem”, “Crescendo e Aparecendo uma escola ideal e sem dramas”, “É a cara do pai parece‐se com a mãe” – A 22 de Novembro de 1988 é criada a primeira linha de telefone, anónima e confidencial designada por SOS‐Criança. O papel do Instituto de Apoio à Criança (IAC) 71 – Ainda em 1988 realiza‐se em parceria entre o IAC e a Rede Europeia de Aco‐
lhimento de Crianças o 1º Encontro sobre Amas e Creches em que se discu‐
te publicamente a urgência em criar serviços de qualidade para as crianças pequenas dos 0 aos 3 anos; foi importante neste trabalho a acção de duas sócias do IAC, Teresa Penha e Eduarda Ramirez. – O 1º Guia dos Direitos da Criança é editado pelo IAC em 1988 e todo o seu conteúdo é da responsabilidade da ilustre jurista Aurora Fonseca, também ela sócia do Instituto. Em 1999 é apresentado o 2º Guia dos Direitos da Criança – Primeiras Palavras da autoria de Aurora Fonseca e Ana Perdigão, também sócia do IAC e em 2009 surge o 3º Guia dos Direitos da Criança – A Voz da Criança que tem como autoras Ana Pinto e Ana Perdigão. – No verão de 1989 inicia‐se em Lisboa, identificado pelo Programa Europeu de Luta Contra a Pobreza – Pobreza 3, o Projecto de Trabalho com Meninos de Rua e em Situação de Marginalidade em que pela 1ª vez são os técnicos que vão ao encontro das crianças e jovens que viviam na rua, alguns sem família, outros vítimas de maus tratos e abusos sexuais, outros ainda fugi‐
dos de estruturas várias da justiça, outros ainda que tinham abandonado a escola e que, com o apoio de vários serviços do estado e em parceria, ten‐
távamos reintegrar socialmente. – Com a Unicef realizamos na FCG em 1991 o 1º Encontro Internacional sobre Crianças de Rua, onde foram apresentadas várias experiências sobre esta realidade, com especial relevo para “os meninos de rua do Brasil”. – Ainda neste ano e mais uma vez em parceria, realizamos o 1º Encontro Nacional de Emergência Infantil. – O primeiro workshop sobre os maus tratos e abusos sobre as crianças teve lugar em 1992 e foi organizado em parceria pelo IAC, o Centro de Estudos Judiciários, e a Sociedade Portuguesa de Pediatria Social, que levou poste‐
riormente à criação e à oficialização por parte do governo dos Núcleos de Apoio às Crianças Maltratadas que tiveram como grande impulsionadora Maria José Lobo Fernandes, sócia fundadora do IAC. – No âmbito do trabalho do Projecto de Rua fizemos parte com mais cinco projectos de luta contra a pobreza, Grã‐Bretanha, Bélgica, Itália e França vários encontros com crianças a que se chamou As Crianças Sonham a Europa, primeiro trabalho em que se ouviu e deu a conhecer a “voz das crianças”, este trabalho decorreu durante cerca de 3 anos. – Em Julho de 1993 realizamos na FCG o Seminário Internacional sobre a Criança Portuguesa no Limiar do Novo Século, o Direito a todos os direitos; um dos momentos importantes deste encontro foi a reflexão conjunta entre a Provedoria de Justiça, o Centro de Estudos Judiciários, representan‐
tes de todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, repre‐
sentantes de departamentos / serviços governamentais e instituições pri‐
vadas. – João dos Santos – o Prazer de Existir, Congresso que se realizou no Centro Cultural de Belém para homenagear postumamente João dos Santos e a Liga Portuguesa dos Deficientes Motores em que o IAC fez parte da organi‐
zação, aconteceu em 1994. 72 Maria João Malho – Em 1995 realiza‐se na FCG o Encontro A Criança e os Serviços de Saúde em que se faz a divulgação pública da Carta da Criança Hospitalizada, da EACH (Associação Europeia para a Criança no Hospital) de que o IAC faz parte. O grande objectivo é a humanização dos espaços de atendimento à criança quando esta está doente. Actualmente qualquer adulto que acompanhe uma criança ao hospital tem o direito de poder permanecer junto dela. – O primeiro Relatório sobre Trabalho Infantil é apresentado publicamente em conferência de imprensa em 1996 e teve a coordenação do IAC e da CNASTI. – Após a mudança da sede do IAC para a Freguesia da Ajuda, em Lisboa em 1996 dá‐se início a um conjunto alargado de contactos, reuniões e visitas às várias instituições e serviços das áreas adjacentes e, em 1997 inicia‐se uma actividade de intervenção comunitária em parceria com a Junta de Fregue‐
sia da Ajuda, o Centro de Saúde da Ajuda e as várias instituições sócio‐
‐educativas a que se designou Acções de Ligação à Comunidade. Inicia‐se um trabalho com apoio directo em regime de voluntariado de jovens estu‐
dantes universitários que junto das crianças as apoiavam à hora do almoço, durante os recreios, na realização de festas e dramatizações – Turminha dos Aventureiros e Dar Voz às Crianças da Ajuda que vieram a ter continui‐
dade na freguesia sem a intervenção do IAC. – Por esta época inicia‐se de forma mais permanente trabalho articulado com algumas escolas superiores de que destaco a Faculdade de Motricidade Humana, o Instituto Superior de Economia e Gestão, o Instituto Superior de Psicologia Aplicada, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Univer‐
sidade Nova de Lisboa com as quais foram realizados vários trabalhos de investigação tendo o IAC sido desde sempre um mediador, quer nos contac‐
tos institucionais, quer nos contactos com as famílias, quer ainda na realiza‐
ção de trabalho de campo – ouvir as crianças – de que saliento o projecto Crianças e Jovens em Notícia, projecto Análise dos Níveis de Bem‐Estar das Crianças que originou uma publicação Um Olhar sobre a Pobreza Infantil, projecto As Condições de Vida das Crianças na Cidade de Lisboa, projecto Crescer em Comunidade do programa governamental Ser Criança. – O 1º Encontro Nacional de Ludotecários tem lugar em 2001 e o IAC é um dos organizadores. – O IAC foi também a instituição portuguesa escolhida para ter acento no Directório Europeu das Organizações Não Governamentais a trabalhar na área das crianças desparecidas e exploradas sexualmente dando cumpri‐
mento à resolução do Conselho da Europa de 9 de Outubro de 2001. – Por decisão do Comissão Europeia em 2007 é criada a linha telefónica SOS Criança Desaparecida: a ajuda que procura 116 000 sediada no IAC. – A IV Conferência Mundial – Violência na Escola e Políticas Públicas realiza‐se em Lisboa, na FCG, em Junho de 2008 e o IAC faz parte da comissão organi‐
zadora juntamente com a Faculdade de Motricidade Humana, a European Observatory on School Violence e a International Observatory on Violence in Schools em que as problemáticas relacionadas com a violência e o bul‐
liyng foram abordadas publicamente. O papel do Instituto de Apoio à Criança (IAC) 73 – Publica‐se em Junho de 2009 o Guia Metodológico – Interromper Percursos Marginais do projecto de trabalho do IAC – Educar e Formar para Inserir. – Ainda em 2009, em Novembro é criado o INFOCEDI periódico digital temático. Praticamente a terminar este texto quero de novo referenciar o Boletim nº 2 Criança ANO INTERNACIONAL, de Dezembro de 1978 em que se pode ler “(…) se houver um alerta para a situação da criança, a detecção das suas carências a vários níveis, se entregarmos à criança a Declaração dos Direitos que lhe pertencem e os assumirmos honestamente, talvez tenhamos feito, então, um aprendizado real.” (1978: 2) Há 29 anos na obra “A caminho de uma utopia… um Instituto da Criança” João dos Santos afirmava que “Do ponto de vista sociopolítico, não me parece possível o estabelecimento dum plano de acção educativa para a infância – normal ou deficiente – sem a participação activa e generalizada da comunidade.” Esta fra‐
se voltou a ser publicada na capa do 1º Boletim do IAC, em 1988 e ainda hoje em Portugal ela é válida e nesta casa de formação de técnicos para trabalharem no campo da educação tinha que voltar a ser dita73. Referências Bibliográficas António Torrado e Maria Alberta Menères (1988) Crescendo e Aparecendo, Lisboa, Instituto de Apoio à Criança Boletim do IAC (1988) Editorial, Lisboa, nº 1 (Jan/Fev) Boletim do IAC (1988) IAC na Rádio, Lisboa Boletim Mensal da Comissão Nacional (1978) Criança Ano Internacional, Lisboa, nº 2 Diário de Notícias (1979) Ano Internacional da Criança, Lisboa, arquivo de recortes Jornal Expresso (1979) Suplemento, 28 de Abril (fotocopiado) Santos, João dos (1982) A Caminho de uma Utopia… um Instituto da Criança, Lisboa, Livros Horizonte. 73 Para mais informação sobre o IAC sugiro a consulta do site http://www.iacrianca.pt, do bole‐
tim iac‐[email protected] e o blog: http://criancasatortoeadireitos.word press.com BREVE REFLEXÃO SOBRE A HISTÓRIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA EM PORTUGAL: O PAPEL DA CNCPCJR Maria do Céu Costa Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e Faculdade e Psicologia da Universidade de Lisboa Breve reflexão sobre a criança ao longo da história Ao longo da História a criança não teve, sempre, o mesmo valor que tem atualmente. Através da expressão artística, designadamente do quadro “As Meninas”, pin‐
tado em 1656, pelo pintor espanhol Diego Velázquez, em que a criança, de acordo com o que era vivido na época, era olhada como um adulto em miniatura. Conse‐
quentemente, ao longo de séculos a criança foi também considerada como um adulto menor, mais frágil e menos inteligente. A importância atribuída à criança advinha do seu contributo num futuro pró‐
ximo quer através dos serviços que deveria prestar com o seu trabalho, quer com a proteção que deveria prestar aos seus pais. A mortalidade infantil era muito elevada e a morte, nessa idade, era conside‐
rada como normal, e sempre que uma criança morria logo seria substituída por um irmão. Como se a morte e a fecundidade caminhassem lado a lado, num equilíbrio precário. Só a partir do séc. XVIII, se começa a olhar para a criança de uma forma dife‐
renciada, a infância adquire um estatuto diferenciado do da idade adulta, o que se repercute no tratamento que lhe é conferido (Carvalho, 2011). Com o início do controlo da natalidade, passam a ser planeados os nascimen‐
tos e as crianças passam a ser desejadas, resultam amor existente entre os seus pais. A criança deixa de ser considerada como um produto de consumo para ser pensada como um bem raro e precioso, que merece ser acarinhada, amada e pro‐
tegida. Foi no século XX, mais propriamente em 20 de Novembro de 1959, que foi promulgada a Declaração dos Direitos da Criança pela Assembleia Geral das Nações Unidas, posteriormente, em 20 de Novembro de 1989, adota a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada por Portugal em 12 de Setembro de 1990, um dos primeiros países a ratificá‐la. Atualmente só a Somália e os Estados Unidos da América não procederam à sua ratificação. Se por um lado, a Declaração fun‐
ciona como uma espécie de pedra angular: ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2012, pp. 75-83.
76 Maria do Céu Costa “de todo o edifício supra nacional dos direitos da criança”, por outro lado, a Convenção sobre os Direitos da Criança, que impõe aos Estados deveres relati‐
vos ao reconhecimento e efetivação de direitos da criança, a qual, integra o direito interno tendo primazia sobre a legislação comum, ao mesmo tempo que traça “a grande viragem na conceção dos direitos da criança, ao reconhecê‐la juridicamente como sujeito autónomo de direitos” (Bolieiro, 2010, pp. 99). Atendendo à importância dos instrumentos abordados anteriormente, que em muito contribuíram para o reforço da afirmação da criança como sujeito autónomo de direitos, o século passado é “chamado o século da afirmação dos direitos da crian‐
ça”(Martins, 2010, p. 201), porque foi “interiorizada a certeza de que as crianças são verdadeiros sujeitos de direitos, autonomizáveis dos direitos parentais” (idem). A expressão ‘criança sujeito de direitos autónomos’ assume um particular significado na medida em que é “sujeito de direitos que apenas o são dada a con‐
dição de criança do seu titular e, por isso, de direitos que encontram na criança, enquanto, ser autónomo, o seu único fundamento” (Lúcio, 2010, p. 182). Além das diferentes Declarações e Recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Conselho da Europa outros documentos e instrumentos têm sido criados no sentido da sua consolidação e na efetivação da proteção dos direitos da criança de forma mais eficaz e com maior qualidade, que têm vindo a contribuir para a construção de uma cultura da criança enquanto sujeito de direi‐
to, nomeadamente: a Declaração de Yokohama, proteção de crianças contra a exploração sexual; as Regras de Beijing, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores; as Diretrizes de Riad – Princípios das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil; as Recomendações do Comité dos Direitos da Criança, órgão de controlo do respeito pela Convenção dos Direitos da Criança, a Declaração e o Plano de Ação intitulado – “Um Mundo Digno das Crianças”, aprovados pela Resolução 27/2, de 2002; e o Programa do Conselho da Europa, “Construir uma Europa para e com as Crianças”; Diretrizes para a Proteção Alternativa da Criança (Guidelines for the Alternative Care of Children), direito da criança a uma família biológica ou alternativa. Em Portugal, os princípios jurídicos fundamentais que regem a família e a infância emergem em primeiro lugar da Constituição da República Portuguesa, a qual estabelece as linhas orientadoras estruturantes destas matérias. O artigo 36º diz respeito à família, casamento e filiação, refere que os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos, gozando os cônjuges de iguais direi‐
tos e deveres (nº 3); os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial (nº6). O artigo 67º, por sua vez, está relacionado com a família, aborda a família enquanto elemento fundamental da sociedade, a qual tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condi‐
ções que permitam a realização pessoal dos seus membros. Enquanto o artigo 69º nos fala da infância e artigo 70º da juventude. Estes dois últimos artigos da Consti‐
tuição da República Portuguesa, conferem um direito especial de proteção por parte do Estado e da sociedade às crianças e jovens órfãos, abandonados ou por qualquer forma privados de um meio familiar securizante e da promoção efetiva dos direitos das crianças consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança. Breve reflexão sobre a história dos direitos da criança em Portugal 77 A Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR) Na prossecução destes objetivos, foi criada a CNPCJR, pelo Decreto‐Lei nº 98/98, de 18 de Abril, na qual estão representadas as entidades públicas e particu‐
lares com acção específica nesta área, nomeadamente: Presidência do Conselho de Ministros, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e Solidariedade, Minis‐
tério da Educação, Ministério da Saúde, Provedoria da Justiça, Secretaria de Estado da Juventude, Governo da Região Autónoma dos Açores, Governo da Região Autó‐
noma da Madeira, Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Associação Nacional das Freguesias, União das Instituições Particulares de Solidariedade Social, União das Misericórdias, União das Mutualidades, e o dirigente do Gabinete Técnico de Apoio à Comissão Nacional. A CNPCJR é presidida por uma individualidade nomeada por despacho con‐
junto dos Ministros da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade Social e tem como missão contribuir para a promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem em risco, impulsionando o reconhecimento de uma nova cultura da criança como sujeito de direito. À CNPCJR compete‐lhe nos termos do nº 1, do art.º 1 do DL 98/98 de 17 de Abril, planificar a intervenção do Estado, bem como a coordenação, acompanha‐
mento e avaliação da ação dos organismos públicos e da comunidade, em matéria de promoção e proteção de crianças e jovens em risco. Assim, a CNPCJR tem como principal missão, designadamente: Divulgar os Direitos da Criança e do Sistema de Proteção à Infância e Juventude; Solicitar audi‐
torias e estudos de diagnóstico e avaliação a nível das carências, medidas e respos‐
tas sociais; Acompanhar e, apoiar da atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco74; Dinamizar parcerias com instituições governamen‐
tais e não governamentais com competência em matéria de infância e de juventu‐
de; Colaborar com Universidades e outras Instituições, nomeadamente na realiza‐
ção de ações de formação, estudos, investigação e avaliação do sistema de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens em risco e de projetos concretos desenvolvidos no seu âmbito; Participar em debates, conferências, encontros e seminários; e, ainda conceptualizar e divulgar instrumentos de traba‐
lho, orientações técnicas e formação específica para qualificar a intervenção das entidades com competência em matéria de infância e juventude (designadamente a educação, saúde, segurança social, autarquias, IPSS, Forças de Segurança, ONG, Associações Culturais e Recreativas, Associações de Pais) e das CPCJ. De acordo com a sua missão, a CNPCJR tem como objetivos primordiais, numa atuação conjugada com as CPCJ na sua modalidade alargada, com as entida‐
des competentes em matéria de infância e juventude, nomeadamente no contexto da Rede Social Concelhia, promover a prevenção universal e seletiva na comuni‐
dade de que faz parte integrante. Quanto à intervenção reparadora, caberá às CPCJ só quando aquelas entidades esgotarem todas as soluções possíveis, com o intuito de remover o perigo, em que a criança ou jovem se encontra, e, por último, aos tribunais, cumprindo‐se deste modo o princípio da subsidiariedade, de acordo 74 Adiante designadas por CPCJ. 78 Maria do Céu Costa com os níveis e princípios orientadores da intervenção contemplados na Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo75, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro76. Na reafirmação destes pressupostos, à CNPCJR compete, ainda, mobilizar a rede de recursos existentes na comunidade assegurando a articulação das parce‐
rias, projetos e respostas locais em matéria de infância e juventude; estabelecer protocolos de cooperação inter e intra institucionais, no âmbito da especificidade da intervenção desenvolvida; fomentar a formação e preparação de todos os pro‐
fissionais envolvidos em matéria de infância e juventude; assim como prestar apoio de consultadoria a todos aqueles que o solicitarem. Nesta procura pró‐ativa de construção de uma cultura da criança enquanto sujeito de direito, a conjugação dos princípios consignados na Constituição da República Portuguesa, a Convenção dos Direitos da Criança e a Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo definem matrizes orientadoras que devem enquadrar as boas práticas de qualquer intervenção na área da Proteção das Crianças e Jovens e princípios que devem estar subjacentes e implícitos a essa mesma intervenção, garantido e promovendo os direitos da criança. Decorrente deste pressuposto, a Proteção das Crianças e Jovens é transversal a todos os sectores da comunidade, nomeadamente a Saúde, Educação, Ação Social, Justiça, Forças de Segurança, Organizações Não Governamentais e outras entidades com responsabilidades junto das crianças, jovens e suas famílias, justificando‐se ple‐
namente a existência de uma estrutura da natureza da Comissão Nacional. Os cuidados de saúde, apoios sociais, educativos e familiares adequados constituem‐se como fatores muito relevantes de prevenção na proteção e promo‐
ção dos direitos da criança, contribuindo, simultaneamente, para fortalecer as capacidades e potencialidades dessas famílias, em situação de stress, no sentido de melhor responderem às necessidades dos seus filhos e de serem capazes de exercerem a sua parentalidade de forma positiva, prevenindo‐se deste modo, mais eficaz e precocemente, o mau trato ou negligência. Sempre que uma família apresenta indicadores de vulnerabilidades, fragilida‐
des que a incapacitem de cuidar com segurança e afetos das suas crianças, o que se convertem em fatores de risco, todos os sectores e respetivos serviços envolvi‐
dos deveriam estar capacitados para poderem atuar prontamente através de uma resposta eficaz na proteção dessas crianças, prevenindo‐se, atempadamente, qualquer situação de perigo real para as mesmas e no respeito pelo seu superior interesse. A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei de 147/99, de 1 de Setembro, estrutura a intervenção do Estado e da Comunidade para a promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens face às situações que ponham em perigo a sua segurança, saúde, educação, formação e o seu desenvolvimento integral. A promoção dos direitos e a proteção da criança e do jovem em risco compe‐
te, subsidiariamente, às entidades públicas e privadas com atribuições em matéria 75 Adiante designadas por LPCJP. 76 Esta Lei só entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2001. Breve reflexão sobre a história dos direitos da criança em Portugal 79 de infância e juventude, às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e, em última instância aos Tribunais. Tendo por base a LPCJ, as Comissões de Proteção das Crianças e Jovens são definidas, de acordo com o artigo 12º, nº 1, como (...) instituições oficiais, não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua seguran‐
ça, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.” Neste sentido, o artigo 3º, desta Lei, a título exemplificativo, apresenta‐nos algumas situações de perigo legitimam a intervenção das CPCJ na medida em que “os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte da acção ou omissão de terceiros ou da própria criança ou do jovem a que aqueles não se oponham de modo adequado a removê‐lo.” Outras exigências legais que só se verificando legitimam a intervenção das CPCJ são o consentimento expresso dos pais, representante legal ou de quem tenha a sua guarde de facto e, simultaneamente, a não oposição da criança ou jovem, com idade igual ou superior a 12 anos, embora se considere aconselhável e desejável ouvir sempre as crianças independentemente da sua idade. Assim como a competência territorial. As CPCJ actuarão, sempre que ocorram situações de perigo não resolvidas no primeiro patamar de intervenção, ou seja ao nível das entidades com competência em matéria de infância e juventude, e de acordo com o princípio da subsidiarieda‐
de, existem medidas de promoção e proteção cuja finalidade imediata consiste em afastar as crianças do perigo em que se encontram. Para uma melhor visualização destes patamares de intervenção, e tendo sempre presente as orientações, preocupações e estrutura do Sistema de proteção da Criança e do Jovem, o qual se encontra plasmado esquematicamente na Fig.1 – ‘Intervenção Subsidiária no Perigo – Pirâmide da Subsidiariedade’. Esta ‘Pirâmide’ reflete a Proteção da Infância e Juventude, não como uma área sectorial mas, sim, como uma área transversal a todos os que trabalham com crianças e jovens e/ou suas famílias. De referir, que de acordo com o que foi referido anteriormente, caberá ape‐
nas às CPCJ e aos Tribunais a aplicação das medidas de promoção e proteção, as quais têm como finalidade (artigo 34º) afastar o perigo da criança ou do jovem; proporcionar condições que garantam a proteção e segurança, saúde, formação, educação, bem‐estar e desenvolvimento integral; e garantir a recuperação física e psicológica das crianças e jovens vítimas. No seu artigo 35º, a Lei estabelece as possíveis medidas a serem aplicadas e executadas em meio natural de vida: ‘Apoio junto dos Pais’, ‘Apoio junto de outro familiar’, ‘Confiança a pessoa idónea’, ‘Apoio para autonomia de vida’; ou em regime de colocação: ‘Acolhimento familiar’ e ‘Acolhimento em instituição’. As medidas em meio natural de vida têm como objetivo proteger a criança mantendo‐a no seu meio familiar ou próximo, enquanto as medidas de colocação implicam a retirada da criança do seu meio familiar para sua proteção, colocando‐
‐a no seio de uma família de acolhimento ou numa instituição. A especificidade temporal das medidas em meio natural de vida previstas na lei, implica que a sua duração não pode ser superior a um ano (podendo contudo 80 Maria do Céu Costa Fig. 1: Intervenção Subsidiária no Perigo ser prorrogada até aos 18 meses77). Em oposição às medidas de colocação que não se encontram sujeitas à duração máxima, das medidas em meio natural de vida, podendo ser de curta duração ou prolongada.78 A regulamentação das Medidas em Meio Natural de Vida (Dec. lei nº12/2008 17 de Janeiro) e da Medida de Acolhimento Familiar (Dec. lei nº11/2008 17 de Janeiro), realçam a importância e a necessidade de se capacitarem as famílias através do reforço e aquisição de competências dos pais, do representante legal ou de quem tenha a guarda de facto da criança, de modo a possibilitar a manuten‐
ção da criança ou o seu regresso à família natural. De forma a concretizar e respeitar o direito da criança e do jovem a cresce‐
rem e a serem educados numa família, de preferência a sua, a execução destas medidas, pressupõem que os apoios a conceder à família, bem como as interven‐
ções especializadas, ou não especializadas, a proporcionar àquela, implica que sejam consideradas, para que desempenhe o seu papel de forma positiva. Só a partir da compreensão dos comportamentos específicos de cada ele‐
mento da família bem como dos pressupostos de identidade desta, poderemos entender e respeitar o seu funcionamento e intervir de modo a facilitar processos de corresponsabilização e estabelecer entre os vários parceiros implicados uma base de compromissos (Shultz‐Krohn, 1997). Esta base de compromisso só é possí‐
77 Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo: art.º 60 – Duração das Medidas no Meio Natural de Vida, nº2, “As medidas referidas no número anterior não poderão ter duração superior a um ano, podendo, todavia, ser prorrogadas até 18 meses se o interesse da criança ou do jovem o aconselhar e, no caso das medidas previstas nas alíneas b) e c), desde que se mantenham os consentimentos e os acordos legalmente exigidos. 78 Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, art.º 48 – Modalidades de Acolhimento Fami‐
liar e art.º 50 – Modalidades de Acolhimento em Instituição Breve reflexão sobre a história dos direitos da criança em Portugal 81 vel se acreditarmos que todas as famílias possuem: fatores positivos e que estes são o ponto de partida da intervenção; sistemas que lhe permitem (re)transformar as práticas e os recursos em competências; adquir e transmitir, através do seu envolvimento ativo, aos profissionais novos conhecimentos e capacidades no sen‐
tido de reforçarem competências, responsabilidades e o próprio sentido de con‐
fiança. Numa perspetiva de sistemas complexos e multidimensionais, em contínua interação, não se podendo ignorar a comunidade em que a família se insere enquanto quadro de referência mais vasto (Gallagher & Tramill, 1998). Verifica‐se que a intervenção educativa é mais eficaz, quando a família participa ativamente na programação como na sua implementação e, posteriormente, na avaliação de todo o processo. Relativamente às medidas de colocação o regresso da criança à família é sem‐
pre um objetivo, ou seja, a reunificação familiar, quer seja na família nuclear, ou a sua integração na família alargada; a integração junto de uma terceira pessoa (apa‐
drinhamento civil), ou a adoção, podendo ainda considerar‐se a autonomia de vida. Convém referir que a medida de ‘Confiança a pessoa selecionada para a adoção ou a instituição com vista a futura adoção’ é da competência exclusiva do tribunal. Pode‐se afirmar, com assertividade, que sempre que a medida aplicada prevê a separação da família coloca‐se com maior relevância e urgência a necessidade de intervenção concertada junto da família de origem. Assim, como não se pode dei‐
xar de referir a pertinência da eficácia da intervenção, articulação e colaboração entre as diferentes equipas, que vão atuar junto dos mesmos agregados familiares, Parte‐se sempre do pressuposto que a medida de colocação funciona, não como um fim, mas sim, como um meio de proteção temporário até os pais/cuidadores terem desenvolvido as competências necessárias que garantam a reintegração da criança em segurança no seio da família e a prevenção de futuras recidivas. Decorrente deste enquadramento, enunciam‐se os princípios orientadores, que se consideram poder ser pertinentes e norteadores no enquadramento da intervenção de todos os profissionais envolvidos na intervenção junto da criança, da família e/ou junto de quem foi aplicada a medida: Interesse superior da criança e do jovem (tempo útil da criança); privacidade; intervenção precoce; intervenção mínima; proporcionalidade e atualidade; responsabilidade parental; prevalência da família; obrigatoriedade da informação; audição obrigatória e participação; e o principio da subsidiariedade. Conclusão Poder‐se‐á dizer que a infância moderna, associada às imagens românticas da criança, é uma construção social recente e o produto de um certo tempo histórico. O que leva Carvalho “a afirmar que o respeito pela criança, o valor do seu saudável desenvolvimento, a ideia de que esse é um período determinante, como têm demonstrado tantos estudos, construíram o conceito atual de criança” (2011, p. 24). Verifica‐se a necessidade premente de um “olhar” mais próximo e atento sobre a comunidade, que permita identificar e rentabilizar com mais eficácia os seus recursos para o apoio efetivo das famílias (Goodnow, 2006). Não se pode 82 Maria do Céu Costa tomar como garantido que as famílias nas suas comunidades sejam ‘naturalmente’ resilientes, sabendo como lidar com todos os fatores de stress e com os múltiplos desafios que enfrentam diariamente. Por outro lado, há que concertar a identifica‐
ção desses recursos com as necessidades ainda por satisfazer das famílias, contri‐
buindo, assim, para a construção de comunidades mais saudáveis, mais fortes e mais efetivamente humanizadas. De acordo com o Sistema Nacional de Proteção à Infância e Juventude vigen‐
te, um dos objetivos centrais à sua intervenção será garantir que os recursos exis‐
tentes na comunidade e necessários à satisfação das necessidades cheguem efeti‐
vamente às famílias que deles necessitam. E, que lhes seja facultado, simultaneamente, outros meios, nomeadamente o acesso à informação e à forma‐
ção, que contribuam para desenvolver e melhorar as suas competências de forma a cuidar das suas crianças com responsabilidade, através do exercício de uma Parentalidade Positiva. Referências bibliográficas Bolieiro, H. (2010).O direito da criança a uma família: algumas reflexões. In A. Leandro, A.L. Lúcio & P. Guerra (Coord.), Estudos em Homenagem Rui Epifânio (pp. 99‐
‐109). Coimbra: Edições Almedina, S.A. Carvalho, O. (2011). De pequenino se torce o destino. O valor da intervenção precoce. Porto. Legis Editora. Constituição da República Portuguesa. Retirado em 23 de Outubro, de 2011, de http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortugues
a.aspx Decreto‐Lei nº 11/2008, de 17 de Janeiro de 2008, publicado no Diário da República nº 12 – I Série (pp. 552‐559), Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Lisboa Decreto‐Lei nº 12/2008, de 17 de Janeiro de 2008, publicado no Diário da República nº 12 – I Série (pp. 559‐567), Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Lisboa Directrizes para a Protecção Alternativa da Criança. Retirado em 23 de Outubro, de 20011, de http://www.childcentre.info/public/UN_Guidelines_for_the_Alternative_Care_
of_Children_eng.pdf Diretrizes de Riad – Princípios das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, Doc. das Nações Unidas nº A/CONF.157/24 (parte I), 1990. Retirado em 27 de Julho, 2011, de http://www.movimentodeemaus.org/pdf/internacional/ diretrizes_de_riad_prevencao_da_delinquencia_juvenil.pdf Gallagher, R. J. & Tramill, J. L. (1998). Para além da parte H: Implicações da Legislação de Intervenção Precoce na Organização de Parcerias de colaboração Escola/comunidade. In L. M. correia & A. Serrano (Orgs.), Envolvimento Parental em Intervenção Precoce – das Práticas na Criança às Práticas Centradas na Família (pp. 33‐64). Porto: Porto Editora; Goodnow, J.J. (2006). Sources, Effects and Possible Changes in Parenting Skills: Comments on Belsky, Grusec, and Sanders and Morawska. In Encyclopaedia on Early Childhood Development. Retirado em 7 de Janeiro, 2009 de htpp:// www.child‐ Breve reflexão sobre a história dos direitos da criança em Portugal 83 Lúcio, L. (2010). As crianças e os direitos – o superior interesse da criança ‐. In A. Leandro, A.L. Lúcio & P. Guerra (Coord.), Estudos em Homenagem Rui Epifânio (pp. 177‐197). Coimbra: Edições Almedina, S.A Martins, N. (2010). Os direitos das crianças para terem uma família. In A. Leandro, A.L. Lúcio & P. Guerra (Coord.), Estudos em Homenagem Rui Epifânio (pp. 99‐109). Coimbra: Edições Almedina, S.A Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing). Retirado em 27 de Julho, 2011, de http://www.gddc.pt/ direitos‐humanos/textos‐internacionais‐dh/tidhuniversais/dhaj‐pcjp‐26.html Schultz‐Krohn, W. (1997). Early intervention: Meeting the unique needs of parent‐child interaction. Infants and Young Children, 10(1), 47‐60. MOVIMENTOS SOCIAIS, ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS E ONG Melanie‐Anne Morais Direcção da Amnistia Internacional – Portugal 1. Movimentos Sociais “The Great March on Washington” Localização: Washington, D.C., EUA, Data: 28 de Agosto de 1963 Reuniu mais de 250.000 pessoas que apelavam à liberdade, trabalho, justiça social e pelo fim da segregação racial contra a população negra do país. Cau‐
sando grande consternação ao governo do então Presidente John Kennedy uma vez que um eventual conflito poderia pôr em causa a aprovação em curso da legislação dos direitos civis pelo Congresso e imagem do país internacionalmen‐
te. Tendo sido um evento determinado pela ordem e civismo, a sua repercussão mundial tornou‐o na maior força política para a aprovação das leis de direitos civis e direito de voto, em 1964 e 1965. Foi nesta manifestação de massas que Luther King fez o discurso que entraria para a história: “Eu tenho um sonho!” (I Have a Dream!). ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2012, pp. 85-93.
86 Melanie‐Anne Morais Os indivíduos, e os grupos que estes enquadram, detêm o poder para influenciar e alterar os elementos da estrutura social que integram. Mesmo os excluídos das esferas de poder, económico ou social, podem agir no seu quoti‐
diano, ao mesmo tempo que se mobilizam, configurando acções colectivas que inspiram outros indivíduos, mudando instituições e alterando mesmo o curso da História. Os grupos dominados, muitas vezes de forma silenciosa, opõem resistência, na linha de James Scott, sob a forma de registo escondido. A visão clássica em que os movimentos sociais corresponderiam aos movimentos operários, foi ultrapassada pelo surgimento de movimentações em novas áreas e ao desuso de formas de organização tradicionais. Um movi‐
mento colectivo consiste num conjunto de ideais e práticas, expressos num idioma socialmente partilhado, que procura a mudança de determinados aspectos da vida social. Assim, o que caracteriza qualquer movimento colectivo como um tipo particular de mudança é a sua relação com um grupo articulado e organizado, iniciando‐se com desobediência colectiva. Para que um movi‐
mento colectivo se mantenha é necessário que exista um grupo de indivíduos com interesses comuns e com objectivos idênticos e para englobar um maior número de interessados um programa mínimo será da maior utilidade, em particular quando a coesão do grupo inicial tem menor impacto e as responsa‐
bilidades de direcção são divididas. A adesão a um qualquer movimento impli‐
ca envolvimento na prossecução dos objectivos propostos. A motivação que leva alguém a juntar‐se a outros tendo uma base utilitária, assente em razões económicas, não exclui um conjunto de pressões sociais e uma adesão emo‐
cional, assente num dever de classe, que se opõem à traição em relação ao grupo social do qual provém. Os movimentos sociais resultam de um conjunto de mudanças profundas na sociedade e a sua eclosão pressupõe a produção das condições históricas necessárias à sua ocorrência. A definição de movimento colectivo reportar‐se‐á ao conjunto de acções colectivas destinadas a apresentar uma reivindicação aos representantes do poder. Distingue‐se dos movimentos sociais pela dimensão mais circunscrita, ainda que possam universalizar‐se os seus objectivos. Relativamente às crianças, de referir os movimentos de defesa dos direi‐
tos da criança (MDDC) e os movimentos sociais de crianças (MSC), enquanto processos de mobilização, a partir do discurso dos direitos da criança, como o direito à educação, e são realizadas fundamentalmente pelas ONG, por organi‐
zações transnacionais, como a UNICEF enquanto agência das Nações Unidas, por movimentos sociais e por algumas áreas de investigação (desde logo a Pedagogia, a Sociologia da Infância, entre outras). O caso da Amnistia Internacional
A Amnistia Internacional nasceu em 28 de Maio de 1961. O advogado britânico, Peter Benenson, publica um artigo no jornal inglês “The Observer” onde era referida a prisão de dois estudantes portugueses por terem gritado «Viva a Liberdade!» na via pública; lançou então um apelo no sentido de se organizar uma ajuda prática às pessoas presas devido às suas convicções políticas ou religiosas, ou em virtude de preconceitos raciais ou linguísticos. Um mês após a publicação do apelo, Benenson já Movimentos sociais, organizações internacionais e ONG 87 havia recebido mais de mil ofertas de ajuda para coligir informações sobre casos, divulgá‐las e entrar em contacto com governos. Dez meses passados, representantes de cinco países estabeleciam as bases de um movimento internacional. Sabendo que o descontentamento é contínuo na história, como podemos compreender a emergência de picos de descontentamento? A Professora Pau‐
la Godinho, em “Memórias da Resistência Rural no Sul”, sugere através da gre‐
lha de análise de Landsberger (2001, p. 59‐60), que sejam consideradas as fon‐
tes e a natureza das tensões – objectivas e subjectivas – no crescimento de um movimento, que sejam analisadas as condições que favorecem a cristalização do descontentamento e que o tornam num movimento, numa acção colectiva e de protesto, que se determine a natureza do movimento, nos seus objecti‐
vos, meios, ideologia, agentes, na liderança e na estrutura; e, finalmente, que se examine o que foi determinado no sucesso ou no fracasso, com uma visão dos aliados e dos protagonistas. Para Godinho, “no momento de mudança his‐
tórica acelerada, há um ponto assumido como de não retorno, a partir do qual os envolvidos têm a consciência de que já não podem recuar e que nada volta‐
rá a ser como antes. Esta acção colectiva, que pode ir de formas menos organi‐
zadas a outras mais estruturadas, com líderes, programas de actuação e for‐
mas de organização mais ou menos burocratizadas, assumirá ora um carácter circunscrito, de vontades e necessidades restritas, ora poderá visar, de forma instrumental, objectivos concretos, que conduzam a uma redistribuição de poder na sociedade.” A mudança social constitui um fenómeno conduzido pela acção humana, havendo que utilizar com cautela o conceito, já que ela poderá resultar da difusão (relações entre o local e o Estado) ou poderá ser produzida por um grupo social (uma elite) para consumo por todos os outros. Entre as pré‐
‐condições encontram‐se as mudanças na sociedade e só sob essas condições as classes sociais mais baixas encontram uma situação em que podem lutar pelos seus interesses específicos. As crises económicas activam as lutas, não só pela pobreza ou aparecimento de um exército de reserva de desempregados, mas porque revelam contradições antes camufladas. A acção colectiva, nas suas múltiplas formas, pressupõe uma organização, racional, coerente e com fronteiras formais. A cooperação surge aqui enquanto construção cultural e alicerça a aprendizagem colectiva. Surge, assim, uma cultura de oposição, exprimindo anseios e experiências distintos, contra‐hegemónicos, configuradas na negação e afastamento relativamente ao modelo dominante, que enfatiza reivindicações e valores opostos. 2. Organizações Internacionais e ONG – enquanto expressões da Sociedade Civil Numa época de clara erosão do Estado‐Nação, confrontado com os desafios colocados por riscos transnacionais, imputáveis à intensificação da globalização e face à maior incapacidade de resposta individual dos Estados aos problemas, que compreendem em si um esbatimento de fronteiras, é desejável uma cooperação entre os Estados (constituindo uma nova ordem, uma nova governação global, necessariamente baseada no Direito Internacional) e entre os Estados e as organi‐
zações do Terceiro Sector. 88 Melanie‐Anne Morais Como definir Sociedade Civil e Terceiro Sector? Como relacionar a chamada Sociedade Civil organizada com o surgimento das ONGs? Além de uma multiplici‐
dade de significados (esfera não‐estatal, anti‐estatal, pós‐estatal e até supra‐
‐estatal) verifica‐se igualmente que os entendimentos sobre a Sociedade Civil se têm complexificado, dada a intensificação dos processos de globalização. O concei‐
to de Sociedade Civil, que para Hobbes, Locke, Rousseau, por exemplo, era sinóni‐
mo de Estado – em oposição ao “Estado de Natureza” – passa a ser visto como algo em oposição ao Estado. Para Marx, a Sociedade Civil possui duas características básicas: significa “o conjunto das relações materiais dos indivíduos no interior de um determinado está‐
dio de desenvolvimento das forças produtivas” e “encerra o conjunto da vida comer‐
cial e industrial existente numa fase e ultrapassa por isso mesmo o Estado e a nação, se bem que deva afirmar‐se no exterior como nacionalidade e organizar‐se no inte‐
rior como Estado”79. Se o Estado é a forma sob a qual a Sociedade Civil se organiza interiormente e a Nação é forma sob a qual esta se apresenta exteriormente diante de outras sociedades, o Estado é também “a forma através da qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer os seus interesses comuns e na qual se resume toda Sociedade Civil de uma época, conclui‐se que todas as instituições públicas têm o Estado como mediador e adquirem dele uma forma política”. A ideologia é desta maneira o discurso do poder, que se exerce através do Estado, numa sociedade de desiguais. Para Marx, a separação entre Estado e Sociedade Civil (direito priva‐
do/direito público) é uma formulação ideológica burguesa. A este respeito, tanto Gramsci como Marx acreditavam que o desenvolvimento histórico da sociedade ocorria na Sociedade Civil e não no Estado, como Hegel havia sugerido. O Estado surge em Gramsci como uma unidade dialéctica da Sociedade Civil e Sociedade Polí‐
tica. A hegemonia realiza‐se no âmbito da Sociedade Civil, ou seja, é neste conceito, esfera de mediação entre a infra‐estrutura económica e o Estado em sentido estrito, que encontramos materialmente a figura social da hegemonia. A Sociedade Civil é o conjunto de organismos designados como ‘privados’, composta pelos “aparelhos privados de hegemonia” – organismos sociais colectivos voluntários e relativamente autónomos e distintos da Sociedade Política. O conceito de Sociedade Civil continua a ser um conceito vago e mal definido, ao qual podemos, contudo, associar três características: primado do direito sob o estado de natureza; situa‐se entre o Estado e o Mercado e, por fim, dominado por relações associativas voluntárias. Arriscarei, por agora, definir Sociedade Civil Organizada como parte da Sociedade Civil que se organiza de modo a assumir um maior papel na actividade política, legitimada pela impossibilidade de resolução dos grandes problemas que a humanidade enfrenta através de acções apenas governamentais ou de mecanismos de mercado e em função de uma actual situa‐
ção de descrédito nos sistemas de representação política. O termo organização não‐governamental ou ONG, entrou em uso em 1945, devido à necessidade sentida pelas Nações Unidas em diferenciar, na sua Carta, entre os direitos de participação das agências especializadas intergovernamentais 79 In: MARX, Karl Heinrich e ENGELS, Friedrich (1845/1846), A ideologia alemã: crítica da mais recen‐
te filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas, <http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/ideologiaalema. html>. Movimentos sociais, organizações internacionais e ONG 89 e das organizações internacionais privadas. A definição textual (ou seja, aquilo que não é do governo ou vinculado a ele) é tão ampla que poderá abranger qualquer organização de natureza não‐estatal. A Plataforma Portuguesa das Organizações Não‐Governamentais (associação privada sem fins lucrativos, constituída a 23 de Março de 1985 e representante de um grupo de 57 ONGD registadas no Ministério dos Negócios Estrangeiros), define organizações não‐governamentais enquanto “associações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que acolhem no seu interior especificidades que as diferenciam do Estado e de outras organizações e/ou insti‐
tuições privadas. O movimento das ONG é bastante heterogéneo, estando a sua criação relacionada com diferentes circunstâncias, reflectindo diversas tradições e culturas. As ONG podem ser classificadas de diferentes maneiras, segundo as suas actividades, a sua influência geográfica, etc.”.80 As ONGs, que se tornam sujeitos de direito internacional (com capacidade para possuir direitos e deveres internacionais e com capacidade para defender os seus direitos através de reclamações internacionais), passaram a desempenhar tarefas tradicionalmente atribuídas aos governos (como a ajuda às populações) e têm competências acrescidas, procurando garantir os direitos dos cidadãos. Podemos mesmo considerar que, hoje, determinadas ONGs já desempenham (ou criam essa expectativa) um papel mais relevante na sociedade internacional que muitos Estados, nomeadamente, ao nível da ajuda humanitária, na luta pelos Direitos Humanos, nas causas ambientais, etc. A criação de uma ONG é conse‐
quência de uma mobilização social já existente. A ONG depende de uma reunião de pessoas com um objectivo em comum para o qual já desenvolvem um trabalho para alcançar determinadas metas, estabelecendo uma verdadeira cultura organizacional, na expressão de Benedict Anderson, “comunidade imaginada”81 3. Participação Activa e a Amnistia Internacional (AI) “Empowerment is a process of increasing the capacity of individuals or groups to make choices and to transform those choices into desired actions and outcomes.” (World Bank, 2003) A Amnistia Internacional (AI), enquanto comunidade global de defensores dos Direitos Humanos, regidos pelos princípios de solidariedade internacional, acção efectiva no caso das vítimas individuais, cobertura global, a universalidade e indivi‐
sibilidade dos Direitos Humanos, imparcialidade e independência e democracia e respeito mútuo, é determinada pelo activismo. Dentro da AI, a participação inter‐
na dos membros passa (também) pela definição das políticas, campanhas, investi‐
gação, sendo aos membros que a AI responde/presta contas, bem como aos sujei‐
tos de direitos a quem dirige a sua acção. Regressemos à definição de Empoderamento. Para Seth Kreisberg este con‐
substancia‐se num processo, através do qual as pessoas e/ou comunidades 80 In: < http://www.plataformaongd.pt/ongd.aspx>. 81 ANDERSON, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Natio‐
nalism, London, 4, pp. 48‐59. 90 Melanie‐Anne Morais aumentam o controlo e domínio sobre as suas próprias vidas e sobre as decisões que afectam as suas vidas, processo esse sempre determinado pelas condições sociais e políticas da sociedade onde se inserem.82 Para a AI, a Educação em Direi‐
tos Humanos (EDH), enquanto empoderamento / capacitação não se basta com o conhecimento dos Direitos, mas também em compreender qual a posição do indi‐
víduo na sociedade, as relações de poder estabelecidas e onde deveríamos estar. A EDH é um processo de desenvolvimento de uma consciência crítica, relativamente ao mundo que nos rodeia e o que define as nossas vidas, sabendo que a protecção de um espaço crítico é conditio sine qua non para a AI. 4. Diálogo e Cooperação entre Organizações a) A AI e Organizações Intergovernamentais Segundo Ricardo Seitenfus83 as organizações inter‐governamentais (OI) são associações voluntárias de Estados, constituídas através de Tratados, com a finali‐
dade de concretizar interesses comuns através de uma permanente cooperação entre os seus membros. No “Manual das Organizações Internacionais”84, Seitenfus elenca os seguintes elementos constitutivos de uma Organização Internacional (inter‐governamental):
Os membros de uma Organização Internacional (inter‐governamental) são os Estados, portanto etimologicamente podemos identificar uma OI como uma organização inter‐estatal. A constituição de uma Organização Internacional é feita através de um tratado internacional, ou seja, um acordo firmado entre os Estados segun‐
do as normas do Direito Internacional. A existência de uma Organização Internacional implica o estabelecimento de órgãos permanentes. As Organizações Internacionais são sujeitos mediatos ou secundários da ordem jurídica internacional (única excepção é a União Europeia, pois o seu carácter supranacional permite que se constitua como sujeito imedia‐
to ou primário da ordem jurídica internacional). Uma Organização Internacional pressupõe a existência de objectivos de interesse comum entre os países membros. Os Estados associam‐se livremente às Organizações Internacionais. Os Estados fundadores destas são definidos como membros originários e os demais membros ordinários ou associados. 82 KREISBERG, Seth “On one level empowerment is described as a psychological process. It is inti‐
mately connected with the individual’s feelings of self‐worth and self‐confidence and sense of efficacy. But empowerment is also inseparably linked to the social and political conditions in which people live”, in: Transforming Power: Domination, empowerment and Education, State University of New York, 1992, pp. 19. 83 Referência ao autor pelo Instituto Mundial para as Relações Internacionais em: http://www. irwi.org.br/orginternacionais.htm. 84 SEITENFUS, Ricardo, Manual das Organizações Internacionais, Porto Alegre: Livraria do Advo‐
gado, 1997. Movimentos sociais, organizações internacionais e ONG 91 As Organizações de Estados podem ser globais, tais como as Nações Unidas (ONU), regionais como a União Africana, ou com base em critérios específicos, tais como a Commonwealth ou a APEC (Asia‐Pacific Economic Co‐operation). A AI incentiva essas organizações a desenvolver os padrões internacionais de Direitos Humanos e reforçar os mecanismos legais e práticas para assegurar que estas normas sejam respeitadas pelos diferentes governos. Sempre que adequado, a AI também coloca à disposição destas organizações a sua investigação em diferentes países e casos. O Secretariado Internacional organiza representações formais e desenvolve relações com a ONU, em particular os seus órgãos de Direitos Huma‐
nos, bem como a organizações intergovernamentais regionais como o Conselho da Europa e da Organização dos Estados Americanos. As secções da AI e os membros participam neste processo de lobby internacional, tornando conhecidas as preocu‐
pações da AI aos representantes de seus países para esses organismos. Direito Internacional e Organizações Internacionais O Direito Internacional e as Organizações Internacionais desempenham um papel fundamental na protecção e promoção dos Direitos Humanos globalmente. O trabalho da AI para garantir e promover os Direitos Humanos baseia‐se nas leis e padrões internacionais, aceites pela comunidade internacional. A AI age, através das suas campanhas, para assegurar que tais leis e padrões são respeitados e implementados ao nível local e global e trabalha com outras Organizações Interna‐
cionais, de modo que a protecção e promoção dos Direitos Humanos b) AI e ONGs – O Movimento dos Direitos Humanos A Amnistia Internacional é parte integrante do movimento geral de Direitos Humanos, estando determinadas formas de cooperação com outras organizações não‐governamentais com base nas suas realidades locais e tendo em mente as prioridades do movimento, respondendo ao apelo de uma maior cooperação com as ONG e a Sociedade Civil na promoção e protecção dos Direitos Humanos. O movimento de Direitos Humanos inclui qualquer organização não‐
‐governamental ou pessoa que realize um trabalho para promover ou defender os Direitos Humanos, mesmo quando o objectivo da organização possa ser muito mais amplo. Assim, pode incluir sindicatos, organizações de base religiosa, organi‐
zações profissionais, como ordens de advogados e de médicos, grupos de jovens, grupos de solidariedade e de pressão, controlo de armas e grupos de monitora‐
mento de violência, os grupos de Educação em Direitos Humanos, instituições académicas com um enfoque em Direitos Humanos, ONG de desenvolvimento, grupos ambientais, grupos de mulheres, grupos humanitários, grupos de protec‐
ção dos direitos das crianças e redes de ONGs, bem como a vasta gama de grupos e organizações que abrangem os direitos civis, políticos, sociais, económicos e cul‐
turais. A gama de actividades de promoção dos Direitos Humanos inclui a Educa‐
ção em Direitos Humanos, campanhas de consciencialização, criação de um ambiente que promova um maior respeito pelos Direitos Humanos, campanhas e lobby para a ratificação dos instrumentos internacionais, a defesa de reformas legislativas, a organização de seminários sobre questões de Direitos Humanos e a 92 Melanie‐Anne Morais revisão dos currículos de formação para introduzir questões de Direitos Humanos. Assim, a promoção dos Direitos Humanos em geral implica colaboração e comuni‐
cação entre ONGs, na crença compartilhada de que todos os esforços devem ser feitos para reforçar os elementos de Direitos Humanos na sociedade civil. 5. Breve Conclusão Os crescentes movimentos que observámos no início de 2011, na prossecu‐
ção de mais liberdade e justiça em todo o Médio Oriente e Norte de África, bem como o desenvolvimento exponencial das redes sociais nunca antes observado, oferecem uma oportunidade de mudança impar no que diz respeito aos Direitos Humanos. A Amnistia Internacional, no momento do lançamento do relatório glo‐
bal sobre Direitos Humanos na véspera do 50º aniversário da organização, adver‐
tiu que tal mudança é iminente. “Passados 50 anos desde que a vela da Amnistia começou a iluminar a escuridão da repressão, a revolução dos Direitos Humanos vive agora um momento de mudança histórico”, afirmou Salil Shetty, Secretário Geral da Amnistia Internacional, relembrando que a coragem, estimulada por lide‐
ranças jovens e combinada com as novas tecnologias, ajudam os activistas a denunciar e a ultrapassar a repressão governamental à liberdade de expressão e às manifestações pacíficas, dando uma nova voz a quem não a tinha. Não obstante as sucessivas tentativas de controlo governamental deste novo tipo de activismo, que no caso da Tunísia e Egipto se mostraram infrutíferas e onde o sucesso da queda dos ditadores fascinou o mundo, o descontentamento alastrou‐se. No entanto, mesmo em países onde os ditadores já caíram, é ainda necessá‐
rio desmantelar as instituições que os apoiaram e o trabalho dos activistas está longe de estar acabado. O Relatório de 2011 da Amnistia Internacional documenta restrições específicas à liberdade de expressão em pelo menos 89 países, destaca casos de Prisioneiros de Consciência em pelo menos 48 países, documenta casos de tortura e outros maus‐tratos em pelo menos 98 países e relata a ocorrência de julgamentos injustos em pelo menos 54 países. Estes activistas defenderam os Direitos Humanos actuando sobre questões de pobreza, marginalização de comu‐
nidades inteiras, direitos das mulheres, corrupção, brutalidade e opressão, relem‐
brando‐nos a importância do papel dos activistas e dos movimentos sociais contra‐
‐hegemónicos. Salil Shetty afirmou que os governos hegemónicos, que subestimaram o dese‐
jo pela liberdade e justiça manifestada pelas pessoas em todo o mundo, devem apoiar as reformas, contribuindo para a reconstrução de Estados que promovam os Direitos Humanos, levando os principais violadores de Direitos Humanos peran‐
te o Tribunal Penal Internacional. “Desde o fim da Guerra Fria que não se assistia a tantos governos repressores serem desafiados a deixar o poder. A luta pelos direitos políticos e económicos que alastra pelo Médio Oriente e Norte de África é uma prova dramática de que todos os direitos têm igual importância e de que constituem uma necessidade universal”, afirmou Salil Shetty, “Cinquenta anos depois da fundação da Amnis‐
tia Internacional, com vista à protecção dos direitos de pessoas detidas por manifestarem pacificamente as suas opiniões, os Direitos Humanos passam por Movimentos sociais, organizações internacionais e ONG 93 uma revolução. O grito pela justiça, liberdade e dignidade transformou‐se numa necessidade global que se fortalece a cada dia. O génio saiu da garrafa e as for‐
ças de repressão não conseguirão voltar a prendê‐lo.”. Referências bibliográficas ANDERSON, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, 4. GODINHO, Paula, Memórias da Resistência Rural no Sul – Couço (1958‐1962), Oeiras, Celta. 2001. KREISBERG, Seth, Transforming Power: Domination, empowerment and Education, State University of New York, 1992. MARX, Karl Heinrich e ENGELS, Friedrich (1845/1846), A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas, <http://www. ebooksbrasil.org/ eLibris/ideologiaalema.html>. SEITENFUS, Ricardo, Manual das Organizações Internacionais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. OS DIREITOS DAS VÍTIMAS DE CRIME Daniel Cotrim Associação Portuguesa de Apoio à Vítima É quase comum nos dias de hoje, ao folhearmos um jornal ou vermos as notí‐
cias num noticiário televisivo e sermos confrontados com a expressão VÍTIMA. A forma massiva e quase quotidiana com que histórias de vida transformadas pela violência, pelo crime nos são relatadas, levam‐nos muitas vezes a desenvolver um escudo protector feito em partes iguais de indiferença, de apatia e algumas vezes de insensibilidade. Quase como se fosse uma realidade estranha a nós e a qual muitas vezes olhamos, ainda que seja de soslaio, num misto de curiosidade e de receio. Curiosidade, porque achamos na brutalidade dessas histórias o pitoresco de vidas que achamos não serem parecidas com a nossa; o lado sangrento que dá a cor. Receio, porque na maioria das vezes, bem no fundo pensamos: E se fosse eu? E o que é uma vítima de crime? Uma vítima de crime é uma: Pessoa que, em consequência de acto ou omissão violadora das leis penais em vigor, sofreu um atentado à sua integridade física e/ou mental, um sofrimento de ordem moral ou uma perda material. Mas vítima de crime é também, a famí‐
lia próxima ou as pessoas a cargo da vítima directa e as pessoas que tenham sofrido um prejuízo ao intervirem para prestar assistência às vítimas em situa‐
ção de carência ou para impedir a vitimação. Assim, o conceito de vítima de crime pode ser aplicado a todos que direta ou indiretamente sofreram com a situação de vitimação. É um conceito transversal, na medida em que cada um nós pode ser vítima de crime, independentemente do género, idade, raça, credo ou classe social. Quando pensamos numa vítima de crime, pensamos em alguém vulnerável, fragilizado. Imediatamente imaginamos alguém que se sente sozinho e injustiçado; alguém que se sente agora à margem e esquecido. Não estamos errados. Alguém que tenha sido vítima de crime, dependendo do grau de impacto da vitimação sen‐
te medo, desconfiança, raiva, dor, humilhação, entre outros. As pessoas não reagem todas da mesma forma perante uma situação de viti‐
mação. Podem contudo descrever‐se reacções mais comuns e distribuí‐las por três fases distintas: ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2012, pp. 95-101.
Daniel Cotrim 96 1) durante o crime pânico fortes reacções físicas e psicológicas (paralisia, histeria, tremor, etc.) pânico de morrer pânico do cativeiro e da impotência impressão de estar a viver um pesadelo impressão de que o agressor tem uma raiva pessoal contra si 2) imediatamente após o crime Embora não pareça experienciar qualquer tipo de emoção, a vítima está con‐
tudo debaixo de uma situação de grande stress emocional. A maioria das reacções surge quando a vitima se apercebe do que lhe aconteceu: desorientação apatia negação sentimento de solidão sentimento de impotência estado de choque 3) nos dias seguintes Nos dias que se seguem à vitimação, a vitima pergunta‐se muitas vezes se as suas reacções são usuais, e se um dia tudo voltará à normalidade: está num perío‐
do de crise e vivencia várias reacções físicas e psicológicas. Pode também vivenciar uma grande ambivalência emocional e mudanças bruscas de humor. Estas reac‐
ções estendem‐se à família e amigos. É importante possibilitar à vítima a expressão dos seus sentimentos, ao mes‐
mo tempo que se lhe assegura que as suas reacções são perfeitamente normais. Para além destas reacções imediatas à vitimação, importa também conhecer as consequências desta num período mais alargado de tempo. Quaisquer que sejam as razões precisas que se encontram por detrás de um acto de vitimação, as consequências podem ser muitas e diversificadas. Embora em grau variável, todas as vítimas são perturbadas pelo acto violento. Quanto mais violento o crime, mais é de esperar que a vítima seja afectada. No entanto, não é só a gravidade do crime que determina o impacto do incidente na vítima: há um conjunto de consequências de carácter psicológico, físico e social que se manifesta após a situação de vitimação e que é, na maioria das vezes, determinante para a vivência da pessoa. Pensa‐se também muitas vezes, de forma errada, que só a vítima directa pode sofrer com o resultado do crime. De facto, não podem esquecer‐se as teste‐
munhas que, por exemplo em casos de violência familiar, são também afectadas pelo que aconteceu: embora não sejam vítimas directas, estiveram presentes no momento do crime e estão muitas vezes com medo que também possam ser alvo do comportamento criminoso. Os direitos das vítimas de crime 97 Igualmente podem os familiares, ainda que não necessariamente testemu‐
nhas do crime, sofrer as consequências do mesmo: medo de perder o ente queri‐
do, sentimentos de culpa, porque foram incapazes de proteger a vítima, sentimen‐
tos de impotência, etc. As consequências e as reacções a um acto de vitimação podem assim ser experienciadas não só pela vítima mas também pelos familiares e/ou pelas teste‐
munhas do crime. Estas consequências, qualquer que seja a natureza da vitimação, verificam‐se aos níveis físico, psicológico e social. Se a identificação destes fatores é fundamental para iniciar e orientar o pro‐
cesso de apoio a uma vítima de crime, é também prioritário que seja dito à pessoa vítima de crime que é e continua a ser um cidadão de direito pleno. Que tem direi‐
tos enquanto vítima de crime. E que direitos têm as vítimas de crime? Em 29 de Novembro de 1985, a Assembleia Geral da ONU adoptou por una‐
nimidade a Resolução 40/34 e anexos: Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça relativos às Vítimas de Crimes e de Abuso de Poder. Seguiram‐se as Resolu‐
ções 1989/57 e 1990/22, do Conselho Económico e Social, relativas à sua aplica‐
ção. O Conselho da Europa tem adoptado várias Recomendações – nomeadamen‐
te, as Recomendações N.º R(85)11 e R(87)21 – e produzido diversos documentos sobre o estatuto da vítima de crime. Os direitos das vítimas de crime foram incluídos no Plano de Acção sobre Liber‐
dade, Segurança e Justiça da Comissão Europeia e Conselho de Ministros da União Europeia, em Viena, em Dezembro de 1998. Na sequência, a Comissão Europeia adoptou, em 14 de Julho de 1999, uma Comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social sobre Vítimas de Crime na União Europeia, com vista ao estabelecimento de acções e padrões de actuação e reflexão. Marco fundamental nesta evolução é a Decisão‐Quadro relativa ao Estatuto da Vítima em Processo Penal – decisão‐quadro 2001/220/JAI do Conselho da União Europeia ‐, resultante de iniciativa da República Portuguesa durante a presidên‐
cia portuguesa da União Europeia (primeiro semestre de 2000) e aprovada e publicada durante a presidência sueca (15 de Maio de 2001). A Decisão‐Quadro relativa ao estatuto da vítima no processo penal destaca a necessidade de ter em conta os seguintes aspectos concernentes às vítimas de crime: – as vítimas de crime têm direito a um elevado grau de protecção, indepen‐
dentemente do Estado Membro em que se encontrem, pelo que os Estados Membros deverão aproximar as suas leis e regulamentos na medida do necessário para alcançar este objectivo. – as necessidades das vítimas de crime devem ser consideradas e preenchidas de uma forma compreensiva e coordenada evitando soluções parciais, que podem dar azo a vitimação secundária. Como tal, as disposições da Decisão‐
‐Quadro não se referem única e exclusivamente a fazer face às necessida‐
98 Daniel Cotrim des das vítimas de crime no âmbito do processo penal, uma vez que cobrem medidas directa ou indirectamente relacionadas com o mesmo, que devem ser tidas em conta antes e após o processo penal. – as normas e práticas relativas ao estatuto e aos principais direitos das víti‐
mas de crime devem ser aproximadas, em particular no que diz respeito ao direito a serem tratadas com respeito pela sua dignidade, de prestarem e de receberem informação, de compreenderem e de serem compreendidas, de serem protegidas ao longo do processo penal e de verem minimizadas as desvantagens de residirem num Estado Membro que não aquele em que o crime foi cometido. – o envolvimento de serviços especializados e de serviços de apoio à vítima antes, durante e após o processo penal é da máxima importância. – formação adequada deve ser prestada às pessoas que entrem em contacto directo com vítimas de crime, com o intuito de alcançar os objectivos do processo penal. – deve recorrer‐se aos pontos de contacto e às redes interinstitucionais exis‐
tentes nos diferentes Estados Membros, quer no âmbito do sistema judiciá‐
rio quer das organizações de apoio à vítima. O Fórum Europeu de Serviços de Apoio à Vítima de Crime, do qual a APAV é membro fundador, elaborou duas Declarações no âmbito dos direitos das vítimas de crime: Declaração dos Direitos da Vítima a Serviços de Qualidade e a Declara‐
ção dos Direitos da Vítima no Processo Penal. Em relação à Declaração dos Direitos da Vítima a Serviços de Qualidade, os seus princípios orientadores são: 1. As sociedades democráticas têm obrigação de atenuar os efeitos dos crimes, designadamente as consequências nocivas da vitimação em todos os aspectos da vida; 2. As vítimas devem ser apoiadas de forma a que seja demonstrada com‐
preensão pelos problemas que as afectam; 3. Todas as vítimas de crimes têm o direito de exigir a protecção da sua privacidade, segurança física e bem‐estar psicológico. Deve ser garantido às vítimas o direito: 1. a obter reconhecimento pela sociedade dos efeitos dos crime 2. a obter informações relativas aos seus direitos e aos serviços disponí‐
veis 3. de aceder aos serviços de saúde 4. a receber uma indemnização pecuniária nos casos em que o crime tenha 5. originado uma perda de rendimentos 6. de ter acesso a medidas adequadas de protecção do domicílio 7. a receber apoio e protecção no local de trabalho 8. a receber apoio e protecção nos estabelecimentos de ensino 9. a uma indemnização Os direitos das vítimas de crime 99 10. de aceder a serviços de apoio à vítima gratuitos 11. à protecção da sua privacidade. A Declaração dos Direitos da Vítima no Processo Penal tem como princípios orientadores: 12. Aos direitos da vítima de crime deve ser dada a mesma prioridade que aos do arguido. 13. O processo adoptado para lidar com o autor do crime não deverá agravar a vulnerabilidade da vítima nem criar‐lhe problemas adicio‐
nais. A vítima tem direito: 14. ao respeito e reconhecimento em todas as fases do processo penal. 15. a receber informações e esclarecimentos sobre o decurso do processo penal. 16. a fornecer informações às autoridades responsáveis pela tomada de decisões relativamente ao infractor. 17. a acesso a aconselhamento jurídico, independentemente da sua situa‐
ção económica. 18. à protecção, tanto da sua privacidade como da sua integridade física. 19. a indemnização, quer pelo arguido, quer pelo Estado. E agora? Os direitos das vítimas de crime são uma vitória recente no âmbito dos direi‐
tos humanos mas não deixam por isso de ser importantes. Devem ser a garantia de que todos os cidadãos, de igual maneira, têm voz e que têm direito a serem apoia‐
dos de forma digna e com a mesma celeridade e grau de importância que todos os outros intervenientes no processo têm. As vítimas de crime, têm direito a deixarem de ser personagens de folhetins violentos; deixarem de ser rostos cobertos e vozes distorcidas pela vergonha e pelo medo. A sua dor não pode ser banalizada; os seus lamentos têm de ser trans‐
formados em esperança. Temos o direito e o dever de fazer um melhor exercício da cidadania. Por todos nós. Referências bibliográficas Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (2005). ASTREIA – Formação sobre Vítimas de Crime e Justiça. Lisboa. Colibri – Artes Gráficas Apartado 42 001 1601‐801 Lisboa Tel: 21 931 74 99 www.edi‐colibri.pt colibri@edi‐colibri.pt