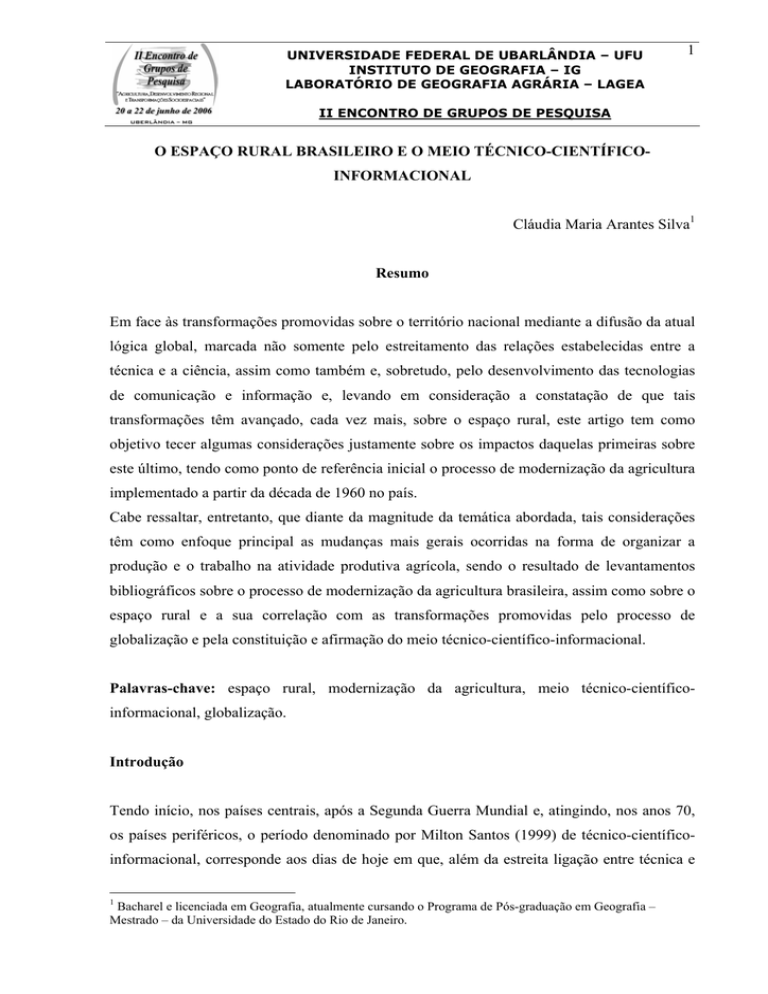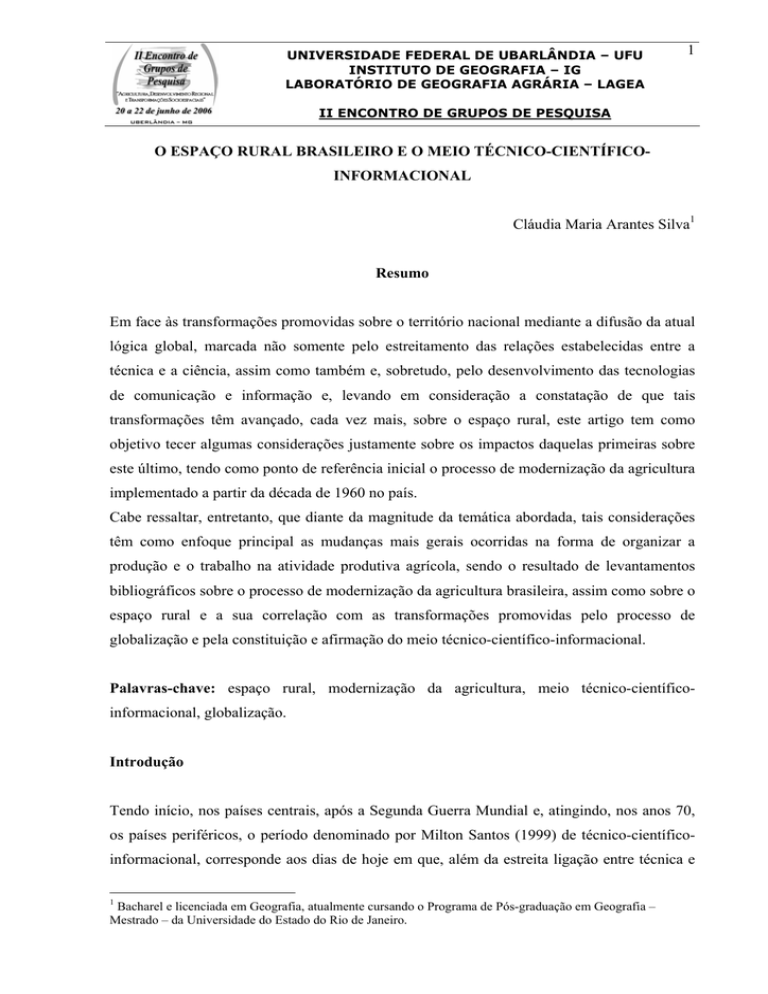
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
1
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
O ESPAÇO RURAL BRASILEIRO E O MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICOINFORMACIONAL
Cláudia Maria Arantes Silva1
Resumo
Em face às transformações promovidas sobre o território nacional mediante a difusão da atual
lógica global, marcada não somente pelo estreitamento das relações estabelecidas entre a
técnica e a ciência, assim como também e, sobretudo, pelo desenvolvimento das tecnologias
de comunicação e informação e, levando em consideração a constatação de que tais
transformações têm avançado, cada vez mais, sobre o espaço rural, este artigo tem como
objetivo tecer algumas considerações justamente sobre os impactos daquelas primeiras sobre
este último, tendo como ponto de referência inicial o processo de modernização da agricultura
implementado a partir da década de 1960 no país.
Cabe ressaltar, entretanto, que diante da magnitude da temática abordada, tais considerações
têm como enfoque principal as mudanças mais gerais ocorridas na forma de organizar a
produção e o trabalho na atividade produtiva agrícola, sendo o resultado de levantamentos
bibliográficos sobre o processo de modernização da agricultura brasileira, assim como sobre o
espaço rural e a sua correlação com as transformações promovidas pelo processo de
globalização e pela constituição e afirmação do meio técnico-científico-informacional.
Palavras-chave: espaço rural, modernização da agricultura, meio técnico-científicoinformacional, globalização.
Introdução
Tendo início, nos países centrais, após a Segunda Guerra Mundial e, atingindo, nos anos 70,
os países periféricos, o período denominado por Milton Santos (1999) de técnico-científicoinformacional, corresponde aos dias de hoje em que, além da estreita ligação entre técnica e
1
Bacharel e licenciada em Geografia, atualmente cursando o Programa de Pós-graduação em Geografia –
Mestrado – da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
2
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
ciência, há o destaque de um outro elemento de igual importância às dinâmicas que regem a
expansão da lógica global atual – a informação:
Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e
informacionais, já que, graças à extrema intencionalidade de sua produção e de sua
localização, eles já surgem como informação; e, na verdade, a energia principal de seu
funcionamento é também a informação. Já hoje, quando nos referimos às manifestações
geográficas decorrentes dos novos progressos, não é mais de meio técnico que se trata.
Estamos diante da produção de algo novo, a que estamos chamando de meio técnicocientífico-informacional (p. 190).
As transformações pelas quais o território brasileiro vem passando mediante a constituição e
afirmação deste meio são demasiadamente densas e complexas, podendo ser analisadas sob
múltiplos enfoques e pontos de vista, com base em contextos históricos e recortes espaçotemporais diferenciados. Dessa forma, esse trabalho visa tecer algumas considerações sobre a
expansão deste meio no espaço nacional, tendo como objeto de estudo o meio rural.
Considerações essas que, por sua vez, têm como enfoque principal a análise, generalizada, das
mudanças ocorridas na forma de organização da produção e do trabalho na atividade
produtiva agrícola a partir do processo de modernização da agricultura brasileira,
implementado pós década de 1960 no país.
Para que se atingisse tal objetivo proposto foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a
temática escolhida, tendo como base de referência, sobretudo, os estudos de Santos (1999) e
Santos & Silveira (2001) sobre a difusão do meio técnico-científico-informacional e os
impactos desta difusão sobre o espaço rural brasileiro.
I- Espaço Rural, Modernização da Agricultura e Expansão do Meio Técnico-CientíficoInformacional
De acordo com Bernardes (2000), a introdução de novas técnicas em um determinado espaço
é condicionada e, ao mesmo tempo, reflete as condições históricas e econômicas existentes
nesse espaço no momento em que foram introduzidas, assim como significa também a
necessidade de substituição das técnicas que se mostraram ineficientes. Dessa forma, pode-se
dizer que as transformações pelas quais o espaço rural brasileiro vem passando ao longo das
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
3
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
últimas décadas têm como ponto de partida a implementação do modelo de modernização
agrícola adotado a partir da década de 1960 no país. Caracterizado pela inserção do campo da
lógica capitalista de produção mediante sobretudo o estreitamento das relações entre os
setores agrícola e industriais, o modelo de desenvolvimento adotado ao mesmo tempo em que
teria promovido, de acordo com alguns autores, a subordinação da agricultura à indústria
(Marafon, 1998), viria a contribuir também para o surgimento de novos agentes sociais no
cenário rural brasileiro. Estes últimos, por sua vez, ao conduzirem, juntamente com o Estado,
o estabelecimento de novos usos do solo, assim como novas formas de produzir, acabaram
por promover também sucessivos processos de estruturação e reestruturação desse espaço.
Diante da necessidade do abastecimento de um mercado interno em expansão, em virtude da
urbanização acelerada que se processava no período, e da expectativa de superação da
situação de dependência de um único produto de exportação – o café –, tal modelo tinha, em
linhas gerais, como principais objetivos o aumento da produção e da produtividade do setor
agrícola através da introdução maciça de máquinas e insumos químicos ao processo
produtivo. No entanto, a emergência, nos anos 80, em escala mundial, de uma maior
preocupação com questões referentes ao meio ambiente e à dieta alimentar da população, da
mesma forma em que promoveria uma enxurrada de críticas ao padrão mecânico-químico
vigente, acabaria abrindo espaço também para o avanço da biotecnologia e engenharia
genética aplicada à atividade produtiva agrícola:
(...) a modernização do campo ocorre primeiramente com a mecanização da produção,
observada pela utilização crescente de arados, aspersores, colheitadeiras, pulverizadores e
tratores. Em um segundo momento, a novidade decorrerá da utilização dos derivados da
indústria química; fertilizantes, agrotóxicos, herbicidas, fungicidas e corretivos para o solo
que se dá paralelamente ao desenvolvimento da biotecnologia e da engenharia genética
(RAMOS, 2001, p. 376-377).
A difusão atualmente de tecnologias menos degradantes ao meio ambiente, de novas formas
de regulação da produção agrícola baseadas, por exemplo, na redução do uso de agrotóxicos,
assim como o surgimento de rótulos como “consumidor-saúde” e “produtor-verde”, em
função dessa crescente preocupação ambiental, tem levado muitos estudiosos da questão
agrária a levantarem um outro viés a respeito do assunto. José Graziano da Silva (2002),
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
4
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
chega até a estabelecer, para os dias atuais, uma etapa superior da modernização que foi a
revolução verde nos anos 60 e 70, assentada em novas bases tecnológicas, e que ele denomina
de modernização ecológica, já que para o autor a questão ambiental é muitas vezes utilizada
por determinados grupos de empresas como uma estratégia de agregar valor à produção e
obter maior êxito no mercado.
Como uma das características principais do modelo de desenvolvimento capitalista, o
processo de modernização da base técnica mencionado não se distribuiu de forma homogênea
pelo espaço rural brasileiro, atingindo, de forma efetiva, somente aquelas áreas mais
capitalizadas onde já existia uma agricultura capitalista organizada. De acordo com Santos &
Silveira (2001), entre os anos 60 e 70, a difusão do meio técnico-científico, permaneceu quase
restrita às regiões Sul e Sudeste, com destaque absoluto, em relação a esta última, para o
Estado do São Paulo. Como base de exemplificação, nesse período estas duas regiões
chegaram a concentrar cerca de 88,7% de toda frota nacional de tratores.
A partir dos anos 80, período de deslanche da globalização, ainda segundo Santos e Silveira
(2001), a difusão de novos objetos técnicos atinge também a região Centro-Oeste e algumas
áreas da região Nordeste. No que tange à essa primeira, o acréscimo de tais objetos ao seu
território é explicado pela expansão da fronteira agrícola capitalista nessa área, contribuindo
para um processo de re-hierarquização de culturas, condicionada, sobretudo, pelo
desenvolvimento das cadeias produtivas de grãos e carnes na região.
A concentração de novas tecnologias em determinadas áreas, assim como sua a difusão para
outras áreas que antes se encontravam excluídas desse processo é dessa forma explicada por
Bernardes (2000): “O processo de concentração/centralização trata de processos de
transformação de frações dominantes, que instituem as possibilidades concretas de renovação
técnica na base de produção, a partir de suas disputas, estabelecendo uma nova hierarquia” (p.
246).
Por conseguinte, o resultado dessa inserção desigual de novas tecnologias no espaço rural
brasileiro foi o surgimento de profundas disparidades entre os sub-espaços rurais do país. Ao
mesmo tempo em que, no Nordeste, a existência de áreas especializadas, como aquelas que se
dedicam à produção de frutas irrigadas, contrapõe-se à permanência de áreas tradicionais,
com base na exploração máxima da força-de-trabalho humana e profundamente marcadas
pelo poder das oligarquias rurais, percebe-se, em São Paulo, a presença de manchas de
tecnologias de ponta em que a atividade agrícola conta com todo um aparato tecnológico,
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
5
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
composto por computadores, sensores, satélites etc., utilizando-se, cada vez menos, a força de - trabalho humana como base do processo produtivo. Da mesma forma, enquanto a região
dos cerrados se destaca pelo dinamismo da atividade agropecuária, decorrente, sobretudo,
pela expansão da cultura de grãos nessa área, na Amazônia, as transformações promovidas
pelo processo de urbanização e difusão de objetos técnicos, como os sistemas de
telecomunicações, encontram-se ao alcance apenas de alguns poucos agentes hegemônicos,
deixando à margem desse processo grande parte da população (Santos & Silveira, 2001).
1.1- O Papel do Estado na Difusão Desigual de Objetos Técnicos pelo Espaço Rural
Nacional
A expansão de inovações tecnológicas pelo território nacional teve o Estado como principal
gestor, tanto no que se refere ao estabelecimento de infra-estrutura necessária quanto ao que
diz respeito ao caráter excludente da mesma. Por um lado temos a implantação de todo um
aparato de infra-estrutura com vistas a tornar possível não somente a difusão de outros objetos
técnicos, como também criar as condições necessárias para garantir a circulação de
informações, pessoas e capitais entre as diversas áreas que, a partir dessa expansão, tal como
afirma Santos (1999) tornariam-se cada vez mais especializadas. Entre as obras e projetos
realizados via ação estatal podemos destacar: a ampliação da malha rodoviária e do setor de
armazenamento de mercadorias; os projetos de irrigação, sobretudo no Nordeste, os grandes
projetos energéticos das décadas de 70 e 80, realizados na Amazônia, entre outros.
Por outro lado, temos a criação de uma política de incentivos fiscais e creditícios que, assim
como o aparato de infra-estrutura mencionado, viria a beneficiar apenas alguns agentes
hegemônicos, Isso porque, iniciada em meados da década de 1960, com a implementação do
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), esta política viria a atingir, além de regiões,
culturas e produtores de forma seletiva, tendo como alvos prioritários aqueles produtos
vinculados às agroindústrias e os médios e grandes estabelecimentos.
Cabe ressaltar, entretanto, que, de acordo com RAMOS (2001), mesmo que tal política
agrícola tenha sido estabelecida de forma bastante seletiva, privilegiando os médios e grandes
produtores e as culturas do agronegócio brasileiro, as grandes beneficiadas com esta rede de
favores e subsídios seriam, de fato, as multinacionais do setor químico do país na medida em
que a compra de insumos químicos constituía-se em um dos principais requisitos para a
garantia de acesso a créditos: “De fato, esses incentivos provocaram o aumento do consumo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
6
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
de agrotóxicos e a expansão das grandes empresas agropecuárias, pois os empréstimos eram
cedidos aos produtores mediante a compra de novos insumos” (p. 383).
As normas são estabelecidas. A ciência se funde à técnica, que agora é universal, já que
possui caráter científico. Essa é a regra do jogo, e aqueles que não se adaptarem a essa regra
estão eliminados da competição. E é assim que, sob a lógica capitalista de produção, os
agricultores são coibidos a adotarem determinado padrão tecnológico para continuarem
competitivos no mercado. Muitos deles, sobretudo os pequenos, acabaram bastante
endividados, tendo que se desfazer de suas terras e se tornar assalariados. Assalariamento este
que, no caso brasileiro, enquanto produto da implementação excludente e desigual da política
governamental de crédito subsidiado e do sucessivo processo de reconcentração fundiária,
juntamente ao significativo processo de mecanização do campo naquelas áreas mais
capitalizadas, de acordo com Graziano da Silva (1999), tem se mostrado, na maioria das
vezes, sob formas descontínuas, sazonais e desqualificadas de trabalho em função tanto do
processo de especialização dos principais produtos agrícolas como o café, a banana, a laranja
e a cana-de-açúcar, quanto da modernização parcial do processo produtivo destes produtos.
O saber camponês/local é, portanto, sobretudo no que diz respeito à realidade dos países
desenvolvidos, cada vez mais substituído pelo conhecimento técnico: “O camponês,
transfigurado em profissional é a cristalização da passagem da lógica tradicional (saber
camponês) para a racionalidade econômica (técnica) como geradora da produção camponesa,
ou melhor da nova agricultura comandada e organizada pelo seu fomentador, o Estado”
(ANTONELLO, 2001, p. 34).
Entretanto, como também é característico do próprio desenvolvimento contraditório do
capital, o que se percebe, em alguns casos, é a conjugação perfeita entre o saber
camponês/local e o saber técnico. O chamado modelo pós-fordista ou do “capitalismo
flexível”, caracterizado, também, pelo avanço dos sistemas de organização do trabalho via
subcontratação ou terceirização (HAESBAERT, 2001) ultrapassa os limites da cidade e chega
até o campo brasileiro mediante uma determinada forma de se organizar o trabalho
denominada integração. Esta consiste na relação estabelecida entre as agroindústrias e os
pequenos produtores, fundamentada em um contrato verbal ou formal que garante
exclusividade à agroindústria no fornecimento de determinada matéria-prima ou matériasprimas pelo pequeno produtor: “Em grande parte as empresas agroindustriais instalam-se em
locais onde existia já alguma “tradição” de cultivo ou criação de suas matérias-primas, ou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
7
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
onde as características do campesinato indicavam a possibilidade de implantação de tal
sistema (...)” (IÓRIO, 1994, p. 144). O estabelecimento desse tipo de relação com os
pequenos produtores constitui-se em um excelente negócio para as grandes empresas
agropecuárias na medida em que da mesma forma que atuam na manutenção do padrão
tecnológico requerido, fornecendo insumos e assistência técnica (que obviamente serão
cobrados), acabam repassando também o controle e os riscos da produção para o pequeno
produtor. Este último, por sua vez, mesmo que tenha acesso a novos objetos técnicos, não
ficam com os benefícios, ou pelo menos como a parte mais significativa, que estes
proporcionam, já que tais objetos, tal como afirma Santos (1999), estão predestinados a
atender sobretudo aos interesses dos grupos hegemônicos. Um bom exemplo desse tipo de
organização do trabalho no campo consiste na relação estabelecida entre a Souza Cruz e os
pequenos produtores de fumo do município de Santa Cruz no Rio de Grande do Sul.
Não é apenas na elaboração de grandes projetos, na construção de grandes obras e no
fornecimento de subsídios que há a presença da parceria Estado/grande capital em prol da
difusão da atual lógica global. A atuação de ambos também se mostra presente no que
concerne à pesquisa científica. Ao Estado cabe a implementação de políticas públicas e
instituições voltadas para pesquisas agrícolas, como, por exemplo, a criação da Embrapa em
1973. Já ao grande capital – grandes grupos hegemônicos – cabe o encaminhamento e a
execução das pesquisas agropecuárias, mesmo daquelas que são desenvolvidas em instituições
públicas, de acordo com os interesses do mercado. Interesses esses que, por sua vez, são
estabelecidos pelas corporações transnacionais da agropecuária, da agroindústria ou do
agrobusiness e que
“(...) apoiadas em laboratórios de pesquisa, sistemas de informação e processo de
marketing, influenciam e organizam amplamente os padrões de produção,
comercialização e consumo de todo o tipo de alimento, de modo a atender
necessidades reais e imaginárias” (IANNI, 1996, p. 56).
Mais recentemente, além da forte influência que exercem no desenvolvimento de pesquisas
voltadas para a atividade produtiva agropecuária, os grandes grupos hegemônicos se mostram
cada vez mais presentes também na disponibilização de créditos agrícolas. Com a queda
significativa dos incentivos públicos, sobretudo a partir dos anos 90, o que se percebe é uma
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
8
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
maior tendência ao crescimento do número de financiamentos provenientes de empresas
ligadas à atividade agropecuária, como é o caso, por exemplo, da Perdigão (RAMOS, 2001).
1.2- A Informação Como Elemento Fundamental Para o Processo de Produção
A informação, último elemento que falta ao trinômio que constitui o meio correspondente aos
tempos atuais, de acordo com Santos & Silveira (2001), resulta da confluência entre diversos
objetos técnicos – satélites, radares meteorológicos, estações meteorológicas. Estes, na
medida em que permitem um melhor conhecimento do território, têm promovido profundas
alterações no processo de trabalho, contribuindo para que a própria informação que produzem
constitua-se ela mesma uma nova forma de trabalho.
No que concerne à atividade agrícola, ainda de acordo com os autores, a possibilidade de se
transmitir informação em tempo real tem promovido uma série de mudanças à sua
organização produtiva, na medida em que permite o planejamento das etapas de trabalho com
antecedência. A utilização de radares meteorológicos, por exemplo, tem possibilitado tanto a
previsão de enchentes e ventos fortes quanto o conhecimento detalhado da área agricultável.
Da mesma forma, a utilização de computadores como auxílio na determinação de doses certas
de fertilizantes ou do momento mais oportuno da colheita, garantem um êxito muito maior no
desenvolvimento do processo produtivo: “(...) três empresas no interior de São Paulo e o
grupo Algar em Uberlândia, utilizam um novo sistema técnico, constituído de computadores,
sensores e satélites para aplicar a dose certa de fertilizantes, defensivos e água, determinar o
momento da colheita da cana-de-açúcar, do café e dos grãos e controlar rebanhos” (SANTOS
& SILVEIRA, 2001, p. 87). Essa informação, entretanto, da mesma forma que os objetos
técnicos que a tornam possível, não se mostra presente de forma homogênea pelo espaço rural
nacional. Tida como um recurso, na medida em que faz a diferença no processo final da
produção, ela não está disponível para todos, ficando à inteira disposição apenas daqueles – os
grandes grupos hegemômicos – que detém o poder de decisão.
Considerações Finais
A partir das breves considerações expostas anteriormente, não há como negar a intensidade
das transformações promovidas sobre a forma de organizar a produção e o trabalho no campo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
9
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
em função da atual lógica global, marcada pela constituição e afirmação do denominado meio
técnico-científico-informacional, sobretudo, no que dez respeito ao papel significativo que o
último elemento constituinte deste meio – a informação – tem passado a representar no
processo de produção. Entretanto, além das mudanças percebidas na forma de organizar a
produção e o trabalho na atividade agropecuária – mudanças estas que foram o enfoque do
presente estudo –, em virtude da instalação de empresas agrícolas de bens de produção, de
pesquisa, de assistência técnica, pode-se perceber também em algumas áreas rurais do país
significativas alterações no comportamento das suas respectivas populações locais. De acordo
com IANNI (1996), além da crescente maquinização e quimificação das atividades produtivas
no campo e da conseqüente redução do contingente de trabalhadores rurais, a expansão de
padrões e valores sócio-culturais tidos como urbanos para o campo, assim como de elementos
aos mesmos associados como a televisão, o rádio, o telefone celular, o fax, o DDD etc.,
constituem-se em indícios da invasão, ainda desigual, mas progressiva, da industrialização e
urbanização no mundo agrário, induzida pelo desenvolvimento extensivo e intensivo do
capitalismo nos quatro cantos do mundo.
É claro que esse “transbordamento” para as áreas rurais de técnicas, padrões e valores sócioculturais característicos das cidades, e que atualmente também tem se manifestado pela
presença de atividades não-agrícolas no espaço rural, decorrente, sobretudo, de formas de
lazer como o turismo rural, é percebido com maior intensidade nos países desenvolvidos,
onde o modo de produção capitalista se distribuiu de forma mais homogênea. No que
concerne aos países periféricos, como o Brasil, marcado por uma estrutura agrária
extremamente concentrada e pela implementação de um modelo de modernização da
agricultura excludente, o que se tem é a expansão do meio técnico-científico-informacional de
forma bastante desigual, verificada tanto pela difusão de objetos técnicos e informacionais de
forma pontual, assim como pela expansão de valores urbano-industriais de forma
diferenciada.
Para Carneiro (1998), na medida em que as medidas modernizadoras sobre a agricultura,
moldadas no padrão de produção e vida urbano-industrial, não se distribuíram de forma
homogênea pelo espaço rural, este último, assim como as diferentes categorias de produtores
não estariam sendo afetados da mesma forma e com a mesma intensidade pelos impactos
promovidos pelos processos de industrialização e urbanização. Nesse sentido, acrescenta Rua
(2002, p. 37):
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
10
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
(...) hoje em dia é necessário levar em conta que o modo de pensar, agir e produzir típico
das cidades expande-se, com diferentes intensidades, até as mais remotas áreas rurais (...),
unificando o território (mas sem destruir as especificidades) sob a mesma lógica
capitalista que cria novas territorialidades (fruto das formas particulares de percepção dos
processos gerais) sem qualquer compromisso com a contigüidade, já que o
desenvolvimento econômico se dá de maneira desigual no espaço.
O fato, portanto, da difusão desse meio técnico-científico-informacional ocorrer de forma
desigual não impede que suas conseqüências, sobretudo as negativas, obtenham um maior
alcance. Ao contrário da difusão dos objetos técnicos pelo espaço rural nacional que
promoveria o aumento da produção e da produtividade agropecuária de forma bastante
pontual, a degradação ambiental, o êxodo rural, o desemprego e a permanência de uma grande
quantidade de terras improdutivas, ou seja, a face perversa da expansão da atual lógica global,
assumiria maiores proporções. A exclusão, uma das características principais da globalização,
se faz presente em todo o território nacional, contribuindo para a existência de um espaço
complexo e heterogêneo que é o meio rural brasileiro atualmente.
Muitos são os interesses em jogo e somente alguns (agentes sociais e lugares) detém o poder
de decisão, no entanto (...) “pelo fato de ser técnico-científico-informacional o meio
geográfico tende a ser universal. Mesmo onde se manifesta pontualmente, ele assegura o
funcionamento dos processos encadeados a que se está chamando de globalização”
(SANTOS, 1999, p. 191).
Referências
ANTONELLO, Ideni Teresinha. A Metamorfose do trabalho e a mutação do Campesinato.
São Cristóvão. Editora NPGeo/ UFS, 2001. 290 p.
BERNARDES, Júlia Adão. Mudança Técnica e Espaço: Uma Proposta de Investigação. IN:
CASTRO EL AL. Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro. Editora Bertrand Brasil,
2000. p. 239-269.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
11
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
CARNEIRO, Maria José. Ruralidade: novas identidades em construção. IN: Estudos
Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 11, p. 53-75, 1998.
GRAZIANO DA SILVA, José. Tecnologia e Agricultura Familiar. Porto Alegre. Editora da
Universidade/UFRGS, 1999. 238 p.
_____________________. A globalização da Agricultura. Disponível na Internet.
www.eco.unicamp.br/nea/rurbano/textos/downlo/rurban19.html. Acesso em janeiro de 2002.
HAESBAERT, Rogério. Globalização e Fragmentação no Mundo Contemporâneo. IN:
HAESBAERT, Rogério (org.). Globalização e Fragmentação no Mundo Contemporâneo.
Niterói, EdUFF, 2001. 308 p. p. 11-53
IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. Rio de Janeiro. Editora Civilização Brasileira, 1996.
IÓRIO, Maria Cecília de Oliveira. A integração agroindustrial: o sindicalismo ante uma
versão agrária da terceirização. IN: MARTINS, Heloisa de Souza & RAMALHO, João
Ricardo. Terceirização (diversidade e negociação no mundo de trabalho). Editora HUCITEC/
CEDI/ Nets, 1994. p. 137-152.
MARAFON, Gláucio José. Industrialização da Agricultura e Formação do Complexo
Agroindustrial no Brasil. IN: Geo UERJ Revista do Departamento de Geografia, UERJ, Rio
de Janeiro, n. 3, p. 7-21, jun. 1998.
RAMOS, Soraia. Sistemas técnicos agrícolas e meio técnico-científico-informacional no
Brasil. IN: SANTOS, Milton & SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil. Território e Sociedade no
Início do Século XXI. Rio de Janeiro. Editora Record, 2001. p. 375-387.
RUA, João. Urbanidades e Novas Ruralidades no Estado do Rio de Janeiro: Algumas
Considerações Teóricas. IN: MARAFON, Gláucio José, RIBEIRO, Marta Foeppel (org.).
Estudos de Geografia Fluminense. Rio de Janeiro. Editora Infobook Ltda, 2002. p.27-42.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU
INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG
LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA
12
II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA
SANTOS, Milton. Do meio Natural ao Meio Técnico-Científico-Informacional. IN: A
Natureza do Espaço. Técnica e tempo, razão e emoção. 3ª edição, São Paulo. Editora
HUCITEC, 1999. p. 186-207.
SANTOS, Milton, SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: Território e Sociedade no início do
Século XXI, Rio de Janeiro. Editora Record, 2001.