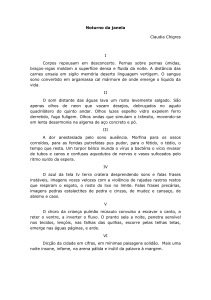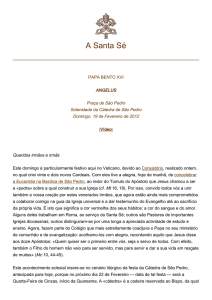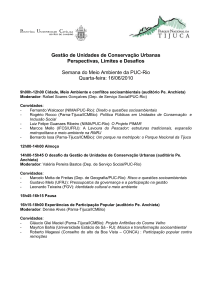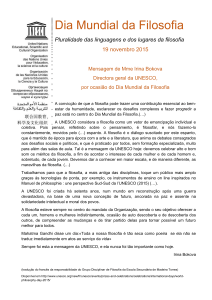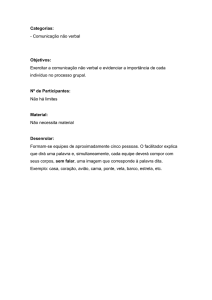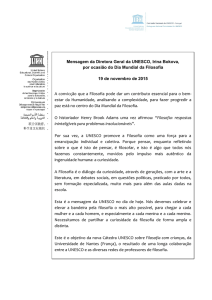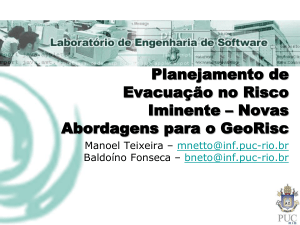Corpo editorial
Coordenadores Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio
Eliana Yunes
Luiz Antonio Coelho
Editor
Leonardo Pinto de Almeida — Universidade Federal Fluminense (UFF)
Editoras assistentes
Renata Nakano — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Luciana Claro França — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Comissão executiva
Ricardo Oiticica — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Design gráfico
Luciana Claro — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Romulo Matteoni — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Estagiários
Ana Clara Xavier — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Labiuai Henning Coimbra — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Conselho editorial Brasil
Alberto Cipiniuk — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
André Moura — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Benedito Antunes — Universidade Estadual Paulista (UNESP)
César Pessoa Pimentel — Faculdade de Ciências Médicas e Paramédicas Fluminense (SEFLU)
Daniel Coelho — Universidade Federal do Sergipe (UFS)
Evando B. Nascimento — Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Goiandira O. de Camargo — Universidade Federal de Goiás (UFG)
Helena Calone — Secretaria de Cultura do Acre
Marcelo Santana Ferreira — Universidade Federal Fluminense (UFF)
Marly Amarilha — Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Patrícia Constâncio — Prefeitura Municipal de Blumenau/AMEL
Patrícia Kátia Costa Pina — Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Paula Glenadel Leal — Universidade Federal Fluminense (UFF)
Ricardo Oiticica — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Ricardo Salztrager — Universidade Federal Fluminense (UFF)
Rogério da Silva Lima — Universidade de Brasília (UnB)
Rosana Kohl Bines — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Rui de Oliveira — Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Santinho Ferreira de Souza — Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Sylvia Maria Trusen — Universidade Federal do Pará (UFPA)
Valéria da Silva Medeiros — Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Vera Teixeira de Aguiar — Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)
Conselho editorial estrangeiro
Cecília Avenatti — Pontifícia Universidade Católica da Argentina (UCA – Buenos Aires)
David Acevedo Santiago — Secretaria de Educación Pública (México)
Ernesto Abad — Universidad de La Laguna (Canarias)
Fernando Avendaño — Universidad Nacional de Rosário (UNR – Rosário)
Jacques Leenhardt — L’École des Hautes Études en Sciences (EHESS – França)
Jorge Larrosa — Universidat de Barcelona (UB – Espanha)
Nicolás Extremeva Tapia — Universidad de Granada (Espanha)
Sumário
Editorial
Ilustrando as palavras... 7
Leonardo Pinto de Almeida & Renata Nakano
Relato de Experiência Profissional
Textos e intertextos da leitura numa escola de Ensino Fundamental
11
Marileide Rocha
Relatos de pesquisa
Leitura e redação nos cursos de Administração
Silas Gutierrez
O professor leitor e formador de leitores em contextos digitais
22
32
Claudia Lucia Landgraf Valério
Estudo Teórico
A subalternização em Os três porquinhos
Fabiano de Oliveira Moraes
A Novilíngua e a discursividade dos fenômenos de massa
54
Ricardo Salztrager
Walter Benjamin e a leitura do passado 41
64
Marcelo Santana Ferreira
Sessão temática: Leitura da imagem
Palavra, imagem e esquecimento no Grande Sertão: veredas
Patrícia Carmello
77
Reading other people’s minds through word and image
Maria Nikolajeva
Infância e memória na leitura perceptiva da ilustração
136
Sophie Van der Linden
On the Border between Implication and Actuality:
Children Inside and Outside of Picture Books
119
Maria José Palo
Lire l’album, entre texte, image et support
89
Perry Nodelman
153
Ilustrando as palavras...
Leonardo P. Almeida1 & Renata Nakano2
É com alegria que tomamos a palavra para apresentar este número. Ele é o terceiro produzido por
esta equipe que busca mostrar o que a leitura pode ser ou o que pode nos proporcionar. Este número também comemora nosso primeiro ano de trabalho e por esse motivo escolhemos fazer, além de
uma sessão de fluxo contínuo, como é de praxe em revistas acadêmicas de qualidade, uma sessão
temática.
A escolha dessa última está associada a um objeto de interesse de nossa editora Renata Nakano
que, como sugestão tomada, está no presente momento me ajudando a domar as palavras para
ordenarmos o horizonte de compreensão aberto pela leitura desse número. Estamos no momento
escrevendo a quatro mãos, como se costuma dizer.
O tema de nossa sessão comemorativa é “A leitura da imagem e a imagem da leitura”. Nela convidamos especialistas para submeter seus artigos ao nosso processo avaliativo, e contamos em especial
com alguns participantes da jornada internacional “Livro ilustrado: palavra e imagem em debate”,
promovida pela Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio em parceria com a editora Cosac Naify, em junho
de 2011. Nesse evento, foi possível ouvir grandes pesquisadores sobre o tema, como a russa Maria
Nikolajeva, professora de Cambridge que junto com Carole Scott escreveu Livro ilustrado: palavras e
imagens, um marco na pesquisa moderna sobre o tema, e a francesa Sophie Van der Linden, que acaba de lançar no Brasil o Para ler o livro ilustrado. Ambas, a nosso convite, encaminharam seus artigos
para nossa tradução, a fim de que pudéssemos disseminar suas últimas reflexões sobre o tema.
É crescente o interesse da pesquisa no Brasil por esse objeto do qual ambas tratam, de nomenclatura e definição ainda não estabelecidas por aqui: um tipo específico de subcategoria da literatura
infantil, caracterizado pelo papel que a linguagem visual representa na leitura da obra. No exterior,
é chamado por vezes de álbum, picturebook, livro-álbum ou picture-book. No Brasil, algumas editoras assumiram a influência da língua espanhola ou mesmo a de Portugal, chamando-o de álbum
ou álbum ilustrado, como é possível ver no catálogo das Edições SM. Outras, preferiram manter a
nomenclatura livro ilustrado, especificando sua definição em notas de rodapé, como nas edições
teóricas da editora Cosac Naify sobre o tema. Há ainda aqueles pesquisadores brasileiros, como a
Maria José Palo, que participa desta edição, que não diferenciam tal tipo de livro, considerando o
próprio livro infantil.
Nesta edição, optamos por chamá-lo nas traduções de álbum ilustrado, assumindo a influência sofrida pela América Latina e por editoras multinacionais espanholas. É uma opção diferente daquela
assumida na tradução do artigo de Lawrence Sipe em nosso primeiro número, livro-ilustrado, o que
demonstra, de certo modo, a instabilidade de tal terminologia. Nos artigos brasileiros, obviamente,
respeitamos a opção de cada autor.
Então, após esse brevíssimo preâmbulo, gostaríamos de ordenar o espaço leitor aberto pelo presen-
1. Editor da Leitura em Revista e professor adjunto do curso de psicologia da SFC/UFF.
2. Mestranda em Literatura, Cultura e Contemporaneidade na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
te número. Como mostrado, logo acima, escolhemos fazer duas sessões: uma de fluxo contínuo e
outra temática. O presente número se compõe de 11 artigos, sendo que 6 estão associados à sessão
de fluxo contínuo e 5 à sessão temática.
Como nos números anteriores, os artigos foram ordenamos por suas proximidades interpretativas
acerca do objeto leitura. Assim comecemos pelos artigos do fluxo contínuo.
Nessa primeira sessão, encontramos seis artigos que se unem de três a três em seus modos traçados
de olhar a leitura. Os três primeiros trabalham aspectos relativos à formação de leitores, enquanto
os últimos três se debruçam sobre obras literárias e filosóficas para traçar uma leitura.
Os três primeiros artigos giram em torno dos problemas relativos à educação e à formação de leitores. O artigo Textos e intertextos: caminhos e descaminhos do trabalho com a leitura literária numa
escola de Ensino Fundamental, de Marileide Rocha, nos apresenta um experimento de incentivo à
leitura, desenvolvido em um escola de Ensino Fundamental do estado de Goiás. Nesse texto, ela nos
brinda com uma reflexão sobre a formação de leitores através de sua intervenção na escola estimulando os alunos à leitura de textos literários.
O texto Leitura e Redação nos Cursos de ADM de Silas Gutierrez também se debruça sobre as problemáticas de ensino e educação. Nesse artigo, o autor analisa o ensino de leitura e redação nos
cursos superiores de Administração na região do ABC Paulista. Ele faz uma reflexão pertinente sobre
a prática de ensino efetiva na disciplina de Língua Portuguesa.
Ainda tomando a questão da formação do leitor, temos o artigo O professor leitor e formador de
leitores para contextos digitais de Claudia Lúcia Landgraf Valério. Esse texto discute o letramento
digital dos educadores da rede pública de Mato Grosso que são atendidos pelo Centro de Formação
de Profissionais do Estado do Mato Grosso (Cefapro). A autora articula a importância crescente da
Tecnologia da Informação e Comunicação e o desafio constante que ela impulsiona no contexto educacional, exigindo assim uma formação de professores atualizada e ligada às inovações tecnológicas.
Os outros textos da sessão do fluxo contínuo tecem reflexões que se voltam a leituras filosóficas
e literárias. O primeiro artigo intitulado A subalternização em ‘Os três porquinhos’ de Fabiano de
Oliveira Moraes analisa duas versões do conto moderno “Os três porquinhos” para apresentar uma
crítica ao paradigma dominante. Esse texto teceu, além disso, uma demonstração da importância
da figura do lobo no processo histórico ocidental para a discussão sobre o paradigma dominante e
a subalternização de saberes.
Já em A novilíngua e a discursividade dos fenômenos de massa, Ricardo Salztrager traceja uma reflexão sobre as relações entre a novilíngua apresentada em “1984” e a precisão linguageira. As questões levantadas sobre a novilíngua giram em torno da precisão no vocabulário que impede assim o
crimideia. A partir da reflexão sobre essa gramática precisa, o autor analisa os fenômenos de massa
e o discurso científico.
Em Walter Benjamin e a leitura do passado, Marcelo Santana Ferreira nos apresenta a reflexão
benjaminiana acerca do tecido histórico. Esse texto poderia ser renomeado como Benjamin, um
leitor da história. A partir de noções como tradição, experiência, lembrança e esquecimento, o
autor tenta nos demonstrar como em Benjamin podemos encontrar um tratamento renovado
sobre o tempo histórico.
Já em relação à sessão temática, começamos por uma bela surpresa. Originalmente enviado para compor os artigos de fluxo contínuo, fomos surpreendidos pela conexão profunda do artigo Palavra, imagem e esquecimento no Grande Sertão: veredas de Patrícia Carmello com nossa sessão temática A leitura da imagem e a imagem da leitura. Daí nossa escolha em começarmos por esse artigo que ressoa
também problemas levantados pelo último artigo do fluxo contínuo, devido seu aporte benjaminiano.
Patrícia Carmello toma em sua análise o livro de Guimarães Rosa Grande Sertão: veredas para refletir, à luz de Benjamin e da psicanálise, sobre o tema do nome e da nomeação. Ela se debruça sobre
as relações entre palavra, imagem mental, memória e esquecimento. Daí suas ressonâncias com a
sessão temática e com o texto de Marcelo Santana Ferreira.
Já o artigo Atribuição de estados mentais através de palavra e imagem, de Maria Nikolajeva, trata
da relação entre imagem e palavra como um dispositivo de transmissão de emoções variadas. A
autora acredita que, ao ler na palavra e imagem o que se passaria na mente de personagens, o leitor aprimora sua compreensão do outro, mesmo não havendo identificação pessoal com o próprio
personagem. Para traçar tal reflexão, a autora toma como objeto de análise textos multimidiáticos,
que aqui chamamos, como dito anteriormente, de álbuns ilustrados.
Em Infância e memória na leitura perceptiva da ilustração, Maria José Palo amplia a definição do
álbum ao partir da ideia de que o livro infantil por si já é um espaço de interação entre a palavra
e a imagem, para então nos brindar com uma excelente leitura sobre as vicissitudes conceituais e
históricas da ilustração. A autora aproxima os dois sistemas de linguagem e demonstra, no seio de
sua reflexão, como estes podem estimular o imaginário infantil — um infantil muito além da criança
— com uma bela apresentação dessa leitura à luz da Alice de Carroll.
O artigo Ler o álbum, entre texto, imagens e suporte, de Sophie Van der Linden, traz uma reflexão
sobre a especificidade do álbum. A autora nos apresenta as particularidades da produção francesa
que mescla elementos artísticos com a literatura infantil propriamente dita, mostrando a importância de partir das obras em sua singularidade para uma reflexão mais profusa sobre a interação entre
palavra e imagem no seio do álbum.
Para fechar o nossa sessão temática, fomos brindados pela tradução, feita por Renata Nakano
e Labiuai Coimbra, do novo texto de Perry Nodelman — publicado em inglês no The Journal of
Children’s Literature Studies —, intitulado: Na fronteira entre insinuação e realidade: crianças dentro
e fora de álbuns ilustrados. Nesse artigo, Nodelman trata sobre uma problemática muito comum na
pesquisa e edição de álbuns ilustrados e livros infantis em geral: as generalizações sobre crianças
e suas leituras e recepções. Apesar de ser um consenso que indivíduos diferentes em geral leem
de modo diferente, há um grande número de pesquisas qualitativas sobre leitura e recepção que
tomam os resultados da leitura de um grupo pequeno como verdades absolutas a serem aplicadas
em crianças em geral. Nodelman exemplifica com excelência alguns desses casos, trazendo perspectivas sobre como esse tipo de pesquisa poderia ser melhor encarado.
É com a proposta de renovar o olhar para a pesquisa que Nodelman traz que chegamos ao fim deste
editorial, para que os leitores usufruam, sempre com pensamento autocrítico, essa relação tão apaixonante que é a leitura e a reflexão.
Desejamos a todos uma boa recepção!
Textos e intertextos da leitura numa escola de Ensino Fundamental
Reanding intertextos and texts in elementary school
Textos y intertextos de la lectura en en la escuela de educacción básica
Marileide Rocha1
Resumo
Este escrito relata um experimento com a leitura do texto literário em uma escola pública municipal de segunda fase do
Ensino Fundamental, no município de Senador Canedo, em Goiás, no decorrer de 2010. Nesse local, havia muitos livros
literários, entretanto os alunos não tinham acesso às obras, que estavam guardadas sob a alegação de serem de uso do
Ensino Médio. Nesse contexto, o desafio foi fazer com que os livros guardados chegassem às mãos dos alunos. Para isso,
fez-se urgente incentivar o gosto pela leitura. Diferentes textos foram trabalhados com o objetivo de que o leitor tivesse
contato com um número maior de obras, possibilitando-lhe a expansão do universo de leitura e criticidade, induzindo-o
para o mundo das letras de forma prazerosa, a fim de interferir de forma positiva na realidade local.
Palavras-chave: leitura, literatura, escola.
Abstract
This text recounts an experiment with the reading of literary texts in a municipal public school, 2nd stage of elementary,
in the municipality of Senador Canedo, GO, in the course of the year 2010. There were many literary school books that
students did not have access. The works were kept on the grounds that they were for the high school to use. In this
context, the challenge was to make the stored books arrive at the hands of students. The development of pleasure for
reading became an urgent task. We worked with a large variety of texts, so that the reader would have contact with a
larger number of works, enabling the expansion of the reading and critical universe, enjoyably leading the student into
the world of letters in a way of positively interfering with the local reality.
Keywords: reading, literature, school.
Resumen
Este texto relata un experimento con la lectura del texto literario en una escuela pública municipal 2ª etapa del instrución fundamental, en el muncipio de Senador Canedo, GO, en curso de 2010. En ese local habia muchos libros literários que los estudiantes no tenían acceso. Las obras se mantuvieron vigiladas bajo alegación que eran del enseñanza
secundaria. En este contexto, el desafio era hacer que los libros almacenados llegasen a manos de los estudiantes. Se
convertió en urgente trabajar en la formación del gusto por la lectura y de carga, no podia ser convencional. La acción
fue a trabajar com diversos textos, para que el lector ha estado em contacto com um mayor número de obras. Lo que le
permite la expasión del universo de lectura y criticidad, lo induciendo al agradable mundo de las letras, permitindo que
él interfiera positivamente en la realidade local.
Palabras clave: lectura, literatura, escuela.
1. Mestre em Literatura e Práticas de Ensino pela Universidade de Brasília (UNB) e professora do Ensino Fundamental.
Contato: [email protected].
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Atualmente atuo como professora de Língua Portuguesa, lotada na escola Vovó Dulce, situada no
Jardim das Oliveiras, município de Senador Canedo, em Goiás. Entretanto o desejo de trabalhar a
leitura do texto literário na escola, de forma variada, surgiu durante minha pesquisa de mestrado
em 2007, quando trabalhava com o ensino de jovens e adultos, no período noturno. Naquela época,
buscava indagar, sobre o ensino da leitura na escola pública. Assim, realizei um levantamento dos
dados por meio de questionário, com alunos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, como também com professores de português. Nesse levantamento o professor de Língua Portuguesa escolhia
quatro alunos de cada turma: dois meninos e duas meninas para responderem o questionário.
A análise dos dados ali levantados levou-me à percepção de que, embora houvesse incentivos para
a leitura por parte dos professores, os alunos não se lembravam do que liam. Quando se lembravam
mencionavam alguns contos de fadas universais tradicionais ou o nome de duas escritoras famosas,
mas não suas obras. Esse aspecto levou-me a ponderar que as lembranças desses contos talvez fossem resultado de um trabalho com a leitura, de forma marcante, nas séries iniciais ou talvez os textos não necessitassem de mediação para serem compreendidos. Hoje, ao refletir sobre esse aspecto
entendo que as lembranças, dos alunos, de determinados textos pode ter explicação no que Bakhtin
denomina de interação verbal ou diálogo que pode ser “a compreensão como forma de diálogo na
forma de tomada de posição ativa a propósito do que é dito e compreendido” (2006:102), estabelecendo dessa forma o diálogo entre o aluno e o texto.
Estava ali um problema que merecia ser investigado. Também percebi que, nas séries finais, os livros
disponibilizados para a leitura dos alunos eram, em sua maioria, da coleção Literatura em Minha
Casa2. Certamente, esta é uma coleção de gosto inquestionável, mas que não exercia atração nos
meninos. Alguns desses livros já haviam sido lidos, várias vezes, pelo mesmo aluno. Vislumbrei, nesse contexto, que a escola nutria certo desânimo com relação à leitura, embora houvesse incentivo
por parte dos professores.
Ante esse cenário e com base nas orientações de Bakhtin, pude depreender o problema a ser estudado a partir da seguinte indagação: por que os alunos se lembravam dos contos universais e não
dos contemporâneos. Assim, fazia-se importante entender o que teria acontecido.
Quando terminei o mestrado continuei trabalhando na sala, ou melhor, no depósito de livros didáticos onde ficam os armários com o acervo literário. Esse local, obviamente, não é uma biblioteca,
porque segundo Baldi (2009:17) uma biblioteca deve ter uma estrutura física e material adequados
para tal fim; deve ser batizada com o nome de algum autor que tenha uma relação com os alunos ou
a comunidade; além de possuir um acervo de qualidade e diversificado.
A rigor, esse não é o caso da escola pesquisada, cuja instalação física e material mais se assemelha
um “depósito de livros” do que a uma biblioteca. A sala também era utilizada para as aulas de reforço
a crianças e adolescentes com dificuldade de leitura. Foi nesse espaço restrito que brotou a idéia de
trabalhar os textos literários com o objetivo de formar leitores fazendo uso de uma leitura prazerosa.
O prazer, nesse contexto, não pode ser visto não como ato obrigatório, mas puro entretenimento.
Surgiu, então, a oportunidade de buscar respostas para as questões que tanto me inquietavam na
definição de enunciação de Bakhtin de que “a enunciação é o produto da interação de dois indivídu-
2. Livros do Programa Nacional de Biblioteca na Escola criado em 1997.
12
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
os socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído
pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor” (2006:116).
Tais inquietações encontraram na mediação do professor uma possibilidade de estabelecer comunicação ou entendimento entre o aluno e o texto. Para isso, busquei apoio na teoria da enunciação de
Bakhtin (2006) colocando-me como mediadora, levando em considerando que mediador da leitura
pode ser uma pessoa que se interpõe entre o leitor e o texto, na tentativa de estabelecer uma possível compreensão do texto lido.
Durante o desenvolvimento do trabalho, notei que havia muitos exemplares de livros de excelente
qualidade enviados pelo FNDE3. Eles ficavam guardados porque as pessoas que trabalharam naquele
espaço achavam que alguns deles não eram adequados para os alunos, como mencionado anteriormente. Além disso, era entendido também que tais exemplares nas mãos dos alunos estragam
ou perdem. Outros achavam os textos difíceis de serem compreendidos ou que alguns deles eram
extensos. Nesse sentido, estavam ali meus desafios: encontrar caminhos para fazer chegar uma
maior quantidade e variedade de obras até as mãos das crianças; fazê-las ler de forma a despertar o
interesse pelos conteúdos, a ponto de se lembrarem do que haviam lido. Por isso, resolvi instigar a
leitura de textos literários, sem cobrança didática.
Mas, como não escolarizar a leitura dentro de uma escola? A minha angústia com relação a esse
aspecto não é um sentimento solitário. Leal (2006:265), no livro A escolarização da leitura literária,
menciona que esse procedimento vem sendo debatido e refletido por vários educadores que se
angustiam diante da dificuldade de trabalhar a literatura na escola, bem como de contribuir para
que os alunos se tornem leitores voluntários e autônomos. Pensando nessa angústia, encontrei em
Magda Soares a resposta seguinte: “Não há como evitar que a literatura infantil e juvenil, se torne
‘saber escolar’. O que podemos fazer é refletir sobre formas adequadas de escolarizá-la com práticas
que a aproxime do aluno para não estabelecer nele uma aversão à leitura” (2006:22).
Minha decisão estava ancorada na reflexão dessa escritora, e assim entendendo, um dos procedimentos adotados, foi o de encontrar uma forma adequada e prazerosa de escolarizar a leitura, a
fim de possibilitar maior quantidade e variedade de livros nas mãos dos alunos, mas primando pela
satisfação e qualidade.
De gêneros, autores e editoras diversificados, os livros enviados pelo FNDE foram utilizados para
desenvolver essa prática com a leitura. Dessa forma, retomamos os ensinamentos de Magda Soares
quando ela diz que “uma seleção limitada de autores e obras resulta em uma escolarização inadequada, sobretudo porque se forma o conceito de que a literatura são certos autores e certos textos,
provocando o desconhecimento, pela criança, daqueles autores e obras que a escola não privilegia”
(2006:28).
A tarefa seguinte era atrair os alunos para o local onde estavam guardados os livros. Mas, por esse
local não ser agradável, pois não havia espaço físico adequado como mencionado, o atrativo teria
que ter um apelo forte para levar os estudantes a fazerem do local um ponto de encontro e bate
papo cujo tema era os textos lidos ou livros escolhidos por eles. Para isso, teria que buscar um caminho de sedução para aproximar o aluno dos textos, porém, estava consciente que a mediação entre
3. Funda Nacional de Desenvolvimento da Educação, Autarquia vinculada ao Ministério da Educação
13
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
o leitor e um texto pode ocorrer em vários momentos. Na maioria das vezes, o que se imagina é que
o professor possa exercer essa mediação, uma vez que, em sala, apresenta um texto ou um livro aos
alunos, propõe a leitura e discute várias interpretações que aquela obra suscita. Mas, no caso específico dessa Escola, a situação era diferente os alunos iam à “biblioteca” e ali discutiam, debatiam,
trocavam impressões e leituras comigo. Nesse caso, imagino que estava intervindo, aproximando,
mas não facilitando o diálogo entre o aluno e o texto, enfim exercendo uma mediação. Minha intenção era auxiliar o aluno no desenvolvimento de competências e habilidades de leitura para que ele
pudesse desvendar possibilidades que o levasse à apropriação do texto, dando sentido, forma, consistência àquele conteúdo, confirmando assim o entendimento do que havia lido.
O trabalho com a literatura envolvendo estudantes que não possuem o hábito de ler é um ato difícil, porque o professor necessita fazer a mediação e a sedução para que os alunos leiam o maior
número de obras que ainda não conhecem. Essa mediação necessita despertar a curiosidade para o
desconhecido. Nesse aspecto, minha atuação era difícil porque havia decidido que começaria pelos
textos de Monteiro Lobato, já que os professores consideram esses textos longos e enfadonhos. Essa
escolha foi planejada e se justifica por ter sido encontrado, no armário destinado aos professores,
uma caixa com vários livros quase intactos desse autor.
Para despertar o interesse dos alunos por esse autor, fiz cartazes curtos, imitando os anúncios de
fast-foods. Neles anunciei a presença do escritor na escola. Agi como se ele estivesse vivo. Esse
artifício levou vários curiosos para o local onde os livros estavam guardados. A “biblioteca” ficou
cheia de alunos querendo saber quem era Monteiro Lobato. Eu dava explicações e oferecia os livros.
Falava um pouco sobre o escritor. Os alunos iam e vinham com livros de Lobato nas mãos. Sendo
os textos um pouco extensos, como mencionado, estipulei o prazo de devolução dos livros em uma
semana. A partir daí, vi que teria chance de mostrar outras obras, mas agiria como uma lanchonete
de fast-food e não como uma biblioteca convencional. O “lanche”, ou melhor, os livros deveriam ser
apresentados como uma novidade “quentíssima”, saindo “do forno” naquele instante. Todo dia, na
caixa de livros surgia uma novidade, anunciada como se fosse “a melhor coisa do mundo”. Para mim
estava sendo uma experiência nova porque tinha que ler tudo que sugeria aos estudantes a fim de
evitar equívocos a partir da “ideia de que basta colocar o texto na mão do aluno, ordenar a leitura e,
consequentemente, a leitura acontecerá” (LEAL, 2006:265).
Nesse aspecto, meu crescimento, como leitora, foi tão grande quanto o dos alunos porque adquiri
o hábito de ler todos os exemplares antes de oferecê-los para empréstimo. A minha intervenção
indicando esse ou aquele texto, que li realmente, falando sobre características de personagens ou
comentando sobre o processo de construção da obra, provocou um movimento que ouso chamar
de “animado” porque incentivou e as idas e vindas dos alunos à “biblioteca” mudando o humor do
ambiente. A escola que era monótona, ou seja, sem opção de lazer, biblioteca ou quadra de esporte, tornou-se animada. Os alunos começaram a ler os livros dentro da sala. Às vezes, solicitavam a
esse ou aquele professor permissão para devolver o livro e ali ficavam discutindo a respeito do que
haviam lido. O vaivém chamou a atenção da coordenadora de turno. Houve muita reclamação no
sentido de que os alunos estivessem lendo durante as aulas e que saíam da sala de aula para devolver ou pegar livros. Então, a coordenação, a bem da disciplina e organização da escola, estipulou que
os livros só poderiam ser locados para empréstimo durante os quinze minutos do recreio.
Consegui com isso o que mais queria: transformar aquele espaço em ponto de encontro, mesmo
sendo por quinze minutos.
14
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Muitas vezes, percebia que o aluno não havia lido o livro locado. Entretanto, não podia cobrar a leitura. Por isso, mudei de tática, passando a fazer comentários sobre os textos, dando opinião; comecei
a usar, literalmente, a hipérbole para classificar as personagens, atitudes ou tema da história. Fazia
malabarismos para que os alunos se sentissem curiosos pelos assuntos dos textos. Nesse tempo, já
havia diversificado autores e obras. Comecei a colocar na caixinha uma verdadeira seleta de textos.
Os alunos liam e comentavam entre si, e algumas obras já chegavam com um locador pronto para
levá-las para casa. Muitos livros sequer voltavam para a caixa de amostra porque o rodízio das obras
era grande entre os estudantes.
No começo do trabalho tentei colocar os textos na caixa de amostra por gênero. Não deu certo porque quando colocava poesia os alunos estavam desejosos de ler contos ou crônicas. E eu não estava
numa situação na qual pudesse barganhar o desejo do aluno, sob pena de afastá-lo da “biblioteca” e
perdê-lo como leitor. Comecei a diversificar os gêneros e autores. Notei que havia dado certo. Então,
de janeiro a novembro de 2010 houve uma movimentação de algumas obras literárias que considero
satisfatória, já que algumas, jamais tinham saído do armário destinado à leitura dos professores. A
intenção era trabalhar diversos autores para conseguir provocar os vários sentidos, possibilitar a
percepção crítica e o diálogo do leitor com outros textos ampliando o repertório de leitura.
Desse ponto de vista, estava procurando não ver a utilização e a recepção da leitura da literatura
dentro da escola apenas como forma de recreação, nem trabalhá-la como possível roteiro de fichas
de leitura que transitam apenas na superficialidade do texto. Por isso, não utilizei como critério de
seleção os chamados “bons” textos em detrimento dos “ruins”. Meu interesse residia em apresentar, de forma clara, uma prática compartilhada e se possível transformadora. Para isso, optei por trabalhar os conflitos e distorções que surgissem, procurando, ao invés de mascará-los, recuperá-los,
discutindo com o leitor as várias possibilidades que um texto pode trazer.
Essa prática sobre a palavra na qual o leitor pode elaborar, criticar e transformar ideologias, traz
um sentido de prazer não apenas pela satisfação de certas necessidades de fantasia, mas também
pelo aprendizado significativo da leitura. Desse modo, é possível aprender a gostar de ler textos de
qualidade literária (e gostar de aprender) porque saber e prazer não se anulam. Ambos requerem a
leitura em sua plenitude. Essa mistura de prazer e aprender denominei trivial, isto é, entretenimento e curiosidade dosados cuidadosamente.
No entanto, ao ler um texto, o leitor pode não estar numa situação de comunicação verbal (compreensão), ou seja, dentro da dicotomia língua. O ato de ler, nesse contexto, talvez se encontre
totalmente descolado da realidade, tornando-se simples unidade virtual de uma língua que existe
em um texto literário, tendo como base da enunciação, a oração escrita. Essa nuança fez com que eu
buscasse nas orientações de Bakhtin (2006) uma ponderação sobre a dicotomia “língua — comunicação verbal”. O autor destaca que o texto escrito (discurso) pode ser uma oração entendida como
“unidade de língua” e por isso não mantém relação com qualquer discurso anterior ou posterior.
Nesse caso, a oração seria uma abstração não inserida em um discurso (texto), servindo apenas para
a divisão das partes lidas e entendidas enquanto partes isoladas pelo leitor no ato de ler. Com base
em tal perspectiva, entendi que talvez um discurso escrito não garanta ao leitor a capacidade de
entender o outro ou suas ideias colocadas num texto porque muitos deles exigem mediação.
Portanto, o discurso não pode ser encarado simplesmente como texto. Se assim o fosse, a oração
constante ali seria suficiente para dar conta da função discursiva — comunicativa da linguagem,
15
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
não necessitando de um mediador para explicitar o referido discurso, ou seja, o texto lido. Como
o discurso transcende o texto, não expressa qualquer juízo de valor e só pode ser entendido numa
constituição ideológica, histórica e social do leitor; eis o porquê da importância da linguagem na
formação do juízo crítico das pessoas e também da necessidade de sua compreensão, seja em um
texto ou em uma ação comunicativa entre duas ou mais pessoas.
Levando em consideração os aspectos discutidos, considero que o ensino da leitura tem relação
direta com práticas que envolvem a comunicação verbal porque os alunos, leitores ou não, precisam participar das práticas sociais de forma plena. Para tanto, torna-se indispensável que consigam
contextualizar aquilo que apreendem na leitura; então é importante que o conhecimento linguístico
adquirido na escola seja transferido sob a forma de compreensão para o mundo real. É por meio da
comunicação verbal que o leitor consegue entender o mundo e a sociedade. Essa compreensão é
assim definida por Bakhtin
O livro, isto é, o ato da fala impresso, constitui igualmente um elemento da comunicação verbal. Ele é
objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo e, além disso, é feito para ser apreendido de maneira
ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem contar as
reações impressas, institucionalizadas, que se encontram nas diferentes esferas da comunicação verbal.
(2006:127)
Assim entendendo, baseei meu trabalho na proposta dialógica “bakhtiniana” do reconhecimento
das propriedades do diálogo entre leitor e texto com objetivo de permitir a apreensão de uma linguagem viva; nesse caso, seria a compreensão dos diferentes diálogos em diferentes estilos dentro
do gênero literatura.
Quando iniciei o projeto de leitura na escola, tinha consciência de que minha prática não era neutra.
Ela envolvia opções, conscientes ou não. Para realizar o trabalho tive que pensar no presente histórico em que a escola estava inserida, nos alunos e em mim. A partir dessa premissa, foi possível desenvolver a leitura da literatura para alcançar os avanços qualitativos que tanto almejava. No entanto,
com todo esse esforço, percebi que os alunos dos 8º e 9º anos frequentavam pouco a “biblioteca”.
Eles não nutriam interesse pelos livros literários. Resolvi fazer uma jogada: comprei três exemplares
da saga Crepúsculo4. Dois ofereci para empréstimo e o outro doei para a escola premiar uma aluna
do 9º ano como “leitora revelação”. A ação utilizada deu resultado. Todos se interessaram pelo livro.
Então, estipulei que só o tomaria emprestado aquele aluno que colocasse o nome numa lista de
espera e tivesse lido outras obras da biblioteca.
Em decorrência do contexto citado anteriormente, ficou ressaltado o óbvio: pode-se aprender a ler
e a gostar de ler textos de qualidade literária. A passagem da quantidade para a qualidade de leitura
não se dá por milagre, pressupõe um processo de aprendizagem, mesmo na escola, local onde ocorrem estímulos e desestímulos com os quais nós, professores e alunos, lidamos no dia a dia. Atuando
como mediadora, percebi que cabia a mim romper com o que estava estabelecido como ensino da
leitura da literatura ali, naquele ambiente. Para isso, foi necessário compreender que tipo de concepção de escola e de sociedade eu queria. Pude perceber que a formação do leitor envolve a diversidade como princípio norteador dos critérios de seleção e utilização dos textos e da reflexão sobre a
formação do interesse dos alunos pelos livros. Foi preciso também entender que esse processo não
4. Best seller de Stephenie Meyer sobre vampiros.
16
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
ocorre de forma automática; envolve as histórias da leitura, do leitor e do texto. O trabalho com a
leitura da literatura deve levar em conta que a criança e o adolescente podem empreender a busca
pessoal pela alegria de vitória sobre cada obstáculo superado no processo de leitura e, a partir daí,
autoafirmar-se como um leitor crítico e atuante, em sua própria realidade ou não.
O trabalho com a leitura permite aprender que, enquanto processo de conhecimento, ela é decorrente da opção pela diversidade; diz respeito, ainda, ao ajuste dessa ação à capacidade de apreensão do leitor ao enfrentar desafios novos como possibilidade de sentir-se satisfeito ao ler, entender
e transcender um texto, bem como sentir que o prazer-fruição pode fazer vacilar a consistência do
prazer e as bases históricas, culturais, sociais e psicológicas. Tais elementos fazem do leitor um guerreiro em busca dos significados que podem lhe render sabores e dissabores ao longo da caminhada.
No percurso do trabalho, aprendi a procurar a diversidade de enredos, procedimentos narrativos,
gêneros, linguagens, autores e métodos para poder romper com a limitação do totalmente conhecido e levar o leitor, através da busca de significados, a ampliar seus horizontes.
Entendi, entre outros fatores, que as leituras de que o aluno gosta podem ser trazidas para a sala de
aula como ponto de partida para a reflexão, o diálogo, a análise e a comparação com outros textos.
Esse trabalho pode ser feito até com uma literatura trivial, como a saga Crepúsculo ou Tio, me compra um papai5. Livros estes pelos quais os alunos demonstram grande interesse. Quando me refiro à
literatura trivial, penso no que Maria do Rosário Magnani: entende por isso, ou seja, “aquela que é
colocada como mercadoria, que se define em função do público e das condições de sua atualização,
ou seja, o valor de troca condicionado pelo valor de uso” (2001:85).
Observando o interesse dos alunos pelas obras mencionadas acima e refletindo sobre o que chamou
minha atenção no início da pesquisa: o fato de que os alunos se lembrarem de determinados contos
de fadas; não se lembrarem dos textos contemporâneos; acredito haver encontrado uma possível
resposta em Magnani (2001:95) quando ela comenta que a trivialidade aplicada à literatura mobiliza
a consciência e a sensibilidade do leitor passando conteúdos informativos e procedimentos literários como únicos e verdadeiros.
A reflexão da escritora me levou a ponderar que, provavelmente, o conto de fadas permite a retenção do enredo por ser linear; já os contos contemporâneos necessitam de um leitor que entenda,
reflita, questione, compare e transcenda o texto. Nesse caso, ele necessita de um mediador que o
ajude a compreender o texto. A compreensão do que é lido, pode levá-lo a se lembrar do enredo.
Quando não há um mediador, é compreensível que o leitor prefira um texto trivial a outro mais
elaborado. Nessa perspectiva, percebi também a possibilidade de utilizar, ou não, esse tipo de livro
para conseguir que o aluno se aproxime de uma obra mais complexa, desde que, para tanto, tenha
propósitos claros.
Penso ter entendido o motivo de os alunos sujeitos da pesquisa de mestrado se lembrarem dos contos de fadas e preferirem ler obras triviais em detrimento de textos mais elaborados. Compreendi
que posso utilizar, esse tipo de literatura para conseguir que os estudantes se aproximem de obras
mais complexas. Ainda em relação a esse assunto, Magnani comenta que
5. Texto que enfoca o menor abandonado de Deurides Santos.
17
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
O estudo crítico e comparativo do texto como um todo se apresenta como uma forma de desmistificar e
desautorizar modelos, de recuperar o prazer de saber que há muitos jeitos de ler e que não são casuais; de
perceber que o prazer não compra em lojas, nem é automático, mas depende da emoção e da percepção
mais ou menos clara do trabalho particular de linguagem e de formas, e tampouco é incompatível com o
saber; que a leitura é novidade e ruptura e só será agente de transformação na medida em que for resultado e lugar de transformação. (2001: 138-9)
É gratificante inferir que a escola estava se transformando num agente promotor de leitura. Nesse
processo, alguns alunos sentiram necessidade de trabalhar o texto e perceberam que o tempo estipulado para ficar na “biblioteca” era pouco. Eles pediram e a direção da escola permitiu que tivéssemos duas oficinas de leitura da literatura e de contação de histórias. As oficinas aconteceiam de
quinze em quinze dias, com a Participação de vinte alunos de séries variadas. Desses vinte alunos,
onze decidiram contar histórias.
As oficinas eram realizadas sem um local definido, e, às vezes a atividade acontecia embaixo de uma
árvore, no pátio da escola — uma delícia para quem estava na oficina e motivo de curiosidade para
quem ficava na sala. Nessas oficinas, os alunos escolhiam os textos para recontar de forma oral,
memorizados ou tendo o livro como suporte. Nesse exercício aparentemente simples, os estudantes
melhoravam a percepção, a concentração, além de aprenderem a ouvir uma narração, criticar com
responsabilidade e aceitar críticas.
Então, o que se aprende com a arte de contar histórias? Inspirada na teoria de Regina Machado
(2004), é possível afirmar que, ao ouvir uma história, o leitor vivencia uma experiência única no
instante da narração: surge uma construção imaginativa que se organiza fora do tempo da história
cotidiana, no tempo do era. Tal experiência diz respeito à universalidade do ser humano e, ao mesmo tempo, à existência pessoal como parte dessa universalidade. Uma história só existe quando é
contada ou lida, e se atualiza para cada ouvinte ou leitor. Segundo Regina Machado :a fórmula do
“era uma vez permite que a singularidade do momento da narração unifique o passado mítico com
o presente único daquela pessoa que a escuta. É a história dessa pessoa que se conta para ela por
meio do relato universal” (2004:23).
Após uma sessão de histórias e ao relatar como foi à experiência de ouvir um determinado conto,
cada pessoa mostra que ouviu um conto, o seu. Algumas coisas chamam sua atenção, outras não. A
reação de cada ouvinte é particular, alguns se colocam como personagens do conto, e nesse papel
vivem suas aventuras; outros observam o cenário como alguém que vê de fora o desenrolar da trama;
outros ainda se emocionam e se perguntam sobre a adequação de tal ou qual episódio, e assim por
diante. O importante é que o conto estabelece uma conversa entre sua forma objetiva — a narrativa
— e as ressonâncias subjetivas que desencadeia, produzindo um determinado efeito particular em
cada ouvinte. As imagens do conto acordam, revelam, alimentam e instigam o universo de imagens
internas que, ao longo de sua história, dão forma e sentido às experiências de uma pessoa no mundo.
Nos tempos contemporâneos, o ser humano tem necessidade de transitar compreensivelmente
pelo mundo além das aparência”. Cansado do ilusório apelo da realidade, o homem moderno se
pergunta como significar sua relação com um mundo de padrões, regras e tarefas que sinalizam
estradas reais com placas onde se lê: “à direita” ou “esquerda”, “siga”, “pare”, “perigo”. No conto há
um mundo de ficção, nele não há placas que desafiam a curiosidade, encorajam a paixão ou apontam para o sentido de percorrer, seja qual for a trilha escolhida. O sentido está além das aparências,
em pistas que se ocultam em um determinado tipo de árvore, na beleza do sol, no perfume de certo
18
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
conjunto de flores, na fumaça que vem da chaminé de uma cabana no meio de uma floresta.
A contação de história é uma arte e como tal permite o trânsito compreensível pelos significados
fundamentais da vida humana. O contar histórias e trabalhar com elas como uma atividade em si,
permite um contato com inúmeras imagens internas que podem abrir possibilidades para a resolução de questões que estejam internalizadas. Nesse, aspecto, a experiência pessoal de valores humanos fundamentais pode ser exercitada no contato com uma narração oral, uma vez que podem
produzir efeitos diferentes em quem ouve, porque trabalha a imaginação.
As ações no projeto em questão não tiveram intenção de escolarizar a leitura, se o fez teve na narração de histórias um apoio para transformar o trabalho no mais lúdico possível. Vale ratificar que o
objetivo do projeto foi o de ampliar o repertório de leitura do corpo discente. Esse objetivo não foi
alcançado com plenitude porque os alunos dos 8º e 9º anos não se renderam aos encantos nem da
leitura, nem das oficinas. Entretanto, penso que, para efeito pedagógico, o importante não é apenas
saber qual o efeito que os contos exercem sobre cada leitor ou ouvinte, mas entender que para cada
um deles a história traz a oportunidade de organizar suas imagens internas de forma que façam
sentido para a pessoa naquele momento. Tenho consciência de que recontar um texto através da
narrativa oral é, em princípio, um meio para se conseguir um fim.
Envio: 29 jan. 2011
Aceite: 16 ago. 2011
19
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Referências bibliográficas
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico da linguagem. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2006
Estética da criação verbal, intr. e trad. Paulo Bezerra; pref. Tzvetan Todorov. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
_______.
BALDI, Elizabeth. Leitura nas séries iniciais: uma proposta para a formação de leitores da literatura.
Porto Alegre: Projeto, 2009.
EVANGELISTA, Aracy Alves Martins et al. (orgs.). A escolarização da leitura literária. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. p. 17-48.
LEAL, Leiva de Fiqueiredo. “Leitura e formação de professores”. In EVANGELISTA, Aracy Alves
Martins et al. (orgs.). A escolarização da leitura literária. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. p.
262-265.
MACHADO, Regina. Acordais: fundamentos teórico-poéticos da arte de contar histórias. São Paulo:
DCL, 2004.
MAGNANI, Maria do Rosário Mortatti. Leitura, literatura e escola: sobre a formação do gosto. São
Paulo: Martins Fontes, 2001.
SANTOS, Deurides L. Tio me compra um papai. Goiânia: Kelps, 2008.
SOARES, Magda. “A escolarização da literatura infantil e juvenil”. In: EVANGELISTA, Aracy Alves
Martins et alii (orgs). A escolarização da leitura literária. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
p.17-48.
20
Leitura e redação nos cursos de Administração
Reading and writing in Administration courses
Lectura y Escritura en los cursos de Administracción
Silas Gutierrez1
Resumo
O presente trabalho aborda o ensino de leitura e redação na disciplina de Língua Portuguesa dos cursos superiores em
Administração de Empresas na região do ABC Paulista. Com base em estudos sobre contexto na área da produção textual e uma pesquisa de campo, demonstramos a distância entre o que os pesquisadores propõem sobre o assunto e a
prática efetiva de ensino em sala de aula.
Palavras-chave: contexto, ensino, leitura.
Abstract
This paper discusses the teaching of reading and writing in the Portuguese class of degreeundergraduate courses in Business Administration in the ABC Paulista. Based on studies on in the context in the location of text production, area and
a field research, we demonstrate the distance between thatwhat the researchers propose and the effective teaching
practice in the classroom.
Keywords: context, teaching, reading.
Resumen
Este artículo presenta la enseñanza de lectura y escritura en la clase de Portugués de los cursos de grado en Administración de Empresas en el ABC Paulista. Con base en estudios realizados sobre el contexto del área de producción de
textos y un estudio de campo, demostramos lo que proponen los investigadores sobre el tema y la enseñanza eficaz en
el aula.
Palabras clave: contexto, enseñanza, lectura.
1. Mestre em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Professor Assistente da Faculdades de
Tecnologia de São Paulo (FATEC). Contato: [email protected].
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Este trabalho objetiva refletir sobre a prática de ensino de leitura e redação na disciplina de Língua
Portuguesa dos cursos superiores em Administração de Empresas na região do ABC Paulista. Para
isso, utilizaremos, principalmente, os estudos sobre Contexto realizados por Koch (2003) e uma pesquisa de campo envolvendo a ementa e o plano de aula da disciplina de Língua Portuguesa.
Os estudos sobre a importância do contexto na produção textual têm sido dimensionados por meio
de pesquisas realizadas por três grandes pesquisadores: Vejamos o que nos mostram Goodwin e
Duranti apud Koch,
a noção de contexto encerra uma justaposição fundamental de duas entidades: um evento focal e um
campo de ação dentro do qual o evento se encontra inserido. São fenômenos que a análise do contexto
deve recobrir: a- cenário; b- entorno sociocultural; c- a própria linguagem como contexto (o modo como a
fala mesma simultaneamente invoca o contexto e fornece contexto para outra fala); d- contexto analisado
como um modo práxis interativamente constituído, evento focal e contexto estão numa relação de figura
— fundo. (GOODWIN e DURANTI apud KOCH, 2003:21)
O contexto abrange o diálogo entre textos, a situação sócio-cultural e o contexto sócio-cognitivo dos
interlocutores. Este, segundo Koch
engloba todos os tipos de conhecimentos arquivados na memória dos actantes sociais, que necessitam
ser mobilizados por ocasião do intercâmbio verbal: o linguístico propriamente dito, o enciclopédico, quer
declarativo, quer episódico (frames, scripts), o da situação comunicativa (situacionalidade), o superestrutural (tipos textuais), o estilístico (registros, variedades de língua e sua adequação às situações comunicativas) e, sobre os variados gêneros adequados às diversas práticas sociais, bem como o conhecimento de
outros textos que permeiam nossa cultura. (KOCH, 2003:24)
Brown e Yule apud Koch encerram dois princípios para a seleção de um contexto adequado:
o da interpretação local e o da analogia. O primeiro determina que não se deve construir um contexto
mais amplo do que o necessário para chegar a uma interpretação. Por exemplo, no caso de um pronome
anafórico, o referente seria sempre o mais próximo: em “a porta está aberta: feche-a”, tratar-se-ia da porta
mais próxima. O segundo faz com que os interlocutores pressuponham que tudo será como era antes (interpretação por default), a não ser que se anuncie claramente que algum aspecto deverá sofrer mudança.
(BROWN;YULE apud KOCH 2003:29)
Entre agosto e setembro de 2010 realizamos uma pesquisa com ementas e planos2 de aula da disciplina de Língua Portuguesa dos Cursos de Graduação em Administração de Empresas na região do
ABC Paulista. Foram pesquisadas oito faculdades particulares.
A região examinada tem mais de um milhão de habitantes, compreende três grandes cidades e é
reconhecida por ser uma área predominantemente industrial desde a década de 70.
As ementas e planos foram, discretamente, conseguidos por intermédio de pessoas que trabalham
nas secretarias, pelo site institucional e colegas que nos cederam o material. Esta pesquisa teve,
exclusivamente, a finalidade de observar como é tratado, na ementa e no plano de aulas, o ensino
de leitura e redação no Curso de Graduação em Administração de Empresas.
Cabe-nos, ainda, observar que não há uma sistematização sobre o conceito de ementas e planos de
aula. Parece-nos que, muitas vezes, estes documentos são vistos apenas como “parte burocrática do
2. Ver, anexo, modelo ilustrativo.
23
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
trabalho do professor” e não como um material informativo-referencial que fornece subsídios para
desenvolvimento e/ou para analisar o rumo das aulas.
Neste trabalho, ementas e planos de aula devem ser entendidos na ótica de Santos como “uma base
a partir da qual se realiza um trabalho cuja prática determina as condições de realização das propostas curriculares” (2005:10). Gatti compartilha a mesma ideia ao afirmar que
a adequação do texto das ementas à abordagem central em termos de conteúdos e objetivos a serem
trabalhados em sala de aula torna-se relevante por duas razões: a) Revelar o que o próprio professor
conhece e sabe dizer de forma sintética sobre o conjunto de temas a serem abordados; b) Comunicar aos
alunos os compromissos da disciplina, auxiliando no acompanhamento do currículo. Inclusive, o acesso
dos alunos aos programas de ensino tem viabilizado movimentos discentes mais fundamentados e críticos
em relação ao trabalho dos docentes. (GATTI, 2009:231)
Sobre este assunto, Sacristán apud Barros observa que “não podem ser analisados como objetos
estáticos, mas como a busca de um equilíbrio entre vários compromissos” (2009:13). E Gatti problematiza esta questão afirmando que o “entendimento a respeito da própria redação de uma ementa
é diverso. A grande maioria dos docentes entende que deve registrar uma lista de temas que formam o conjunto dos conteúdos do semestre ou ano” (2009:231).
O interesse por este estudo fundamenta-se, segundo Santos no “reconhecimento da importância e
influência desses documentos que servem como diretrizes para o ensino no contexto escolar e da
necessidade de uma constante atualização” (2005:9).
Embora o recorte desta pesquisa seja bastante estreito e pontual, pois nos limitamos exclusivamente a análise de um material muito específico, a abordagem torna-se indicadora de caminhos, pois é
nas ementas e planos que se constata a proposta de ensino e conteúdo para desenvolvimento.
Ao examinarmos o corpus coletado das oito faculdades selecionadas, notificamos os seguintes conteúdos comuns: manual da nova ortografia, conteúdos gramaticais (concordância, regência, crase), coesão, coerência, linguagem denotativa, conotativa e um estudo esquemático sobre redação
comercial (relatório, memorando, requisição, ofício) baseado em manuais de redação.
O Curso de Graduação em Administração de Empresas compreende um universo amplo e próprio,
conhecer como se configura a comunicação entre funcionário e cliente, departamento e gerência,
empresa e força sindical seria, entre outras, uma experiência muito rica neste curso.
Compreender que pela linguagem se cria a imagem de uma marca. Ora protetora e atenta, ora arrojada e moderna, por exemplo; perceber a disposição das cores, desenhos e letras em uma embalagem como estratégia persuasiva; interpretar folders bancários, imobiliários e eleitorais, em sala de
aula, seriam exemplos simples de atividades contextualizadas.
Mesmo que o Curso de Graduação em Administração de Empresas se desenvolva numa perspectiva
técnico-científica, é possível reverter, na aula de Língua Portuguesa, esse quadro, sensivelmente, a
partir do momento em que incentivamos nossos alunos a pensar criticamente o texto.
Ao observarmos os planos e ementas, nos deparamos com uma realidade distante do esperado.
Parece-nos, talvez, que a aplicação de novas metodologias depende de uma conscientização maior
entre professores, coordenadores e diretores. Arriscaríamos dizer que em nossa sociedade enrai24
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
zou-se um tipo de aula de Língua Portuguesa que privilegia, apenas, o escrever corretamente e
dominar regras.
Não encontramos, nas ementas e planos examinados, referências ao estudo do contexto ou algo
similar, e questionamos, com base nisto, como o aluno pode escrever algo para alguém sem conhecer de onde e para onde ele fala. Como enaltecer um produto para adolescentes femininas paulistanas, por exemplo, se o aluno não sabe construir um projeto para conhecer este contexto, o que seria
um trabalho anterior à redação definitiva.
Com base no conhecimento do universo dessas adolescentes femininas, por exemplo, teríamos redigidas produções altamente criativas, descobertas interessantes apareceriam nos textos e argumentações com autoridade seriam usadas corretamente.
Vale recordar que quando a professora de Língua Portuguesa do colégio dizia para nos preocuparmos com leituras e entretenimentos culturais, ela nos alertava para a importância do conhecimento
contextual para o alcance de uma escrita eficaz. Pois, como é possível escrever algo para alguém se
não conhecemos quais são seus valores, crenças e ideias. Nota-se que não estamos propondo um
estudo individual, particularizado, mas sim, “o outro” em âmbito social.
Um escritor competente é aquele que sabe adequar, levando em conta o contexto, sua escrita em
diferentes situações, pois é capaz de observar as exigências que cercam sua redação para uma clara
comunicação. Para Brandão,
o texto escrito é construído no processo das relações interacionais, constituindo-se num todo significativo,
independentemente de sua extensão. Sua produção mobiliza competências não só linguísticas mas, sobretudo, extralinguísticas (conhecimento de mundo, saber enciclopédico, determinações socioculturais,
ideológicas etc.). Como processo/produto de trocas, o texto está ligado a uma situação material concreta
e também a um contexto mais amplo, que constitui o conjunto das condições de vida de uma determinada
comunidade. (BRANDÃO, 2007:157)
É lógico que defendemos normas e regras para o estabelecimento de um texto, pois sua formatação
e clareza determinam e colaboram de forma inquestionável na sua significação. O que propomos é
um questionamento mais amplo em relação à aplicação dessas normas e não apenas seguir, mecanicamente, manuais de redação e gramática.
Na tentativa de dimensionar tal questionamento, Beaugrande e Dressler (1981) apresentam alguns
fatores de textualidade fundamentais para o estudo de leitura e redação: informatividade, situacionalidade, aceitabilidade, intencionalidade entre outros. Importante ressaltar, que muitos alunos ao trabalharem com textos não estão preparados para observar o grau em que esses fatores se apresentam.
O que se percebe em aulas de redação é que alguns escrevem como falam, não havendo adequação
para escrita. Mais ainda, muitos escrevem e escreveram apenas para tirar nota. A experiência de
escrever para atingir um objetivo mais amplo desencadeia timidez, vergonha e insegurança, justamente, porque não é considerada uma expressão de si mesmo ou de sua empresa, mas um ato
mecânico, abrangendo apenas esquemas.
O exercício de leitura requer um trabalho que auxilie na percepção de nuances no texto que escondem estratégias persuasivas. Importante destacar a contribuição de Antunes neste sentido,
25
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
qualquer unidade linguística que figure na linearidade de nossas enunciações corresponde a uma escolha
do escritor; escolha que é irremediavelmente, carregada de historicidade, impregnada de visões de mundo, pois está inserida numa determinada prática discursiva, a qual, por sua vez, é parte de um momento
cultural. Tudo isso, porque não se pode desfazer o liame entre linguagem e sociedade, entre linguagem e
os esquemas ideológicos de cada comunidade. A língua não existe fora dos grupos sociais, despregada das
situações de interação (ANTUNES, 2002:217).
A afirmação da pesquisadora, apoia nosso ponto de vista em relação a consciência que o escritor/
leitor deve ter no momento de interagir com o texto. Ao observarmos que a seleção e disposição de
palavras e expressões são escolhas do escritor e carregadas de historicidade descortinam-se, portanto, outras possíveis formas de análise textual. Antunes complementa que
desconsiderar esses aspectos é, na verdade, desresponsabilizar o sujeito da linguagem da criação e manutenção daqueles esquemas ideológicos. Como se eles pudessem existir independentemente da ação
humana, das atuações verbais que se empreendem socialmente. Como se pela linguagem, nada se criasse, nada se reafirmasse. Apenas emitissem palavras, que podem ser divididas em sílabas que têm funções
sintáticas. (ANTUNES, 2002:218)
Destacamos, aqui, a diferença entre leitura superficial e crítica. A superficial refere-se a uma simples
decodificação do código linguístico, baseada, no reconhecimento das letras e frases, sem um comprometimento profundo com o que se está dizendo, uma operação simples.
Tomemos como exemplo a frase: Quem sabe faz a hora não espera acontecer3. Pois bem, ler criticamente esse enunciado é ir além, é aproximar-se de um contexto de ditadura é, ainda, perceber a
metáfora e o jogo de palavras comuns que insinuam uma situação.
A memorização de normas, a reprodução mecânica de exercícios e o desenvolvimento da redação
aprendidos por esquemas ilustrados em manuais levam o aluno a uma postura retraída diante do
desafio de elaborar um texto. A ideia de uma escrita perfeita induz o aluno a buscar o estudo da
ortografia como única fonte para não errar na aula de redação. Rocha observa que
o passo inicial para uma reformulação desse trabalho com a linguagem será desprender-se da ênfase
em um conhecimento teórico em que os elementos da língua são vistos fragmentados e buscar o desenvolvimento da habilidade comunicativa dos alunos, levando-os a momentos de interação e às intenções
comunicativas que determinam a eficácia ou ineficiência do processo comunicativo. (ROCHA, 2000:87)
Trazendo todos esses dados para a aula de Língua Portuguesa do Curso de Graduação em Administração de Empresas, reiteramos a importância de se fazer internalizar o contexto do próprio
curso. Isto é, em uma aula de Língua Portuguesa faz-se necessário uma abordagem integrada, por
exemplo, do contexto organizacional que pode ser pesquisado em livros e artigos sobre comunicação empresarial.
Alertar o aluno sobre a importância do conhecimento da filosofia da empresa, hábitos sociais e
culturais dos funcionários, clientes, fornecedores e comunidade é reconhecidamente tarefa difícil e
trabalhosa. Porém, todo esse conhecimento será refletido na redação do aluno.
Pode haver uma ideia falsa do que seja conhecimento: observar o chefe, clientes e fornecedores,
não significa conhecê-los, pois é possível, nessa observação, traçar uma impressão errônea. Uma
3. Trecho retirado da composição intitulada Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores (1968) de Geraldo Vandré.
26
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
conversa informal ou uma relação de amizade não traz, logicamente, o conhecimento que estamos
propondo neste artigo. Pois tais eventos comunicativos são revestidos de regras sociais.
Exemplificando, em primeira pessoa, se me solicitarem para elaborar um convite de casamento para
a filha de uma nobre família da Malásia eu, sinceramente, não saberia fazê-lo. Pois não sei como
essa sociedade diferencia o elegante do vulgar, o polido do grosseiro, qual o senso de humor e
ridículo do povo da Malásia. Portanto, não tenho conhecimento cultural e social para realizar um
comércio efetivo naquele local, mesmo que estivéssemos nos entendendo em língua inglesa.
Também, deve-se ter cautela ao afirmar que por sermos brasileiros conhecemos o comportamento
festivo do baiano, sério do paulista, despojado do carioca, pois essas afirmações, carregadas de
estereótipos, desencadeiam graves erros de coerência em um texto. Como é possível vender uma
imagem, tornar sedutor um produto, ressaltar qualidades pessoais em um texto estando descompromissado com a própria cultura.
O ambiente empresarial, também, é formado por emoções, desejos, riscos, estratégias e jogos que
se armam para atingir objetivos pessoais. Porém, vale atentar que essas características que formam
jogos são passíveis de serem, digamos, previsíveis, pelo estudo do entorno em que esse ambiente
está instalado. Almeida comenta que
para Bakhtin, o sentido da palavra é totalmente determinado por seu contexto, valorizando, portanto,
a situação comunicativa em que estão envolvidos os indivíduos que nela interagem. Em sua abordagem
diferenciada, a palavra dirige-se a um interlocutor; ela é função desse interlocutor: variará se se tratar de
uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver
ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos. (ALMEIDA, 2008:281)
A professora complementa que a palavra, inserida no mundo, ao unir-se a outras reveste-se de
intenções e apreciações fundamentadas em formações ideológicas condizentes com valores específicos. Almeida conclui que “é por meio do estudo da palavra em comunhão com outras e em situações comunicativas diversificadas que poderemos entender que os sentidos não estão nas próprias
palavras. Estas mudam de sentido segundo a posição daqueles que as empregam” (2003:277).
É fundamental que esses conceitos sejam usados para reflexão docente, pois ao nos depararmos
com o resultado de nossa pesquisa de campo, percebemos que a distância é muito grande entre o
que os estudiosos propõem e o que de fato é proposto e planejado nas ementas e planos.
Importante, ainda, ressaltar que a modificação da metodologia de ensino da disciplina de Língua
Portuguesa no Curso de Graduação em Administração de Empresas deve partir também, como já
dissemos, dos coordenadores e diretores para que se possa atuar em conjunto. Enfim, entendemos
que um possível caminho é a busca de informação por meio de material teórico, grupos de estudos,
cursos de atualização para desestigmatizar a aula de Língua Portuguesa Instrumental.
Envio: 28 jan. 2011
Aceite: 9 mai. 2011
27
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Referências bibliográficas
ALMEIDA, J. L. A manifestação das pressões sociais na linguagem: um estudo do diálogo construído
em quando as máquinas param, de Plínio Marcos. São Paulo, PUC-SP, 2003. Dissertação de Mestrado apresentada à Coordenação de Pós-Graduação em Língua Portuguesa.
_______. “Falar feio e falar bonito em quando as máquinas param, de Plínio Marcos”, Projetos Paralelos – NURC/SP, São Paulo, n. 9, 2008, p. 277-304.
ANTUNES, I. C. “Particularidades sintático-semânticas de categoria de sujeito em gêneros textuais
da comunicação pública formal”, Gêneros Textuais, São Paulo, n. 1, 2002, p. 215-24.
BARROS, F. M. B. de. O currículo como instrumento da formação profissional do técnico em agropecuária: o caso da central de ensino e desenvolvimento agrário florestal. Viçosa/MG, Universidade
Federal de Viçosa, 2009. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Extensão Rural.
BEAUGRANDE, R.; DRESSLER, M. U. Einführung in die textlinguistik, Londres: Longman, 1981.
BRANDÃO, H. H. N. “A articulação: gêneros do discurso e ensino”, Língua portuguesa pesquisa e
ensino, São Paulo, n. 1, v. 2, 2007, p. 157-168.
GATTI, B. “Avaliação dos currículos de formação de professores para o ensino fundamental”, Revista Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, n. 43, v. 20, 2009, p. 215-34.
KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2003.
_______. “Leitura e produção de textos”, Língua portuguesa pesquisa e ensino, São Paulo, n. 1, v. 2,
2007, p. 45-54.
ROCHA, F. C. P. “A relevância dos gêneros do discurso para a prática de produção textual em sala de
aula”, Anais do sétimo congresso brasileiro de língua portuguesa, São Paulo, n. 1, 2000, p. 79-87.
SANTOS, N. C. P. dos. “Currículo de língua portuguesa: uma análise do processo de enunciação do
gênero curricular”, Revista Veredas Favip, Caruaru, n. 1, v. 2, 2005, p. 8-18.
28
Anexos
Seguem um plano de aula e duas ementas reproduzidos do nosso corpus como ilustração para o
artigo. Por razões éticas e por não interessar ao nosso trabalho retiramos os nomes das instituições.
Plano de Aula
Data
04/08
05/08
11/08
12/08
18/08
19/08
25/08
26/08
01/09
02/09
08/09
09/09
15/09
16/09
22/09
23/09
29/09
30/09
06/10
07/10
13/10
14/10
20/10
21/10
27/10
28/10
04/11
10/11
11/11
17/11
18/11
24/11
25/11
01/12
02/12
Conteúdo
Apresentação da disciplina
Apres. do Manual da Nova Ortografia (trema, alfabeto, hífen)
Acento diferencial / hiatos / ditongos abertos / verbos
Lista de Exercícios – Correção
Trabalho em equipe sobre o Manual da Nova Ortografia
Concordância Nominal: explicação e exercícios
Concordância Nominal: explicação e exercícios
Concordância Verbal: explicação e exercícios
Concordância Verbal: explicação e exercícios
Regência Verbal: explicação e exercícios
Regência Verbal: explicação e exercícios
Regência Nominal: explicação e exercícios
Regência Nominal: explicação e exercícios
Trabalho em equipe sobre Concordância e Regência: Lista de exercícios
Uso da vírgula / ponto / travessão / ponto-e-vírgula / dois pontos
Aspas / ponto de exclamação e interrogação / reticências
Trabalho em equipe sobre Pontuação Gráfica
Prova (1) Prova individual atendendo ao calendário acadêmico
Semana de eventos do curso de ADM
Semana de eventos do curso de ADM
Uso da Crase: uso obrigatório
Uso da Crase: uso facultativo
Lista de exercícios sobre Crase
Trabalho em equipe sobre Crase
Redação Técnica: Carta-Oficial – esquema gráfico/modelo
Redação Técnica: Contrato – esquema gráfico/modelo
Redação Técnica: Currículo – esquema gráfico/modelo
Redação Técnica: Ofício – esquema gráfico/modelo
Semana de Provas
Semana de Provas
Exames
Exames
Apresentação de TCC
Apresentação de TCC
Apresentação de TCC
Ementas
Disciplina: Português Instrumental
Carga Horária: 80 h/a
Ementa nº1: Esta disciplina objetiva preencher alguns gaps que o aluno traz de sua formação anterior. Através da revisão de tópicos estudados no ensino médio, o aluno aprenderá itens importantes
para produção textual.
Conteúdo
• Manual da Nova Ortografia
• Crase
• Concordância Nominal e Verbal
• Lista de dificuldades mais frequentes: A fim ou afim? A par ou ao par? Haja visto ou haja vista?
A princípio ou em princípio?
• Redação Técnica: Carta-oficial / Contrato / Memorando / Ofício
• Coesão e Coerência
• Pontuação
Objetivo
O aluno deverá revisar princípios gramaticais de modo a obter um conhecimento teórico sobre o
funcionamento da língua portuguesa e reconhecer técnicas de redação comercial.
Estratégia de Ensino
Aulas expositivas com utilização de recursos audiovisuais sempre que possível;
Discussão coletiva sobre o conteúdo;
Exercícios e atividades realizados individualmente ou em grupos.
Bibliografia
Foram citados dois manuais de redação técnica e duas gramáticas de apoio.
Disciplina: Comunicação e Expressão
Carga Horária: 80 h/a
Ementa nº2: A disciplina tem como finalidade rever assuntos do ensino médio para suprir dificuldades de escrita. Para isto, serão disponibilizados tópicos de gramática e redação técnica para o
desenvolvimento linguístico do discente.
Conteúdo
• Manual da Nova Ortografia
• Concordância Nominal e Verbal
• Regência
• Uso da Crase
• Emprego de maiúsculas e minúsculas
• Abreviações
• Estrangeirismo
• Pontuação Gráfica
• Coesão e Coerência
• Redação: Relatório/ Parecer/Currículo/ Resumo/ Resenha (entre outros)
Objetivos
Rever os conteúdos do ensino médio;
Reconhecer os tópicos essenciais da Gramática Normativa;
Saber empregar os tópicos essenciais da Gramática Normativa;
Desenvolver a capacidade de redigir documentos técnicos.
Estratégia de Ensino
Trabalhos individuais e em grupos;
Exemplos diferenciados para cada tópico;
Aulas expositivas e lúdicas envolvendo mídias.
Bibliografia
Foram citados um manual de redação técnica e duas gramáticas de apoio.
O professor leitor e formador de leitores em contextos digitais
The reading and mediator teacher for digital contexts
El maestro lector y formador de lectores en contextos digitales
Claudia Lucia Landgraf Valério1
Resumo
Este artigo propõe uma reflexão sobre a formação de professores para o uso da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no processo de formação de leitores para contextos digitais. Para isto, observamos a execução de cursos de
TIC/PITEC oferecido pelo MEC/Seduc/Cefapro-Cuiabá/MT aos professores da rede Estadual de Mato Grosso durante o
ano de 2009/2010. Partimos das considerações de Soares (2002) sobre o letramento digital; de Quevedo, Crescitelli e
Geraldini (2009) sobre a tecnologia na educação; e das premissas de Nóvoa (1992) sobre a formação de professores. A
sucessão de ações no decorrer deste trabalho é de cunho teórico-prático e ocorrem no espaço escolar, pois o Centro de
Formação dos Profissionais do Estado de Mato Grosso (Cefapro) atende in loco às necessidades dos educadores. Durante
esta pesquisa, pudemos observar uma escola em processo de letramento digital.
Palavras-chave: formação de professores, leitura, letramento digital.
Abstract
This article proposes a reflection on the teacher training for the use of information and communication technology
(ICT) in the process digital literacy. Therefore, we observed the implementation of ICT/PITEC courses offered by MEC/
Seduc/Cefapro-Cuiabá/MT to the teachers of Mato Grosso’s public schools during the year 2009/2010. We set out the
considerations of Soares (2002) on digital literacy; de Quevedo; Crescitelli & Geraldini (2009) about technology in education and premises Nóvoa (1992) on the training of teachers. The actions succeeded in the course of this work is of
theoretical-practical nature and occur in the educational space, because the center for technical training in the State of
Mato Grosso (Cefapro) serves the needs of educators in loco. During this research we have seen a school in the process
of digital literacy.
Keywords: teacher education, reading, digital literacy.
Resumen
Este artículo propone una reflexión sobre la formación para el uso de tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en el proceso de formación de lectores para contextos digitales. Para ello, observamos que la aplicación de las TIC/
PITEC cursos ofrecidos por la red de profesores MEC/Seduc/Cefapro-Cuiabá/MT Estadual de Mato Grosso durante el año
2009/2010. Nos propusimos las consideraciones de Soares (2002) sobre alfabetización digital; de Quevedo; Crescitelli &
Geraldini (2009) acerca de la tecnología en la educación y locales Nóvoa (1992) relativa a la formación de los docentes.
La sucesión de acciones en el curso de este trabajo es de carácter teórico-práctico y se producen en el espacio educativo,
porque el centro de formación para los profesionales en el estado de Mato Grosso (CEFAPRO) planas sirve a las necesidades de los educadores. Durante esta investigación, hemos visto una escuela en el proceso de alfabetización digital.
Palabras clave: formación de personal docente, lectura, alfabetización digital.
1. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), e
bolsista CAPES. Contato: [email protected].
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Introdução
O mundo globalizado e as tecnologias de informação e comunicação trouxeram uma verdadeira
revolução para as relações humanas. Como consequência disso, a sociedade precisou se adequar
ao novo modelo de relações que se estabelecem a partir do uso dessas tecnologias no cotidiano
das pessoas. Tais tecnologias têm influenciado significativamente todos os segmentos da nossa
sociedade através das atividades desenvolvidas pelas comunidades virtuais e das informações que
circulam na rede. Esses avanços tecnológicos influenciam os conceitos de informação, conhecimento e educação.
Dessa forma, o cotidiano da educação básica no Brasil vem sendo alterado dia a dia, uma vez que as
necessidades dos alunos, jovens leitores inseridos em práticas digitais, têm exigido essa mudança
de postura educacional. A incorporação das tecnologias nas matrizes curriculares, enfatizada pela
LDB, e a formação do professor para atuar em ambientes digitais têm sido amplamente discutidas.
Assim, destaca-se o papel do professor, mediador do processo de formação de leitores, como ponto
fundamental para o sucesso dos alunos ao produzirem leitura em contextos digitais.
No que tange as discussões sobre a formação dos educadores para propiciar aos seus alunos momentos de leitura em contextos digitais, compreendemos que as capacidades básicas para a formação
desse educador não se restringem ao desenvolvimento de habilidades técnicas e sim ao letramento
digital proposto por Magda Soares (2002), visando a inclusão social e digital, tanto dos alunos atendidos, quanto dos professores responsáveis pela formação desses leitores.
Ao discutirmos a formação leitora dos educadores para promover a leitura em contextos digitais,
acreditamos poder contribuir com o debate nacional, sobre a formação do professor para atuar em
ambientes digitais nas escolas de educação básica.
Conceitos preliminares
Durante muito tempo, acreditou-se na possibilidade do profissional estar pronto para exercer suas
funções após a conclusão do terceiro grau. Entretanto, sabemos que a realidade não se apresenta
dessa forma e que é preciso atualização constante para desempenhar com qualidade suas atribuições. Com educadores não é diferente, e estes devem estar conscientes da necessidade da sua formação contínua e integrada ao cotidiano escolar.
Segundo Nóvoa, “o aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa,
como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente” (2002:23). A formação continua, nessa concepção, se concretiza de maneira coletiva, dependendo da experiência e
reflexão, tanto individual quanto do grupo, como instrumentos de análise e de construção do conhecimento. Este conhecimento, portanto, é construído socialmente, no âmbito das relações humanas,
e tem por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico.
Nessa perspectiva, o educador constrói sua própria formação, e, de acordo com Nóvoa (1997), fortalece seu aprendizado ora assumindo o papel de formador, ora de formando nos estudos em grupos,
para que não conduzam seus trabalhos isoladamente, mas promovam reflexões sobre experiências
pessoais e coletivas, partilhando com os colegas o êxito nas atividades desenvolvidas.
33
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Este trabalho coletivo é uma aprendizagem, resultado de vivências positivas nas quais são enfrentadas as dificuldades de se colocar no lugar do outro, de respeitar os seus posicionamentos, ainda que
não concorde com eles, e de se apropriar das discussões do grupo. Não podemos, portanto, ignorar
as capacidades necessárias ao diálogo de um grupo de trabalho. Para Nóvoa:
As situações conflitantes que os professores são obrigados a enfrentar (e resolver) apresentam características únicas, exigindo portanto medidas únicas: o profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento reflexivo [...] A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de
uma práxis reflexiva. (1997: 27)
Uma dessas situações conflitantes enfrentadas pelas escolas, para além das relações no grupo de
trabalho e estudo, é a crescente utilização das tecnologias no processo educacional. O cotidiano da
escola, independentemente da vontade de quem nela trabalha, vem sendo alterado dia a dia, uma
vez que as necessidades dos alunos, jovens leitores inseridos em práticas digitais, têm exigido essa
mudança. Diante disto, o processo de formação, tanto inicial como contínua dos professores, torna-se uma condição para um trabalho de qualidade.
Conhecedor dessa realidade, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Educação, disponibiliza para as unidades escolares estaduais atendimento formativo na busca da melhora
na qualidade do ensino/aprendizagem. Para efetivação desse atendimento e implementação das
políticas públicas de educação, foi instituído o Centro de Formação e Atualização dos Profissionais
da Educação Básica do Estado de Mato Grosso (Cefapro), que desenvolve estudos de formação e
acompanhamento do trabalho pedagógico dos professores da rede. Os profissionais que atuam nessa unidade educacional são os Formadores de Professores, educadores efetivos da rede estadual de
educação que, através de seletivo, são lotados no Cefapro.
Essas formações e o seu acompanhamento são desenvolvidos na sede e in loco, intensificando a relação do Cefapro com as escolas estaduais. No ano de 2009, em parceira com o MEC, a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso (Seduc/MT) ofereceu o curso de Tecnologia e Educação: ensinando
e aprendendo com a TIC, com carga horária de 100 horas, mediado pelos formadores daquele Centro.
Durante esse curso, os professores puderam vivenciar vários papéis, entre os quais o de aprendiz na
utilização das tecnologias para promover a leitura em contexto digital; o de observador das tarefas
desenvolvidas pelo seu colega e o de mediador ao efetivar em sala de aula seus estudos, assumindo, dessa forma, a concepção de formação de professores que, segundo Schön (1992), é reflexiva e
processual, não buscando somente um produto pronto, mas a criação de um movimento dinâmico
que se estabelece quando refletimos na ação e sobre a ação.
Assim, o grupo de professores em formação continuada tem a oportunidade de vivenciar a leitura
através do uso da tecnologia digital; refletir sobre a sua prática e a de seus colegas no que tange a
formação de leitores em contextos digitais, realimentando a formação de cada professor do grupo.
Observa-se que não se trata de uma formação com objetivo de efetivação de prática somente no
futuro, mas sim direcionada também para o presente, para a ação imediata do educador.
Tal processo de formação de professores visa a inclusão social e digital de alunos e professores
através da leitura. É preciso salientar a necessidade de se refletir sobre o processo de formação de
leitores para meios digitais e da concepção de tecnologia como mais uma opção para o trabalho
pedagógico, para além da mera instrumentalização do professor formador de leitores.
34
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Sendo assim, concordamos com Quevedo, Crescitelli e Geraldini ao ponderarem que:
Do ponto de vista da formação de profissionais, entendemos que o desenvolvimento das competências e
habilidades necessárias para a formação em ensino a distância e novas tecnologias aplicadas à educação
não ocorre meramente pela ampliação de habilidades técnicas; ocorre, sim, por intermédio da reflexão
acerca do processo de ensino-aprendizagem, da concepção de tecnologia como ferramenta gerada com
base no conhecimento acumulado [...]. (2009:36)
Nessa perspectiva, é preciso fomentar a formação continuada dos educadores para a prática de
leitura mediada pela tecnologia digital na escola. Essa práxis deve ser compreendida como o conhecimento acumulado e o uso cotidiano das tecnologias de informação e comunicação (TIC). Salientamos o entendimento do uso da TIC como ferramenta mediadora para o processo de ensino/aprendizagem através da leitura em ambientes digitais, e não como um objetivo educacional.
Buscamos, desta forma, discutir o letramento digital dos educadores da rede pública de Mato Grosso atendidos pelos formadores do Cefapro de Cuiabá, para trabalhar a leitura em contextos digitais.
Para isso, apropriamo-nos do conceito de Kleiman de letramento “como as práticas e eventos relacionados com uso, função e impacto social da escrita” (1998:28) e trazemos para esta discussão o
conceito de letramento digital, partindo das considerações de Soares que salienta:
diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou condições naqueles que fazem uso dessas
tecnologias, em suas práticas de leitura e de escrita: diferentes espaços de escrita e diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita resultam em diferentes letramentos. (2002:8)
A autora destaca, dentre outros pontos, que o letramento é um fenômeno plural e histórico: encontramos
diferentes letramentos ao longo da nossa história e diferentes letramentos no nosso tempo presente.
Com os olhares da sociedade voltados para a presença da tecnologia digital na educação, é impossível não questionar se os cursos oferecidos aos professores têm proporcionado uma mudança efetiva
em sua práxis, se têm promovido o letramento digital desses profissionais para o seu trabalho de
formar leitores competentes.
Análise dos dados
Partindo desses questionamentos, iniciamos um diagnóstico com os professores atendidos em
momentos de formação. Num primeiro momento, traçamos um panorama do perfil dos primeiros
resultados das formações em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) oferecidas. Posteriormente, discutimos as dificuldades e as possibilidades de utilização dos gêneros digitais pelos professores de Língua Portuguesa no processo de leitura e escrita.
Para isso, selecionamos, em um universo de 180 escolas estaduais do polo da Baixada Cuiabana
atendidas pelo Cefapro de Cuiabá, 10 instituições de educação básica da cidade de Cuiabá e Várzea
Grande que participaram da primeira etapa, em 2009, do curso sobre as TIC (100 horas) e da segunda etapa — Pitec — Projeto de Tecnologia Educacional (40 horas) em 2010.
A metodologia utilizada foi de cunho quantitativo e qualitativo. Iniciamos com aplicação de dois
questionários diagnósticos: um para levantar as condições dos laboratórios das escolas e outro para
35
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
traçar o perfil dos professores para utilização dos laboratórios no processo de leitura. Esse primeiro
momento foi importante para verificar se havia condições estruturais para o trabalho com a tecnologia digital na escola e se os professores estavam qualificados para desenvolver a leitura dos alunos
através dessa tecnologia. Tais informações foram fundamentais para a análise qualitativa uma vez
que discutimos as possibilidades e dificuldades da utilização da tecnologia digital no processo de
leitura dos alunos.
A segunda etapa contou com uma entrevista envolvendo os professores sobre as possibilidades e as
dificuldades do uso da tecnologia digital no cotidiano da escola. Tivemos como parâmetro a formação oferecida — TIC — que apresenta uma proposta de ambientação das ferramentas tecnológicas
pelos educadores, de reflexões sobre a tecnologia na sociedade e na educação e de transposição
didática das discussões desenvolvidas nos grupos de estudo.
Ao sistematizar os resultados quantitativos, obtidos através do questionário, constatamos que 80%
dos professores concluíram o curso, entretanto 20% dos educadores que iniciaram a formação não
a concluíram. Destes 20% que não concluíram, 56% não justificou o motivo da desistência, mas, dos
que justificaram, 15% desistiu por motivos de saúde, 9% por licença maternidade e 20% por licença
especial concedida ao profissional da educação pública com cinco anos de trabalho sem interrupção.
Quanto aos aspectos qualitativos levantados na aplicação das entrevistas com professores e comparados aos resultados quantitativos do questionário, pudemos constatar que grande parte dos educadores não tinha contato frequente com o computador quando ingressaram no curso da TIC oferecido
pelo MEC. O primeiro avanço, portanto, foi com relação à introdução digital destes profissionais nas
atividades presenciais, uma vez que esses conseguiram superar parte de suas dificuldades e diminuir
a resistência que apresentavam na utilização desta mídia digital no processo de formação de leitores.
Outro avanço foi a ressignificação da presença do computador na escola. Para a maioria dos inscritos, a utilização do computador em aula era quase uma condição para sua sobrevivência profissional. Durante as discussões, tanto nos encontros presenciais quanto nas atividade desenvolvidas na
plataforma Eproinfo — ambiente colaborativo de aprendizagem do Ministério da Educação (MEC)
com a finalidade de implementar ações de educação a distância —, a utilização dos recursos disponibilizados nos computadores foi vista como mais uma ferramenta pedagógica auxiliar no trabalho
diário com os educandos.
Considerando as respostas dos educadores ao questionário, observamos que 70% é constituído por
professores entre 30 e 49 anos, com especialização obtida a mais de 3 anos, participante de cursos
de formação continuada e que aplicam eventualmente as atividades e conceitos discutidos durante
o curso. Nesse perfil, desenvolver atividades de leitura em contextos digitais, uma das propostas do
curso de TIC, não seria um problema. Entretanto, por que esta prática não acontece efetivamente?
Segundo 35% dos professores, os laboratórios das escolas em que atuam não possuem máquinas
em quantidade suficiente para os alunos, mesmo que estes trabalhassem em duplas, o que seria um
obstáculo para o trabalho produtivo em contextos digitais.
Visando superar essa limitação, o MEC, através das Secretarias Estaduais e Municipais, implantou
o programa UCA (um computador por aluno) em todo o país. No estado de Mato Grosso, este processo foi iniciado em algumas escolas piloto e poderemos, nos próximos anos, verificar os avanços
obtidos pelos professores no processo de formação de leitores para contextos digitais.
36
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Outro ponto destacado por 75% dos entrevistados está relacionado à segurança dos mesmos na utilização do computador e da internet, o que se justifica pela formatação do curso de TIC do MEC. Não
é objetivo final deste curso instrumentalizar o professor. Portanto eles aprendem a trabalhar com
a plataforma eproinfo do MEC, que não está disponibilizada para os alunos, e discutem a utilização
das tecnologias (TV, DVD, rádio, jornal, revista, computador) no cotidiano escolar. Tal formatação
não desenvolve amplamente a autonomia do professor frente à tecnologia digital, dificultando o
trabalho dos mesmos com os alunos.
De acordo com as respostas obtidas, esse curso de formação auxilia na ressignificação dos conceitos relacionados ao uso da TIC na escola e a utilização dos mesmos, ampliando as possibilidades de
organização dos projetos pedagógicos com uso de TV, DVD e outros recursos de uso mais frequente
na escola. Estes, entretanto, pouco ampliam as possibilidades do uso do computador e de seus
recursos no processo de leitura, apesar de discuti-lo.
O desenvolvimento da formação, com vistas ao uso do computador e de seus recursos, segundo
as respostas dos educadores, restringe-se muito à discussão teórica, utilização da plataforma e de
alguns recursos específicos — email e blog —, até porque, como já foi dito, não é o objetivo final
desses cursos instrumentalizar para o uso dos recursos da internet, e sim despertá-los para as possibilidades pedagógicas dos mesmos.
A segunda etapa da formação, o PITEC — Projeto Integrado a Tecnologia —, aconteceu no ano de
2010. Durante essa etapa, os professores puderam vivenciar essa mídia digital como parte de um
projeto pedagógico, e não como o objetivo do projeto proposto. Foi perceptível a superação de algumas limitações, por parte dos educadores em formação uma vez que, nesta etapa, grande parte dos
envolvidos apresentavam mais autonomia nas ações que visam a formação do leitor em contextos
digitais, embora ainda haja um longo caminho a percorrer na busca do letramento digital proposto
por Magda Soares (2002).
Acredito que com a participação em formações continuadas que agreguem a teoria à prática pedagógica, todos os educadores envolvidos nesse processo de formação contínua de leitores poderão
contribuir para mais um passo no processo de letramento digital da escola.
Considerações finais
Diante da crescente importância da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no contexto
educacional, estimular o contato dos educadores com esta tecnologia é um desafio que se apresenta
aos gestores escolares e aos formadores de professores do Cefapro de Mato Grosso. Este contato
não deve apresentar apenas o caráter passivo deste educador diante da tecnologia e sim ativo,
como produtor de informações através do uso da TIC como ferramenta pedagógica, proporcionando
o letramento digital de todos os envolvidos. Para Coscarelli, os educadores precisam “encarar este
desafio de se preparar para esta nova realidade” (2007:31). Isto acontecerá quando todos se dispuserem a aprender como utilizar as ferramentas disponíveis para efetivação de projetos pedagógicos,
visando a formação de leitores digitais competentes.
Pude constatar, até o presente momento, que apesar das políticas públicas de formação de professores para o uso das tecnologias de informação e comunicação na formação de leitores, os professo37
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
res ainda se sentem inseguros e excluídos desse processo. As formações são desenvolvidas, porém
os educadores pouco transpõem para a prática diária de leitura as tecnologias disponibilizadas nas
unidades educativas em que atuam.
Acredito que o cenário delineado neste estudo vai muito além da simples “resistência ao uso da
TIC no processo de formação de leitores”, como alguns preferem “diagnosticar”, transferindo para
o educador toda a responsabilidade pelo uso ou não das tecnologias de informação e comunicação
no contexto escolar.
Pude observar que professores de Língua Portuguesa trabalham na perspectiva do estudo da linguagem através dos gêneros textuais, mas pouco fazem uso pedagógico de gêneros como e-mails,
blogs, chats, twitter, tão presentes no processo de interação de seus jovens educandos. São raros os
professores que se sentem à vontade para explorar estes gêneros digitais na formação de leitores.
Promover uma formação reflexiva, discutindo quais são as dificuldades e as possibilidades reais de utilização da TIC e dos gêneros digitais no processo de formação de leitores, apresenta-se como uma condição para que os educadores incorporem a tecnologia como ferramenta em suas práticas pedagógicas.
Envio: 29 jan. 2011
Aceite: 28 mai. 2011
38
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Referências bibliográficas
Coscarelli, C. V. “Alfabetização e letramento digital”. In Coscarelli, C. V.;
Ribeiro, A. E. Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. 2. ed. Belo Horizonte: Ceale/Autêntica, 2007.
Kleiman, A. “Ação e mudança na sala de aula: uma pesquisa sobre letramento e interação. In
Rojo, R. (org.). Alfabetização e letramento: perspectivas linguísticas. Campinas: Mercado de Letras, 1998, p. 173-203.
Nóvoa, A. (coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote Instituto
de Inovação Educacional, 1992.
_______ (org.). A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 2. ed. Campinas: Papirus, 1997.
_______.
Formação de professores e trabalho pedagógico. Lisboa: Educa, 2002.
Quevedo, A. G.; Crescitelli, M. F. C.; GeraldinI, A. F. S. “Do presencial para o digital: uma
mudança significativa na formação de professores (curso de Letras)”, Revista e-Curriculum da PUC-SP, São Paulo. Disponível em <http://www.pucsp.com.br/ecurriculum>. Acesso em 15 out. 2009.
Schön, D. A. “Formar professores como profissionais reflexivos”. In Nóvoa, A. (coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote Instituto de Inovação Educacional,
1992.
Soares, M. “Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura”, CEDES, Campinas, n.
81, v. 23, 2002. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em 18 out. 2009.
39
A subalternização em Os três porquinhos
The subalternization in The three little pigs
La subalternización en Los tres cerditos
Fabiano de Oliveira Moraes11
Resumo
Este trabalho objetiva, a partir da crítica ao paradigma dominante efetivada por Santos (2008), analisar duas versões do
conto moderno Os três porquinhos, com o intuito de demonstrar que: tanto o selvagem e a natureza, enquanto lugares
da alteridade do Ocidente, como a contração do presente e a dilatação do futuro, encontram-se retratados em elementos deste conto que evidencia a vitória do saber hegemônico representado por um de seus personagens. A pesquisa
bibliográfica possibilitou uma conceituação arqueológica da figura do lobo no processo histórico ocidental com base
em Zipes (1993), Ziolkowski (2007) e Foucault (1968). As categorias levantadas a partir dessa fundamentação permitiram a análise do conto, vinculando-o aos seus aspectos discursivo, social e histórico, de modo a permitir uma melhor
compreensão de como se propagam e se perpetuam o paradigma dominante e a subalternização de saberes que, por
intermédio da educação, nos é transmitida desde a mais tenra infância.
Palavras-chave: paradigma dominante, Os três porquinhos, lobo.
Abstract
This paper aims, through the criticism of the dominant paradigm effected by Santos (2008), to examine two modern versions of the tale The Three Little Pigs, in order to demonstrate that not only savage and nature, as places from the Otherness
of the West, but also the contraction of the present and expansion of the future, are portrayed in the elements of this tale
which shows the victory of hegemonic knowledge represented by one of its characters. The literature research provided an
archaeological conceptualization of the wolf character in the Western historical process based on Zipes (1993), Ziolkowski
(2007) and Foucault (1968). The categories raised from this reasoning allowed the analysis of the tale by linking it to its
discursive, social and historical aspects and led us to understand this way of propagation and perpetuation of the dominant
ideology and of subalternization of other knowledges that is transmitted to us from early childhood through education.
Keywords: dominant paradigm, The three little pigs, wolf.
Resumen
Este trabajo objetiva, a partir de la crítica al paradigma dominante de Santos (2008), analizar dos versiones del cuento
moderno Los tres cerditos, con el objetivo de demostrar que: tanto el salvaje y la naturaleza, mientras espacios de otredad de Occidente, como la contracción del presente y la expansión del futuro, se encuentran retratados en elementos
de este cuento que pone de manifiesto la victoria del saber hegemónico representado por uno de suyos personajes. La
pesquisa bibliográfica posibilitó una conceptuación arqueológica del personaje lobo en el proceso histórico occidental
con base en Zipes (1993), Ziolkowski (2007) y Foucault (1968). Las categorías levantadas a partir de esa fundamentación
permitieron el análisis del cuento vinculándolo a sus aspectos discursivo, social e histórico, conduciéndonos a una mejor
comprensión de esa vía de perpetuación del paradigma dominante y de subalternización de los ‘saberes otros’ que, por
intermedio de la educación, nos es transmitida desde la primera infancia.
Palabras clave: paradigma dominante, Los tres cerditos, lobo.
1. Doutorando em Educação e Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); professor substituto do
Departamento de Linguagens, Cultura e Educação do Centro de Educação da UFES. Contato: [email protected]
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Introdução
Pela estrada afora, eu vou bem sozinha,
Levar estes doces para a vovozinha!
Ela mora longe, o caminho é deserto
E o lobo mau passeia aqui por perto! (BARRO, 1995:5)
Ao perguntarmos a qualquer brasileiro, de qualquer idade, se ele conhece este trecho de canção, a provável resposta será: “sim”. Caso perguntemos quando, onde e a partir de que fonte a escutou, algumas
das prováveis respostas serão: “há muito tempo”; “na escola”; “de um disquinho colorido de histórias”.
Poderíamos ponderar: muitas histórias e canções populares são conhecidas sem que se reconheça a
sua fonte exata. Mas buscando a origem de tais canções, encontraremos sua autoria em Braguinha
(Carlos Alberto Ferreira Braga, o João de Barro2), figurando as mesmas como parte de um dos contos
da coleção ‘Disquinho’, prensada em compactos de vinil a partir da década de 1940 do século XX,
no Brasil. O leitor, ao rememorar tal coleção, quiçá se lembre de alguns títulos como: Dona Baratinha, A festa no céu, Os 3 cabritinhos, dentre as dezenas de outros dessa coleção. No entanto, nos
parece evidente que, de todos esses contos musicados, as canções que se apresentam de maneira
mais clara na memória afetiva da maioria das pessoas (independentemente do contato com a fonte
original) sejam: a canção da Chapeuzinho, e a do Lobo que diz: “Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo
mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau [...]” (BARRO, 1995:16), ambas do conto Chapeuzinho
Vermelho, gravado em 1946 pela Continental.
Lancemos mão de outra cantiga (também presente em um conto infantil), tão conhecida quanto as
canções da menina do capuz vermelho e do lobo da floresta supracitadas, cantada por educadores
e por crianças brasileiras geração após geração: “Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau. Lobo
mau.” (OS TRÊS, 1933). Esta versão brasileira, também da autoria de Braguinha, presente no clássico
animado Os três porquinhos dos estúdios Disney, totalmente orquestrado e cantado do início ao fim,
é a forma através da qual os protagonistas zombam do lobo, sua maior fonte de medo, desafiando o
perigo que este representa, aquilo que os ameaça. Essa talvez seja a única cantiga de conto de fadas
que figure na memória do brasileiro em pé de igualdade com as canções da menina e do lobo da
história de Chapeuzinho Vermelho, sendo anterior a estas últimas e tratando-se da versão de uma
cantiga criada originariamente em inglês: “Who’s afraid of the big bad wolf?”, traduzida para vários
idiomas, o que possibilitou que sua melodia e sua letra, em suas distintas traduções, viessem a se
tornar conhecidas em vários países. Além disso, a canção representa o tema principal de uma versão
cinematográfica produzida por um dos maiores e mais conhecidos estúdios de animações do mundo
(senão o maior e mais conhecido), tendo sido amplamente veiculada no cinema e na televisão.
Em nossa experiência na formação de narradores e junto à educação infantil, dois aspectos relacionados a estes contos nos chamaram atenção: o amplo conhecimento de tais canções por parte de
adultos de várias gerações e por crianças da mais tenra idade, e; a inegável predileção das crianças
pequenas tanto pelo conto Chapeuzinho Vermelho — sobretudo a que tem por base o conto dos
Irmãos Grimm, no qual a menina sobrevive — quanto pelo conto Os três porquinhos, também na
versão em que os protagonistas sobrevivem. Este assunto nos despertou curiosidade suficiente para
que nos empenhássemos neste trabalho.
2. João de Barro (1907-2006): coautor de Carinhoso; As pastorinhas; Chiquita Bacana; Balancê; Tem gato na tuba; Yes, nós temos
bananas. Autor de Pirulito [que bate, bate]; Pirata da perna de pau; Copacabana [princesinha do mar]; dentre tantas outras.
42
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Traçando um breve paralelo entre os dois contos (Chapeuzinho Vermelho e Os três porquinhos), o que
se faz mais evidente em ambos é, indubitavelmente, a presença da figura do lobo ameaçando, nos
dois casos, personagens que tipificam a infância. Seria a presença do lobo ou do ‘medo’ por este figurado o que faz com que tais contos sejam tão apreciados pelas crianças e perpetuados pelos adultos,
a ponto de terem sofrido um número tão grande de adaptações? Por que suas canções teriam sido
memorizadas com tanta facilidade quando comparadas a tantas outras canções de contos (sejam eles
tradicionalmente transmitidos através da oralidade, propagados em áudio ou através do cinema e da
televisão)? Em outras palavras: por que essas canções relacionadas com o lobo foram tão facilmente
memorizadas e tornaram-se tão conhecidas? O que levaria a uma evidente predileção, por parte de
educadores, pais e crianças, por esses dois contos em detrimento de tantos outros?
Com o intuito de encontrarmos subsídios para problematizar essas indagações, partimos, em nosso
trabalho, do embasamento histórico da representação do lobo desde a Idade Média, destacando,
em seguida, elementos teóricos da crítica ao paradigma moderno efetivada por Santos (2008), a partir dos quais foram levantadas as categorias de análise das duas versões do conto Os três porquinhos
por nós apresentadas.
Que lobo é esse?
Ligado simbolicamente ao diabo no fim da Idade Média, o lobo tem sido um poderoso agente mítico, no entanto ele não estava vinculado necessariamente a essa concepção na tradição oral arcaica,
mas sim à representação da selva e dos aspectos selvagens do homem, como um perigo da natureza
relacionado à magia, sem deixar de se constituir enquanto parte inseparável da natureza orgânica,
afirma Zipes (1993).
Para melhor compreendermos a relação entre o lobo e a configuração do mal, e assim termos uma
base sólida para discutirmos a presença do lobo no conto Os três porquinhos, traremos à tona algumas considerações a mais. Zipes (1993:67-9) alude em seu livro à figura medieval do lobisomem,
um ser milenar de origem remota, geralmente relacionado aos povos caçadores, provindo dos cultos pagãos que celebravam o lobo como uma entidade protetora representada em tais rituais pelos
sacerdotes vestidos com pele de lobo, os quais adquiriam nas cerimônias os poderes inerentes a
essa entidade. Com as gradativas mudanças operadas no seio dessas sociedades que, aos poucos,
tornaram-se predominantemente agricultoras, lobos e lobisomens passaram a ser associados a forças hostis, ou mesmo a proscritos (párias) que viviam nos bosques, isolados da sociedade e caçados
pelos humanos. Algumas histórias de meninos-lobos aludem a esses proscritos. Segundo Ziolkowski
(2007:107), os contos de meninos-lobo frequentemente dizem respeito a crianças criadas por lobas
(que inclusive as amamentam) após haverem sido abandonadas por seus pais, Rumpf (1989:46-58
apud ZIOLKOWSKI, 2007:107-8) faz referência, dentre tais contos, à lenda antiga da fundação de
Roma: Rômulo e Remo, e ao conto moderno de Rudyard Kipling: Mowgli, dentre outros exemplos
como Wolfdietrich, da tradição germânica. Ziolkowsky (2007:108) exemplifica dois casos reais: do
menino-lobo que vagava pelos bosques de Hesse em 1344 e das meninas-lobo Amala e Kamala
encontradas na Índia em 1920, afirmando terem sido tão comuns tais tipos de relato que Lineu (historiador natural do século XVIII que estabeleceu o padrão de classificação taxonômica mais utilizado
pelas ciências biológicas) especificou em seu sistema taxonômico uma subclasse denominada Homo
ferus: o Juvenis lupinus hessianus (o menino lobo de Hesse).
43
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
O lobisomem e o lobo tornaram-se, portanto, uma representação direta das características agressivas, sendo o lobisomem identificado com poderes sobrenaturais de transformação, considerado,
por esta razão, incontrolável. Na Idade Média era, pois, muito comum os europeus, particularmente
entre os camponeses, acreditarem em lobisomens, mas gradativamente a antiga reverência a esse
ser perdeu totalmente o seu lado positivo, passando o mesmo a ser considerado, cada vez mais,
uma criatura destrutiva, sanguinária, astuta e sobrenatural, no entanto, ainda não se encontrava
associado diretamente ao demônio, o que aconteceria apenas na Baixa Idade Média. Foi entre 1400
e 1700 que a noção de lobisomem mudou profundamente, estando o mesmo ligado, doravante, às
bruxas e ao demônio, especificamente no que diz respeito à sua transformação mágica, que seria
explicada pela descrição e teorização acerca dos lobisomens e da licantropia por numerosos religiosos. Embora em um primeiro momento, a partir do ponto de vista católico oficial, tenha sido
considerado pecaminoso e insensato acreditar em lobisomens, por volta do século XV a Igreja atentou para a necessidade de se acreditar na sua existência, posto ser ele considerado, doravante, um
cúmplice do diabo, relacionado e assemelhado às bruxas. A caça às bruxas, agora aliada à caça aos
lobisomens, instituída pelo Papa Inocente VIII, em dezembro de 1484, envolveu autoridades seculares e leigas nessa tarefa.
O selvagem e a natureza enquanto Outro do paradigma ocidental
Com a intenção de construirmos uma fundamentação que nos forneça subsídios para a análise do
conto Os três porquinhos, cabe partirmos da seguinte citação de Santos: “[...] o acto da descoberta
é necessariamente recíproco: quem descobre é também descoberto” (2008:181). A relação de descoberta, enquanto relação que define o outro enquanto outro descoberto com relação ao descobridor só é indissociável em virtude da desigualdade de saber e poder que faz com que a descoberta,
de caráter necessariamente recíproco torne-se apropriação do descoberto pelo descobridor que
o declara descoberto. O Ocidente, afirma o autor, foi o mais importante descobridor imperial do
segundo milênio, tendo o seu “Outro”, o seu descoberto, assumido “[...] três formas principais: o
Oriente, o selvagem e a natureza” (SANTOS, 2008:181). Neste processo de descoberta imperial, o
aspecto conceitual antecede o empírico, ou seja, a ideia que o Ocidente tem daquilo que descobre
comanda o ato de descobrir e os atos dele subsequentes, e tal ideia tem por fundamento a afirmação da inferioridade do outro, reduzindo-o a um alvo de violência tanto física quanto epistêmica:
“[...] o descoberto não tem saberes, ou se os tem, estes apenas têm valor enquanto recurso” (SANTOS, 2008:182). Interessa-nos neste artigo sublinhar particularmente, em virtude dos aspectos anteriormente destacados acerca da figura do lobo, o Outro enquanto lugar do selvagem e da natureza.
O selvagem, segundo Santos, “[...] é o lugar da inferioridade [...] a diferença incapaz de se constituir
em alteridade. Não é o outro porque não é sequer plenamente humano” (2008:185-6). Constitui
antes uma ameaça do irracional do que uma ameaça civilizacional. A justificativa de sua inferiorização conceitual efetivou-se através do caráter pagão e pecaminoso atribuído aos descobertos, da
identificação destes como seres irracionais, seres da natureza, e, posteriormente, de estudos antropológicos que em geral consideram suas culturas inferiores à racionalidade científica.
A natureza, por sua vez, é o lugar da exterioridade, que, de um lado ameaça o homem, de outro
lhe serve de recurso. Mas a natureza, enquanto ameaça irracional (tal como o selvagem), pode ser
dominada e utilizada através de um conhecimento que a transforme em recurso. “O selvagem e a
44
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
natureza são, de facto, as duas faces do mesmo desígnio: domesticar a ‘natureza selvagem’, convertendo-a num recurso natural” (SANTOS, 2008:188).
Embasados em Foucault (1968), podemos inferir, no que diz respeito à figura do lobo, que esta assumiu, ao ser “descoberta” pelo saber e pelo poder da Idade Média e da Renascença (até o século XVI),
o lugar de antagonista de Deus, vinculada ao demônio e ao mal. No período clássico (séculos XVII e
XVIII), quando a natureza humana tornou-se dissociada da natureza; a palavra, das coisas; o pensamento, do ser; a taxonomia classificou-o a partir das suas identidades e diferenças com relação aos
outros seres, detectadas com base no método vigente, definindo-o enquanto um ser da natureza,
um selvagem (tanto o lobo: Canis lupus, quanto as pessoas que viviam isoladas da civilização: como
o Homo ferus: Juvenis lupinus hessianus de Lineu, e mesmo os indígenas e os africanos). Na Modernidade (a partir do século XIX), por sua vez, o Outro do Ocidente passa a ser descoberto e (des)qualificado em seus saberes, em suas experiências, com base em critérios instituídos nas, e através das,
ciências humanas, tais como a psicanálise, a etnologia e a linguística. O exame moderno, procedido
pelas ciências humanas, rege a (des)classificação tanto dos povos pertencentes às culturas selvagens
e colonizadas, subalternizadas, quanto dos proscritos classificados como crianças selvagens, como:
Victor de Aveyron, encontrado nas florestas da França em 1798; Kaspar Hauser, jovem criado em
cativeiro, privado de contato verbal com outras pessoas, encontrado em 1828 nas ruas de Nuremberg, na Alemanha; as irmãs Amala e Kamala encontradas nos bosques da Índia em 1920; Genie
(Susan Wiley), jovem criada em cativeiro até os treze anos nos Estados Unidos, descoberta em 1970;
Oxana Malaya, criança criada por cachorros e encontrada na Ucrânia em 1991, ainda hoje tratada
como objeto de exames científicos, dentre outros. Com frequência, tais casos foram diagnosticados
como anormais, e tais indivíduos tratados como loucos.
Segundo Foucault, a loucura é o que “[...] faz surgir um mundo interior de maus instintos, de perversidade, de sofrimentos e violência que até então estivera adormecido [...] essa profundidade iluminada pela loucura é a maldade do estado selvagem.” (FOUCAULT, 1978:564). Deste modo, a loucura
e o selvagem se estabelecem no lugar da alteridade da razão moderna, no lugar da irracionalidade,
do vazio total de razões, da não razão, que precisa ser domada, domesticada, docilizada.
O tempo e o saber hegemônico: a contração do presente e a expansão do futuro
Outro aspecto a ser destacado para o fundamento da nossa análise, retomando Santos, diz respeito
à concepção de tempo e temporalidade vinculados ao colapso da teoria da história estabelecido
pelo paradigma dominante, que nos dificulta pensar uma possível transformação social: “[...] a burguesia sente que a sua vitória histórica está consumada e ao vencedor consumado não resta senão
a repetição do presente [...]” (SANTOS, 2008:52). Para os derrotados (trabalhadores e povos do
hemisfério sul) não interessa o futuro como progresso, pois através dele se efetivou a sua derrota.
Esta incapacitação do futuro impede que se reaprenda a capacitar o passado e a reinventá-lo, pois
para que se pense tanto a transformação social quanto a emancipação social, é urgente reinventar
o passado. “Estamos num momento de perigo que é também um momento de transição. O futuro
perdeu a sua capacidade de redenção e de fulguração e o passado ainda não a adquiriu” (SANTOS,
2008:91).
Isso se deve ao fato de a compreensão ocidental do mundo estar muito aquém de uma compreensão mais ampla do mundo na medida em que a ciência enquanto saber hegemônico desperdiça
45
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
experiências e riquezas sociais e esconde ou desacredita alternativas viáveis, subalternizando saberes outros que não o seu. A compreensão ocidental do mundo e o modo como o poder social é por
ele criado e legitimado vincula-se a concepções de tempo e de temporalidade que, por um lado
contraem o presente, por outro expandem o futuro, afirma o autor.
A indolência da razão ocidental moderna se afirma, portanto: enquanto razão metonímica ao reivindicar-se como forma única e total de saber, contraindo o presente para que dele estejam ausentes
experiências e saberes outros que não o conhecimento hegemônico, e; como razão proléptica por
não empenhar-se em pensar no futuro por julgar saber tudo sobre o mesmo, concebendo-o “[...]
como uma superação linear, automática e infinita do presente [...]” (SANTOS, 2008:96), impedindo
assim que o futuro se expanda e nele seja possível vislumbrar-se a emergência de saberes outros
assim como alternativas de transformação e de emancipação sociais.
Santos (2008) propõe como alternativa à razão indolente hegemônica uma racionalidade cosmopolita que permita imaginar um mundo melhor a partir do presente e não do futuro, contraindo o futuro
e expandindo o presente para que neste seja valorizada a inesgotável experiência social da atualidade, evitando-se, dessa forma, o seu desperdício. Para promover a dilatação do presente, o autor
propõe uma sociologia das ausências que permita reinventar a variedade de experiências “[...] cuja
ausência é produzida activamente pela razão metonímica [...]” (SANTOS, 2008:135) e, para possibilitar a contração do futuro, sugere uma sociologia das emergências contraposta à razão proléptica
que reprime a emergência de experiências e saberes não hegemônicos, pois é hoje (no presente)
e não amanhã (no futuro) que se faz possível viver em um mundo melhor. “A possibilidade de um
futuro melhor não está, assim, num futuro distante, mas na reinvenção do presente, ampliado pela
sociologia das ausências e pela sociologia das emergências e tornado coerente pelo trabalho de
tradução” (SANTOS, 2008:135).
É, por fim, o trabalho de tradução entre saberes o que permitirá dar sentido ao mundo e possibilitar
que alcancemos a justiça social através da justiça cognitiva criada com base na imaginação epistemológica, de modo que a teoria geral da razão indolente hegemônica dê lugar ao trabalho de tradução de uma racionalidade cosmopolita.
Passemos às duas versões do conto Os três porquinhos por nós analisadas para que, mais adiante,
justifiquemos a fundamentação teórica com base em Santos (2008) acima delineada.
O lobo e os porquinhos: duas versões
Tomamos como corpus de nosso trabalho duas versões desse conto moderno. A primeira delas, A
história dos três porquinhos, que tem como título original The story of the three little pigs (1890), da
autoria do folclorista Joseph Jacobs, australiano que viveu na Inglaterra, onde a publicou em 1890. A
tradução por nós resumida é parte do livro Contos de fadas: de Perrault, Grimm, Andersen e outros
(JACOBS, 2010).
O segundo texto por nós apresentado é o resumo da versão indubitavelmente mais conhecida do
clássico Os três porquinhos, produzida nos estúdios Walt DisneyOs Três e lançada em 1933, trazendo como tema musical a famosa cantiga que vem marcando a infância das crianças desde o seu
lançamento até os dias de hoje. Considerada uma resposta à crise econômica de 1929, a canção se
46
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
converteu no hino pro-Roosevelt, como defende Pineda (2007:58). Outro dado curioso desta versão
animada está no fato de, mesmo tendo sido lançada em 1933, ter se tornado o único desenho animado a figurar entre os cinco DVDs mais vendidos pela Livraria Cultura, como constata Souza (2009),
ou seja, seu sucesso e propagação intensos beiram oitenta anos.
A história dos três porquinhos (Joseph Jacobs, 1890)
Na história, uma porca sem condições de sustentar os seus porquinhos mandou que tentassem
melhor sorte pelo mundo. O primeiro deles pediu palha a um homem, com o que construiu sua casa,
o lobo chegou e quis entrar, mas o porco disse que não, então o lobo soprou, bufou, destruiu a casa
e comeu o porquinho. O segundo porquinho pediu a um homem galhos de tojo, com o que construiu a sua casa, o lobo veio e quis entrar, o porquinho disse que não, mas o lobo soprou, derrubou a
casa e o comeu. O terceiro porquinho fez a sua casa com tijolos que pediu a um homem, o lobo quis
entrar e o diálogo se repetiu, mas desta vez o lobo, por mais que soprasse, não conseguiu derrubar a
casa. Para atrair o terceiro porquinho para fora da casa, o lobo convidou-o para, na manhã seguinte,
colher nabos. O porquinho saiu uma hora mais cedo do que havia combinado, colheu os nabos e voltou para a sua casa antes do lobo chegar. O lobo convidou o porquinho para colher maçãs, marcando
para o dia seguinte uma hora mais cedo. O porquinho saiu antes do combinado e, enquanto colhia
maçãs sobre a árvore o lobo chegou, ele então lançou uma maçã para despistá-lo e correu em segurança para a sua casa. O lobo, por fim, convidou o porquinho para ir à feira à tarde, mas o porquinho
saiu antes que o lobo chegasse e, na volta, quando viu o lobo próximo à sua casa, escondeu-se em
uma desnatadeira que trazia da feira e rolou morro abaixo assustando o lobo, que fugiu. O lobo voltou à casa do porquinho, contou que se assustou com uma coisa que rolava e o porquinho disse que
essa coisa era ele dentro de uma desnatadeira. O lobo, furioso, disse que iria entrar pela chaminé
para comê-lo. O porquinho pôs um caldeirão com água na lareira onde o lobo caiu, sendo cozido e
comido pelo porquinho que viveu feliz para sempre.
Os três porquinhos (Walt Disney, 1933)
Na versão animada, os porquinhos, que posteriormente receberam em português os nomes de Cícero, Heitor e Prático, iniciam a história construindo suas casas. O porquinho que construiu sua casa
de palha disse que assim o fez para não se esforçar, pois o que gostava mesmo era de tocar flauta. O
segundo porquinho fez sua casa com paus para poder tocar violino e dançar. O terceiro porquinho
construiu sua casa com cimento à prova de lobo e com tijolos, afirmando que trabalha e não dança,
por não ser tolo. Depois de construírem as casas de palha e de pau, os dois porquinhos saíram e fizeram troça do terceiro porquinho por este não saber brincar, dançar e cantar. O terceiro porquinho
disse que não se importava, pois não seria ‘brincadeira’ quando o lobo aparecesse. Eles riram ainda
mais, cantando e dançando: “Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau. Lobo mau”. Quando o lobo
chegou, vestindo uma calça remendada e desfiada presa com suspensórios e uma cartola amassada
na cabeça, carregando ainda uma mala, os dois correram, cada um para a sua casa. O lobo foi atrás
do primeiro porquinho, mandou que abrisse a porta, o porco disse que não e o lobo inchou, soprou
e derrubou a casinha. O porquinho sobrevivente correu para a casa de pau e o lobo correu atrás
sem conseguir alcançá-lo, fingindo que iria embora e se disfarçando de ovelha, mas os porquinhos
não se deixaram enganar nem o deixaram entrar. O lobo inchou, soprou e derrubou a casa de pau.
47
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Os dois porquinhos correram para a casa de tijolos do terceiro porquinho, que os recebeu dizendo
que havia os prevenido, mas que ainda assim iria protegê-los do lobo. Quando este chegou, disfarçado de vendedor ambulante de escovas, os dois primeiros porquinhos se esconderam com medo,
enquanto o terceiro porquinho abriu uma fresta da porta, pegou uma escova com a qual bateu no
lobo, derrubando-o em seguida. O lobo, irritado, inchou e soprou até ficar roxo e deixar que caíssem
as suas vestes. E então, despido, desceu pela chaminé, e, ao cair no caldeirão com água fervente e
terebentina, voou e fugiu para longe. Os porquinhos cantaram “Quem tem medo do lobo mau? Lobo
mau! Lobo mau!” e, por fim, o terceiro porquinho bateu na madeira do piano imitando batidas na
porta e os dois primeiros porquinhos se esconderam, tremendo de medo, debaixo da cama, pensando tratar-se do lobo.
A vitória do saber hegemônico no conto Os três porquinhos
O conto moderno Os três porquinhos, traz elementos relacionados ao progresso tecnológico do
homem, como indicado por Bettelheim: “As casas que os três porquinhos constroem são simbólicas
do progresso do homem na história [...]” (1980:53). No entanto, em uma análise efetivada com base
nas características do lugar do Outro enquanto o selvagem e a natureza, tanto a palha quanto o
tojo são materiais da natureza, enquanto o tijolo é um objeto criado pelo trabalho e pelo engenho
humano. A esse respeito, Foucault afirma que a partir da Modernidade é no homem que as coisas
encontram sua origem, seu começo, “[...] ele é a abertura a partir da qual o tempo em geral se pode
reconstituir [...]” (1968:432), portanto, se empiricamente as coisas são inapreensíveis em sua origem é pelo fato de o homem estar distanciado das coisas que são anteriores a ele.
A episteme moderna, na qual se fundam os regimes de verdade que podem vir à tona neste período,
materializa-se textualmente no conto Os três porquinhos. Portanto, se na Modernidade a origem do
homem tem seu lugar na origem das coisas que ele produz através do seu trabalho, no conto em questão tal origem encontra-se na figura do terceiro porquinho que, com objetos fabricados, beneficiados
ou produzidos pelo homem e, ainda mais, com a força do seu trabalho, se distancia da natureza, representada em primeira instância pela palha e pelo tojo dos dois primeiros porquinhos, estabelecendo-se
como representante do saber hegemônico ao tornar a natureza (enquanto Outro com relação ao seu
saber dominante) externa, por intermédio da inviolabilidade e do hermetismo da sua casa de tijolos.
Nesse sentido, o lobo também figura com o seu sopro impotente ante a tecnologia de construção
moderna, uma força da natureza, exterior às cidades e construções da civilização moderna.
A primeira diferença comumente detectada pelas crianças entre essas duas versões está na morte
dos dois primeiros porquinhos e do lobo na primeira versão e na sobrevivência desses personagens
na segunda versão, o que indica uma possível semelhança de função entre tais personagens. O lobo
e os dois primeiros porquinhos retratam, enquanto Outro do saber hegemônico, tanto o lugar da
natureza, como vimos acima, quanto o lugar do selvagem, como destacamos a seguir.
No caso da primeira versão, os dois primeiros porquinhos representam o selvagem tanto pelo fato
de suas casas serem feitas de palha e de galhos, elementos da natureza, tal como as moradias de
alguns povos considerados selvagens pela Modernidade, quanto em virtude de, ao serem comidos
pelo lobo que historicamente representa o selvagem, tornarem-se parte do próprio lobo.
48
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Na segunda versão, os dois primeiros porquinhos retratam o selvagem, e a sua casa a própria natureza, até o momento em que são ameaçados pela “natureza selvagem” da figura do lobo e se permitirem domesticar, quando se convertem e são “aceitos” e protegidos, colonizados, pela civilização
moderna. Nesta versão, os dois primeiros porquinhos utilizam apenas a parte superior das vestes,
enquanto o terceiro, vestindo um macacão como uniforme de trabalhador de construção civil, cobre
tanto a parte superior quanto a inferior do corpo, o que indica que o terceiro porquinho possui
maior grau de civilidade do que os dois primeiros.
Na figura do lobo, por sua vez, a natureza e o selvagem não se dissociam pelo fato de o mesmo
não se permitir domesticar. Na primeira versão, o lobo, retratando os saberes não hegemônicos, é
vencido, por um lado pela tecnologia de construção, por outro lado por uma desnatadeira, objeto
fabricado pelo homem com que o lobo se assusta. Outro fator que promove a derrota do lobo é o
trabalho (signo incontestavelmente moderno, uma das três grandes positividades humanas, como
afirma Foucault, 1968) do terceiro porquinho presente tanto na construção de sua casa quanto no
seu esforço por acordar cada vez mais cedo, como convém ao bom trabalhador moderno. Por fim, o
lobo é comido pelo porquinho, de modo que a sua natureza selvagem torna-se ‘domesticada’ ao ser
convertida em recurso, como inferimos com base em Santos (2008:188).
Na segunda versão, diferentemente dos porquinhos que, mesmo apresentando meias-vestes possuem
roupas bem feitas e limpas, o lobo utiliza roupas remendadas e desfiadas e uma cartola amassada,
levando uma mala, evidenciando-se como único personagem completamente destituído de seu território, desterritorializado, e ao mesmo tempo subalternizado em virtude das roupas com que nos
é apresentado. Em dois momentos ele tenta se passar por domesticado e civilizado: vestindo-se de
ovelha ante os dois primeiros porquinhos e fantasiando-se de vendedor ambulante para entrar na casa
de tijolos, sendo descoberto em seu disfarce nas duas ocasiões, ou seja, por mais que o selvagem ou
colonizado tente se deixar domesticar, ele estará aquém da civilização e será reconhecido como uma
farsa, como uma caricatura de civilizado. Em seguida, ao inchar e soprar para tentar derrubar a casa
do terceiro porquinho, suas roupas caem e a partir desse momento evidencia-se, na representação
da ‘natureza selvagem’ atribuída ao lobo, a sua ferocidade no seu modo de caminhar e correr com as
quatro patas. Ao descer pela chaminé, ao invés de ser comido pelos porquinhos, o lobo voa para longe
depois de cair em um caldeirão com água e terebentina (outro produto beneficiado pelo homem a
partir da resina de Pinus), sobrevivendo por não representar efetivamente uma ameaça, a não ser para
os dois primeiros porquinhos “selvagens domesticados” que ainda se assustam com a possibilidade
e sua volta, que, mesmo aparentemente aceitos pela civilização, apresentam evidências comuns aos
‘colonizados’, não possuindo razão suficiente como o terceiro porquinho.
Assim, detectamos que tanto o lobo quanto os dois primeiros porquinhos ocupam, enquanto Outro
do saber dominante representado pelo terceiro porquinho: o lugar da natureza como externa à
civilização moderna, podendo por esta ser aceita apenas como recurso ou quando domesticada, e;
o lugar do selvagem em razão de suas diferenças se estabelecerem na inferioridade, constituindo
apenas uma ameaça irracional, longe de serem uma ameaça civilizacional, como verificamos fundamentados em Santos (2008:185-6), o que justifica a possibilidade de sobrevivência do lobo desde
que este assuma um lugar externo e inferior à civilização moderna, ridicularizado e subalternizado
na canção cantada em coro por crianças e adultos civilizados para que perca as suas forças ante o
paradigma moderno, dominante e hegemônico.
49
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
A contração do presente e a dilatação do futuro em Os três porquinhos
Ao nos perguntarmos que compatibilidades e aproximações poderiam ser indicadas entre Foucault
e Santos que nos viabilizassem o uso de suas consistentes e relevantes teorias, posto serem ambos
potentes intercessores no âmbito da análise por nós proposta, encontramos, em Santos, uma possível resposta:
A última grande tentativa de produzir uma teoria crítica moderna coube a Foucault, tomando precisamente como alvo o conhecimento totalizante da modernidade, a ciência moderna. [...] Ele representa o
clímax e, paradoxalmente, a derrocada da teoria crítica moderna. Levando até às últimas consequências
o poder disciplinar do panóptico construído pela ciência moderna, Foucault mostra que não há qualquer
saída emancipatória dentro deste ‘regime de verdade’, já que a própria resistência se transforma ela própria num poder disciplinar e, portanto, numa opressão consentida porque interiorizada. O grande mérito
de Foucault foi ter mostrado as opacidades e os silêncios produzidos pela ciência moderna, conferindo
credibilidade à busca de ‘regimes de verdade’ alternativos, outras formas de conhecer marginalizadas,
suprimidas e desacreditadas pela ciência moderna. (SANTOS, 2005: 26-7)
Para Foucault, é no nível do fundamento das três grande positividades modernas: a vida, o trabalho
e a linguagem, nos campos da biologia, da economia política e da filologia que encontramos o ser
do homem: “[...] não se pode ter aceso a ele senão através das suas palavras, do seu organismo, dos
objectos que ele fabrica — como se eles acima de tudo (e só eles talvez) fossem verdadeiros [...]”
(FOUCAULT, 1968:408).
Foucault apresenta-nos os duplos que delineiam o homem no nível do fundamento dessas positividades, sejam eles: o distanciamento e o retorno da origem, tendo em vista que o homem, alheio
à natureza, encontrará sua origem no estabelecimento das coisas, pois a origem das coisas está
atrelada, e o conduz, à sua própria origem. O homem busca a origem dentro da descontinuidade. O
homem se define ainda na figura do duplo empírico-transcendental posto que nele se faz possível
tomar conhecimento do que possibilita todo o conhecimento. O cogito e o impensado se estabelecem enquanto duplo do homem numa junção do lugar do conhecimento consciente e do lugar
do desconhecimento, do não pensado, do inconsciente, “[...] as consciências humanas não falam
senão dentro do elemento do representável, mas segundo uma dimensão consciente-inconsciente”
(1968:471). Por fim, a analítica da finitude, que se assenta: de um lado no anúncio do fim da história
nos domínios da economia política, tanto na teoria de Marx que apregoa a revolução como possível
solução para o irremediável conflito de classes, quanto na solução capitalista de Ricardo que aponta
para a estagnação proporcionada pela plena consolidação do capitalismo; e de outro lado na descontinuidade, nas degradações dos cataclismos, no infinito da vida perpetuada através da evolução
dos seres.
O distanciamento da natureza acentuado na Modernidade trouxe, portanto, consequências para o
conceito de tempo e de história. Foucault afirma a esse respeito: “Só há história na medida em que
o homem como ser natural é finito [...] Quanto mais o homem se instala no cerne do Mundo, quanto
mais avança no domínio da Natureza, mais fortemente também urge a finitude, mais se aproxima
da sua própria morte.” (1968:339, grifo nosso). Segundo o autor, a finitude da existência humana
marca um fim da História. A utopia clássica já não encontra lugar nessa nova configuração. “O tempo
torna-se finito [...]” (1968:343) por proceder do próprio homem, o qual doravante só se constituirá
enquanto sujeito de História na sua vida, na sua linguagem e nas coisas que produz com a força do
seu trabalho.
50
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Zimbardo e Boyd (2009:53) afirmam que Os três porquinhos é um relato sobre a necessidade de se
preparar para o futuro. O terceiro porquinho, pois, representando a episteme moderna, anuncia a
sua origem no fruto do seu trabalho que lhe permite permanecer vivo e lhe garante a supremacia
do seu discurso. O conto reafirma, pois, o fim da História ao contrair o presente, tornando ausentes
tanto o Outro representado pelo selvagem e pela natureza, quanto os saberes colonizados ao tornar
o futuro previsível apenas sob a ótica do saber dominante, o que é perceptível na monocultura do
tempo linear vinculada ao progresso evolutivo do homem com sentido e direção delineados, encerrados apenas nas possibilidades de futuro viabilizadas pelo saber moderno. “Um futuro assim concebido não tem de ser pensado [...]” (SANTOS, 2008:115), o que inviabiliza a democracia de saberes
que possibilitaria a emergência de outras alternativas enquanto “[...] trabalho de imaginação epistemológica e de imaginação democrática com o objetivo de construir novas e plurais concepções de
emancipação social [...]” (2008:134).
Ao conceder a vitória à razão metonímica enquanto saber total e hegemônico que contrai o presente e, e à razão proléptica que ao tornar previsível o futuro o expande de modo que apenas nele
se vislumbre possibilidades de melhora, impossibilitando assim a emergência de saberes outros, o
conto Os três porquinhos, propagando e consolidando a razão indolente do paradigma dominante,
impede a constituição de uma razão cosmopolita fundada em um trabalho de tradução que promova a justiça cognitiva, capaz de nos conduzir à justiça social.
Conclusão
A análise do conto atesta a materialização textual da distribuição desigual do conhecimento e da atribuição de validade e reconhecimento ao saber hegemônico da ciência moderna em detrimento dos
saberes outros, o que provoca, afirma Santos (2008), exclusão e desigualdade cognitiva, e consequentemente, social, do Outro colonizado, pois os espaços coloniais permanecem no estado de natureza,
de modo que a inclusão dos aceitos e protegidos passa a ter por limite tudo aquilo que é excluído. No
modelo propagado no conto, a economia se socializa na constituição de ilhas de inclusão (representadas pela casa do terceiro porquinho) e de arquipélagos de exclusão (representados no conto, pelo
lobo, pelas casas dos outros dois porquinhos, pelo lugar selvagem e da natureza), frutos da crise do
contrato social da modernidade que nos vem conduzindo ao emergente fascismo social.
Uma alternativa apresentada por Santos está na reinvenção de espaços-tempo de deliberação
democrática, pois “A divisão entre zonas selvagens e zonas civilizadas é manifestação eloquente da
segmentação do espaço-tempo como condição da compressão deste” (2003:339). O autor afirma
que “[...] a construção de um contrato social de tipo novo [...] deve abranger não apenas o ser humano e os grupos sociais, mas também a natureza [...]” (2003:339), sendo um contrato social inclusivo,
intercultural e cosmopolita. As políticas dos direitos humanos, portanto, enquanto políticas culturais devem pautar-se na inclusão e na reconstrução interculturais promovidas por intermédio de
um trabalho de tradução que possibilite a constituição de redes de linguagens nativas para que se
desenvolva uma política cosmopolita.
Para tanto, é fundamental que se dê voz ao sujeito subalternizado para que o mesmo se constitua
enquanto subjetividade protagonista, pensando-se a emancipação social sem a necessidade de uma
teoria geral da emancipação social mas através da transformação do conhecimento científico em
senso comum, valorizando dessa forma as experiências e saberes outros que não o hegemônico,
51
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
valorizando o senso comum e tornando a ciência transparente. Se a teoria geral é o que caracteriza
a razão metonímica, torna-se necessária uma teoria geral sobre a impossibilidade de haver a justiça
cognitiva e social fundada em uma teoria geral para que enfim se transformem os direitos dos vencedores em direitos universais.
O paradigma dominante talvez tenha encontrado no conto de Jacobs e no filme de Disney uma
perspicaz configuração auto-replicante que vêm garantindo, e que ainda garantirá, por gerações a
fio a sua propagação às crianças desde a mais tenra infância, como um dos primeiros e mais efetivos
instrumentos de educação, doutrinação e formação no saber metonímico, proléptico e indolente do
paradigma dominante moderno, visando por um lado à sua perpetuação e conservação, e por outro
à subalternização de saberes e alternativas de emancipação e de justiça cognitiva e social.
Envio: 28 jan. 2011
Aceite: 13 jul. 2011
52
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Referências bibliográficas
BARRO, João de. Chapeuzinho Vermelho. São Paulo: Moderna, 1995.
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Lisboa: Portugália, 1968.
_______.
História da loucura na idade clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978.
JACOBS, Joseph. “The story of the three little pigs”. In English fairy tales. Londres: David Nutt, 1890,
p. 68-72.
“A história dos três porquinhos”. In Contos de fadas: de Perrault, Grimm, Andersen e outros. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p. 264-9.
_______.
PINEDA, Vicente-Antonio. “Mickey Mouse, para nosotros ‘el ratoncito pérez’”. In GARCIA-HERREROS, Enrique (org.). Los carteles de cine de Enrique Herreros: y otras obras importantes. Madri:
EDAF, 2007. p. 58-9.
OS TRÊS porquinhos. Direção: Burt Gillett. Produção: Walt Disney. EUA: Walt Disney Productions,
1933.
RUMPF, Marianne. Rotkäppchen. Eine vergleichende Märchenuntersuchung [Little Red Riding
Hood: a comparative study]. Bern, Frankfurt/M, Londres, Nova York: Peter Lang AG, 1989.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência.
São Paulo: Cortez, 2005.
_______.
A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2008.
SOUZA, Kelly de. “Os porquinhos continuam vivos”, Blog da cultura, set. 2009. Disponível em
<http://cultura.updateordie.com/2009/09/01os-porquinhos-continuam-vivo/>. Acesso em 19 nov.
2011.
ZIMBARDO, Philip; BOYD, John. La paradoja del tiempo: la nueva psicología del tiempo. Barcelona:
Paidós, 2009.
ZIOLKOWSKI, Jan M. Fairy tales from before fairy tales: the medieval Latin past of wonderful lies.
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007.
ZIPES, Jack David. Trial and tribulations of Little Red Riding Hood: versions of the tale in sociocultural context. Nova York/Londres: Routledge, 1993.
53
A Novilíngua e a discursividade dos fenômenos de massa
The Newspeak and the mass phenomenon’s speeches
La Nuevahabla y la discursividad de los fenómenos de masa
Ricardo Salztrager1
Resumo
A proposta do artigo é analisar a discursividade proeminente nos fenômenos de massa. Segundo nosso entender, trata-se de uma linguagem literal, denotativa e que tende a anular a polissemia das palavras, favorecendo um estado de alienação por parte dos membros da massa. Estabelecemos também uma analogia entre esta discursividade e a Novilíngua,
idioma fictício cujas principais particularidades foram forjadas por Orwell no romance “1984”.
Palavras-chave: fenômenos de massa, Novilíngua, psicanálise.
Abstract
The idea of this article is to analyze the discursive prominent in the mass phenomenon. In our view, it consists of a literal
language, denotative and which tends to nullify the words’ polysemy, favoring an alienating state to the mass members.
We have also established an analogy between this discursive and the Newspeak, a fake language which its main particularities were forged by Orwell in the romance “1984”. Keywords: mass phenomenon, Newspeak, psychoanalysis.
Resumen
La propuesta del artículo es analizar la discursividad predominante en los fenómenos de masa. Según nuestro entendimiento se trata de un lenguaje literal, denotativo y que tiende a anular la polisemia de las palabras, favoreciendo un
estado de alienación por parte de los miembros de la masa. También hemos establecido una analogía entre este discursividad y la Nuevahabla, lenguaje de ficción cuyas principales peculiaridades fueron creadas por Orwell en la novela
“1984”.
Palabras clave: fenómenos de masa, Nuevahabla, psicoanálisis.
1. Doutor em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Professor Adjunto da Universidade Federal
Fluminense (UFF). Contato: [email protected].
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Na contemporaneidade, assistimos a uma enorme proliferação dos mais variados fenômenos de
massa. Estes podem ser definidos como modismos de durações fugazes que se esvaziam facilmente
à medida que perdem suas utilidades, ou mesmo, de aglomerações em torno de uma aspiração
semelhante que se desfazem tão logo o interesse em questão seja satisfeito. Como exemplos, podemos mencionar alguns grupos religiosos que impõem aos crentes uma espécie de cura milagrosa,
multidões inteiras reunidas em torno de alguns ídolos ou os diversos fenômenos midiáticos que
estabelecem um padrão de comportamento específico para os que neles se inserem. De acordo
com Mafesoli (2006), tais formações massificantes são, em sua maioria, efêmeras, carentes de uma
organização estrutural mais complexa e nas quais os laços sociais se estabelecem, principalmente,
pelo contágio proporcionado por uma mesma emoção compartilhada.
Em todas estas formações grupais, uma instigante peculiaridade salta aos olhos: nelas, as palavras
empregadas para explicar ou ordenar determinado estado de coisas acabam por favorecer nos ouvintes um estado de alienação ao discurso dos líderes. Neste contexto, os membros da massa, como se
isentos de capacidade reflexiva ou vontade própria, passam a tomar no sentido literal um discurso
que poderia ser compreendido numa acepção mais ampla. Daí ser bastante comum a observação
de que a massa age de forma semelhante, assume um mesmo comportamento e, principalmente,
declama de forma voraz o mesmo discurso que o líder exprimiria numa situação análoga.
Tendo por base este contexto, a proposta do presente artigo é oferecer uma análise sobre a discursividade proeminente nestes fenômenos de massa. Assim, traremos à tona as características de uma
formação discursiva que, por funcionar num plano meramente denotativo, literal e desmetaforizado, favorece um estado de alienação por parte dos ouvintes. A finalidade da discussão é estabelecer
uma analogia entre esta discursividade e a Novilíngua, idioma fictício, cujas principais particularidades foram forjadas por Orwell (1949) no romance “1984”. Veremos que se trata, em ambos os domínios, de um modo peculiar de se fazer uso da linguagem, seja por almejar destruir a figurabilidade
das palavras, por anular suas capacidades polissêmicas e, até mesmo, pela tentativa de despi-las de
seu potencial significante.
Mediante este exame, será mais uma vez contemplada a atualidade do romance de Orwell, autor já
inúmeras vezes exaltado por sua capacidade de vislumbrar o futuro de uma época marcada pelo fim
da Segunda Guerra Mundial e por, de certo modo, pressentir as vicissitudes dos regimes totalitários
emergentes nas primeiras décadas do século XX.
As particularidades da Novilíngua
O romance de Orwell (1949) se passa num fictício 1984, ano em que o mundo se encontraria dividido em três grandes potências que ora guerreavam entre si, ora estabeleciam convenientes alianças a
depender dos interesses mútuos. Tinha-se a Eurásia, compreendendo a grande área que vai de Portugal ao Estreito de Bhering; a Lestásia, que incluía a China, o Japão e os países do sudeste asiático;
e finalmente, a Oceânia, abrangendo a Grã-Bretanha, as Américas, o sul do continente africano e a
Austrália. A África Equatorial, os países do Oriente Médio e a Índia, por consistirem em importantes
produtores de bens agrícolas e por conterem grande reserva de mão de obra, eram anexados a um
ou outro megabloco a depender dos acordos estabelecidos entre estas grandes potências.
O livro se passa na Oceânia, local dominado pelo totalitarismo do Ingsoc (também denominado
55
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
de “Partido”), que tinha como líder a figura emblemática do Big Brother. Este, considerado como
representação simbólica do poder opressor do Partido, vigiava o cotidiano da Oceânia através de
teletelas espalhadas pelas paredes das residências e dos locais de trabalho da população. Se algum
crime contra o Ingsoc fosse descoberto, seu agente era capturado pela Polícia das Ideias e tinha seus
registros e documentos apagados, como se nunca houvesse existido.
O personagem principal da história é Winston Smith, funcionário do Ministério da Verdade, encarregado de reescrever, alterar ou simplesmente apagar dados e notícias que contrariavam os interesses
do Partido a serem divulgados em jornais, livros ou panfletos. Por exemplo, se a Oceânia, após um
longo período de paz com a Lestásia, trava com ela uma guerra, cabia a Smith reescrever a história e
alterar todo o passado, transformando o megabloco — outrora aliado — num inimigo de longa data.
Também era sua função apagar os registros dos que cometiam a designada “crimideia”. Tudo feito
com o intuito de dificultar a recordação do passado por parte da população e de abolir quaisquer
lembranças de como era a vida antes do Partido tomar o poder. Através do trabalho de pessoas
como Smith, o Ingsoc poderia controlar o passado, o presente e, talvez, o futuro da Oceânia.
Dentre todos os temas e enredos abordados no livro, o que mais interessa ao nosso estudo é a gradativa reforma gramatical imposta pelo Ingsoc que deu origem à denominada “Novilíngua”. Em si,
ela consistia no idioma oficial da Oceânia e a previsão era de que até o ano de 2050 viesse a substituir totalmente o inglês padrão nas interlocuções cotidianas.
A Novilíngua foi concebida com o intuito de atender às necessidades ideológicas do Partido, instituindo uma discursividade compatível com a visão de mundo do Ingsoc e, de certo modo, dificultando quaisquer outras formas de pensamento. Assim, quando em 2050, o inglês padrão fosse
esquecido, uma discursividade contrária ao Ingsoc seria impensável, posto não mais haver meios de
expressá-la. O passado anterior à Revolução também seria esquecido e a história poderia ser reescrita em sua totalidade.
O vocabulário da Novilíngua fora minuciosamente elaborado para conferir maior exatidão a todos
os pensamentos transmitidos pela fala ou pela escrita, inviabilizando ao máximo a emergência o
surgimento de qualquer dúvida por parte dos ouvintes. Novos vocábulos foram criados e aboliram-se os indesejáveis. Ademais, os criadores da Novilíngua eliminaram qualquer significado herético
que uma palavra pudesse exprimir. As ambiguidades e nuances de sentido passaram a não existir,
de modo que discussões políticas, filosóficas, ou maiores abstrações tornaram-se informuláveis. O
exemplo fornecido é o da palavra “livre”. Com efeito, ela ainda persistia em Novilíngua; no entanto,
só poderia ser empregada no sentido de “o caminho está livre” ou “o banheiro está livre”. Ela jamais
poderia aparecer em sentenças como “o homem é politicamente livre” posto que a liberdade política, por não ser passível de nomeação, passava a não existir como conceito.
Outra artimanha utilizada é a síntese de grandes extensões de pensamentos em pouquíssimas sílabas. A palavra “bompensar”, por exemplo, significava no inglês padrão “pensar de maneira ortodoxa”. Palavras como “honra”, “justiça”, “liberdade”, “igualdade” e “democracia” deixaram de existir,
“passando a ser englobadas por alguns poucos vocábulos que, no mesmo ato de englobá-las, provocavam sua obliteração” (ORWELL,1949:354). Ou seja, com a incidência da Novilíngua, os sentidos
subjacentes a tais palavras encontravam-se unicamente contidos no termo “crimideia”. Dada a inexistência das palavras ligadas à heresia, era impossível sequer exprimir um pensamento em disparate com os preceitos do Ingsoc.
56
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Neste contexto, Orwell (1949) explica que o que se exigia na Oceânia era uma visão parecida à dos
hebreus antigos que, embora não conhecessem nada sobre os deuses dos outros povos, sabiam de
antemão que todos eles eram deuses falsos. Do mesmo modo, quanto menos se soubesse a respeito das ideias contrárias à ideologia do Partido, mais a população se alienava às convicções por
ele propostas. Também, no que diz respeito à sexualidade, a Novilíngua disponibilizava apenas dois
termos: “benesexo” e “sexocrime”, o primeiro contendo o sentido do ato sexual entre um homem e
uma mulher com fins procriativos e o segundo agrupando quaisquer transgressões a este ato — é
claro — não sendo conveniente nomear cada uma delas.
Visando a univocidade do sentido das palavras, outra prática comum era o uso maciço de abreviações e siglas. Isto era feito com o intuito de sutilmente limitar o sentido das palavras originais, obliterando grande parte das possíveis associações a serem feitas a partir delas. Assim, o Ministério da
Verdade, local onde Smith trabalhava, era chamado em Novilíngua de Miniver. Caso continuasse a
ser nomeado de Ministério da Verdade, a Oceânia poderia se questionar sobre o fato de a verdade
ser a última coisa produzida neste Ministério (justamente por ali ser o local onde todas as mentiras
sobre o passado e presente do mundo eram formuladas). Miniver seria um termo mais neutro e, por
isto, sua abreviação em Novilíngua. Da mesma maneira, o Ministério da Paz, encarregado da guerra, passou a se chamar Minipaz. Já o Ministério da Pujança, responsável pelas sanções aos bens de
consumo da população, era abreviado por Minipuja.
Deste modo, em Novilíngua, vislumbra-se a criação de palavras exatas, precisas e de sentido inequívoco. Mediante esta reforma gramatical, o propósito do Ingsoc era transformar qualquer discurso
num emaranhado de ditos monótonos que, assim, provocariam um mínimo de eco nos interlocutores, anulando suas capacidades reflexivas. Tratava-se da assunção de uma fala extremamente
verborrágica e quase automática e da promoção de um discurso independente do pensamento.
Valoriza-se a própria concretude das palavras, anulando-se as produções metafóricas, bem como
quaisquer outras formações simbólicas.
Percebemos que, na Novilíngua, o potencial significante próprio ao discurso é elidido. Ou seja,
tomando como exemplo o significante “crimideia”, vemos que tudo fora arquitetado para que
ele jamais entrasse em cadeia com outros significantes como “honra”, “liberdade” etc. Pelo
contrário, o significante “crimideia” sempre vai remeter ao próprio significado “crimideia”. O
mesmo acontece com o significante “sexocrime” que, ao invés de enviar a outros significantes
como “homossexualismo” ou “felação”, se reporta automaticamente ao significado “sexocrime”. Trata-se, aqui, de uma escritura que não cessa de reenviar a si mesma, adquirindo a peculiaridade de um verdadeiro e último referencial, de onde tudo parte e para onde mesmo tudo
converge. Assim, no caso de alguém ser condenado por crimideia, um advogado em potencial
jamais poderia formular um pensamento associando a crimideia à liberdade ou à democracia,
posto que ela tem uma significação perfeitamente clara e não ambígua. Toda a população da
Oceânia sabia o que era crimideia e, ao mesmo tempo, todos possuíam a mesma compreensão
do que ela significava.
Com base nestes aspectos, devemos marcar que a gradual substituição do inglês padrão pela
Novilíngua no mundo fictício de Orwell traz consigo características em muito semelhantes às
destacadas por Lyotard (2004) a respeito do fim das grandes narrativas no saber contemporâneo. Para o autor, o domínio do saber vem assistindo à relativa decadência de todas as modalidades discursivas que se estruturam sob a forma de relatos. Assim, histórias populares, mitos
57
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
e outras formações narrativas cedem espaço na contemporaneidade para o saber científico,
modalidade discursiva que, em si, possui semelhanças estruturais com a Novinlíngua.
Segundo Lyotard (2004), com o fim das narrativas, cai por terra toda uma estrutura de discurso que
admite em seus domínios uma pluralidade de jogos de linguagens. Com efeito, encontram lugar nas
narrativas enunciados denotativos que versam sobre toda a gama de objetos e situações; enunciados deônticos que prescrevem o que deve ou não ser feito; enunciados interrogativos, avaliativos,
dentre outros. Já no que tange ao saber científico, os enunciados denotativos são supervalorizados
e, com isto, o valor de todos os outros jogos de linguagem são reduzidos. Ou seja, mesmo quando
enunciados interrogativos, prescritivos, são formulados, é sempre para servir de suporte para uma
argumentação que, em si, deve inevitavelmente terminar no pronunciamento de um enunciado
denotativo. Isto porque o critério para a aceitação de um discurso científico é sempre o seu valor de
verdade, e “é-se erudito (neste sentido) se se pode proferir um enunciado verdadeiro a respeito de
um referente” (LYOTARD, 2004:46).
Também é considerado que o processo de substituição do discurso narrativo pelo discurso científico
no campo do saber é feito com base em mecanismos também análogos ao que, na ficção de Orwell,
viabilizaram a criação da Novilíngua. Ou seja, no campo da ciência, é necessário antes decidir quais
termos ou enunciados são a ele pertinentes. Deste modo, faz-se necessário um retorno ao domínio
mais amplo da linguagem para operar uma triagem visando separar o que é conveniente ao discurso
científico do que deve ser inevitavelmente abandonado:
Nesta transformação geral, a natureza do saber não permanece intacta. Ele não pode se submeter aos
novos canais e tornar-se operacional, a não ser que o conhecimento possa ser traduzido em quantidades
de informação. Pode-se então prever que tudo o que no saber constituído não é traduzível será abandonado, e que a orientação das novas pesquisas se subordinará à condição de tradutibilidade dos resultados
eventuais em linguagem de máquina (LYOTARD, 2004:4).
Do mesmo modo, merece ser destacado que tanto a Novilíngua como o discurso científico (pelo menos
de acordo com a abordagem de Lyotard) possuem como objetivo último a promoção de uma espécie
de eficácia ou otimização discursiva. Em outros termos, seja por valorizarem os enunciados denotativos ou por operarem com base na triagem acima descrita, ambas as modalidades discursivas trazem
a pretensão de que, no âmbito da transmissão, os enunciados sejam perfeitamente assimilados pelos
destinatários. Bastaria, portanto, informar os sujeitos, transmitir-lhes enunciados exatos e fornecer-lhes noções claras. Assim, almeja-se que eles compreendam claramente o que lhes é transmitido.
Por fim, devemos considerar que a supervalorização dos enunciados denotativos no campo da ciência acaba propiciando o fenômeno da exteriorização do saber em relação àquele que sabe. Favorece-se, assim, uma alienação por parte dos usuários do saber, fazendo entrar em desuso o princípio
segundo o qual a aquisição do saber é indissociável da formação do espírito, ou seja, do próprio
sujeito (LYOTARD, 2004). Tal como ocorre no campo da Novilíngua, o discurso científico torna-se
verborrágico, automático e acéfalo.
Com efeito, o sujeito que se demite de sua enunciação é aquele que não se autoriza a pensar e a
sustentar quaisquer variáveis desejantes em seu discurso (LEBRUN, 2004). Por conseguinte, a partir
desta exclusão do sujeito da enunciação, os enunciados científicos passam a ser validados apenas
por suas consistências lógicas (MELMAN, 1995). Ao sujeito, restaria o papel de parasita em potencial
da fala, que nela pode introduzir o erro, a dúvida e o estranhamento.
58
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Seguindo esta linha de raciocínio, vale lembrar como se dava a criação musical no fictício 1984 de
Orwell. Na Oceânia, as músicas eram compostas de maneira completamente mecânica a partir do
manejo de um aparelho denominado “versificador”. Em si, o versificador funcionava tal qual um caleidoscópio, que ao invés de possuir pontos coloridos em seu interior, continha algumas poucas palavras
e bases melódicas. Estas, embaralhadas automaticamente pelo aparelho, faziam originar as canções
maciçamente voltadas para o entretenimento da população, todas — cabe ressaltar — sempre muito
parecidas. Tinha-se, assim, uma infinidade de canções sentimentais compostas sem nenhuma intervenção humana. Canções acéfalas que foracluiam de seus domínios a figura do compositor.
Curiosamente, o leitor de “1984” não se assusta em perceber as semelhanças entre estas canções
e aquelas que insistentemente são consumidas pelas grandes massas na contemporaneidade. Sob
este aspecto, mais uma vez vislumbramos a atualidade da obra de Orwell.
A discursividade dos fenômenos de massa
O romance 1984 se inicia com a narrativa de um acontecimento bastante recorrente na Oceânia
dominada pelo Ingsoc: a convocação de todos os membros do Partido para os Dois Minutos de Ódio.
A cerimônia começava com um guincho estridente ordenando para todos se posicionarem diante da
teletela. Durante o primeiro minuto, mostrava-se o rosto de Goldstein, inimigo do Ingsoc e, consequentemente, de toda a população da Oceânia. Goldstein era um suposto refugiado, condenado por
traições, sabotagens, heresias e constantemente acusado de se aliar ora à Eurásia ora à Lestásia — a
depender de qual destas outras potências o Partido estava guerreando. Ao ver o rosto de Goldstein,
a plateia era tomada por uma mesma combinação de sentimentos: o medo, a repugnância e o asco
os faziam bradar, como se colocassem para fora toda a fúria que o semblante do inimigo despertava.
Durante este tempo, Goldstein proferia seu discurso subversivo — quase todo em Novilíngua —,
embora fosse impossível escutá-lo dado o alarde feito pela plateia.
No segundo minuto, todos eram presas de uma espécie de ataque de loucura: a plateia pulava nas
cadeiras, gritava ainda mais alto e passava a arremessar objetos em direção à figura de Goldstein.
Neste contexto, Orwell (1949) observa que o mais surpreendente não era o fato de alguém ser
obrigado a desempenhar este papel, mas de ser impossível manter-se à margem do acontecimento.
E, assim, por mais que Winston simulasse tais emoções no início da cerimônia, em apenas alguns
segundos, não lhe era mais necessário fingir, pois:
um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar, de torturar, de afundar
rostos com um marreta parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica, transformando
as pessoas, mesmo contra sua vontade, em malucos a berrar, rostos deformados pela fúria (ORWELL,
1949:25).
Quando os Dois Minutos de Ódio chegaram ao clímax, o rosto de Goldstein cedia espaço na teletela
para a silhueta do Big Brother. Diante da nova visão, a fúria se transformava em alívio. Agora alguns
gritavam agradecendo ao salvador da Oceânia, outros se colocavam a orar pelo ídolo e, após alguns
segundos, o grupo começava a entoar um canto grave e ritmado de exaltação ao Big Brother. Este
canto, espécie de hino à sua majestade, era sempre recitado nos momentos de emoção avassaladora. Terminada a cantoria, os Dois Minutos de Ódio chegavam ao fim e todos retomavam seus
afazeres cotidianos.
59
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Com base nestes aspectos, podemos ressaltar que nas grandes formações massificantes da contemporaneidade, observa-se fenômenos em muito semelhantes aos ocorridos nos Dois Minutos de Ódio.
Temos uma mesma exaltação, um mesmo alarde e o mesmo misto de sentimentos que se propaga sem
freios entre os presentes. A formulação desta analogia impõe que voltemos nosso interesse ao ensaio
de Freud (1921) “Psicologia das massas e análise do eu”, visando uma melhor compreensão do tema.
O texto freudiano parte do pressuposto de que, imerso numa massa, o sujeito pensa, sente e age
de modo inteiramente diferente do esperado no caso de ser tomado em seu estado de isolamento.
Foi justamente o que acontecera a Winston, personagem que guardava na intimidade certa aversão
ao Big Brother e curiosidade pelas ideias de Goldstein, mas que quando convocado para os Dois
Minutos de Ódio foi, em poucos segundos, presa de uma inversão de sentimentos que o fazia agir
e pensar conforme a massa. Winston se tornara um entusiasta, quase que isento de capacidade
reflexiva e, portanto, obediente aos impulsos imperiosos do restante da plateia. Uma espécie de
desvanecimento subjetivo tomara conta de Winston e, assim, seus sentimentos e comportamentos
se tornaram homogêneos aos da massa.
Ao se perguntar sobre as razões deste desvanecimento subjetivo e da tendência à homogeneização de sentimentos e comportamentos, Freud (1921) inicia um longo diálogo com a teoria de
Le Bon (1895), para quem tais fenômenos seriam explicados pela incidência da sugestão. Com
efeito, na massa, as práticas de sugestão funcionam como um solo propício para a emergência do
estado de fascinação à figura do líder. Em si, ela explicaria a inclinação dos atos e pensamentos
dos sujeitos rumo à direção pelo líder enfatizada, além de também responder pela instauração do
fenômeno do contágio. Este, por sua vez, diria respeito à influência recíproca entre os membros
da massa. É através dele que se entende, por exemplo, o fato da simples percepção de um estado
emocional nos outros ser capaz de despontar a mesma emoção naquele que a percebe. Neste
aspecto, quanto maior o contágio, mais os sujeitos se deixarão deslizar para um mesmo estado de
sentimentos (LE BON, 1895).
De fato, é inegável a presença do contágio nas formações grupais massificantes. No entanto, mediante este diálogo com a teoria de Le Bon, Freud (1921) demonstra certa reticência em aceitar a proposta de derivar o contágio das práticas de sugestão, considerando-as como bastante obscuras. É
conhecida a sua aversão por seu passado de hipnotizador: a sugestão, além de enigmática e de não
possuir quaisquer fundamentos lógicos, é também tida como um ato de violência absurdo. Ademais,
não haveria explicação plausível sobre qual a sua natureza e sobre as condições nas quais ela se efetiva. Com efeito, seu passado de hipnotizador revelou ser possível a alguém resistir à sugestão e, se
esta capacidade de resistência é reduzida nas massas fazendo advir o contágio, isto deve se dar por
outros fatores:
Não há dúvida de que existe algo em nós que, quando nos damos conta de sinais de emoção em alguém
mais, tende a fazer-nos cair na mesma emoção; contudo, quão amiúde não nos opomos com sucesso a
isso, resistimos à emoção e reagimos de maneira inteiramente contrária? Por que, portanto, invariavelmente cedemos a esse contágio quando nos encontramos num grupo? (FREUD, 1921:99-100).
A saída freudiana foi derivar o contágio da própria estrutura libidinal das massas e dos processos idealizatórios à figura do líder. Assim, em discordância com Le Bon, Freud (1921) destaca ser a existência
de laços libidinais o que propriamente caracteriza uma formação grupal massificante. Ou seja, a massa
se funda e permanece no tempo devido ao poder unificador de Eros, o que faz constituir laços que
60
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
promovem a coesão entre os membros do grupo. Trata-se, para Freud, de uma argumentação mais
plausível que a de Le Bon, na medida em que ressalta que, se numa massa o sujeito abre mão de sua
singularidade, isto se dá pela necessidade de criar laços e de se estar em harmonia com os outros.
Já a idealização dos sujeitos à figura do líder explica suas devoções aparentemente ilimitadas.
Mediante estes mecanismos idealizatórios, os atributos e valores associados ao líder passam a ser
supervalorizados e, consequentemente, os sujeitos tornam-se cada vez mais despretensiosos. Neste sentido, o fenômeno da idealização seria capaz de instaurar nas massas os mesmos efeitos das
práticas de sugestão, ou seja, a mesma sujeição humilde por parte dos sujeitos promovendo certo
desvanecimento de suas iniciativas próprias (FREUD, 1921).
Assim, com base no que foi desenvolvido ao longo deste artigo, temos como proposta de complementar a abordagem freudiana do tema e lançar a hipótese de que, além do poder de Eros e dos mecanismos idealizatórios, a própria discursividade manifestada nestes fenômenos grupais também contribui
para o desvanecimento das singularidades na massa. Ademais, isso também auxiliaria na compreensão
do processo de homogeneização de sentimentos e comportamentos por parte de seus integrantes.
Com o intuito de examinar a discursividade privilegiada nos fenômenos de massa, voltemos nosso
interesse para a distinção traçada por Rosolato (1988) entre um discurso fundamentado em um sistema linguístico digital e outro alicerçado em um sistema linguístico analógico. Apoiado nas ideias
de Lacan (1957), o autor define o discurso pertencente ao sistema digital como aquele no qual há
preponderância do domínio significante. Nele, se fazem sentir as ações dos processos metafóricos,
da constituição de símbolos e de uma cadeia que remete ao infinito sem jamais se fechar numa significação precisa. Ou seja, trata-se de destacar, em seus domínios, o fato de uma operação metafórica substituir um sentido por outro, fazendo com que o primeiro passe para um estado latente, originando uma formação simbólica. Tal substituição geraria um efeito de não-sentido, ao qual sucederia
a emergência de novos sentidos, estes últimos classificados por Rosolato (1988) como polivalentes,
inesgotáveis e poéticos.
Já a forma discursiva em que predomina o registro analógico é aquela na qual as palavras adquirem
o peso de referenciais. Isto porque elas se configuram como imunes à metáfora e aos mecanismos
de construção de símbolos. Nela, o discurso se neutraliza, posto que as significações são sempre
unívocas, fechando as portas para maiores hiatos. O sistema analógico visaria, em última instancia,
à exatidão e à objetivação da fala e da escrita (ROSOLATO, 1988).
Por isto, o discurso analógico seria composto por imagens ou representações que se atrelam a outra
modalidade de significante, por Rosolato (1988) designado de “significante de demarcação”. O significante de demarcação é aquele que gera, ele próprio, um efeito de significado. Neste contexto, a linguagem analógica se restringe, simplesmente, à atividade descritiva. Trata-se de uma discursividade
direta, desmetaforizada e que possui como propósito maior a obtenção de certa coerência na progressão da cadeia significante articulada, sendo o enunciado sempre regido por um sentido preciso.
Assim, se examinarmos a estrutura e o dinamismo próprios aos fenômenos de massa, contemplaremos certo privilégio por um modo específico de emprego da linguagem que, em si, se assemelha,
em alguns aspectos, à discursividade analógica proposta por Rosolato, trazendo também características em muito semelhantes às da Novilíngua. Ou seja, por funcionarem num plano desmetaforizado, ambas acabam por valer-se dos sentidos literais e exatos das palavras empregadas para
61
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
demarcar determinado tipo de pensamento ou visão de mundo. Com efeito, procura-se constituir
uma discursividade que tende à exatidão e visa à precisão dos enunciados proferidos. Ademais, o
efeito de sentido aparentemente já contido nestes enunciados tende também a suprimir o potencial
significante próprio a qualquer outra formação discursiva.
Claro está que a estrutura própria a tal manejo da linguagem dificulta, por parte dos destinatários,
o processo de atribuição de diferentes sentidos àquilo que se ouve. Em outros termos, quando um
determinado discurso tira pouco proveito de formações metafóricas, ele tende a ser compreendido
de forma homogênea por parte dos ouvintes. A estes é difícil fornecer sentidos singulares às palavras proferidas na medida em que não são confrontados com o poder enganador próprio a uma fala.
De acordo com Pinheiro:
As palavras, mesmo quando têm por objetivo descrever a realidade, só podem ser investidas pelo sujeito
quando guardam o caráter de multiplicidade dos sentidos. Quando este caráter fica interditado, as palavras [...] são encerradas numa rigidez que não permite integrá-las. (1995:76)
Deste modo, concluímos que o discurso privilegiado nos fenômenos de massa perde sua elasticidade por almejar fazer referência a uma verdade absoluta e não ambígua. Buscando a exatidão e a
objetivação do processo de assimilação dos enunciados, o discurso das massas dispensa ambiguidades e contradições, o que funciona como sério obstáculo para que os destinatários questionem o
que lhes é transmitido. Ou seja, toma-se num sentido literal, o que poderia ser compreendido num
sentido figurado, caso houvesse a possibilidade de se interpretar aquilo que se ouve. E como cada
vez mais estreita-se o espaço concedido à experiência espontânea dos sujeitos, mais estes abrem
mão de suas capacidades de inventar e criar.
É neste sentido que devemos compreender o fato da discursividade dos fenômenos de massa não
cessar de reenviar a si própria. Aos sujeitos massificados e impossibilitados de fornecer sentidos singulares à palavra do outro, caberá a função de constantemente repetir e propagar insistentemente
os valores da massa de modo quase verborrágico e automatizado. Daí o advento do estado de alienação ao discurso da massa. Apaga-se as singularidades homogeneizando-se os discursos.
Assim, o tom aparentemente hipnotizante dos fenômenos de massa, segundo nosso entender — e em
conformidade com a concepção freudiana —, não é propriamente derivado das práticas de sugestão.
Trata-se de algo que, apesar de instaurar os mesmos efeitos de contágio, o faz através da valorização
de uma modalidade discursiva em muito peculiar e cujas principais características foram expostas ao
longo do artigo. Claro está também que tamanha alienação é possível apenas no mundo fictício de
Orwell e jamais encontraria correspondência tão marcante no mundo real no qual predominam os
fenômenos de massa. Por isso, o cuidado de marcar que nos referimos sempre a uma “tendência” ou a
um “favorecimento” à alienação e à homogeneização, sem jamais pressupor um determinismo maciço
e totalizante do sujeito a partir do discurso e da visão de mundo proposta pela massa.
Envio: 21 ago. 2011
Aceite: 9 set. 2011
62
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Referências bibliográficas
FREUD, Sigmund. “Psicologia das massas e análise do ego”. In Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. v. 18 [1921]. Rio de Janeiro: Imago, 1995. p. 77-154.
LACAN, Jacques. “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”. In Escritos [1957].
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 496-535.
LE BON, Gustave. Psychologie des foules. Paris: Félix Alcan, 1895.
LEBRUN, Jean-Pierre. Um mundo sem limite: ensaio para uma clínica psicanalítica do social. Rio de
Janeiro: Companhia de Freud, 2004.
LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2004.
MAFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
MELMAN, Charles. “Entre connaissance et savoir”, Cliniques méditerranéennes, n. 45-46, 2004, p.
61-70.
ORWELL, George. 1984 [1949]. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
PINHEIRO, Teresa. Ferenczi: do grito à palavra. Rio de Janeiro: Jorge Zahar/Editora UFRJ, 1995.
ROSOLATO, Guy. Elementos da interpretação. São Paulo: Escuta, 1988.
63
Walter Benjamin e a leitura do passado
Walter Benjamin and the reading of the past
Walter Benjamin y la lectura del pasado
Marcelo Santana Ferreira1
Resumo
O presente artigo é uma abordagem da leitura do passado no pensamento de Walter Benjamin. A partir da aproximação
de Benjamin à estética de Marcel Proust e à poesia de Charles Baudelaire, compreende-se a natureza do esforço filosófico benjaminiano em articular uma concepção de história materialista, imbuída de sensibilidade e de compromisso
ético com os apelos do passado. O artigo procura defender a legitimidade e atualidade da discussão em Benjamin , ao
buscar considerar a importante relação entre lembrança e esquecimento na elaboração de sua concepção de história.
Palavras-chave: Walter Benjamin, esquecimento, História.
Abstract
This article is an approach to reading the past in the writings of Walter Benjamin. From Benjamin’s approach to the aesthetics of Marcel Proust and the poetry of Charles Baudelaire, it is understood the nature of Benjamin’s philosophical
effort to articulate a materialist conception of history, imbued with sensitivity and ethical commitment to the appeals of
the past. The article seeks to defend the legitimacy and relevance of the discussion in Benjamin, in seeking to consider
the important relationship between remembering and forgetting in the elaboration of his conception of history.
Keywords: Walter Benjamin, forgetfulness, History.
Resumen
Este artículo es un acercamiento a la lectura del pasado en los escritos de Walter Benjamin. Desde el enfoque de Benjamin a la estética de Marcel Proust y la poesía de Charles Baudelaire, se entiende la naturaleza del esfuerzo filosófico
de Benjamin a articular una concepción materialista de la historia, impregnada de sensibilidad y compromiso ético con
apelaciones del pasado. El artículo trata de defender la legitimidad y la pertinencia de la discusión en Benjamin, en la
búsqueda de tener en cuenta la importante relación entre el recuerdo y el olvido en la elaboración de su concepción de
la historia.
Palabras clave: Walter Benjamin, olvido, Historia.
1. Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Professor adjunto de Psicologia Social no
Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense. Contato: [email protected].
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Introdução
A obra de Walter Benjamin se assenta em uma pluralidade de temas, em seu esforço de garantir
uma legibilidade política à transição entre os séculos XIX e XX na Europa, indicando a importância
de Paris e Berlim em sua topologia sensível da modernidade. Paris é considerada a capital do século
XIX, protagonista da prosa e poesia de Charles Baudelaire, e Berlim é resgatada em um trabalho de
complementariedade entre a lembrança e o esquecimento, como se pode depreender dos textos
do autor dedicados a problematizar o estatuto político da autobiografia e da memória. Ao se considerar a pluralidade de temas, é importante não perder de vista o projeto e o itinerário de Walter
Benjamin. No entanto, é possível destacar um problema que nos mobiliza a defender uma imagem
da obra do pensador, aquela que se expressa através do trabalho de leitura do passado. O intuito
do presente texto é, exatamente, elaborar uma reflexão sobre este trabalho em Walter Benjamin.
O passado e a legibilidade do tempo histórico
Um dos aspectos mais importantes da obra de Walter Benjamin é a reflexão epistemológica e política sobre o saber histórico, que encontra um abrigo nas Teses sobre o conceito de história, texto
com que o pensador fechou sua obra em 1940, ano de sua morte. Em tal texto, Benjamin (2008)
organiza, sensivelmente, o rastro de questões com que se inquietou em seu itinerário filosófico.
Trata-se, no texto em questão, de defender uma história materialista construtiva2 por oposição a
uma concepção aditiva do conhecimento histórico, em que se trata sempre de agregar à massa de
fatos históricos mais dados objetivamente colhidos através da investigação desinteressada e privilegiadamente posicionada sobre a história. No entanto, o esforço da perspectiva de Walter Benjamin
é o de introduzir o princípio construtivo na investigação histórica, aliando-se à problematização do
tempo histórico e do lugar do estudioso em relação ao devir histórico, para que se recupere a inconclusividade do passado, como via de acesso às versões vencidas do fluxo do tempo.
Evidentemente que as questões sugeridas acima não são de fácil encaminhamento. Interessa-nos
compreender o quanto o pensamento de Benjamin se aproxima de um tratamento renovado do
tempo histórico e de um reposicionamento em relação ao passado, material sobre o qual a ciência
histórica organiza uma perspectiva. Interessa-nos, aqui, compreender a perspectiva de Benjamin
como uma “leitura” do passado e, mais do que isso, do “tempo” e do “tempo histórico.”
A existência de Benjamin transcorreu entre o final do século XIX e o início da década de 1940, sofrendo as importantes inflexões das Guerras Mundiais e do processo de emergência e de consolidação do
nazismo. Filho de judeus assimilados na Alemanha do século XIX, Walter Benjamin esteve intelectualmente envolvido com a elaboração de uma abordagem sensível da modernidade, sem se apegar a um
idealismo do passado e das sociedades da tradição oral, embora uma leitura superficial de alguns dos
seus textos nos confronte a este entendimento. Interessa ao pensador compreender a distância em que
nos encontramos em relação ao passado, para que se possa defender uma nova espécie de dignidade
2. De acordo com o próprio Benjamin, “Ao pensar pertence não só o movimento das ideias, mas também a sua imobilização.”
(2008:231). A imobilização permite que se defendam novas conexões no tempo histórico. Além disso, Na Tese Sobre o Conceito de
História XVII, Walter Benjamin critica o historicismo por ser a expressão de uma concepção aditiva de história, por oposição ao procedimento da historiografia marxista, que introduz um princípio construtivo em história. Ou seja, é preciso ter acuidade com a interrupção do fluxo histórico, permitir que o próprio texto seja uma interrupção da história e do tempo histórico. Ver a tradução das Teses
utilizada por Lowy (2005) e a discussão das mesmas à luz de uma compreensão dialética do percurso intelectual de Walter Benjamin.
65
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
filosófica, ou seja, para que possamos compreender os limites e possibilidades de nosso próprio tempo.
Decadência histórica não é uma imagem pertinente ao pensamento de Benjamin, já que é importante
que saibamos qual a nossa perspectiva em relação aquilo que se extinguiu como é o caso da arte de
narrar e do intercâmbio de experiências, comuns em sociedades do modo de produção artesanal e da
centralidade da figura do narrador, que transmite, involuntariamente, uma imagem de si mesmo ao
recontar uma história que, muitas vezes, soube por ouvir falar. De acordo com Walter Benjamin,
O conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar está definhando porque a sabedoria — o lado épico da verdade — está em extinção. Porém este processo vem de
longe. Nada seria mais tolo que ver nele um “sintoma de decadência” ou uma característica “moderna”.
Na realidade, esse processo, que expulsa gradativamente a narrativa da esfera do discurso vivo e ao mesmo tempo dá uma nova beleza ao que está desaparecendo, tem se desenvolvido concomitantemente com
toda uma evolução secular das forças produtivas. (2008:200-1)
Remetendo-se, deste modo, à evolução das forças produtivas, Walter Benjamin se alia ao pensamento marxista, sem recair em um determinismo econômico, já que o que se extingue persiste como
uma imagem da beleza do que não é mais possível. A longa temporalidade a que Benjamin lança os
problemas da narrativa oral e da emergência de novas formas de narratividade impede que se trate
a modernidade como época de decadência. A atualidade viva do narrador oral não é mais possível
e uma das expressões desta impossibilidade se deu no retorno dos combatentes da Primeira Guerra
Mundial às suas casas, já que muitos deles voltaram mudos, sem possibilidade de intercambiar experiências, uma vez que haviam aprendido, de forma contundente, que a técnica havia sobrepujado
o espírito, que no cenário de emergência de novas forças tecnológicas apenas o frágil e minúsculo
corpo humano parecia ter se mantido o mesmo. Trata-se, desde então, de compreender o passado
não como um “puro em si mesmo”, mas de permitir a enunciação de vozes e de entendimentos que
comuniquem algo ao presente que se sente visado por estas vozes e entendimentos. Trata-se de abrir
a possibilidade de uma experiência na história, não se contentando em recuperar o que foi vivido,
mas em vislumbrar a força do que foi vivido em sua atualidade, já que houve uma conexão intempestiva entre o olvido e o presente, o momento mesmo em que se escreve a história. Nesta direção, o
pensador proporá imagens de inconclusividade do passado, aproximando-se de autores como Marcel
Proust e Henri Bergson — sem esquecer-se de Charles Baudelaire — para defender a legibilidade do
tempo histórico. Há uma heterogeneidade de autores e de campos em que os mesmos se situam,
mas é com eles e com uma diversidade de outros artistas e pensadores que Benjamin dialogará.
Ao defender uma legibilidade do tempo histórico, o pensador se debruçará sobre o passado como
matéria viva, recomposta pelos interesses do presente, mas fortemente marcada pela missão salvadora dos estudos em história, já que não é possível esquecer que o tempo na mística judaica é
uma das fontes de inspiração para o pensamento benjaminiano e a noção de salvação assumirá
uma importância muito grande em seus estudos históricos. Dada a polissemia da noção, aqui nos
interessa mais diretamente a perspectiva da salvação como um posicionamento crítico em relação
ao esquecimento, ou ainda, o empenho em salvar do esquecimento os sofrimentos das gerações
passadas. Ou seja, para que se possa compreender o tempo histórico e as versões hegemônicas que
existem sobre a sua passagem, é preciso opor-se à ideia de um tempo homogêneo e vazio e, mesmo,
de uma identificação empática entre o historiador e a versão teleológica do tempo histórico: a história deve comportar a crítica às versões continuístas de tempo, por intermédio de uma valorização
da versão dos vencidos, como já foi apontado anteriormente.
66
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
A crítica ao tempo “homogêneo e vazio” do historicismo do século XX, perspectiva teórica que se
aproxima do legado de Wilhelm Dilthey3 no século XIX e de sua posição contrária à submissão das
ciências humanas ao modelo em curso nas ciências da natureza, se realiza na recorrência de Walter
Benjamin à mística judaica, em que o pensador encontra uma concepção de tempo não escravizada
à cronologia, ou seja, à linearidade devoradora que aponta para o futuro. Oposta à concepção do
tempo vulgar, é necessário que na abordagem do pensador alemão se defenda uma “experiência”
com o passado, mas não se esqueça de que se trata de uma reflexão epistemológica sobre a ciência
histórica, imbuída de sensibilidade e de compromisso político com o silêncio dos que foram vencidos, arquétipo da infância, ou seja, da perspectiva que foi assolada pelo tempo, mas que insiste
como percepção que capta o estatuto renovado que as coisas pequenas e sem importância assumem ao interromperem a “narrativa” dos vencedores, dos que se comprometem em encontrar causalidade e necessidade entre os acontecimentos históricos, sem compreenderem a complexidade
do que permite que um acontecimento se torne histórico.
Como dito anteriormente, Walter Benjamin encontra em Marcel Proust certa posição em relação
ao passado, mas submete a própria raridade das conexões entre o passado biográfico e o presente
a uma desconfiança política, ou melhor, procura lançar a estética proustiana às condições histórico-políticas que a tornaram possível. De acordo com Jeanne Marie Gagnebin (1994), Walter Benjamin
procura se afastar da estética de Proust, reconhecendo a atratividade que aquela obra exercia sobre
a sua escrita, mas buscando compreender a grandiosidade do jogo mortal de Marcel Proust, aquele
da crise da unidade do eu diante das conexões voluntárias e involuntárias que o presente estabelece
com o que foi vivido. O próprio Benjamin ao procurar articular uma “imagem” de Marcel Proust, o
relaciona enfaticamente à busca de uma felicidade, seguramente remetida à dissolução do eu do
narrador e à intensidade da recordação. Como se pode depreender a seguir:
Uma forma da felicidade é hino, outra é elegia. A felicidade como hino é o que não tem precedentes, o
que nunca foi o auge da beatitude. A felicidade como elegia é o eterno mais uma vez, a eterna restauração
da felicidade primeira e original. É essa ideia elegíaca da felicidade, que também podemos chamar de
eleática, que para Proust transforma a existência na floresta encantada da recordação. Sacrificou a essa
ideia, em sua vida, amigos e sociedade, e em sua obra, a ação, a unidade da pessoa, o fluxo da narrativa,
o jogo da imaginação. (2008:39)
A imagem eleática da felicidade se nutre de uma existência envolvida com a ruptura das horas do
dia, abrindo-se ao arbitrário da lembrança e à força do esquecimento. A existência que encontra no
próprio texto uma expressão do envolvimento do escritor com a abertura do tempo perdido às interpolações da lembrança não foi, indubitavelmente, uma existência feliz, já que estava marcada pelo
ritmo de uma doença e de uma preocupação exaustiva. Walter Benjamin reconhece a importância de
Proust para sua abordagem do tempo — e do tempo histórico — e aborda de forma poética o próprio
passado biográfico a fim de defender uma legibilidade do século XIX. Ao debruçar-se sobre o século
XIX em seu célebre Infância em Berlim por volta de 1900, Benjamin (1993) não faz uma sociologia
realista da infância burguesa (GAGNEBIN, 1994), mas permite a passagem de uma imagem política
da tensão entre pobres e ricos, entre miúdos e adultos, entre o passado que se visa e o presente que
3. O filósofo alemão Wilhelm Dilthey procurou opor ao modelo em curso nas ciências da natureza no século XIX, a defesa da compreensão nos estudos em ciências do espírito, essencialmente sociais e históricas. Walter Benjamin criticará a perspectiva da empatia
adotada por Dilthey, uma vez que suporá que é exatamente a identificação dos historiadores com os vencedores do passado que os
impede de articular uma concepção construtiva e crítica de história. Sobre uma localização histórica e teórica inicial de Dilthey, ver
Marcondes (1999).
67
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
é visado pelo passado. O passado não é uma matéria inerte, mas um conjunto de palavras, vozes,
sentidos e imagens que se abriga no próprio texto que só se torna possível se o escritor se torna um
cronista, alguém que não discerne de antemão os grandes e os pequenos acontecimentos e que se
volta às conexões que se tornaram possíveis a partir da passagem do tempo. Nos textos de Benjamin,
tratava-se de uma transcendência do biográfico no político, como se pode notar nas imagens em
que o passado acena com uma possibilidade de compreensão renovada da relação entre os pais e os
filhos, como aquela que nasce de uma lembrança da história que o pai de Walter Benjamin lhe contara em seu leito sobre a morte de um parente distante. Após dar-lhe boa noite, o pai se afasta e o infante Walter Benjamin observa como as coisas estão dispostas em seu quarto. Anos depois, o escritor se
depara com aquilo que havia sido ocultado pelo pai: o parente havia falecido pelas complicações da
sífilis. Mesmo o Natal dos ricos em Berlim é lembrado por Benjamin a partir da forma distanciada com
que os filhos dos burgueses se relacionavam com os filhos dos pobres, que vinham às proximidades
dos bairros mais ricos para venderem pequenas lembranças (BENJAMIN, 1993). A morte e a pobreza
eram ocultadas das crianças burguesas e, em seu esforço de elaborar uma concepção materialista de
história, Walter Benjamin resgata o que foi esquecido e ocultado no passado, dissolvendo a centralidade e a segurança do escritor ao lançar-se a uma interrogação sobre o passado. Em Marcel Proust,
Benjamin não encontra um modelo ou uma posição consciente do estatuto histórico da memória e do
esquecimento. E é exatamente isso que sustentará a sua investigação do passado histórico. Mesmo
na filosofia de Henri Bergson, Benjamin (1994) encontrará um modo não consciente historicamente
de suas próprias possibilidades. Para Benjamin (1994), mesmo que a filosofia de Henri Bergson não
procure uma “determinação histórica da experiência” (p.105), é impossível negar que a “experiência
é matéria da tradição, tanto na vida privada quanto na coletiva.” (p.105). Para Benjamin (1994), é
como se na filosofia de Bergson se negasse um espaço de enunciação ao estatuto histórico da “experiência” da época da industrialização, contra a qual foi remetido o pensamento do estudioso francês.
Logo, trata-se, em Benjamin, de considerar a centralidade da compreensão histórica da pobreza da
experiência moderna, que se aninha, também, nas tentativas de elaborar uma perspectiva filosófica
ou mesmo estética sobre o passado. Para se elaborar uma legibilidade do passado, Walter Benjamin
estudará a própria história da percepção moderna sobre o mesmo, se esforçando para abrir uma
fenda na versão dominante de que o passado esteja acabado e de que o presente seja apenas uma
transição mecânica entre aquilo que foi e o que ainda não é.
Benjamin e a enunciação do passado como uma narrativa
Até aqui, procuramos indicar algumas perspectivas filosóficas e estéticas onde foram discutidas formas de elaboração do passado. Para elaborar a sua própria concepção do tempo histórico, Walter Benjamin transitou por muitos textos e problemas. Sem dúvida alguma, o pensador encontrou
em Charles Baudelaire uma imagem — não totalmente consciente de seu estatuto histórico — do
enfrentamento do “presente” e de um reposicionamento político e estético da passagem do tempo.
Em Baudelaire, trata-se, de acordo com Walter Benjamin (1994) de inaugurar uma poesia que se
volte ao homem das massas “desnaturadas” e que se abrigue na transitoriedade da modernidade.
Sem evadir-se do seu próprio tempo histórico, Charles Baudelaire se confronta ao moderno, sem se
envergonhar de ser um artista sem aura, ou seja, sem emblemas de uma superioridade ou especificidade em relação ao homem comum. A poesia de Baudelaire se suja das coisas da rua. Para Benjamin (1994) se trata de uma poderosa imagem de uma relação com a modernidade, questão essencial em seu próprio trabalho. É importante frisar que para fazer um diagnóstico histórico e filosófico
68
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
da transição do século XIX ao XX, Walter Benjamin se voltou a uma problematização do conceito de
experiência, considerada como aquilo que nos é subtraído com a mudança das forças produtivas na
história da emergência e consolidação do capitalismo. A subtração da experiência pode ser vislumbrada em distintos campos, inclusive nas artes. Charles Baudelaire, para Benjamin, não se esquiva
de considerar o caráter mecânico da relação entre os homens nas capitais, incluindo a indiferença e
as massas em seus versos. Esse tratamento exemplar da modernidade se tornará uma imagem no
pensamento de Benjamin, ao buscar considerar a ciência histórica como uma forma de narrativa
sobre o tempo. Para que haja narrativa, é preciso se pensar sobre a figura do narrador oral, mesmo
que ela não seja mais possível em sua atualidade viva.
O narrador da tradição oral era possível em uma época histórica em que as mãos, os olhos e o espírito mantinham uma unidade entre si. Fiava-se e tecia-se enquanto se ouvia uma história. Viajantes
traziam histórias de longe e homens sedentários contavam histórias de tempos remotos de uma
mesma localidade. Com o advento da I Guerra Mundial, vive-se um importante sintoma da modernidade: o mutismo dos sobreviventes. Com o silêncio, o longo tecido da tradição é rompido em vários
pontos. Benjamin (2008) não considerará estas características como um sinal de decadência, mas
procurará entender como novas formas de narratividade se inauguram exatamente no presente. À
ausência de tradição, opõe-se a proliferação da informação, que se agarra ao que é inédito, mantendo a atenção dos cidadãos na transitoriedade da notícia e expressando o empobrecimento dos laços
entre os homens. Mais do que isso, a centralidade da informação em uma sociedade industrializada
expressa uma das condições do estudo do passado: cada vez mais afastados do passado histórico,
impossibilitados de estabelecer elos significativos entre as gerações, os modernos encontram na
teleologia do progresso uma “imagem” da história. No entanto, já nos estudos sobre a dissolução
da figura do narrador da tradição oral, Walter Benjamin sugere uma apropriação da função histórica
das narrativas orais ao elaborar uma posição política para o historiador materialista:
A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão — no campo, no mar e na cidade
—, é, ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em
transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa
narrada na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. (2008:205)
Na sua discussão sobre a arte de narrar e sua decorrente extinção nas sociedades modernas, Benjamin (2008) valoriza a imagem do narrador oral como alguém que permite uma passagem sensível
do passado — e de si mesmo — à audiência, sem centralizar-se na valorização de si mesmo ou do
passado como uma matéria acabada. É justamente pelo caráter utilitário da relação entre o narrador
e o seu ouvinte que se presta “atenção” aquilo que é narrado. É preciso conhecer a intermitência do
modo de produção artesanal e da passagem entediante do tempo. A história narrada, no entanto,
abriga a marca do narrador, não apenas através de uma entoação, mas da própria forma assumida
pelo “narrar”. Sempre que se invoca a centralidade da narrativa na tradição oral, lembra-se das imagens da morte nas sociedades anteriores à modernidade, já que a narrativa se assenta em expressões da finitude dos homens e das coisas, mas, ao mesmo tempo, da continuidade da tradição.
Mesmo ao lembrar-se da beleza daquilo que não é mais possível na modernidade — em texto que é
uma leitura e uma homenagem ao escritor russo Nikolai Leskov, considerado por Benjamin o “último
narrador” — o pensador incluirá em sua filosofia da história o trabalho do narrador. O historiador
materialista não abre mão de considerar que seu olhar sobre o passado é uma “perspectiva” e de
que a relação entre o presente e o passado se assenta na emergência de uma “imagem” que passa
69
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
como um relampejo, requisitando a atenção do estudioso.
Ao defender o trabalho do historiador materialista — aquele que é articulado gradativamente em sua
obra, o que seria uma expressão da aproximação ao legado marxista — como um cronista da história, Walter Benjamin supera, dialeticamente, a estética proustiana e a filosofia bergsoniana, garantindo
o reconhecimento do estatuto histórico-político da “pobreza” de experiência do homem moderno e
incluindo tal diagnóstico na construção de uma concepção de história. O cronista da história se aproxima da perspectiva da infância, por ser um olhar para o que é “menor”. Fragmentos de passado e rastros
de experiências são submetidos ao tratamento filosófico do problema da legibilidade do tempo histórico. É o que podemos entender a partir da leitura dos dois excertos do estudo de Benjamin a seguir:
O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a
verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história. Sem dúvida,
somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente do seu passado. (2008:223)
O passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido [...] irrecuperável é cada imagem do presente que se dirige ao presente, sem que esse presente
se sinta visado por ela. (2008:224)
Nos dois excertos anteriormente citados, é possível perceber a importância da citação do passado —
e do sofrimento imposto aos que foram vencidos no passado — de forma a incluir na ciência histórica uma reflexão sobre a natureza da empatia do historiador com os vencedores, já que a concepção
teleológica parece, ingenuamente, corresponder ao próprio estatuto do tempo histórico. Para romper com esta impressão, o historiador se torna um cronista, apoiando-se no sentido ético de “contar
história”: poder posicionar-se em relação ao esquecimento. Além disso, a recuperação de uma imagem do passado visa, na verdade, a uma problematização do próprio presente, já que as linhas de
temporalidade rompidas visam o presente. A importância da reminiscência se apresenta de forma
clara no contexto das idéias, apoiando-se na abordagem da lembrança e do esquecimento como
pólos complementares para a elaboração de uma ciência histórica. O esquecimento não é considerado como uma deficiência, mas remetido às condições políticas que permitiram que enunciações
e batalhas do passado tenham sido soterradas. A legibilidade do passado só pode ser alcançada, no
pensamento de Walter Benjamin, a partir da elaboração de “imagens”. Ler o passado é permitir que
um dos princípios da história materialista se faça presente: a de que o passado tende a buscar o céu
da história, num curioso heliotropismo, tal como se faz ver na direção da corola das flores para o sol.
Como a narrativa — como forma não continuísta de estabelecimento de nexos entre acontecimentos — pode auxiliar na composição de uma imagem do passado, remetendo-se à função política da
lembrança e à magnitude do esquecimento individual e coletivo?
Para Jeanne Marie Gagnebin (2006), a leitura das discussões benjaminianas sobre a história se
amplia com a possibilidade de remetê-las ao problema histórico e político do esquecimento do sofrimento coletivo em diversas situações históricas, como aquelas que se desenrolaram nos campos
de extermínio nazistas no século passado. Esquecer o passado, ao se aproximar do fim da II Guerra Mundial, era também, para os líderes nazistas, “ocultar” os judeus mortos, para garantir que
nenhum vestígio dos vencidos fosse retomado pelos sobreviventes. A elaboração do passado de
sofrimento só se torna possível, como se percebe nos textos de alguns sobreviventes como Primo
Levi, a partir de um posicionamento sobre aquilo que fora imposto aos vivos: apagar a lembrança
dos entes queridos assassinados. A negação do túmulo aos mortos se assemelha à negação de uma
possibilidade de registro da experiência. O sentido político da lembrança, neste caso, se remete a
70
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
uma crítica aos mecanismos institucionais de negação da palavra aos outros, mesmo aqueles que já
se encontram mortos. Escrita, memória e morte se encontram interrelacionados no comentário de
Gagnebin (2006) e na própria conceitualização do trabalho do historiador como cronista da história
em Walter Benjamin (2008). A concepção de tempo na mística judaica e a aproximação ao legado
marxista permitem que Benjamin consolide sua defesa de uma legibilidade do tempo histórico e do
próprio passado que, como vimos, emerge como uma imagem do próprio presente, uma imagem do
futuro do pretérito, que foi soterrada ou simplesmente esquecida. Voltar os olhos para esta imagem
é citar o passado e permitir uma crítica aos falsos continuísmos históricos, já que há um abalo na
perspectiva de que os tempos históricos possam ser apreendidos como imagens de uma continuidade necessária.
Para defender uma concepção renovada do tempo histórico e afirmar o lugar do historiador como
narrador, evocando o caráter artesanal da narrativa oral, Walter Benjamin (2008) se aproximará do
pensamento marxista, como foi corrente na obra de muitos pensadores contemporâneos a Benjamin e que compuseram a chamada Escola de Frankfurt. No entanto, a aproximação de Benjamin ao
marxismo é idiossincrática. O pensador não ousa problematizar a história sem, necessariamente,
refletir sobre a concepção de tempo que está em jogo na maior parte das historiografias da primeira
metade do século XX na Europa. O pensamento marxista fornece a Benjamin a imagem da possibilidade de “interrupção” do fluxo homogêneo do tempo histórico, ou melhor, a possibilidade de uma
crítica ao tempo imanente ao modo de produção capitalista. Benjamin (2008), preocupado com
uma concepção de tempo que não seja uma abstração, indicando a radicalidade histórica daquilo
que somos e a multiplicidade de camadas de sentido da própria temporalidade histórica, envolvido
com a problematização da espessura histórica da experiência do homem contemporâneo, relaciona,
de forma muito singular, o materialismo histórico à mística judaica4. Logo, a interpretação do fluxo
do tempo em Benjamin se remete ao estatuto histórico do próprio modo como se compreende o
passado. De acordo com Benjamin,
O materialista histórico não pode renunciar ao conceito de um presente que não é transição, mas pára
no tempo e se imobiliza. Porque esse conceito define exatamente aquele presente em que ele mesmo escreve a história. O historicista apresenta a imagem “eterna” do passado, o materialista histórico faz desse
passado uma experiência única. (2008:230-1)
A falsa eternidade do passado só faz sentido em uma perspectiva supra-histórica sobre a própria
história. Opondo-se à imobilidade do passado, o pensador sugere uma forma outra de imobilização
do tempo: aquela em que, no presente, se capta a configuração de uma relação entre o passado
e o presente. Essa imobilização é frágil e se desfaz, mas no abrigo do texto, ela se estrutura como
uma imagem, em que se capta o inacabamento do tempo histórico, mostrando a necessidade de
nos apoderarmos de uma reminiscência e de nos abrirmos a possibilidades de novas compreensões
sobre o fluxo histórico. O passado é retomado, desviado de seu suposto acabamento e os aspectos
do passado são enviados ao céu da história. A natureza dos argumentos dos textos sobre a ciência
histórica se aproxima, fundamentalmente, dos estudos de Benjamin sobre a infância em Berlim por
volta de 1900. A narrativa oral, mesmo não sendo mais possível em sua atualidade viva, indica a sua
fecundidade como procedimento de envolvimento entre quem conta uma história e quem a ouve.
Além disso, permite que os ouvintes se sintam enredados ao que é narrado a eles, tratando-se de
4. A aproximação à mística judaica foi muitas vezes sugerida no presente estudo, mas uma abordagem detalhada da aproximação foi
realizada, efetivamente, em comentários como o de Lowy (2005) e Mate(2011).
71
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
um encontro entre as “gerações precedentes” e a nossa própria geração. Esse encontro, viabilizado
eticamente, institui imagens nos textos de Benjamin, sendo permitido que se inaugure uma nova
cognoscibilidade sobre a história. Doravante, trata-se de problematizar os outros possíveis que ficaram silenciados na versão dominante da história e de inquietar-se com a máquina de produção de
esquecimento que funciona ativamente na narratividade dominante. Ao mesmo tempo, problematizar o incentivo à empatia entre o presente e a marcha dos vencedores, que escraviza, mesmo simbolicamente, contingentes de indivíduos no decorrer da história.
A imobilidade fugaz do presente na atividade histórica materialista em Benjamin permite que se
reconheçam as conexões entre o passado e o presente. Na fundação do “atual”, o historiador se
alia à concepção de tempo dos movimentos revolucionários, ou seja, a concepção de que o tempo
cronológico deva ser interrompido. O tempo dos relógios, o tempo das máquinas e o tempo vulgar
devem ser explodidos, para que heterogeneidade de questões políticas possa ser articulada como
imagens. Não se tratam de imagens eminentemente privadas, mas imagens que implicam as ações
e as expectativas daqueles que não se identificam com o horror que tornou assimilável o patrimônio cultural da humanidade que oculta sua dependência da barbárie, da violência em relação aos
que foram vencidos. Neste sentido, “ler” o passado é cultivar espaços de enunciação às conexões
coletivas entre o passado e o presente. “Ler” o passado é contar uma história que multiplique as
conexões entre o presente e os tempos passados e, mesmo, os vindouros. Fundamentalmente, “ler”
o passado é permitir outro encaminhamento ao tempo, mesmo que para a leitura seja necessária
uma suspensão do tempo vigente.
Recuperando a centralidade do tema da salvação na mística judaica, Benjamin (2008) procura opor-se à noção de tempo homogêneo e vazio, ao indicar a validade da posição assumida pelos judeus
em relação ao passado e ao futuro. Temas messiânicos e crítica à cronologia estão necessariamente
inter-relacionados, como se pode perceber a seguir:
Sabe-se que era proibido aos judeus investigar o futuro. Ao contrário, a Torá e a prece se ensinam na rememoração. Para os discípulos, a rememoração desencantava o futuro, ao qual sucumbiam os que interrogavam os adivinhos. Mas nem por isso o futuro se converteu para os judeus num tempo homogêneo e vazio.
Pois nele cada segundo era a porta estreita pela qual podia penetrar o Messias. (BENJAMIN, 2008:232)
A salvação, na filosofia da história de Benjamin, se relaciona ao estatuto da relação que se inaugura
entre o presente e o passado, a partir da citação dos apelos dos vencidos. Salvar o passado é recuperar uma das imagens do próprio presente. Embora a ciência histórica possa cavar os espaços de
reconhecimento do passado oprimido, avança a tempestade do progresso (Benjamin, 2008:226),
empurrando o historiador para o futuro, como se fosse eticamente possível que, sem reconhecer
os apelos do passado, possa se defender uma compreensão do tempo vindouro. As oportunidades
raras de inserção do Messias no tempo da história — oportunidades em que o tempo vulgar seria
arruinado — se assemelham ao estatuto fulgurante das configurações intempestivas do encontro
entre o passado e o presente. Mesmo no campo da crítica da cultura moderna, Walter Benjamin
procura antecipar esta atitude ética na filosofia da história: para pensar o tempo vindouro, é necessário cultivar uma atenção às oportunidades de se lutar por um passado oprimido.
Além do que foi exposto anteriormente, não é possível esquecer que a investigação histórica em
Walter Benjamin também se volta, necessariamente, a interrogação sobre o estatuto do objeto histórico. Como já se falou anteriormente, os aspectos menores e supostamente insignificantes da
72
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
experiência histórica ganham outra significação na filosofia benjaminiana. Observando as palavras
em alemão que não compreendia quando era uma criança, por exemplo, Walter Benjamin (1993)
defende o caráter mágico da linguagem, uma vez que as palavras podem ser antes “cavernas” em
que nos escondemos do que elementos dóceis de um instrumento que faz a mediação entre o
homem e o mundo. Sem apelar para a insignificância da perspectiva infantil, não seria possível indicar a fecundidade da tarefa filosófica de se voltar ao pequeno, ao transitório, ao irrisório. Nas reflexões em filosofia da história, Benjamin (2008) mantém a preocupação com o que é menor, re-considerando o estatuto do objeto histórico. O problema seria: como ler o fluxo da história sem incorrer
numa abordagem em que os objetos teriam um protagonismo exclusivo, obscurecendo o processo
histórico que subjaz à sua própria emergência? Walter Benjamin procura responder ao problema:
O materialista histórico só se aproxima de um objeto histórico quando o confronta enquanto mônada.
Nessa estrutura, ele reconhece o sinal de uma imobilização messiânica dos acontecimentos, ou, dito de
outro modo, de uma oportunidade revolucionária de lutar por um passado oprimido. Ele aproveita essa
oportunidade para extrair uma época determinada do curso homogêneo da história; do mesmo modo, ele
extrai da época uma vida determinada e, da obra composta durante essa vida, uma obra determinada. Seu
método resulta em que na obra o conjunto da obra, no conjunto da obra a época e na época a totalidade
do processo histórico são preservados e transcendidos. (2008:231)
Os objetos históricos pensados como “mônadas” abrigam uma imagem da totalidade do processo histórico. Os objetos são concentrados da totalidade histórica, como nos afirma Michael Lowy
(2005), permitindo que se alcance a relação dos mesmos com um conjunto de outros objetos. Dessa
forma, de um objeto, pode-se alcançar uma época, uma vida. É preciso preservar o sabor da compreensão histórica, que se lançará a um encontro com épocas vindouras, como é o caso da poesia
de Charles Baudelaire, que tem suas potencialidades lançadas ao devir histórico. Se um objeto é
encarado como “mônada”, ele necessariamente reflete a totalidade do processo histórico. Mais uma
vez, voltando à interpretação de Baudelaire na obra de Walter Benjamin, pode-se compreender o
quanto a estética do poeta foi reconhecida e lançada aos confrontos com sua própria época e com o
público a que se voltou. Compreender um objeto como histórico significa ler as conexões do objeto
com outros e com a totalidade do processo histórico. “Ler” o passado é confrontar-se com objetos
históricos que são “mônadas” que indicam objetos e campos problemáticos que não se encerram
no próprio objeto. “Ler” o passado é instituir conexões, vislumbrar conexões estéticas e, fundamentalmente, políticas.
Para concluir: mais uma vez, a lembrança e o esquecimento
A legibilidade do passado, em Walter Benjamin, se relaciona com a defesa da abertura política do
tempo histórico e com a crítica ao absolutismo do sujeito do conhecimento, posicionado sempre
objetivamente e supra-historicamente em relação ao próprio fluxo da história. Fundamentalmente,
percebemos que a leitura do passado se confronta aos problemas da lembrança e do esquecimento.
Walter Benjamin procura submeter a relação ociosa que mantemos com o passado a um diagnóstico, interrogando a identificação do presente com os vencedores da história. No entanto, o esquecimento empreendido na própria consolidação da cultura — por exemplo, através de narrativas históricas dominantes e da propagação da informação — em boa parte do Ocidente no século passado se
complexifica com a vivência do homem comum, que é incentivado a romper, permanentemente, as
conexões entre o presente e aquilo que foi vivido anteriormente.
73
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Nas sociedades contemporâneas, somos incentivados a esquecer e, fundamentalmente, a considerarmos friamente a natureza da memória e da nossa relação com o passado. Maria Cristina Ferraz
(2010) procura indicar o quanto se re-valoriza uma concepção estritamente fisiológica da memória
e do esquecimento na contemporaneidade, ao mesmo tempo em que se restringe o nosso acesso
ao tempo histórico. Somos incitados a esquecer, a substituir muito rapidamente uma informação
ou uma perspectiva por outra. A autora faz análise de alguns filmes em seu livro, mas encontra em
Nietzsche importantes inspirações para reconsiderar a relação entre a lembrança e o esquecimento.
Curiosamente, Walter Benjamin também recorreu ao pensamento de Nietzsche a fim de articular
sua concepção de história e sua defesa de uma legibilidade do passado. Em Ferraz, trata-se de abrir
a reflexão ao caráter plástico do esquecimento na filosofia de Nietzsche, opondo-se à descartabilidade que se experimenta nas sociedades contemporâneas. Diz-nos a autora:
Uma vez que esquecer é digerir, o esquecimento nietzschiano não se opõe à memória. Como em toda
digestão, o processo se dá no tempo e precisa da paciência requerida pelo tempo. Esquecer é incorporar
certos elementos em detrimento de outros. Nesse sentido, a concepção nietzschiana da atividade plástica
do esquecimento ultrapassa a dicotomia banal memória/esquecimento. Além disso, como processo que
se dá no tempo e que se deixa atravessar e transformar pelo vivido, diz respeito à abertura dos poros dessa interface que é a pele. Portanto, esquecer é todo o contrário da pressa e da lógica da descartabilidade
que impregna o regime de vida contemporâneo. (2010:118-9)
Em Walter Benjamin, como procuramos indicar, a saída filosófica para o problema do esquecimento
é submetê-lo a uma inquirição, de modo que possamos compreender o estatuto histórico da raridade de conexões entre o passado e o presente com vistas a elaboração de um tempo vindouro. O
esquecimento dos apelos dos vencidos se nutre da versão fatalista da história defendida de muitos
modos por aqueles que venceram. Uma nova ética da memória se articula a partir do pensamento
de Walter Benjamin e, também em seu itinerário, não se opõe esquecimento à memória, mas se
procura submeter à própria história o sentido de uma recuperação do passado para que se possa
ampliar o entendimento sobre o mesmo, não no sentido de uma interpretação de um material já
acabado, mas na direção de uma defesa de conexões insuspeitas no tempo histórico. Também em
Walter Benjamin não se defende uma ciência histórica que seja alheia aos interesses do presente e
da própria vida. Para que não nos fixemos no lugar dos ociosos da história, é preciso interromper a
banalidade da cronologia e não nos deixarmos seduzir pela produção exaustiva do esquecimento,
como o que é percebido e incentivado na atualidade. A concepção de história e de leitura do passado em Walter Benjamin não se assenta numa consideração da perfectibilidade do gênero humano,
mas fundamentalmente no compromisso ético do presente com o sofrimento dos que já não estão
entre nós. Mas mesmo este compromisso não se alinha a um ressentimento ou a uma paralisação da
vida. Para que se defenda a dignidade da tarefa filosófica, é preciso não se envenenar com a impressão de que a história só possua uma direção. É neste sentido que se entende a atualidade e o vigor
do pensamento de Walter Benjamin, uma importante inspiração para o abandono da ideia de que
o passado esteja finalizado. É tarefa da história materialista articular uma concepção de tempo que
corresponda ao estatuto político da memória.
Envio: 15 ago. 2011
Aceite: 31 ago. 2011
74
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Referências bibliográficas
BENJAMIN, Walter. Rua de Mão Única. São Paulo: Brasiliense, 1993.
__________ . Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1994.
__________. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 2008.
FERRAZ, Maria Cristina Franco. Homo deletabilus: corpo, percepção, esquecimento do século XIX ao
século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.
GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 1994.
_________. Lembrar, escrever e esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006.
LOWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio – uma leitura das teses “Sobre o conceito de
história”. São Paulo: Boitempo, 2005.
MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
MATE, Reyes. Meia-noite na história: comentários às teses de Walter Benjamin sobre o conceito de
História. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2011.
75
Palavra, imagem e esquecimento no Grande Sertão: veredas
Word, image and forgetfulness in Grande Sertão: veredas
Palabra, imagen y olvido en Grande Sertão: veredas
Patrícia Carmello1
Resumo
Este artigo constitui uma versão modificada de parte de minha tese de doutorado, e trata da questão do nome e da
nomeação no romance Grande Sertão: veredas, de Guimarães Rosa. A partir da teoria da linguagem de Walter Benjamin
e de algumas noções da psicanálise, como inconsciente e recalque, o estudo procura analisar as relações entre a palavra,
a imagem, a memória e o esquecimento.
Palavras-chave: Teoria Literária, concepções de linguagem, memória.
Abstract
This article is a modified part of my doctoral thesis. Using Walter Benjamin’s Theory of Language, and some notions of
Psychoanalysis such as unconscious and repression, this work explores the question of name and naming in Guimarães
Rosa’s novel Grande Sertão: veredas. In doing so, this study reassesses the relationships between word, image, memory,
and forgetfulness.
Keywords: Theory of Literature, conceptions of language, memory.
Resumen
El presente trabajo es una parte modificada de mi tesis doctoral. En él se aborda la cuestión del nombre y la función
nominativa en la novela Grande Sertão: veredas de Guimarães Rosa. Partiendo de la teoría del lenguaje de Walter Benjamin y algunas nociones del psicoanálisis como las de inconsciente y represión, el artículo explora las relaciones entre la
palabra, la imagen, la memoria y el olvido.
Palabras clave: Teoría de la Literatura, concepciones del lenguaje, memoria.
1. Doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Contato: [email protected].
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
...Nome de lugar onde alguém já nasceu, devia de estar sagrado.
Muita coisa importante falta nome.
JOÃO GUIMARÃES ROSA
A leitura da memória e do tempo no Grande Sertão: veredas, de João Guimarães Rosa aponta para
a ideia de um passado tecido de linguagem, onde diversos índices opacos do que é não totalmente
recuperado pela lembrança colocam em evidência uma outra dimensão da linguagem, além do significante, e que evoca a discussão sobre a criação poética.
O debate sobre a origem das línguas e a natureza da linguagem, apresentado desde Platão, é reavivado
com o surgimento da linguística, caracterizando uma discussão com a qual: “Toda a filosofia, e toda a
literatura posterior a Platão, terá de lidar de alguma forma” (LAGES, 2002:123), e remonta à distinção
entre uma teoria baseada na arbitrariedade do signo, adotada pela linguística, e uma concepção da
origem natural ou originária da linguagem, pensada a partir do primeiro romantismo alemão.
Diferentemente da teoria da arbitrariedade, há no primeiro romantismo alemão (de Friedrich Schlegel e Novalis) uma concepção mágica, ligada a uma origem divina ou natural, um além do aspecto
comunicacional ou instrumental da língua, e que se formulava através de três momentos fundamentais: o de uma natureza da linguagem a priori, segundo Novalis: “o tempo no qual pássaros, animais
e árvores falavam” (NOVALIS apud SELIGMANN-SILVA, 1999:24), marcado pela semelhança entre
a linguagem e o mundo; a passagem à queda, que equivale à ruptura com as similitudes, à origem
das diferentes línguas, à fragmentação desta relação, que resulta numa fragmentação da linguagem
e da apreensão das coisas; e a tentativa de restituição desta linguagem originária, através da ideia
do mundo como livro a ser lido, decifrado e reescrito, numa escrita que se encarregue da colagem
dos cacos, da restituição do poder mágico que ligava as palavras às coisas, que vem a ser proposta
através da escrita poética (SELIGMANN-SILVA, 1999:26).
A teoria sobre a duplicidade da linguagem é retomada por Benjamin, através da comparação da linguagem com a noção de constelação, que permite uma dupla leitura: numa dimensão mágica, as estrelas
podem significar o destino dos homens; porém, esta interpretação é inseparável da dimensão semiótica decorrente de sua posição relacional no céu (BENJAMIN, 1986b:112). A noção de constelação, lança, portanto, novas luzes à questão, na medida em que os nomes não surgem como verdades isoladas
e anteriores, mas adquirem sentido somente articulados num texto, uns em relação aos outros.
No ensaio “Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem Humana”, Benjamin afirma que “o
nome resume em si esta totalidade intensiva da linguagem”2 (2000:148), o que constitui a função
nomeadora. No entanto, o nome não reenvia à coisa em si, mas a esta capacidade de nomear:
“no nome, a linguagem fala. Pode-se definir o nome como linguagem da linguagem”3 (2000:148).
O nome é como a imagem do passado que perpassa veloz, mas, no instante em que o ocorrido se
encontra com o agora (imagem dialética), ela se revela num lampejo, despertando ou salvando o
que ficou esquecido pela história:
2. No original: “Le nom résume en lui cette totalité intensive du langage comme essence spirituel de l’homme.” (Tradução de minha
autoria, como todas as que se seguem).
3. “... dans le nom, le langage parle. On peut définir le nom comme le langage du langage.”
78
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
A ideia é algo de linguístico, é o elemento simbólico presente na essência da palavra. Na percepção empírica, em que as palavras se fragmentaram, elas possuem, ao lado de sua dimensão simbólica mais ou
menos oculta, uma significação profana evidente. A tarefa do filósofo [...] Somente, não se trata de uma
atualização visual das imagens, mas de um processo em que na contemplação filosófica a ideia se libera,
enquanto palavra, do âmago da realidade, reivindicando de novo seus direitos de nomeação.
(BENJAMIN, 1984:58-59)
Há uma semelhança, aqui, no pensamento benjaminiano, entre o sentido que só é conferido pelo
texto, pela linguagem, com a verdade que só pode ser conhecida no instante, no agora. (BENJAMIN,
1984). Em sentido semelhante, vale lembrar a conceituação de recalque, no artigo sobre o inconsciente, como exatamente aquilo que nega à representação-coisa, vinda do inconsciente, a sua tradução em palavras (FREUD, 1988a: 206).
Cabe notar que, para Benjamin, esta duplicidade da linguagem se articula simultaneamente às concepções de linguagem decaída (SELIGMANN-SILVA, 1999:85) — a coisa em si não tem nenhum verbo, diz Benjamin4 (BENJAMIN, 2000:156), ela é conhecida pelo verbo humano: a linguagem — e a
de uma linguagem pura, ou linguagem da linguagem, tratando-se, portanto, de uma restituição não
propriamente do sentido original, já que o sentido está perdido desde sempre, mas da significação
(admitindo-se que o signo comporta tal duplicidade).
No Grande Sertão: veredas (ROSA, 2001), ambas as dimensões da linguagem surgem articuladas à
memória e ao esquecimento, seja através da rememoração do narrador, que desliza entre as imagens do passado, por entre as diversas identificações de Riobaldo (de professor a jagunço e chefe
do bando, a fazendeiro na velhice). Ou, pela constatação de imagens que escapam, de um núcleo
irredutível à memória e à dimensão instrumental da linguagem, onde os signos são tomados em sua
opacidade. Riobaldo vê nos olhos de Diadorim os olhos de sua mãe, e se diz transportado pela lembrança a esta similitude originária com o mundo: “Então, eu vi as cores do mundo. Como no tempo
em que tudo era falante” (ROSA, 2001:164).
Do mesmo modo, diante da perda dos nomes dos lugares marcados nas recordações de infância, que
são, com o tempo, substituídos por outros; o personagem lamenta: “é em senhas” (ROSA, 2001:58).
Cabe demarcar o necessário (e impossível, de todo) deciframento da senha, que revela e esconde
seu sentido, na mesma fala em que, ao ressaltar o caráter sagrado do nome, ele não diz que os
nomes se sucedem em séries...
A importância dos nomes próprios já foi destacada por Ana Maria Machado (2003) em Recado do
Nome, onde a autora se pergunta justamente sobre as funções do nome na obra de Rosa, marcada
pela presença de uma dimensão significante, cujo conteúdo se associa a outro significante no texto (ex:
Diadorim, Diá, o diabo); indissociável de uma função nomeadora, pois a ideia é de que o nome porta
uma densidade, uma significação não comunicacional a ser decifrada, algo que se encontra, também,
na descrição do nome de Diadorim: “Diadorim — o nome perpetual” (ROSA, 2001:387).
A importância dada por Guimarães Rosa não apenas aos nomes próprios, mas às palavras em geral
— também encontra raízes na formulação romântica da poesia, segundo a qual “todas as palavras
são elevadas à categoria de nome” (NOVALIS, apud SELIGMANN-SILVA, 1999:32) — tornando-se
visível no gosto do escritor por coletar palavras, confeccionar listas; nos diários e cadernetas ampla4. “...parce que la chose en elle-même n’a aucun verbe; crée à partir du verbe de Dieu, elle est connue dans son nom selon le verbe
humain.”
79
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
mente utilizados em seu processo criativo. Método que revela uma procura intensa pela palavra
precisa; e articula, também, a memória pessoal do escritor a esta crença no poder mágico do nome,
da palavra, da linguagem. Pois os nomes procedem dos registros da experiência subjetiva do escritor, seja no caso da viagem de 1952, pelo sertão, junto com os vaqueiros; ou em suas anotações de
viagem como diplomata pela Europa:
Quando saio montado num cavalo pela minha Minas Gerais, vou tomando nota das coisas. O caderno
fica impregnado de sangue de boi, suor de cavalo, folha machucada. Cada pássaro que voa, cada espécie,
tem um vôo diferente. Quero descobrir o que caracteriza o vôo de cada pássaro, a cada momento. Eu não
escrevo difícil. EU SEI O NOME DAS COISAS. (ROSA apud GALVÃO; COSTA, 2006:196)
Na entrevista a Günter Lorenz, o autor fala da criação de uma linguagem própria, como um estilo
necessário ao escritor e ao homem, criação pautada numa relação de amor com a língua, expressa
na já célebre citação: “A língua e eu somos um casal de amantes que juntos procriam apaixonadamente” (LORENZ, 1983:83). Amor pela ida ao sentido originário das palavras, em uma “utilização
de cada palavra como se ela tivesse acabado de nascer, para limpá-la das impurezas da linguagem
cotidiana e reduzi-la ao seu sentido original” (LORENZ, 1983:81).
No Grande Sertão: veredas (ROSA, 2001), o cuidado se revela na escolha dos diferentes nomes para
se referir à memória, que podem parecer neologismos, mas são em sua maior parte termos antigos,
pouco usados, como olvidar (termo antigo, sinônimo de esquecer) e alembrar (antigo, sinônimo de
lembrar). Este último adquire, no texto, o sentido de um lembrado pela lembrança: “Alembrado de
que no hotel e nas casas de família se usa toalha pequena de se enxugar os pés; e se conversa bem.
Desejei foi conhecer o pessoal sensato [...]” (ROSA, 2001:354).
Os nomes são também usados em uma função incomum, como a flexão do verbo em substantivo:
uns lembrares. O termo deslembrar aparece como sinônimo do esforço do trabalho do esquecimento: “Aquele menino, como eu ia poder deslembrar?” (ROSA, 2001:120); ou ainda, de um esquecimento originário, abissal, como em “sou do deslembrado” (ROSA, 2001:232). Recordar e recordação
(do latim re, de novo; e cordis, coração, voltar ‘com’ ou ‘no’ coração) são usados em passagens
carregadas de afeto, como “o que me agradava era recordar aquela cantiga, estúrdia, que reinou
para mim no meio da madrugada” (ROSA, 2001:137), referindo-se à canção de Siruiz. Associado, por
sua vez, à repetição inerente ao processo de rememoração, surge o prefixo re, como já apontamos:
relembrar, relembro, recordei.
Já o termo remembrar, do conto “Nenhum, nenhuma” (ROSA, 1988:49), não aparece no texto do
romance, mas é digno de nota pela dupla sinonímia entre o uso antigo, no sentido de relembrar, e
o atual tornar a unir o que estava separado, que parecem ambos condensarem-se na rememoração como trabalho de reunião das passagens emendadas da vida, no “emendo e comparo” (ROSA,
2001:173) de Riobaldo. E, finalmente, destempo: “Ah-oh-ah, o destempo de estar sendo debochado
se irou em mim” (ROSA, 2001:144). Segundo o dicionário, a palavra significa “o que chega ou está
fora do tempo” (HOUAISS, 2009:n/c); mas alude, num sentido mais amplo, no texto, ao tempo não-cronológico que irrompe ao longo da rememoração.
O que esta discussão sobre a linguagem traz como questões para a memória seria algo em torno do
seguinte: como o texto de Rosa articula, ou vai além de uma mera articulação, recriando, fazendo
novas perguntas, a partir de uma visão de um passado que não apenas não responde às questões
80
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
colocadas pelo narrador, mas parte de um rememorar que só faz produzir maiores questões: “Vivendo,
se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer outras maiores perguntas” (ROSA, 2001:429)?
Dito de outro modo, como se entrecruza uma noção de memória em que a imagem do passado só
existe articulada pelo presente num futuro anterior (o tempo do que terá sido, do a posteriori freudiano), com esta ideia de uma dimensão originária e densa da linguagem?
Um primeiro ponto em que nome e memória se tocam, no texto, é na importância do nomear as imagens do passado, situando-se no cerne da luta que não é somente travada contra um neutro esquecimento, mas uma “guerra entre memórias” (PORTELLA, 2003:7), entre as memórias da cidade e do
sertão, dos velhos e dos jovens, entre a história oficial e a estória. Trata-se de dar nome aos anônimos:
retirar do esquecimento o nome dos lugares da infância; dos companheiros vivos e dos mortos nas guerras (enumerados, um a um, por Riobaldo); de elementos regionais da cultura, como a jacuba (comida
de peões, feita com carne-seca e pirão de leite); ou da natureza, como o pássaro Manuelzinho-da-Crôa.
Entretanto, no nível em que apresenta o inominável, o nome faz referência a um esquecimento situado
além ou aquém do recalque, a um esquecimento constitutivo ou originário, que se articula, por sua vez,
ao aspecto do não realizado, e forma a noção freudiana de inconsciente, juntamente com o recalcado.
A riqueza do texto de Rosa talvez consista em apresentar ambas as dimensões da linguagem, mostrando-nos como uma não existe sem a outra. Assim, no aspecto significante dos nomes da memória, os
significados se articulam no interior do texto, ou em relação a outros textos do autor. Por exemplo, na
oposição lembrar-deslembrar; ou ainda na diferença entre deslembrar Diadorim (esquecimento como
trabalho de luto) e ser do deslembrado (esquecimento originário ou abissal) de Riobaldo. Contudo, é
no cruzamento deste registro com a dimensão nomeadora que Ana Maria Machado referiu-se à função do nome na escrita do autor como uma “constelação de significados” (2003:182): “Mas o mais
importante é que essa significação nunca é isolada e só se verifica realmente se o Nome é tomado
no conjunto do texto, como parte de um sistema, em que um elemento só existe por oposição a
outros” (MACHADO, 2003:121).
No que concerne à dimensão mágica do nome no texto, o nomear evoca o retorno à origem para redimir as palavras esquecidas, e recuperar o ato criador, que lhe confere o estatuto de sagrado, não por
uma natureza intrínseca, mas, simplesmente, porque, neste ato, o homem se compara a Deus, nomeando aquilo que não tem nome — o que a declaração do escritor ao Cruzeiro, em 1967, parece confirmar:
Eu não crio palavras. Elas todas estão nos clássicos, nos livros arcaicos portugueses. São expressões de
muito valor que eu pretendo salvar. [...] Para determinadas passagens, entretanto, não existem palavras.
Então é preciso criá-las, ou redescobri-las através de sons que a correspondam. (ROSA apud GALVÃO;
COSTA, 2006:82)
Talvez, esta citação forneça elementos para nomear uma memória que a lembrança não alcança,
feita de esquecimento, e que possui muito a esclarecer sobre a memória no Grande Sertão.
Terceiras Memórias
Afirmar, no entanto, que a memória no texto é fundada sobre a negatividade do esquecimento não
significa que não haja produções de sentido em relação ao conteúdo que merece ser lembrado e à
81
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
própria concepção do rememorar. Pois a memória não foge à regra rosiana da tensão entre os opostos, do “tudo é e não é” (ROSA, 2001:27) de Riobaldo, que engendra sempre uma terceira possibilidade. Assim, cabe ver um pouco mais no detalhe esta sucessiva busca pelo passado que se desdobra
na interrogação filosófica sobre a própria noção de rememoração.
Em sua negação mais contundente, quando se recusa a narrar as guerras, caracterizadas como “tontos movimentos” (ROSA, 2001:245), o que está em jogo para o narrador é uma lembrança que pode
ser relatada, mas não possui valor. Em outras palavras, trata-se de um questionamento ético do que
vale a pena ser lembrado, do estatuto ético da memória: “Que isso merece que se conte? Miúdo e
miúdo, caso o senhor quiser, dou descrição. Mas não anuncio valor. Vida, e guerra, é o que é: esses
tontos movimentos, só o contrário do que assim não seja” (ROSA, 2001:245).
A lembrança sem valor é, assim, interrompida em seus excessos, como na tentativa frustrada em
atravessar o Liso do Sussuarão: “Mas para que contar ao senhor, no tinte, o mais que se mereceu?”
(2001:70). No repetido questionamento, a linguagem é alçada à posição de um limite ético, onde o
que se percebe é a insuficiência da memória diante da impossibilidade de comunicar exatamente
o que se passou: “Para que conto isto ao senhor? Vou longe. Se o senhor já viu disso, sabe; se não
sabe, como vai saber?” (2001:227).
Além de sua função comunicativa, portanto, a dimensão parcial, fragmentada e negativa da linguagem
— que aponta para a impossibilidade de dizer tudo — surge como mediação para a escolha subjetiva
de não narrar, não rememorar o Mal indefinidamente, impondo um limite, como se vê também na
primeira batalha junto ao Hermógenes: “De tudo não falo. Não tenciono relatar ao senhor minha vida
em dobrados passos; servia para quê? Quero é armar o ponto dum fato, para depois lhe pedir um conselho” (ROSA, 2001:232). Aqui, dois aspectos chamam a atenção: a associação das memórias de guerra
à narração de uma vida como sequência linear de fatos objetivos; e a contraposição a estas, de uma
outra instância da memória, das outras coisas que valem a pena serem buscadas, e que se configuram
numa armação subjetiva da memória, onde, através do signo, se juntam o pensamento e o sentimento; indicando que os sentidos da memória se encontram além da objetividade do relato:
Guerras e batalhas? Isso é como jogo de baralho, verte, reverte [...]. O que vale, são outras coisas. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com
outros acho que nem não se misturam. Contar seguido, alinhavado, só sendo as coisas de rasa importância
[...] (ROSA, 2001:114).
Se esta recusa incessante revela um plano sempre deslocado para mais além, sempre outro, há efetivamente a construção de sentidos para o rememorar, que se colocam em oposição aos primeiros: as
horas da gente são valorizadas em oposição às horas de todos, o armar o ponto dum fato em oposição
à narração da vida em dobrados passos; os signos e sentimentos em distinção às guerras e batalhas.
No entanto, estas segundas imagens da memória, colocadas em oposição às primeiras, não possuem
significado definido e estável como os anteriores. Quando nos indagamos sobre o sentido que podem
produzir, vemos que seu sentido se constrói não apenas em oposição aos primeiros, mas num eixo:
horas da gente — armação do ponto dum fato — signos e sentimentos. Da mesma forma, a “outra
coisa” (ROSA, 2001:214) — a “sobre-coisa” (ROSA, 2001:214) — as coisas importantes ligam-se numa
constelação que produz sentidos; porém, sentidos mais opacos, obscuros, e por serem parciais, não-todos, o que eles mais produzem são as novas perguntas, novos significados a cada leitura.
82
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Construídas em aberto, num nível distinto da descrição, do dito, estas imagens da memória propagam-se numa terceira possibilidade — esta imagem tão cara a Rosa — revelando o desejo do narrador de contar as outras estórias, que não se configuram como primeiras, nem segundas, mas como
terceiras estórias, por serem projetadas numa terceira margem da significação. Nos ocos, “os gerais
[...] cheios de nada” (ROSA, 2001:538), o mesmo nada capaz de “virar coisas” (2001:296) — ou, “o
terceiro pensamento” (1988:54), “entre a paz e a angústia” (1988:49) — a imagem surge como o
terceiro elemento benjaminiano de uma memória comparada aos sonhos, reino em que as imagens,
sobredeterminadas pela condensação e pelo deslocamento, guardam a capacidade de assemelhar-se entre si:
As crianças conhecem um indício desse mundo, a meia, que tem a estrutura do mundo dos sonhos, quando está enrolada, na gaveta de roupas, e é ao mesmo tempo “bolsa” e “conteúdo”. E, assim como as
crianças não se cansam de transformar, com um só gesto, a bolsa e o que está dentro dela, numa terceira
coisa — a meia —, assim também Proust não se cansava de esvaziar com um só gesto o manequim, o Eu,
para evocar sempre de novo o terceiro elemento: a imagem. (BENJAMIN, 1986a:39)
Dizendo de outro modo, na rememoração de seu passado e na filosofia sobre o tempo e a memória
de Riobaldo, há afirmação, mas sobretudo de algo que não está lá.
Imagens do esquecimento
Os representantes da ausência espalham-se pela recordação de Riobaldo, constituindo-se em índices da negatividade; ou seja, manifestações de algo que comparece como ausente, cujos exemplos
vão desde o espaço físico, até algumas figurações humanas e inumanas, insinuando-se através de
determinadas construções formais. No espaço, nota-se a presença dos inúmeros “fundos fundos”
(ROSA, 2001:398), ocos e ermos, cujo maior exemplo seria o deserto do Liso do Sussuarão, o miôlo
Mal do Sertão; assim como os pântanos movediços, como o “brejão engolidor” (ROSA, 2001:83),
ou os abismos como o “Vão-do-Ôco” e o “Vão-do-Cúio” (2001:520). O Diabo representaria a figura
máxima desta escala, cujo excesso de nomes já aponta para algo que se manifesta, sem, necessariamente, consistir numa identidade: “Não é, mas finge de ser” (2001:318). “Rincha-Mãe, Sangue-D’Outro, o Muitos-Beiços, o Rasga-em-Baixo, Faca-Fria, o Fancho-Bode, um Treciziano, o Azinhavre... o Hermógenes... Deles, punhadão. Se eu pudesse esquecer tantos nomes...” (ROSA, 2001:26).
O pacto se insere como o grande acontecimento negativo do enredo, onde Riobaldo invoca o demônio, e obtém como resposta o silêncio. A noite do pacto, repleta de escuridão, de vento, e de frio
— mas também de seres noturnos, grilos, passarinhos, cobras — fica sendo o grande confronto com
o Nada, o Acaso, o unheimlich, o descentramento do real; verdadeira “experiência da noite sem
limite” (DIDI-HUBERMAN, 1998:99), onde tudo é passível de dissolução:
“— Lúcifer, Lúcifer!...” — aí eu bramei, desengulindo.
Não. Nada. O que a noite tem é o vozeio dum ser-só — que principia feito grilos e estalinhos, e o sapo-cachorro, tão arranhão. E que termina num queixume borbulhado tremido, de passarinho ninhante mal-acordado dum totalzinho sono.
“— Lúcifer ! Satanaz!...”
Só outro silêncio. O senhor sabe o que é o silêncio é? É a gente mesmo, demais.
(ROSA, 2001:438)
A figura do Hermógenes se apresenta como uma personificação do demo, e é interessante lembrar
83
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
que ele é vencido por outro personagem que escolhe a guerra ao amor, mas que se caracteriza mais
pela ambiguidade e pelo enigma do que pelo Mal, que vem a ser Diadorim. A esquisitice de Diadorim remete ao silêncio: “Ele gostava de silêncios” (ROSA, 2001:51).
E o senhor, presença sem nome e silenciosa por todo o romance, confirma — através do seu silêncio
como propiciador da construção da história — que a negatividade destacada aqui vai muito além do Mal
como valor moral, e tampouco define uma posição niilista; já que o Mal, talvez situado para além da
maldade, é visto como parte de tudo que há, da qual podemos ver somente a manifestação, os efeitos.
Neste sentido, o que denominamos negatividade no Grande Sertão: veredas (ROSA, 2001) possui
ressonâncias com a noção freudiana de pulsão, como algo além da representação, que se manifesta
através da repetição; e que, portanto, em primeiro lugar, não se confunde ou restringe a uma agressividade submetida à esfera da moral ou do sexual. Como princípio disjuntivo, a pulsão de morte
tampouco se confunde com niilismo absoluto; ao contrário, de acordo com a leitura lacaniana, o que
está em jogo é uma “vontade de destruição, vontade de recomeçar com novos custos, vontade de
Outra-coisa, na medida em que tudo pode ser posto em causa” (LACAN, 2008a:260), que a inscreve
numa positividade, como potência criadora a partir do nada.
Novamente, encontramos ressonâncias com o pensamento de Walter Benjamin, quando afirma,
sobre o caráter destrutivo: “O caráter destrutivo só conhece um lema: criar espaço; só uma atividade: despejar. Sua necessidade de ar fresco e espaço livre é mais forte que todo ódio” (BENJAMIN,
1989:236). Veja-se, na recordação de Riobaldo, a percepção sobre o momento do pacto: “Ah, esta
vida, às não-vezes, é terrível bonita, horrorozamente, esta vida é grande” (ROSA, 2001:438). E o testemunho do período que sucedeu este encontro com o nada: “desde por aí, tudo o que vinha por
suceder era engraçado e novo, servia para maiores movimentos” (ROSA, 2001:445).
Na mesma perspectiva, numa espécie de ensaio que constitui o prefácio “Aletria e Hermenêutica”
(1985), Guimarães Rosa menciona um nada residual, distinto da morte absoluta, definido como um
resto da linguagem, que aponta para algo que não se submete totalmente a ela mesma: “O nada
é uma faca sem lâmina, da qual se tirou o cabo” (1985:10). Em seguida, acrescenta: “Se viemos do
nada, é claro que vamos para o tudo” (1985:17).
Em relação à linguagem, se a língua rosiana tem como proposta este mergulho, esta ida ao âmago
da própria linguagem, já se falou num lance de dês (entre Deus, Diabo, Diadorim e seus desdobramentos mórficos, que compõem o texto...), que se articula como um encontro com a potência do
Acaso, da profusão diabólica da linguagem (CAMPOS, 1978). De maneira análoga, já se apontou um
lance de ‘s’ e ‘f’ associado ao Mal e ao sem-fim, que constituem formas pelas quais a linguagem se
afasta da função comunicativa para demarcar a dimensão em que o sentido se aproxima do som, da
materialidade do signo, que aponta para o não-sentido:
O fato é que a reflexão sobre o ser da maldade e o fim maligno do prazer de fazer sofrer e de sofrer
desdobram-se de modo sonoro numa proliferação de “s” e “f” que aparecem maciçamente nas cenas
que descrevem o movimento dilacerante, triturante, moedor e destruidor da “matéria vertente” — das
massas aquáticas, animais ou humanas. [...] As saudades repetidamente mencionadas pelos jagunços de
uma “boa esfola, com faca cega” aparecem assim como a versão humana do movimento “surdo e cego”
da ondulação aquática [...] ou do Liso do Sussuarão, “inferno sem fim” que “se emenda com si mesmo”.
(ROSENFIELD, 2006:229)
84
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Porém, o não-sentido é então considerado como lugar de criação dos múltiplos sentidos, e não pura
ausência, note-se o exemplo dos significantes Diadorim delicado, ou Diá, como produtores de significados importantes. A linguagem onomatopaica aponta, segundo Benjamin, para esta dimensão
em que o som procura assemelhar-se ao sentido, que revela um plano da linguagem suposto como
situado além do significante: “Mas, se a linguagem, como é óbvio para as pessoas perspicazes, não é
um sistema convencional de signos, é imperioso recorrer, no esforço de aproximar-se da sua essência, a certas ideias contidas nas teorias onomatopaicas, em sua forma mais crua e mais primitiva”
(BENJAMIN, 1986b:110).
Além disso, o que os testemunhos de Riobaldo sobre o pacto fazem pensar é nesta experiência do
vazio como um processo, que só é “reveladora por ser dialética [...] mostrando o objeto como perda, mas ultrapassando também a privação em dialética do desejo” (DIDI-HUBERMAN, 1998:102). A
série de transformações advinda após o pacto — tais como a passagem de jagunço a chefe do bando, a mudança de posição de Riobaldo em relação a Diadorim e o projeto de acabar com a guerra no
sertão — aponta substancialmente para o desejo colocado em movimento.
As construções formais negativas se espalham pelo texto, ainda, através dos paradoxos, que produzem
uma exaustão do sentido; das pausas e interrupções rítmicas da narração; das interrogações sem resposta;
e das negações desdobradas, que evocam uma dimensão mais primordial da negativa, um além da representação, além (ou aquém) do recalque, como permite pensar Freud em “A Negativa” (FREUD, 1988b)5:
“Sertão, — se diz —, o senhor querendo procurar, nunca não encontra. (ROSA, 2001:317, grifo nosso).
Montagem, jogo, danse
Em relação à comparação com o divino feita por Benjamin — do júbilo da nomeação6 — que encontramos na paisagem fora das molduras de “Os Cimos” (ROSA, 1988:152-60), ou na afirmação do
nome como sagrado, não penso ser forçado compreendê-la mais como um efeito do que uma crença, pois, como ensina Didi-Huberman, a partir de Freud, a nomeação da experiência só se dá numa
obra de perda, somente diante da morte iminente, ou entre duas mortes, daquilo que não existiu e
um dia deixará de existir; a experiência da linguagem se dá diante da fenda, entre o ser nomeado e
o nomear (DIDI-HUBERMAN, 1998:79-85).
Em O Que Vemos, o Que nos Olha (DIDI-HUBERMAN, 1998), o historiador da arte afirma que — diante da
imagem, que porta em si uma suspensão, uma tensão dialética entre o visível e o invisível (ou entre a aura,
a distância; e o vestígio, ruína, proximidade), que exige uma experiência de confronto com o nada, com o
vazio que nos olha — duas formas de denegação do vazio se apresentam: a crença no ver além da imagem,
preenchendo seu vazio com um sentido além dela mesma; ou o cinismo da tautologia, a negação de qualquer sentido além do visível, expresso na fórmula: você vê o que você vê, que pretenderia uma pura objetividade da imagem, um sentido que se esgotaria na forma, sem que ela remetesse a qualquer ausência.
5. No ensaio, Freud associa, primeiro, a negação ao recalque daquilo que não se admite recordar, chegando a afirmar que “o reconhecimento do inconsciente por parte do ego se exprime numa fórmula negativa.” (FREUD, 1988a: 269). Mas, ao longo do texto, faz supor
um outro nível de negatividade, não necessariamente submisso ao recalque, pois se apresenta também na psicose; ligado à pulsão de
morte, definida, ali, como uma função, algo destrutivo, disjuntivo, oposto à união estabelecida por Eros, que me parece próximo do
que vemos nas negações desdobradas de Guimarães Rosa.
6. Nas palavras de Pierre Fédida, baseado no termo criado pelo poeta Francis Ponge: “Objeu [objeto-jogo] é acontecer da palavra num
gargalhar de coisa. É júbilo de encontro, exatamente entre coisa e palavra.” (FÉDIDA apud DIDI-HUBERMAN, 1998:81).
85
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
O momento em que a busca riobaldiana da memória se afirma no entremeio, no intervalo entre estas
duas dimensões da imagem, é justamente quando rejeita a objetividade das lembranças de guerra:
Vida, e guerra, é que é: esses tontos movimentos, só o contrário do que assim não seja. Mas, para mim,
o que vale é o que está por baixo ou por cima — o que parece longe e está perto, ou o que está perto e
parece longe... (ROSA, 2001:245)
É preciso destacar, ainda, que, quando Didi-Huberman se vale da noção do fort da freudiano para
ilustrar a criação da imagem artística, está equiparando a criação de imagens artísticas, visuais e literárias, à experiência originária de criação das imagens psíquicas, à entrada do sujeito na linguagem,
na qual a imagem surge como resto de uma alternância, de um ir e vir, de um jogo entre a presença
e a ausência, onde também o sujeito, ao brincar, ao jogar com isso, se constitui entre o ser deixado
e o deixar, num entremeio formulado desde a leitura lacaniana do conceito freudiano:
não é de saída que a criança vigia a porta por onde saiu sua mãe, indicando assim que espera re vê-la ali,
mas, anteriormente, é o ponto mesmo em que ela o deixou, o ponto em que ela o abandonou perto dele,
que ele vigia [...] Pois o jogo do carretel é a resposta do sujeito àquilo que a ausência da mãe veio criar na
fronteira de seu domínio — a borda de seu berço — isto é, um fosso, em torno do qual ele nada mais tem
a fazer senão o jogo do salto. (LACAN, 2008b:66)
Em última instância, trata-se de equiparar a montagem das imagens na arte à teoria da construção
da memória como montagem, “colagem surrealista” da pulsão (LACAN, 2008b:167) — ambas elaboradas como o jogo do luto ao qual se junta o jogo do prazer. E, aqui, chega-se ao cerne de um
pensamento que subverte a noção de memória ao compará-la à ficção:
as imagens da arte [...] sabem apresentar a dialética desse jogo no qual soubemos (mas esquecemos de)
inquietar nossa visão e inventar lugares para essa inquietude. [...] As imagens da arte sabem de certo
modo compacificar esse jogo da criança que se mantinha apenas por um fio, e com isso sabem lhe dar um
estatuto de monumento, algo que resta, que se transmite, que se compartilha (mesmo no malentendido)
[...] (DIDI-HUBERMAN, 1998:97).
Anteriormente, o próprio Freud já havia comparado o jogo à criação poética em “Escritores Criativos e Devaneios”, texto de 1908, no qual começa assinalando que a aproximação entre o poeta
e o homem comum, entre a poesia e a vida, é feita em geral pelos próprios escritores. Comum ao
brincar e à criação poética estaria a noção de jogo; relação cuja similitude teria deixado vestígios na
língua alemã, nos termos jogo do luto e jogo do prazer: “A linguagem preservou essa relação entre o
brincar infantil e a criação poética. Dá [em alemão] o nome de ‘Spiel’ [‘peça’] às formas literárias que
são necessariamente ligadas a objetos tangíveis e que podem ser representadas. Fala em ‘Lustspiel’
ou ‘Trauerspiel’ [‘comédia’ e ‘tragédia’...]” (FREUD, 1988c:136).
No texto freudiano, esboça-se uma continuidade entre o jogo e a fantasia ou devaneio, sendo os
dois últimos considerados substitutos ao jogo infantil. Porém, o mais importante é a concepção de
que, ao dar forma estética — através das imagens artísticas, às imagens da fantasia, do inconsciente,
recusadas pelo adulto — a escrita poética as apresenta, conferindo-lhes legibilidade: “A verdadeira
ars poética está na técnica de superar esse nosso sentimento de repulsa, sem dúvida ligado às barreiras que separam cada ego dos demais.” (FREUD, 1988c:142). Mas, Freud vai além da analogia,
insinuando o apelo da obra de arte ao inconsciente, à inquietação e à produção de nossas próprias
imagens, ou a garantia de sua reivindicação de expressão: “Talvez até grande parte desse efeito seja
86
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
devida à possibilidade que o escritor nos oferece de, dali em diante, nos deleitarmos com nossos
próprios devaneios, sem auto-acusações ou vergonha” (FREUD, 1988c:143).
Este duplo aspecto da reivindicação à forma e da sua insubordinação, por parte da imagem, foi repensado — especificamente em relação à poesia — por Paul Valéry, três décadas mais tarde, na conferência “Poesia e Pensamento Abstrato”, onde aproxima o estado poético das lembranças dos sonhos:
Entretanto, nossas lembranças de sonhos nos ensinam, através de uma experiência comum e frequente,
que nossa consciência pode ser invadida, enchida, inteiramente saturada pela produção de uma existência, cujos objetos e seres parecem ser os mesmos que os da véspera; mas seus significados, suas relações
e seus meios de variação e de substituição são completamente diferentes e representam-nos, sem dúvida,
como símbolos e alegorias, as flutuações imediatas de nossa sensibilidade geral, não controlada pelas
sensibilidades de nossos sentidos especializados. É quase da mesma maneira que o estado poético se
instala, desenvolve-se e, finalmente, desagrega-se em nós. (VALÉRY, 1999:197-8)
Para Valéry, assim como a lembrança do sonho evoca as imagens inconscientes, a imagem poética
não se esgota na comunicação, pois “quer viver ainda, mas uma vida totalmente diferente” (VALÉRY,
1999:220); promovendo, no leitor — simultaneamente — o esquecimento do sentido usual, instrumental, objetivo; e a rememoração do universo poético. O estado poético desenvolve-se como as
lembranças de sonhos, quer dizer, promove uma recordação dos nossos sonhos, uma libertação da
imagem que possui o caráter de resíduo ou de vestígio da lembrança do sonho.
A imagem do pêndulo, oscilando “entre a forma e o conteúdo, entre o som e o sentido, entre o
poema e o estado de poesia” (VALÉRY, 1999:205), diz respeito ao movimento através do qual a
poesia se faz, entre a voz, o ritmo, a pura forma; de outro lado, o sentido, o conteúdo, as imagens
da rememoração provocadas por aquela forma, que, entretanto, reclamariam de volta essa forma e
esse ritmo, criando o movimeno — outra forma de afirmar que a poesia provoca em mim as minhas
lembranças. Também, neste sentido é que podemos pensar que a escrita poética rosiana evocaria
nossas lembranças, colocando-as em movimento. Seguindo Valéry, a palavra não é apenas dança,
puro movimento, pois sempre produz algum sentido, mas é possível fazer as palavras dansarem,
como Rosa faz, dançando sobre as pranchas, parando sobre as pontes até que as palavras se precipitem, gerando novas palavras...
Envio: 18 mai. 2011
Aceite: 13 jul. 2011
87
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Referências bibliográficas
BENJAMIN, Walter. Origem do Drama Barroco Alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984.
“A Imagem de Proust”. In magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas I. 2.ed. São Paulo:
brasiliense, 1986a. p. 36-49.
_______.
“A doutrina das semelhanças”. In magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas I. 2.ed.
São Paulo: brasiliense, 1986b. p.108-113.
_______.
_______. “Sobre alguns temas em Baudelaire”. In Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo.
Obras Escolhidas III. São Paulo: Brasiliense, 1989. p.103-149.
“Sur le Langage em Général et sur le Langage Humain”. In Ouvres I. Paris: Gallimard, 2000. p.
142-65.
_______.
CAMPOS, A. “Um lance de dês no Grande Sertão.” In Poesia, antipoesia, antropofagia. São Paulo:
Cortez & Moraes, 1978. p. 9-37.
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 1988.
FREUD, Sigmund.“O Inconsciente”. In ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1988a. p. 165-222.
_______.
_______.
“A Negativa”. In ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1988b. p.255-69.
“Escritores Criativos e Devaneio”. In: ESB, vol. IX. Rio de Janeiro: Imago, 1988c. p.133-43.
GALVÃO, Walnice Nogueira; COSTA, Ana Luisa Martins (orgs.). “João Guimarães Rosa”, Cadernos de
literatura brasileira, Rio de Janeiro, Instituto Moreira Salles, n. 20-21, dez., 2006.
HOUAISS, Antônio. Dicionário Eletrônico Houaiss de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva,
2009, versão monousuário 3.0., CD-Rom.
LACAN, Jacques. O Seminário, livro 7. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008a.
_______.
O Seminário, livro 11. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008b.
LAGES, Susana Kampff. João Guimarães Rosa e a Saudade. São Paulo: Ateliê Editorial, Fapesp, 2002.
LORENZ, Günter. “Diálogo com Guimarães Rosa”. In COUTINHO, Eduardo (org.). Guimarães Rosa.
Fortuna Crítica 6. Rio de Janeiro/Brasília: Civilização Brasileira/INL, 1983. p. 62-94.
MACHADO, Ana Maria. Recado do nome. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003.
ROSA, João Guimarães. Tutaméia. 6.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
_______.
_______.
Primeiras Estórias. 26.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.
Grande Sertão: veredas. 19.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
PORTELLA, Eduardo. “Paradoxos da Memória”, Horizontes da Memória. Revista Tempo Brasileiro.
Rio de Janeiro, n. 153, 2003, p.7-9.
ROSENFIELD, Kathrin. Desenveredando Rosa. Rio de Janeiro: Topbooks, 2006.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. Ler o Livro do Mundo. Walter Benjamin: Romantismo e crítica literária.
São Paulo: Fapesp, Iluminuras, 1999.
VALÉRY, Paul. Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1999.
88
Reading other people’s minds through word and image
Atribuição de estados mentais através da palavra e imagem
Atribuición de estados mentales através da palabra e imagen
Maria Nikolajeva1
Tradução de André Moura2
Abstract
The article considers how various emotions (happiness, sadness, anger, fear) can be conveyed through the interaction
of word and image in multimedial texts addressed to young readers. The theoretical framework develops ideas from
cognitive literary theory adapting it to the specific conditions in which there is a significant difference between the
sender’s and the recipient’s cognitive level. The concept of emotional discourse is used to demonstrate the various ways
of representing emotions, and a special attention is paid to the issues of mind-reading, empathy, and other aspects of
recipients’ engagement. The predominantly theoretical argument is illustrated by a number of classic and contemporary
picturebooks.
Keywords: picturebooks, visual literacy, cognitive criticism.
Resumo
O artigo aborda como emoções variadas (alegria, tristeza, raiva, medo) podem ser transmitidas pela interação entre
palavra e imagem em textos multmidiáticos direcionados aos jovens leitores. O arcabouço teórico desenvolve ideia
oriundas da teoria literária cognitiva adaptando-as às condições específicas nas quais há uma diferença significativa
entre o nível cognitivo do emissor e do receptor. O conceito de discurso emocional é usado para demonstrar as várias
formas de representar emoções, e uma atenção especial é dada às questões de atribuições de estados mentais, empatia,
e os outros aspectos de envolvimento de receptores. O argumento predominantemente teórico é ilustrado por vários
álbuns ilustrados clássicos e contemporâneos.
Palavras-chave: Livros ilustrados, letramento visual, crítica cognitiva.
Resumen
El artículo aborda emociones variadas (alegría, tristeza, rabia, miedo) que pueden ser transmitidas a través de la interacción entre palabra e imagen en textos multimedia dirigidos a jóvenes lectores. El marco teórico se basa en el desarrollo
de ideas originarias de la teoría literaria cognitiva adaptándolas a condiciones específicas en donde hay una diferencia
significativa entre el nivel cognitivo del emisor y del receptor. El concepto de discurso emocional es usado para demostrar las diversas formas de representar emociones y da una atención especial a las cuestiones de la lectura de la mente,
la empatía y otros aspectos mentales en los receptores. El argumento, predominantemente teórico, es mostrado por
varios libros ilustrados clásicos y contemporáneos.
Palabras clave: Libros ilustrados, alfabetización visual, crítica cognitiva.
1. Professora titular da University of Cambridge. Contato: [email protected]
2. Doutorando em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). (Versão traduzida para o português segue após artigo em inglês.)
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Reading other people’s minds through word and image
Eight ears ago, when I first met Siobhan, she showed me this picture
L
and I knew that it meant “sad”, which is what I felt when I found the dead dog.
Then she showed me this picture
J
and I knew that it meant “happy”, like when I’m reading about the Apollo space missions…
(Haddon, 2004:10)
The protagonist and narrator of Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-time suffers from asperger syndrome. Like many autistic children and adolescents, Christopher is extraordinarily bright, but he lacks the elementary social skills such as understanding other people’s feelings.
Physically, he is a teenager, intellectually he is superior to most adults, yet socially and emotionally
he is no older than three or four and completely solipsistic. But he is a quick learner. His teacher uses
his ability to read emoticons to develop empathy. He knows that the word “sad” describes what
he felt in certain circumstances. He cannot generalise from this knowledge, but the verbal signifier
“sad” will for him always be associated with his feeling of sadness. The teacher utilises this association to create a further connection, matching the word “sad” with the emoticon of sadness, L. She
creates a link between the experienced emotion, the word and the icon. Skipping the word, Christopher is now conditioned to interpret the emoticon as representing sadness. Whenever he sees
a human face resembling the emoticon he reads it as sadness. He is able to read another person's
face, interpret it as an expression of an emotion and connect this second-hand emotion to his real,
experienced one.
Christopher is a literary character, but his behaviour is an accurate description not only of asperger
sufferers, but also of the process young children go through when they learn the indispensable
social skill of understanding other people's feelings. It is believed that visual stimuli play a stronger
part in this process than verbal, since our visual skills are hard-wired in the brain, while linguistic
skills are not (see WOLF 2007; CARR 2010). Reading a person's facial expression or bodily posture
sends therefore a stronger signal to the brain than the verbal statement “This person is happy, sad
or frightened”.
The knowledge and understanding of other people's minds is an essential social skill, and if literature
can help children develop this skill it would be a major socialisation implement. It has been repeatedly claimed that literature contributes to socialisation; yet it has never been thoroughly examined
exactly how it works. Why would even most profound knowledge of fictional people who do not exist
and have never existed, with their non-existing personal problems and public networks, their nonexisting opinions and non-existing emotions, be of any relevance whatsoever for our knowledge and
understanding of real people in our surroundings or further away? Cognitive criticism (also known
as cognitive narratology, cognitive poetics and literary cognitivism) has recently provided some fascinating answers to these questions, employing/combining the recent achievements in brain research
with the most profound issues of literary criticism (see e.g. TSUR 1992, TURNER 1996, CRANE 2001,
90
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
STOCKWELL 2002, GAVINS & STEEN 2003, HOGAN 2003a, HOGAN 2003b, GIBSON et al 2007). Most
of this research comes from cognitive psychology, social linguistics, or psycholinguistics, where some
scholars have noted that the data typically collected through time-consuming and high-cost field
work can, with some reservations, be supplanted by the easily available and inexhaustible source of
fiction (e.g. GIBBS 1994).
As a literary scholar I am interested in whether fiction can convey to readers the knowledge and
understanding of other people’s emotions, and if so, how exactly this happens. In this article I am
looking in particular at how understanding of other people in actual world is enhanced by multimedial texts, where verbal and visual information can support or contradict each other. I have chosen
some well-known examples to illustrate my argument. However, some preliminary theoretical discussion is necessary.
My foremost theoretical source of inspiration is Blakey Vermeule’s book Why Do we Care about
Literary Characters? (2010). Vermeule speaks of mind-reading in actual life as the human capacity
to attribute mental states to other people, based on their actions and reactions, facial expressions,
body language and other external signals. Her material is literature, mainly 18th-century British
novel which is essentially monomedial. Yet much of her argument can be successfully applied to
multimedial texts, exactly because in real life mind-reading depends heavily on visual perception.
Vermeule claims that the attraction of fiction lies in the exchange of social information, and that
our engagement with fictional characters depends on the possibility of obtaining social information without having to reveal anything about ourselves in exchange. The skills of mind-reading can
thus be trained over and over again through fiction, with little risk of error. There is some risk, of
course, since when we are not given direct access to characters’ consciousness, we are liable to
misread them. Moreover, certain literary genres are based on the premise that we misread characters’ thoughts, beliefs and intentions (such as crime and mystery). Multimedial narratives frequently
make use of ambiguity created in the interaction between media.
Although Vermeule does not consider the educational implications of her argument, they are of
overall importance. Empirical research demonstrates that mind-reading normally develops at the
age of five and is slower or even totally impeded in autistic children (see BLAKEMORE & FRITH
2005). It typically starts with recognising the five basic emotions: sadness, joy, fear, anger and disgust (Oatley 1992), although are taxonomies and hierarchies are also suggested (Hogan 2003b).
In cognitive science, basic emotions are explained through complex processes in the brain. On a very
primitive level, they are responses of goal-oriented systems in our brains. Thus happiness occurs
when a goal is achieved or likely to be achieved. Sadness is caused by an ultimate loss of a goal;
fear occurs when a goal is threatened; anger comes from frustration over a goal, and so on. Social
emotions, such as love, hatred, contempt, envy, jealousy, pity or guilt, involve two or more agents’
common goals, in which individual goals have to be incorporated. It is easy to find striking examples
of all these emotions in literature; moreover, most literary plots are clearly built around at least one
of them. However, since literary characters are created of words and thus have no brains to generate
emotions, why would we care about this artificial and empty construction?
Fiction creates situations in which emotions are simulated; we engage with literary characters’ emotions because our brain can simulate other people’s goals in the same manner as it can simulate our
own goals. It can be pointed out that since literary characters are fictional they have no real goals.
However, as cognitive critics argue, in reading fiction we engage with possible outcomes of the fic91
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
tive situations, including the final desired outcome of the whole story. Cognitive criticism purports
that the reason we can engage with fictive characters is the connections between the mediated
experience of the text and emotional memories stored in the brain. We engage with literary characters through vicarious, or proxy experience.
Affective response
The most primitive way to render an emotion in a literary text is to state that somebody is happy, sad
or angry. This can be done through a narrator: “He was happy”; or a character’s direct speech: “I am
happy”. The former is an objective statement, the latter is subjective perception. For the reader, in
both cases words trigger memories stored in the brain that are associated with respective emotion,
which enables us to read the character’s mind.
Our emotional memories, however, are fragmentary and imprecise. They do not necessarily render
an event as it was experienced, but rather as it was stored when it was transferred from the working
memory to the long-term memory. Reading a literary text activates the long-term memory, and
the emotions connected with it are activated as well. In making sense of fiction, readers frequently relate fictional events to their personal experience and “understand” characters’ emotions by
connecting them to relevant emotionally charged memories. Cognitive theory refers to this process
as “misattribution”: we attribute our own emotions to those of fictive characters. Another way of
expressing it is to say that we project our own emotions onto fictive characters. It may seem a highly
immature approach to reading fiction, but apparently this is so far the most plausible explanation.
Some central argument of cognitive criticism explores the relationship between literal and figurative language, strongly questioning the conventional belief that the latter is effectively redundant in
everyday communication. Based on extensive empirical research, Mark Turner (1996) argues that
narrative precedes language, and Raymond Gibbs (1994) argues that metaphor is omnipresent in
our everyday life. If so, projection of life experience on fictional narratives comes natural, and building our personal stored memories on earlier vicarious experience may amplify the projection; we
make connections between disparate fictive characters’ emotions. For a young reader, who may
have limited or no experience of actual emotions, literary, proxy experience is of overall importance.
In reading phrases such as “He was happy” or “She was sad” we do not necessarily experience the
same emotion directly and to the same degree, but we can empathise with a character who is happy
or sad, provided that we have a stored memory of the emotion, either from life experience or from
a previous literary experience. We have emotional knowledge of what it means to be happy or sad.
Yet empathy does not imply that we fully share the character’s state of mind. On the contrary, mature readers should be able to empathise with a character without necessarily sharing the emotion,
as well as to keep their own emotions separate from the characters’ (see Feagin 2007; Nikolajeva
2011). Moreover, a mature reader will be aware that any emotion discourse is a representation and
as such merely an approximation of an actual emotion. For instance, we can understand that the
character is angry, but see no reason for the anger or judge that anger is misdirected. The balance
of engagement and disengagement is a prerequisite for successful mind-reading (cf. Keene 2008).
When the emotion has been given a literal (non-metaphorical) verbal label, such as “He was happy”,
it can be expanded or deepened by further words or by images. A word expanded by other words
is a description of the mental state or an explanation of what it means to be happy or sad. There
92
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
is no succinct literary term to cover this phenomenon, although it might be possible to employ the
concept of emotional ekphrasis. I use the established term emotion discourse to denote the verbal description of an emotion, and for this particular purpose, I use the more vague term emotion
representation to denote the visual depiction of an emotion. Emotion discourse can provide an
expanded description of the mental state (“He was so happy that he wanted to sing and dance”),
or an explanation of what it means to be happy (“He was as happy as you are when you open a birthday present”). It may include a temporal and causal indication: (“after that, he was happy” or “he
is happy because...”). It can also be expressed metaphorically rather than literally, for instance: “His
heart missed a beat”. It may extend to many pages, as it often does in psychological novels. It may,
further, employ complex narrative possibilities, such as free indirect speech or psychonarration (see
Cohn 1978, Nikolajeva 2002). What is problematic, however, is that emotions are not necessarily as clearly delineated as the labels make them; there are degrees of happiness and sorrow; there
are nuances between happy, glad and exhilarated, sad and upset, angry and furious. Emotions are
by definition non-verbal, and language can never convey an emotion adequately. Metaphors are a
powerful device to circumvent this dilemma, but visual images carry a stronger potential still. Images can substantially enhance the meaning expressed by the words approximating the vague and
indefinable emotion. Unlike emotion discourse, emotion representation is not an explanation of an
emotion (“he was sad because his pet rabbit had died”), but an evocation of it.
Visually represented happiness or sadness will also evoke a memory in the brain that will simulate the experience of happiness or sadness. This, however, can only be possible if there is a stored
memory of a particular emotion, which may seem to preclude a vast range and degrees of emotions
that we have not experienced. For instance, few of us have fortunately been exposed to extreme
horrors, yet we can connect to the feeling of horror, not least in a multimedial text in which an image
has an immediate impact on the viewer. Emotional memories are not coherent, but disjunctive and
fragmentary. The way a certain experience is stored in the brain may be not actual, but distorted,
affected by a subjective perception or by particular circumstances. Pieces of different memories
may get randomly connected as they are stored. Memories can also be suppressed and re-emerge
if provoked by a strong emotion, whether actual or vicarious (see e.g. Nalbantian 2003). All this
implies that a visual image can potentially evoke a wide range of emotions circumventing the relative precision of words.
Sadness
Let us start with a seemingly very simple narrative, Frog is Sad by Max Velthuijs. The cover, which
is the first element of the narrative that we meet, conveys information on two levels: the verbal
statement “Frog is sad” and an image of a character whose posture and facial expression suggests
sadness. Note that although the character is not human, we tend to anthropomorphise animals,
inanimate objects, natural phenomena and even abstract notions, in real life as well as in fiction.
In actual world, we may, for instance, believe that birds sing because they are happy. In a fictional
world, we read Frog’s emotions as if they were human. In this case, the most prominent visual
detail suggesting sadness is the shape of the mouth. This visual representation of sadness is both a
convention, like an emoticon, and something we may have from our actual experience; this is how
Christopher Boon learned to understand sadness. In semiotic terms, the image is indexical: it does
not represent the signified, but points at it. The verbal statement strongly supports our interpreta93
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
tion of the image. As a thought experiment, we could remove the title and try to read the image on
its own. Our interpretation would arguably be less precise; for instance, we could read it as “The
character is meditative” or “The character is bored”. Both emotions border on sadness, but since
sadness is a basic emotion, it is ostensibly the first choice in our interpretation strategy. Nuances of
the emotion can be conveyed verbally with the range of sad, upset, melancholy, pensive, miserable,
gloomy, unhappy, anxious, and so on. From images, we cannot exactly decide on the nuance.
The title, however, gives us little or no choice. A title or an image caption is a very strong authoritative statement, hard to ignore. (When the caption says: “This is not a pipe” we at least need to reflect
upon it and decide whether to trust our vision or the statement). Mature readers tend to rely more
on verbal statements than on mind-reading from images, because we are from early school years
manipulated to believe that language has more weight than images, but then mature readers will
also be able to perceive the irony in the tension between words and images (see Stockwell 2002;
Keene 2008). Pre-literate readers are likely to trust images more than words, since images are direct
and immediate, while words need processing. This is pure speculation; we know too little about it
yet. It is contestable whether visual images make stronger impact on our minds than verbal, and I
would claim that experiments to prove either might be impossible since processing of words and
images happens differently in our brain. All we know is that visual cortex is evolutionary hard-wired
in our brain, while language is not. This should logically imply that reading images comes natural,
while understanding verbal statements, whether oral or written, must be learned.
However, on the cover of Frog is Sad, there is no overt contradiction between the verbal and visual
information, which makes our interpretation unequivocal: Frog is sad. Throughout the book, Frog’s
body language, including his mouth shape, repeats and thus amplifies our understanding of his emotional state as sadness. From the images alone, we should not only be able to reconstruct the story,
but also contemplate the nuances of Frog’s emotions, for instance, irritation and perplexity at his
friend’s attempts to entertain him. We have no problems reading the change in mood as Frog begins
to smile, stretches out his arms and starts to dance. However, the text consistently enhances the
images: “Frog woke up feeling sad... he felt like crying, but he didn’t know why”. The latter clause is
slightly more complex than a simple statement “He was sad”. It invites us to reflect upon causality
behind the emotion. If the character does not know why he is sad, can we think of any reasons? Or
do we recognise that one can be sad without obvious reasons?
In a book such as Frog is sad, marketed for very young readers, the verbal text accompanying the
images is a pedagogical device, apparently since the author assumes that a young child might not
be able to read the emotions without verbal support. This is a dubious assumption. We know from
experimental psychology that even infants a few weeks old respond to and thus presumably understand both actual and represented facial expressions. There is vast anecdotal evidence of young children responding adequately to visual images of emotions long before they can talk. The verbal information in the Frog book may seem redundant. On the other hand, communication theory maintains
that redundancy is an important communicative factor. More important, however, is that the book
title verbalises the emotion before the readers are given a chance to identify it for themselves. The
verbal text here has the same function as voice-over in film. A film-maker would perhaps avoid
voice-over to articulate characters’ emotions, but trust the viewers to be able to interpret them from
the visual narrative alone.
94
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
This is what happens in more complex picturebooks, where the verbal narrative provides little support for mind-reading, if at all. Shaun Tan’s The Red Tree tells exactly the same story as Frog is Sad: a
person is sad, but becomes glad again. However, this simple emotional transformation is conveyed
through complex and highly ambiguous imagery. Neither the title nor the cover image provide any
guidance as to what the text will be about, except that the contrasting colours suggest the opposites
warm – cold, sunshine – rain, and by extension, happy – unhappy. The character’s reflection in water
is symbolic rather than iconic, and contributes to the anticipation of a complex narrative.
The frontispiece image emphasises the character’s inability to express herself with words as nothing
intelligible comes out of her mouth. All that follows apparently takes place in her mind, while the
accompanying words are vague. It is as if the character was struggling to put words onto her emotions; the absence of punctuation or capital letters, the uneven and wavy text, the use of varying
font size and of bold type — everything accentuates the fragmentary nature of the verbal narrative,
corresponding to the vague, unspoken, unutterable emotion. Yet the verbal text is sufficiently evocative.
We cannot unequivocally identify the emotion experienced by the character; it is a combination of
sorrow, fear, loneliness, anxiety, despair and plain horror. In reading the character’s mind, we do
not rely exclusively on her facial expression and body language, exactly because we are supposed to
understand that her mindscape is externalised through the images. In fact, the girl’s facial expression
does not change throughout the book, and the absence of mouth makes it almost impossible to read
her mind through her face. When happiness breaks through on the final page, the mouth appears
and clearly indicates joy. The emotion representation is primarily conveyed though figurative language, through metaphors. Cognitive criticism would argue that the literal meaning of “she was sad”
is not necessarily more straightforward or easily comprehended as the sophisticated, metaphorical
multimedial emotion discourse.
Each doublespread in the narrative would have demanded pages upon pages of emotion discourse,
and perhaps still be inadequate; while the images produce an immediate and direct effect, even
though each image also affords lengthy contemplation and repeated reading. Surrealism generally
affects our senses, including disgust, which is evoked efficiently in The Red Tree. We do not only
empathise with the character, but relate directly to the imagery. Rich intertextuality amplifies the
impact. The red leaf, which we first encountered on the cover, appears framed over the girl’s bed.
It is inconspicuously present on every doublespread as a promise of hope, and indeed both the
character and the reader are rewarded in the end for having endures the pain. Empathising with
the girl, we are expected to recognise her unspeakable state of mind, relating it to our own similar
memories, even though we may have never experienced as intense emotions as does the character.
We are frustrated, and we feel relief when the narrative ends on a positive tone. As compared to
Frog is Sad, multimedial emotion in The Red Tree not only differs in degree of complexity, but also in
nature: literal as opposed to metaphorical.
Fear
Each narrative in Velthuijs’s Frog series is built around basic emotions. Sometimes these are announced in the title, such as Frog is Frightened (the cover actually contradicts the title, since the cover
image shows three characters safely asleep in bed). Sometimes they are explicated within the story,
95
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
so that Frog is Frog equals “Frog is happy”. Frog is Frog is a more complex statement than Frog is sad
or Frog is frightened. Arguably, just slightly more complex, but enough not to explicitly refer to an
emotion and thus metaphorical rather than literal even on the verbal level.
The cover image, showing Frog trying on wings, suggests a sense of happy anticipation; however,
with some elementary notion about the nature of frogs and the law of gravity, or with an intertextual
knowledge of the Icarus myth, we are expected to infer that although Frog feels happy right now, he
will soon be disappointed. Readers who lack such previous knowledge will be unable to predict the
development of the plot. and thus understand the futility of Frog’s ultimate goal, to be happy. The
statement “frog is frog” is a metaphor connected with the happiness that comes out of discovering
and affirming one’s own identity. Frog gets unhappy because he fails in achieving his goals, even
though they are obviously wrong. Inability to achieve goals typically results in the basic emotion
of anger, ranging from irritation to despair and frustration. Since the verbal text does not provide
direct clues (apart from one instant of the adverb “sadly”), readers have a wider scope for interpretation. We know that Frog’s attempts are futile. We empathise with him because we may have had
similar experience that we project onto the character. However, we are also disengaged from him
because we know — or are supposed to know - that he is being silly. This is the balance of empathy
and identification I have mentioned before. The change of Frog’s moods within the narrative, from
happiness through sadness and despair back to happiness is clearly shown through images. Yet it is
also conveyed through elementary emotion discourse, including the final literal “Suddenly Frog felt
very happy”, which may feel redundant, yet for a very young reader might prove necessary.
When the verbal and the visual statement of an emotion contradict each other, the result is irony.
Our temporary disengagement from Frog’s attempts to fly is based on recognition of irony. It is the
subject of heated recent debates whether young children understand and appreciate irony and at
what age such understanding occurs (see Gibbs 1994; Walsh 2011). There is too little empirical
research to make definite claims. Immature readers seem to trust visual rather than verbal statements, that is, infer from the posture or facial expression that a character is glad even though the
verbal text says something else. Young brain has no ability to synthesise complex and contradictory
information. Research with autistic children and adolescents shows that they can only “read” straightforward, literal, non-ironic images.
If this is true, the plain, literal emotion discourse, for instance, expressed in the title Frog is frightened is a rather primitive way of representing a complex emotion. Likewise, verbal emotional
discourse in Anthony Browne’s The Tunnel, “She was frightened” is straightforward. In both cases,
literal verbal statements are expanded into visual metaphorical ones. We must of course neglect the
obvious difference in visual style, but compositionally, the two images corresponding to the literal
statement “was frightened” are quite similar, and both convey rapid movement from left to right,
the way we in Western culture read verbal texts. Yet the abundance of details in the Browne’s image
slows down processing of visual information and provides the brain with more time to access stored
emotional memories. Moreover, the images is, as The Red Tree, overloaded with metaphors and
intervisual elements. Again, the difference is in degree as well as in nature.
However, the resolution of the situation and thus expected emotional reader engagement is also
different. Frog runs into the adjacent page where he is relatively safe, while the girl runs into the
next doublespread and into the unknown. This second image is wordless, as if the verbal narrator
becomes mute when confronted with the character’s horror. Intuitively we would say that the image
96
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
from The Tunnel is substantially more complex, but let us consider in what way it is more complex
and what emotions the two images evoke in the reader.
Frog is a comic character, by the very virtue of being non-human, but also because we recognise
the well-known situation of being scared by monsters under the bed (see Nikolajeva & Taylor),
which we judge as comic — and which also turns out to meet our expectations. The narrative is
based on dramatic irony, that is, the discrepancy between what the character knows and what the
reader knows. We may sympathise with the character, but the feeling the narrative evokes in readers
is most likely the sense of superiority, even if they are very small children. Superiority implies that
readers are disengaged from the character and can laugh at him. (I may be wrong in this judgement;
it would be interesting to test this interpretation in an empirical study and possibly see at what age
such disengagement occurs. I have anecdotal evidence of the image being frightening for a very
young child).
In The Tunnel, the character is human and thus arguably inviting stronger empathy than a non-human figure. There is nothing comical in the girl’s fears, even though we know from the previous
events that she too is scared of things under her bed. Her fears are amplified by anxiety about her
brother. She has crossed the boundary and entered a world (arguably, the world of her unconscious)
where she knows that she is no longer safe. The readers engage with her because the image appeals
to our unpronounced fears, dreams, nightmares and generally strong negative emotions, including
disgust. The rich intervisuality of the image may directly evoke our emotions circumventing the character, as we have seen in The Red Tree. In a thought experiment, we can delete the figure of the
girl from the doublespread and consider whether we will still interpret the image as the girl’s emotion discourse. I would argue that we will, since from the preceding story we are already strongly
engaged with the character, asking ourselves: “What is she feeling?” or, projected from our actual
or fictional experience, “What would I feel in her place?” Moreover, the earlier imagery in the book
foreshadows the doublespread and makes the reader alert to its multi-layered meaning.
My suggestion is that while Velthuijs’s image may evoke a momentary sense of danger and fear, yet
goes over to security, anticipated from the cover, Browne’s image remains threatening and unresolved. A magnetic resonance imaging analysis might show the difference — or no difference —
between the readers’ emotional response to the two images, depending on the informants’ age and
various other factors. It would doubtless show the difference between the response to the verbal
statements “I am frightened” and “She was frightened” and the visual representation of fear.
Love
So far we have been looking at basic emotions. Frog in Love refers to a social emotion requiring that
two individuals’ goals ultimate goals, to be happy, become equally valuable for both. The title signals the central theme, amplified by the image of the moon, a recurrent romantic trope (or image
scheme, see Turner 1996). The narrative, however, starts with an ambivalent emotion discourse:
“Frog...felt funny. He didn’t know if he was happy or sad”. There is a slight contradiction between
the words and the image, since the latter rather suggests that Frog is sad, judged by his mouth shape and his arms hanging down as if in resignation. Further on, it is stated that Frog “was worried”.
The accompanying image can be read as perplexity, uncertainty, or even anxiety. Another character
reads Frog’s mind stating that, from the symptoms Frog describes, he must be in love. This realisa97
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
tion makes Frog happy, the image clearly indicating his emotion, while the words state, somewhat
subdued, that “he was so pleased...”
Yet as a social emotion, love demands happiness shared by two agents. In real life, we often not only
need to read one mind, but several at once, and in interaction with each other. Vermeule (2010)
speaks about embedded mind-reading orders occurring in literature, of the type: “We think that
A thinks that B thinks that A thinks...” In texts with one focaliser we have access to one mind; in
texts with multiple focalisers, we have access to several minds and have to sort them out, without
necessarily ascribing any of them a higher degree of “truth”. In multimedial texts, embedded mind-reading is in addition conveyed through the interplay of verbal and visual information.
Let us first return to Frog who is sad. Frog is the focaliser in most of the narrative: the verbal narrator wants us to think (first order) that Frog is sad (second order); the visual narrator supports this
intention. In Frog’s encounter with other characters, another mind-reading order is added, which is
not as easily inferred from the images alone. “Little Bear was worried”. Here, the reader is asked to
understand that Bear understands Frog’s emotions, which creates another emotion in him, worry.
Unlike internal sadness, worry is a social and directed emotion: we worry about someone. The text
spells out the reason for Bear’s worry: Bear’s empathy amplifies the reader’s empathy toward Frog,
but it also invites the reader’s empathy toward Bear. In the statement “He wanted Frog to be happy”
we are two orders of mind-reading from Frog: we read his mind through Bear’s mind. Similarly, in
Frog in Love, Frog thinks that Duck is not interested in him, which makes him unhappy; his distress
is caused by his inability to read Duck’s mind. As long as Frog’s happiness is not shared, it turns into
unhappiness. Readers’ insight into Duck’s mind through Frog’s mind is supplemented by direct access
to Duck’s mind: she is happy about her secret suitor, but simply does not know who he is; an elementary misunderstanding that so much of world literature is built upon. This is another case of dramatic
irony: the readers know more than any of the two characters. When the (unlikely) lovers are united,
the reader is supposed to experience proxy happiness. This is what happy endings are about.
The narrative in The Tunnel involves two agents, the brother and the sister, nameless until the penultimate doublespread. The story follows their emotional interaction through words as well as images,
which, to begin with, is nearly symmetrical: “not at all alike... they were different...” The two characters
have separate goals because they have different notions of happiness: “The sister stayed inside... The
brother played outside...” The diverse goals lead to mutual disgust: “...they fought and argued noisily”,
and to both characters’ unhappiness as they are forced to endure each other’s presence. The conflict
peaks with a powerful image of discord, followed by an intricate sequence of embedded mind-reading.
The frontal portrait of the sister leaves no doubt about her feelings: she is scared and upset because,
her appeals notwithstanding, the brother has abandoned her and crawled into the tunnel. The second
order of mind-reading is therefore: the (visual) narrator wants us to think that the sister is scared and
upset. The verbal narrator simply states that she “was frightened of the tunnel”. We can, however,
add several mind-reading orders by asking: What does the narrator want us to think (first order) the
sister thought (second order) that her brother thought (third order) that she felt (fourth order) when
he challenged her to enter the tunnel? According to Vermeule, our brains can instantly process three
to four mind-reading orders, while any additional order demands a special effort. My guess is that an
unsophisticated reader, such as a young child, will not go beyond the second order (what the sister
is thinking), but it is impossible to say without substantial empirical research. Presumably, the mind-reading skill is mastered gradually as we learn to add more orders to our mind-reading.
98
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Unravelling this complex mind-reading, we can go step by step. What is the sister feeling, as suggested by the image? Probably: “I am frightened, upset and angry with my brother because he has left
me behind”. We infer this from the girl’s facial expression, but perhaps also because in our life experience, we would be angry and disappointed in a similar situation. Does she know what her brother
is thinking and how does she know it? Presumably, because she knows that he is always teasing her,
and we know it because we have been told that “[s]ometimes he crept into her room to frighten
her, for he knew that she was afraid of the dark”. This phrase contains advanced mind-reading: the
narrator wants us to know (first order) that the girl knows (second) that her brother knows (third)
what she feels (fourth). The girl thus knows that her brother believes that she will be scared of the
tunnel. In order to make this inference, we must go beyond the single image, of the girl in front of
the tunnel, and take the whole text into consideration, just as we can only fully understand the girl’s
feelings in the wordless spread against previous knowledge. What we by inference learn about the
brother is that while he is capable of empathy, knowing how his sister feels, he still deliberately
makes her frightened and upset. This is contradictory information that prompts an ethical issue: why
would anyone deliberately want to harm another person, especially a person whom he is supposed
to love (based on assumption that siblings love each other)? Further, wouldn’t a person who inflicts
suffering on someone he is supposed to love feel guilty and thus unhappy? However, these questions only occur if high-order mind reading is in place.
Whatever judgement we put on the brother, if at all, we still need to decide what the sister thinks
about him and what the narrator wants us to think. Is she angry with him, besides being frightened?
Does she hate him? Hatred is a social emotion corresponding to the basic emotion of disgust. Is the
girl disgusted when she creeps through the “dark, and damp, and slimy” tunnel, and does she re-direct disgust onto the brother? Does she secretly admire him? Is she envious of him? Is she afraid
of him? Her genuine emotion toward the brother is never verbalised, but we finally interpret it as
“Rose loves her brother”. Love, as we remember, is a social emotion implying that we want the
object of our affection to be happy, but we also want that the object of our affection shall want us
to be happy. This is the goal Rose achieves in the end. The image of her smiling face is confirmed
by the words: “Rose smiled at her brother. And Jack smiled back”. Smiling is not a direct emotion
discourse or representation, but, like an emoticon, an image of a smiling face is an indexical sign,
strongly and permanently connected with happiness. Although we do not see Jack’s face, we read
his happiness reflected in Rose’s happy face. The reunion and reconciliation of the siblings, who have
previously been in discord, is an emotionally satisfactory ending for the reader because the ultimate
goal of happiness has been achieved. Since the discord is stronger than the simple misunderstanding between Frog and Duck, our proxy happiness is also stronger. Unlike the Frog books, The Tunnel
explores a wide range of mutually contradictory basic and social emotions within a single narrative.
Anger and guilt
Yet both the Frog books and The Tunnel explore emotional interaction between peers. Maurice
Sendak’s Where the Wild Things Are involves two agents in an asymmetrical power relationship. In
addition, the empowered agent, the mother, is only represented verbally. Max is the sole focaliser
of the verbal narrative and partial visual focaliser, in the image in which we share his literal point of
view. The mind-reading pattern of the narrative will be, with Vermeule’s argument, as follows. The
narrator wants the reader to believe (first order) that Max knows (second order) that his mother will
99
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
be aggravated by his mischief (third order). The text utilises the verbal narrator who expresses the
assessment of the situation through stating that Max “made mischief” — a judgemental statement,
employing an adult perspective. The visual narrator expands the verbal statement into a succession
or iteration of images that evoke much stronger emotions than merely “mischief”; aggressive and
destructive behaviour is a better description; yet since the emotions are not articulated they remain
vague and open to interpretation. Max facial expression and posture provide a good indication of his
state of mind, in fact, a better indication than a verbal emotion discourse might afford.
The verbal narrator wants the reader to believe that Max’s mother is angry. It also wants the reader
to believe that Max knows that his mother is angry, and further that the mother knows that Max
knows that she is angry. Since we never see the mother in any image but only hear her voice, we
cannot read her emotions directly (as we do with Max’s face) and can only make inferences from
what we think Max thinks. The verbal utterances by the two agents are meaningless if interpreted
literally; they are both metaphorical: the mother’s “Wild thing” and Max’s “I will eat you up”.
Max’s face in the image is seemingly easy to read: he is angry. However, the scope of emotions is
more complex, and the readers are invited to use their own life experience and emotional memory
to make further inferences. Explicitly, Max is angry, but implicitly, he is also unhappy. We assume
that he loves his mother because our experience suggests that small children love their mothers. We
then infer that since Max loves his mother and knows that she is angry with him, he should be unhappy. Further, unhappiness as a basic emotion is associated with the social emotion of guilt. We think
that Max feels guilty because he knows that his mother, whom he loves, will not only be angry with
him, but upset. We know that deliberately upsetting someone whom we love makes us unhappy
and perhaps makes us feel guilty. The images do not directly suggest this long chain of inferences,
but can still retrieve memories evoking relevant emotions. Such “deep” mind-reading may seem too
complicated to be feasible at all; yet it is exactly because of the ambiguous nature of visual narrative
that several embedded orders are available.
We assume that the mother loves Max because our experience suggests that mothers love their
children. We can bring other experiences in our interpretation, as has been done repeatedly, based
primarily on the images: that the mother has encouraged Max’s wildness by giving him a wolf suit;
that she carelessly allows him to play with dangerous objects; or that she neglects the signals she is
getting from his aggressive behaviour. This advanced level of interpretation may prompt the reader
to believe that the mother does not love Max as much as she should since she does not care whether he is happy or not. Such interpretation disputably demands a higher cognitive experience than
the primary audience of this text may possess. Therefore, let us for the sake of the argument dismiss
this interpretation and assume that the author wants the reader to believe that the mother loves
her son, as she should.
The reader knows that Max knows that his mother loves him. This knowledge comes from a later
statement in the narrative referring to “someone who loved him best of all”, Max’s inference about
his mother’s feelings (third-order). At the beginning of the story, the reader must leap over the temporary mind-reading: “Max knows that his mother is angry with him”, in order to get to the permanent mind-reading “Max knows that his mother loves him” (third order) and further to “Max knows
that his mother knows that he knows that she loves him” (fifth order). The latter inference demands
two additional orders, and most readers probably do not get that far; yet the depth of the narrative
certainly allows it.
100
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
In the following sequence of images, mind-reading is relatively easy, since Max becomes the sole
agent, and we only need to read his mind. We can clearly see the change of Max’s emotions through
his facial expression and posture. He is happy sailing in his boat, scared of the first monster, angry
with the next set of monsters — while words do not mention any of the emotions. In addition his
emotions are represented metaphorically through visual images, the monsters. The verbal text stops
altogether when emotions become too strong, and the three wordless doublespreads convey them
on the subverbal level. Then the aggressions are subdued, and Max’s mood changes again. We know
that Max is sad because of his physical appearance, supported by the verbal statement that he “was
lonely”. Loneliness is a social emotion caused by separation from the object of our love. We believe
that Max is sad because he thinks that his mother is still angry with him, even though the words say
that he wanted to be with someone who loved him best of all. We are allowed the choice of believing
that the mother is still angry with him or that she is not angry any more. Moreover, we must reconcile
the two contradictory ideas: that the mother can love Max and be angry with him at the same time,
something that young readers allegedly are unable to do. Here a complex social (and permanent)
emotion is played against a basic and temporary one. Presumably, immature readers will go with the
basic emotion. Further, we must acknowledge the co-existence of two emotions, yet allow for the
possibility that Max, as a young child, is unable to reconcile them. Since we have no visual support for
reading the mother’s mind we are wholly dependent on our cognitive and social skills.
Back in his room, Max is smiling, and we are supposed to believe that he is happy because he thinks
that his mother loves him. What his mother really thinks is beyond our knowledge, yet an immature reader will most likely infer that since she has given him his supper she loves him (based on the
assumption that a person who loves someone wants to make them happy). The symbolic representation of love through food in children’s literature has been noted repeatedly. Yet the disturbing part
of this narrative is that the mother leaves supper for Max rather than staying in the room and giving
him a hug. She thus substitutes material gratification for emotional engagement. Her absence from
the image guides my implicit mind-reading of the mother, derived exclusively from her actions, that
she is indifferent toward her child or in fact still angry with him, which he does not know and which
an immature reader will likely fail to consider. Interestingly enough, just as the verbal narrative stopped when Max’s emotions grew too vivid, the visual narrative is cut off when there are no emotions
involved. The ultimate emotion the readers are left with depends on how much they delve into the
embedded mind-reading orders. Although Vermeule does not state this implicitly, from her argument the quality of a literary work can be judged by the number of plausible mind-reading orders.
Where the Wild Things Are, published in 1963, is still considered one of the most psychologically
complex multimedial narratives, presumably not least because of its intricate mind-reading orders
which we only can analyse in detail now, with the emergence of cognitive narratology. (I could argue
that the recent film transmediation has reduced the number of orders and thus failed to convey the
complexity of the book).
***
My intention in this article is to show how young children can learn to read other people’s minds
through fiction and how multimedial texts in particular stimulate this skill as we both recognise characters’ emotions and empathise with them, yet without necessarily identifying with them. I have
also shown how even in seemingly simple narratives, there is room for various interpretations of
images as long as words are not too intrusive. The main problem with representing emotions in a
verbal literary text is that language is not sufficiently adequate to convey complex emotional states,
101
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
something that Jacques Lacan and his followers emphasise, and that narratologists such as Dorrit
Cohn (1978) have discussed. Multimedial studies show that images are, in Cohn’s terms, subverbal
or preverbal; they can take over when words become inefficient. Thus multimedial texts offer a good
training field for mind-reading skills. Vermuele (2010) claims that mind-reading is the primary incentive for reading fiction. However, verbal representation of mental states is, as many narratological
studies have shown, incomplete and inadequate. The title of Ann Banfield’s Unspeakable Sentences
(1982) summarises the dilemma. I have tried to show that multimedial texts have stronger potential
for successful mind-reading. My analysis of picturebooks can be easily transferred to study of other
multimedial narratives, especially film and videogames (cf Mackey 2011), while the emergence of
digital picturebooks opens further possibilities.
102
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Atribuição de estados mentais através da palavra e imagem
Há oito anos, quando conheci Siobhan, ela me mostrou este desenho
L
e eu sabia que significava “triste” , que é como eu me senti quando encontrei o cachorro morto.
Então ela me mostrou este desenho
J
e eu sabia que significava “feliz”, que é como eu fico quando estou lendo sobre as missões espaciais Apollo…
(HADDON, 2004:10)
O protagonista e narrador de O estranho caso do cachorro morto, de Mark Haddon, é portador da Síndrome de Asperger. Como muitas crianças e adolescentes autistas, Christopher é extraordinariamente
inteligente, mas lhe faltam certas habilidades sociais elementares como compreender os sentimentos
alheios. Fisicamente, ele é um adolescente, intelectualmente, é superior à maioria dos adultos, ainda
que social e emocionalmente não passe de três ou quatro anos e seja um solipsista completo. Mas ele
é um ágil aprendiz. Sua professora usa sua habilidade para ler emoticons com o intuito de desenvolver
empatia. Ele sabe que a palavra “triste” descreve o que ele sentiu em determinadas circunstâncias.
Não consegue generalizar a partir desse conhecimento, mas o significante verbal “triste” será, para ele,
sempre associado com aquele sentimento de tristeza. A professora utiliza essa associação para criar
uma conexão adicional, associando a palavra “triste” com o emoticon de tristeza, ela cria um vínculo
entre a emoção experimentada, a palavra e o ícone. Ignorando a palavra, Christopher é agora condicionado a interpretar o emoticon como representando tristeza. Sempre que vir um rosto humano se
assemelhando ao emoticon, ele o lê como tristeza. É capaz de ler o rosto de outra pessoa, interpretá-lo
como uma expressão de emoção, e conectar esta emoção de segunda-mão à sua real e experenciada.
Christopher é um personagem literário, mas seu comportamento é uma descrição acurada não apenas de portadores de Asperger, mas também do processo pelo qual crianças passam quando elas
aprendem a indispensável habilidade social de compreender os sentimentos alheios. Acredita-se que,
nesse processo, os estímulos visuais desempenham um papel mais importante do que os verbais, já
que nossas habilidades visuais são inatas, diferentemente das linguísticas (ver Wolf 2007; Carr
2010). Portanto, ler uma expressão facial de uma pessoa ou sua postura corporal envia um sinal mais
forte ao cérebro do que a afirmação verbal “Esta pessoa está alegre, triste ou amedrontada”.
O conhecimento e a compreensão da mente das outras pessoas é uma habilidade social essencial,
e seria um grande implemento de socialização se a literatura pudesse ajudar as crianças a desenvolverem essa competência. Afirma-se repetidamente que a literatura contribui para a socialização;
ainda que a maneira deste funcionamento nunca tenha sido profundamente examinada. Por que
mesmo o mais profundo conhecimento de pessoas fictícias (que não existem ou nunca existiram),
com seus problemas pessoais não existentes e suas rede de contatos, suas opiniões não existentes e
suas emoções, seria de alguma relevância para os nossos conhecimento e compreensão de pessoas
reais dos círculos próximos ou mais distantes? A Crítica Cognitiva (também conhecida por narratologia cognitiva, poética cognitiva e cognitivismo literário) recentemente forneceu algumas respostas fascinantes para estas questões, combinando as descobertas das pesquisas sobre o cérebro
103
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
com os temas mais profundos da teoria literária (ver p.ex Tsur 1992, Turner 1996, Crane 2001,
Stockwell 2002, Gavins & Steen 2003, Hogan 2003a, Hogan 2003b, Gibson et al 2007). A
maior parte desta pesquisa provém da psicologia cognitiva, da linguística social, ou psicolinguística,
onde vários acadêmicos notam que os dados tipicamente coletados através de trabalho de campo
de alto custo e que consomem muito tempo podem, com algumas ressalvas, ser suplantados pela
altamente disponível e inextinguível fonte ficcional (i.e. Gibbs, 1994).
Na condição de pesquisadora acadêmica de literatura, me interesso em investigar se a ficção pode conduzir os leitores ao conhecimento e à compreensão das emoções alheias. Caso seja assim, interessa saber
de que maneira isso ocorre exatamente. Neste artigo, busco investigar de que forma a compreensão de
outras pessoas no mundo real é aprimorada por textos multimídia, nos quais as informações verbais
e visuais podem se complementar ou se contradizer. Escolhi alguns exemplos conhecidos para ilustrar
minha argumentação. Contudo, é necessária uma breve discussão teórica preliminar.
Minha principal fonte de inspiração teórica é o livro de Blakey Vermeule, Why Do we Care about
Literary Characters? (Por que nos importamos com personagens literários?) (2010). Vermeule fala
em compreensão da mente alheia na vida real como a capacidade humana de atribuir estados mentais às outras pessoas, baseadas nas suas ações e reações, expressões faciais, linguagem corporal e
outros sinais externos. Seu material é literatura, principalmente a novela britânica do século XVIII,
que é essencialmente “monomídia”. Muito do seu argumento pode ser aplicado com sucesso aos
textos multimídia, exatamente porque, na vida real, a compreensão da mente alheia depende intensamente da percepção visual. Vermeule salienta que a atração ficcional reside na troca de informação social, e que o nosso envolvimento com personagens fictícios depende da possibilidade da
obtenção de informação social sem revelar nada sobre nós mesmos em troca. Assim, as habilidades
de compreensão da mente alheia podem ser treinadas de modo contínuo por intermédio da ficção,
sem risco de erro. Claro que há algum risco, já que quando não nos é dado acesso direto à consciência dos personagens, nós estamos propensos a mal-interpretá-los. Além disso, alguns gêneros
literários são baseados na premissa de que mal interpretamos os pensamentos, crenças e intenções
dos personagens (tais como crime e mistério). Narrativas multimidiáticas frequentemnte fazem uso
de ambiguidade criada na interação entre os meios.
Embora Vermeule não considere as implicações pedagógicas do seu argumento, elas são de ampla
importância. Pesquisas empíricas demonstram que a compreensão da mente alheia normalmente
se desenvolve na idade de cinco anos e é mais lenta ou totalmente impedida em crianças autistas
(ver Blakemore & Frith 2005). Ela tipicamente se inicia com o reconhecimento das cinco emoções básicas: tristeza, alegria, medo, raiva e nojo (Oatley 1992), embora taxonomias e hierarquias
sejam também sugeridas (Hogan 2003b). As emoções básicas são explicadas através de processos
cerebrais complexos nas ciências cognitivas. Em um nível muito primitivo, elas são respostas a sistemas objetivo-orientados em nossos cérebros. Assim a alegria ocorre quando um objetivo é alcançado ou será provavelmente alcançado. A tristeza é causada por uma definitiva perda de um objetivo;
o medo acontece quanto há ameaça ao objetivo; a raiva resulta de uma frustração do objetivo, e
assim subsequentemente. As emoções sociais, tais como amor, ódio, desprezo, inveja, ciúme, compaixão ou culpa, envolvem objetivos com dois ou mais agentes em comum, nos quais os objetivos
individuais têm que ser incorporados. É fácil encontrar exemplos notáveis de todas estas emoções
na literatura; além disso, a maioria dos enredos literários são claramente construídos em torno de
pelo menos uma delas. Contudo, já que personagens literários são criados com palavras e, portanto,
104
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
não possuem cérebro para gerar emoções, por que deveríamos nos importar com esta construção
vazia e artificial?
A ficção cria situações nas quais as emoções são estimuladas; nos envolvemos com as emoções dos
personagens literários pois nosso cérebro pode ser estimulado pelos objetivos alheios da mesma
maneira que pode estimular nossos próprios objetivos. Isso pode ser salientado já que personagens
literários são fictícios e não possuem objetivos reais. Todavia, como os críticos cognitivos argumentam, ao ler ficção, nos envolvemos com possíveis efeitos de situações ficcionais, incluindo o desejado final da história inteira. A crítica cognitiva assume que os motivos pelos quais nos envolvemos
com os personagens fictícios são as conexões entre a experiência mediada do texto e as memórias
armazenadas no cérebro. Nós nos envolvemos com os personagens literários por meio de uma experiência delegada, ou por procuração.
Resposta afetiva
A forma mais primitiva de se entregar a uma emoção em um texto literário é dizer que alguém está
alegre, triste ou com raiva. Isto pode ser feito através de um narrador: “Ele estava feliz”; ou um
discurso direto do personagem: “Eu estou feliz”. O primeiro é uma declaração objetiva, o segundo
é uma percepção subjetiva. Para o leitor, em ambos os casos, as palavras disparam memórias armazenadas no cérebro que são associadas com a emoção respectiva, o que nos capacita a ler a mente
do personagem.
Nossas memórias emocionais, entretanto, são fragmentadas e imprecisas. Elas não expõem necessariamente um evento do mesmo modo que o vivenciamos. A partir do momento que elas são transferidas da memória imediata para a de longa duração, o evento é exposto como se tivesse sido guardado. Ler um texto literário ativa a memória de longa duração, e as respsctivas emoções conectadas
são ativadas da mesma maneira. Ao conferir sentido à ficção, leitores frequentemente relacionam
os acontecimentos ficcionais às suas experiências pessoais e “compreendem” as emoções dos personagens ao conectá-los às lembranças relevantes emocionalmente carregadas. A teoria cognitiva
se refere a este processo como “disatribuição”[misattribution]: atribuímos nossas próprias emoções
às dos personagens fictícios. Outra maneira de expressar é dizer que projetamos nossas próprias
emoções nos personagens fictícios. Pode parecer um enfoque altamente imaturo para a leitura ficcional, mas aparentemente isto é até agora a explicação mais plausível. Alguns dos argumentos principais da crítica cognitiva exploram a relação entre o literal e a linguagem figurativa, questionando
fortemente a crença convencional de que este último é efetivamente redundante na comunicação
cotidiana. Baseado em extensiva pesquisa empírica, Mark Turner (1996) argumenta que a narrativa
precede a linguagem, e Raymond Gibbs (1994) defende que a metáfora é onipresente em nossa vida
cotidiana. Se é mesmo assim, a projeção da experiência vivida nas narrativas ficcionais surge naturalmente, e a construção das nossas memórias armazenadas em experiência anterior pode amplificar a projeção; fazemos conexões entre distintas emoções dos personagens. Para um jovem leitor,
que pode ter uma experiência limitada ou inexistente de emoções reais, a experiência literária,
transferida e é de fundamental importância.
Ao ler frases tais como “Ele está alegre” ou “Ela está triste” nós não necessariamnte experimentamos
a mesma emoção de modo direto e com a mesma intensidade, mas podemos simpatizar com um
personagem que está feliz ou triste, desde que tenhamos uma memória armazenada da emoção,
105
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
quer a partir de experiência de vida ou de uma experiência literária prévia. Possuímos conhecimento
emocional do que significa estar feliz ou triste. No entanto, a empatia não implica que estamos compartilhando plenamente o estado de espírito do personagem. Pelo contrário, leitores maduros devem
ser capazes de simpatizar com um personagem sem necessariamente compartilhar a emoção, bem
como manter suas próprias emoções separadas dos personagens (ver Feagin 2007; Nikolajeva
2011). Além disso, um leitor maduro estará ciente de que qualquer discurso emocional é uma representação e, como tal, apenas se aproxima de uma emoção real. Por exemplo, podemos entender que
o personagem está com raiva, mas não ver nenhuma razão para a raiva ou julgar que a raiva é mal
direcionada. O equilíbrio de envolvimento e perda de interesse é um pré-requisito para uma leitura
da mente bem sucedida (cf. Keene 2008).
Quando a emoção é tomada como uma etiqueta literal (não metafórica) verbal, como “Ele estava
feliz”, ela pode ser expandida ou aprofundada por palavras ou por imagens. Uma palavra ampliada
por outras palavras é uma descrição do estado mental ou uma explicação do que significa ser feliz ou
triste. Não há termo literário sucinto para cobrir esse fenômeno, embora possa ser possível empregar
o conceito de ekphrasis emocional. Emprego o termo consagrado discurso emocional para designar
a descrição verbal de uma emoção, e, para este fim específico, uso o termo mais vago representação emocional para definir a descrição visual de uma emoção. O discurso emocional pode fornecer
uma descrição ampliada do estado mental (“Ele estava tão feliz que queria cantar e dançar”), ou
uma explicação do que significa ser feliz (“Ele estava tão feliz como você é quando abre um presente
de aniversário”). Pode incluir uma indicação temporal e causal: (“depois disso, ele estava feliz” ou
“ele está feliz porque [...]”). Pode também ser expresso metaforicamente em vez de literalmente,
por exemplo: “Seu coração perdeu uma batida”. Ou se estender por muitas páginas, como costuma
acontecer nos romances psicológicos. Pode, ainda, empregar possibilidades narrativas complexas, na
forma de discurso indireto livre ou narração psicológica (ver Cohn 1978, Nikolajeva 2002). O que
é problemático, contudo, é que as emoções não estão necessariamente delineadas de modo tão claro
como nos rótulos; há graus de felicidade e tristeza, há nuances entre feliz, contente e alegre, triste
e chateado, irritado e furioso. As emoções são, por definição, não verbais, e a linguagem não pode
transmitir uma emoção adequadamente. Metáforas são um poderoso dispositivo para contornar
esse dilema, mas as imagens visuais ainda carregam um forte potencial. As imagens podem melhorar
substancialmente o significado expresso pelas palavras aproximando a vaga e indefinível emoção. Ao
contrário do discurso emocional, representação emocional não é a explicação de uma emoção (“ele
estava triste porque o seu coelho de estimação tinha morrido”), mas sua evocação. Felicidade ou tristeza representadas visualmente também evocam uma memória cerebral que simulará a experiência
de felicidade ou de tristeza. Isso, contudo, só será possível se houver uma memória armazenada de
uma emoção particular, que pode parecer impeditiva a uma vasta gama e gradações emocionais que
não experimentamos. Por exemplo, ainda que poucos de nós, felizmente, tenham sido expostos a
horrores extremos, mesmo assim podemos nos conectar com o sentimento de horror em um texto
multimídia no qual uma imagem tem um impacto imediato sobre o espectador. Memórias emocionais não são coerentes, mas disjuntivas e fragmentadas. A forma como determinada experiência é
armazenada no cérebro pode não ser real, mas distorcida, afetada por uma percepção subjetiva ou
por circunstâncias particulares. Pedaços de memórias diferentes podem ficar aleatoriamente conectados ao serem armazenados. Memórias também podem ser suprimidas e re-emergirem se provocadas por uma forte emoção, seja real ou vicária (ver, por exemplo, Nalbantian 2003). Tudo isso
implica uma imagem visual que pode potencialmente provocar uma ampla gama de emoções que
contorne a precisão relativa das palavras.
106
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Tristeza
Iniciemos com uma narrativa aparentemente muito simples, O Sapo está triste, de Max Velthuijs. A
capa, o primeiro elemento da narrativa que encontramos, transmite informações em dois níveis: a
declaração verbal “O Sapo está triste” e uma imagem de um personagem cuja postura e expressão
facial sugere tristeza. Observe que, embora o personagem não seja humano, temos a tendência
de antropomorfizar os animais, objetos inanimados, fenômenos naturais e até mesmo noções abstratas, na vida real, bem como na ficção. No mundo real, podemos, por exemplo, acreditar que os
pássaros cantam porque estão felizes. Em um mundo fictício, lemos as emoções de Sapo como se
fossem humanas. Nesse caso, o detalhe visual mais importante sugerindo tristeza é a forma da boca.
Essa representação visual de tristeza é como uma convenção, como um emoticon, algo que podemos ter a partir de nossa experiência real, que é como Christopher Boon aprendeu a compreender
tristeza. Em termos semióticos, a imagem é indicial: não representa o significado, mas aponta para
ele. A declaração verbal apoia fortemente nossa interpretação da imagem. Como uma experiência
de pensamento, poderíamos remover o título e tentar ler a imagem por si só. Nossa interpretação
poderia sem dúvida ser menos precisa, por exemplo, poderíamos lê-lo como “O personagem está
meditativo” ou “O personagem está aborrecido”. Ambas emoções possuem fronteiras com a tristeza, mas como a tristeza é uma emoção básica, é ostensivamente a nossa primeira escolha em nossa
estratégia de interpretação. As nuances da emoção podem ser transmitidas verbalmente em um
espectro que vai de triste, chateado, aborrecido, pensativo, deprimido, infeliz, ansioso, e assim por
diante. A partir das imagens, não podemos exatamente decidir sobre as nuances.
O título, no entanto, nos dá pouca ou nenhuma escolha. Um título ou uma legenda da imagem é
uma declaração muito forte de autoridade, difícil de ignorar. (Quando a legenda diz: “Isto não é um
cachimbo” nós, ao menos, precisamos refletir sobre isso e decidir se confiamos em nossa visão ou na
declaração). Leitores maduros tendem a confiar mais nas declarações verbais do que na atribuição de
estados mentais a partir das imagens, porque somos manipulados a partir do primeiros anos escolares para acreditar que a língua tem mais peso do que as imagens, mas os leitores maduros também
serão capazes de perceber a ironia na tensão entre palavras e imagens (ver Stockwell 2002; Keene
2008). Leitores pré-alfabetizados estão propensos a confiar mais em imagens do que em palavras,
uma vez que as imagens são diretas e imediatas, enquanto as palavras necessitam de processamento. Trata-se pura especulação, pois ainda sabemos muito pouco sobre isso. É discutível se as imagens
visuais possuem mais impacto sobre nossas mentes do que as verbais, e eu diria que experimentos de
comprovação seriam impossíveis, já que o processamento de palavras e imagens acontece de forma
diferente em nosso cérebro. Tudo o que sabemos é que o córtex visual é inato ao cérebro, enquanto
que a língua não é. Isto logicamente sugeriria que a leitura de imagens viria naturalmente, enquanto
que a compreensão das declarações verbais, seja orais ou escritas, deva ser aprendida.
No entanto, na capa de O Sapo está triste, não há contradição evidente entre a informação verbal e
visual, o que torna a nossa interpretação inequívoca: O Sapo está triste. Ao longo do livro, a linguagem corporal do Sapo, inclusive o formato de boca, se repete e, assim, amplia a nossa compreensão
de seu estado emocional como sendo de tristeza. A partir das próprias imagens, não devemos apenas
ser capazes de reconstruir a história, mas também contemplar as nuances de emoções de Sapo, por
exemplo, de irritação ou perplexidade com as tentativas de seu amigo para entretê-lo. Nós não temos
problemas de leitura quanto à mudança de humor quando o Sapo começa a sorrir, estica os braços e
começa a dançar. No entanto, o texto de forma consistente aprimora as imagens: “Sapo acordou se
107
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
sentindo triste... ele sentiu vontade de chorar, mas não sabia por quê”. A última frase é ligeiramente
mais complexa do que uma simples declaração “Ele estava triste”. Nos convida a refletir sobre a causalidade por trás da emoção. Se o personagem não sabe por que ele está triste, podemos pensar em
alguma razão? Ou devemos reconhecer que uma pessoa pode ficar triste sem motivos óbvios?
Em um livro como O Sapo está triste, comercializado para leitores bem jovens, o texto verbal que
acompanha as imagens é um dispositivo pedagógico, uma vez que aparentemente o autor assume que
uma criança pequena pode não ser capaz de ler as emoções sem o apoio verbal. Esta é uma suposição
duvidosa. A partir da psicologia experimental sabemos que mesmo bebês de poucas semanas respondem e, assim, presumivelmente, compreendem expressões faciais tanto reais quanto representadas.
Existe vasta evidência anedótica de crianças pequenas que respondem adequadamente às imagens
visuais de emoções muito antes de poderem falar. A informação verbal no livro do Sapo pode parecer
redundante. Por outro lado, a teoria de comunicação sustenta que a redundância é um importante
fator de comunicação. Mais importante, porém, é que o título do livro verbalize a emoção, antes que
os leitores tenham a oportunidade de identificá-la por si mesmos. O texto verbal aqui tem a mesma
função da dublagem no cinema. Um cineasta talvez evite a dublagem para articular as emoções dos
personagens, mas confie que o público seja capaz de interpretá-los apenas a partir da narrativa visual.
Isto é o que acontece em álbuns ilustrados mais complexos, quando a narrativa verbal fornece pouco apoio para a atribuição de estados mentais, se é que oferece. A Árvore Vermelha, de Shaun Tan,
conta exatamente a mesma história de O Sapo está triste: uma pessoa está triste, mas torna-se feliz
novamente. No entanto, esta simples transformação emocional é transmitida através de imagens
complexas e altamente ambíguas. Nem o título nem a imagem da capa fornecem qualquer orientação quanto ao tema do texto, exceto as cores contrastantes que sugerem os opostos quente - sol,
frio - chuva e, por extensão, feliz - infeliz. A reflexão do personagem na água é simbólica, em vez de
icônica, e contribui para a antecipação de uma narrativa complexa.
A imagem de frontispício enfatiza a incapacidade do personagem para se expressar com palavras
inteligíveis como se nada saísse de sua boca. Tudo o que se segue, aparentemente, tem lugar em
sua mente, enquanto as palavras que acompanham são vagas. É como se o personagem estivesse
lutando para colocar suas emoções em palavras, a ausência de pontuação ou letras maiúsculas, o
texto irregular e ondulado, o uso de diferentes tamanhos de fonte e de negrito — tudo acentua a
natureza fragmentária da narrativa verbal, correspondente à emoção vaga, não dita, indizível. No
entanto, o texto verbal é suficientemente evocativo.
Não podemos identificar a emoção vivida pelo personagem com total segurança, é uma combinação de tristeza, medo, solidão, ansiedade, desespero e puro horror. Ao realizar a leitura do
estado mental do personagem, que não depende apenas de sua expressão facial e linguagem
corporal, exatamente porque supomos entender que sua paisagem mental é externalizada
através das imagens. Na verdade, a expressão facial da menina não muda ao longo do livro, e a
ausência de boca torna quase impossível compreender seu estado mental através de seu rosto.
Quando a felicidade irrompe na página final, a boca aparece, indicando sem dúvida alegria. A
representação emocional é principalmente transmitida pela linguagem figurativa, através de
metáforas. A Crítica Cognitiva argumenta que o significado literal de “ela estava triste” não é
necessariamente mais simples ou mais facilmente compreendido como o discurso emocional
sofisticado, metafórico e multimidiático.
108
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Cada página dupla da narrativa teria exigido páginas e páginas de discurso emocional, e talvez ainda fosse insuficiente; enquanto as imagens produzem um efeito imediato e direto, embora cada
imagem também proporcione a contemplação longa e leitura repetida. O surrealismo geralmente
afeta nossos sentidos, incluindo repulsa, que é evocado de forma eficiente em A Árvore Vermelha.
Nós não só estabelecemos empatia com o personagem, mas nos relacionamos diretamente com as
imagens. A rica intertextualidade amplifica o impacto. A folha vermelha, encontrada pela primeira
vez na capa, aparece emoldurada sobre a cama da menina. Está discretamente presente em todas
as páginas duplas como uma promessa de esperança e, na verdade, tanto o personagem quanto o
leitor são recompensados ao final por terem resistido à dor. Ao estabelecer empatia com a menina,
espera-se reconhecer o seu estado de espírito indescritível, relacionando-a com nossas próprias
memórias semelhantes, mesmo que nunca tenhamos experimentado emoções intensas como faz o
personagem. Estamos frustrados, e nos sentimos aliviados quando a narrativa termina em um tom
positivo. Em comparação com O Sapo é está triste, a emoção multimidiática em A Árvore Vermelha
não apenas difere em grau de complexidade, mas também na natureza: literal em vez de metafórico.
Medo
Cada narrativa da série do Sapo de Max Velthuijs é construída em torno de emoções básicas. Às
vezes, são anunciadas no título, como O Sapo está com medo (a capa realmente contradiz o título,
já que a imagem da capa mostra três personagens com segurança dormindo na cama). Às vezes são
explicadas dentro da história, como O Sapo é sapo equivale a “O Sapo é feliz”. O Sapo é sapo é uma
afirmação mais complexa do que O Sapo está triste ou O Sapo está com medo. Sem dúvida, apenas
um pouco mais complexo, mas não o suficiente para explicitamente se referir a uma emoção, portanto, metafórica e não literal, mesmo no nível verbal.
A imagem da capa, mostrando sapo tentando voar, sugere um senso de antecipação feliz, no entanto, com alguma noção elementar sobre a natureza dos sapos e da lei da gravidade, ou com um
conhecimento intertextual do mito de Ícaro, espera-se inferir que embora Sapo se sinta feliz agora,
ele logo se decepcionará. Leitores que não possuem conhecimento prévio não serão capazes de
prever o desenvolvimento da trama, e, assim, compreender a inutilidade da meta final de Sapo para
ser feliz. A declaração “o Sapo é sapo” é uma metáfora relacionada com a felicidade de descobrir e
afirmar a própria identidade. Sapo fica infeliz porque ele falha em alcançar seus objetivos, mesmo
que eles sejam, obviamente, errados. A incapacidade de atingir as metas geralmente resulta na
emoção básica da raiva, que vai da irritação ao desespero e à frustração.
Uma vez que o texto verbal não fornece pistas diretas (para além do instante do advérbio “infelizmente”), os leitores têm uma maior margem para interpretação.
Sabemos que as tentativas do Sapo são inúteis. Envolvemo-nos com ele, porque podemos ter tido
experiências semelhantes que projetamos para o personagem. No entanto, também estamos descomprometidos com ele, porque nós sabemos — ou deveríamos saber — que está sendo tolo. Este
é o saldo de empatia e identificação que mencionei antes. A mudança de humor de Sapo dentro da
narrativa, da felicidade para tristeza e do desespero para a felicidade de volta é claramente mostrada através de imagens. Mas também é transmitida por meio do discurso emocional elementar,
incluindo o final literal “De repente Sapo se sentiu muito feliz”, que pode parecer redundante, mas
para um leitor muito jovem pode se provar como necessário.
109
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Quando a representação verbal e visual de uma emoção contradizem umas às outras, o resultado
é a ironia. Nossa retirada temporária das tentativas de Sapo voar se baseia no reconhecimento da
ironia. É o assunto de debates acalorados recentes se as crianças compreendem e apreciam a ironia
e com que idade ocorre tal entendimento (ver Gibbs, 1994; Walsh 2011). Há pouquíssima pesquisa empírica para fazer afirmacões definitivas. Leitores imaturos parecem confiar em declarações
visuais em vez de verbais, ou seja, inferir a partir da postura ou expressão facial que um personagem
está feliz mesmo que o texto verbal diga outra coisa. O cérebro jovem não possui a capacidade de
sintetizar informações complexas e contraditórias. Pesquisas com crianças e adolescentes autistas
mostram que eles só podem “ler” imagens simples, literais, não irônicas.
Se isso for verdade, o discurso emocional literal, por exemplo, expresso no título O Sapo está com
medo é uma forma bastante primitiva de representar uma emoção complexa. Da mesma forma, o
discurso emocional verbal em Anthony Browne, The Tunnel [O túnel], “Ela estava amendrontada” é
simples. Em ambos os casos, declarações verbais literais são expandidas para as declarações visuais
metafóricas. Devemos, é claro, negligenciar a óbvia diferença de estilo visual, mas se considerarmos
a composição, as duas imagens correspondentes à declaração literal “estava com medo” são bastante semelhantes, e ambas transmitem movimento rápido da esquerda para a direita, da maneira
que a cultura ocidental lê textos verbais. No entanto, a abundância de detalhes na imagem de Browne atrasa o processamento da informação visual e fornece ao cérebro mais tempo para acessar
as memórias emocionais armazenadas. Além disso, as imagens são, como em A Árvore Vermelha,
sobrecarregadas com metáforas e elementos intervisuais. Novamente, a diferença está no grau,
bem como na natureza.
No entanto, a resolução da situação e portanto, o envolvimento emocional esperado do leitor também são diferentes. Sapo corre para da página ao lado, onde está relativamente seguro, enquanto
a menina corre para a página dupla seguinte e para o desconhecido. Esta segunda imagem é sem
palavras, como se o narrador verbal se tornasse mudo quando confrontado com o horror do personagem. Intuitivamente, diríamos que a imagem do túnel é substancialmente mais complexa, mas
consideremos de que maneira é mais complexa e que emoções as duas imagens evocam no leitor.
Sapo é um personagem cômico, pela virtude do ser não humano, mas também porque reconhecemos a situação bem conhecida de estar com medo de monstros debaixo da cama (ver Nikolajeva & Taylor, 2011), que julgamos cômica — e que também ocorre para satisfazer as nossas
expectativas. A narrativa é baseada em ironia dramática, isto é, a discrepância entre o que o
personagem sabe e aquilo que o leitor sabe. Podemos nos envolver com o personagem, mas o
sentimento que a narrativa evoca em leitores é mais provavelmente o de superioridade, mesmo
que sejam crianças muito pequenas. Superioridade implica que os leitores estejam descomprometidos com o personagem e possam rir dele. (Posso estar errada nesta avaliação, seria interessante testar esta interpretação em um estudo empírico e, possivelmente, verificar em que idade
tal desengajamento ocorre. Tenho provas de que uma imagem pode ser assustadora para uma
criança muito jovem.)
Em The Tunnel, o personagem é humano e, portanto, oferece sem dúvida mais empatia do que uma
figura não humana. Não há nada de cômico em medos de uma menina, mesmo sabendo dos eventos anteriores, que ela também tem medo de coisas debaixo da cama. Seus medos são amplificados
pela ansiedade sobre seu irmão. Ela cruzou a fronteira e entraram em um mundo (discutivelmente,
o mundo de seu inconsciente) que ela sabe não ser seguro. Os leitores se envolvem com ela, pois
110
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
os recursos de imagem apelam para os nossos medos ocultos, sonhos, pesadelos e, em geral, para
fortes emoções negativas, incluindo repulsa. A intervisualidade rica da imagem pode evocar diretamente nossas emoções em torno do personagem, como vimos em A Árvore Vermelha. Em um
experimento de pensamento, podemos eliminar a figura da menina da página dupla e considerar se
vamos continuar a interpretar a imagem como discurso emocional da garota.
Eu diria que, desde a história precedente, já estamos fortemente comprometidos com o personagem, e vamos nos perguntando: “O que ela está sentindo”, ou, projetando a partir de nossa experiência real ou fictícia, “O que eu sentiria no lugar dela?” Além disso, as imagens no início do livro
antecipam a página dupla e alertam o leitor para o seu significado em múltiplas camadas.
Minha sugestão é que, enquanto a imagem de Velthuijs pode evocar uma sensação momentânea de
perigo e medo, ainda conduzindo à segurança, antecipada a partir da capa, a imagem de Browne continua ameaçadora e não resolvida. Uma análise de ressonância magnética poderia mostrar a diferença —
ou nenhuma diferença — entre a resposta emocional dos leitores para as duas imagens, dependendo da
idade dos informantes e de vários outros fatores. Seria, sem dúvida, mostrar a diferença entre a resposta
às declarações verbais “Estou com medo” e “Ela estava com medo” e a representação visual de medo.
Amor
Até agora nos debruçamos sobre as emoções básicas. Sapo está apaixonado se refere a uma emoção
social que exige que os objetivos finais de dois indivíduos, ser feliz, tornam-se igualmente valiosos para
ambos. O título indica o tema central, amplificado pela imagem da lua, um tropo recorrente romântico
(ou esquema de imagem, ver Turner 1996). A narrativa, no entanto, começa com um discurso emocional ambivalente: “Sapo... se sentiu engraçado. Ele não sabia se estava feliz ou triste”. Há uma ligeira
contradição entre as palavras e a imagem, pois esta sugere que Sapo está triste, julgada pela forma de
sua boca e pelos braços pendurados como se em resignação. Mais adiante, afirma-se que Sapo “estava
preocupado”. A imagem que acompanha pode ser lida como perplexidade, incerteza, ou mesmo ansiedade. Outro personagem lê a mente de Sapo afirmando que, a partir dos sintomas descritos por Sapo,
ele deve estar apaixonado. Esta conclusão faz Sapo feliz, a imagem indicando claramente a sua emoção, enquanto que as palavras mostram, de uma forma pouco reticente, que “ele ficou tão satisfeito...”
Ainda que seja uma emoção social, o amor exige a felicidade compartilhada por dois agentes. Na
vida real, nós muitas vezes não precisamos ler apenas um só pensamento, mas vários de uma vez, e
em interação uns com os outros. Vermeule (2010) fala sobre ordens de leitura da mente incorporadas ocorrendo na literatura, do tipo: “Nós pensamos que A pensa que B pensa que A pensa que…”
Nos textos com um focalizador temos acesso a uma mente, em textos com focalizadores múltiplos,
temos acesso a várias mentes sendo preciso separá-las, sem necessariamente atribuir a qualquer
uma delas maior grau de “verdade”. Em textos multimídia, a atribuição de estados mentais e transmitida também através da interação da informação verbal e visual.
Vamos primeiro voltar a Sapo que está triste. Sapo é o foco na maioria da narrativa: o narrador verbal quer que pensemos (primeira ordem) que Sapo está triste (segunda ordem), o narrador visual
apoia esta intenção. No encontro de Sapo com outros personagens, outra ordem de leitura do personagem e é adicionada, o que não é tão facilmente inferida a partir das imagens por si só. “Ursinho
estava preocupado”. Aqui, o leitor é convidado a entender que o Urso entende as emoções de Sapo,
111
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
o que cria uma outra emoção nele, a preocupação. Ao contrário da tristeza interna, a preocupação é
uma emoção social e dirigida: nós nos preocupamos com alguém. O texto enuncia a razão para preocupar Urso: A empatia de Urso amplia a empatia do leitor em direção a Sapo, mas também compele
a empatia do leitor em direção a Urso. Na frase “Ele queria que Sapo fosse feliz” tem-se duas ordens
de leitura do estado mental de Sapo: lemos sua mente através da mente de Urso. Da mesma forma, em Sapo está apaixonado, Sapo acha que Pata não está interessada nele, o que faz dele infeliz.
Sua angústia é causada por sua incapacidade de ler o estado mental de Pata. Como a felicidade de
Sapo não é compartilhada, ela se transforma em infelicidade. A visão dos leitores da mente da Pata
através da mente de Sapo é complementada por acesso direto à mente de Pata: ela está feliz com
seu pretendente secreto, mas simplesmente não sabe quem ele é, um mal-entendido fundamental
no qual tanto da literatura mundial se baseia. Este é mais um caso de ironia dramática: os leitores
sabem mais do que qualquer um dos dois personagens. Quando os (improváveis) amantes estão unidos, o leitor é suposto para experimentar a felicidade delegada. É disto que tratam os finais felizes.
A narrativa em The Tunnel envolve dois agentes, o irmão e a irmã, que permanecem sem nome até a
penúltima página dupla. A história segue a sua interação emocional através de palavras, bem como
imagens, que são quase simétricas: “Não eram em nada iguais ... eles eram diferentes...”. Os dois
personagens têm objetivos distintos, porque eles têm diferentes noções de felicidade: “A irmã ficou
dentro... O irmão brincava do lado de fora...” Os objetivos diversos levam a uma mútua repulsa: “...
eles lutaram e discutiram”, e para infelicidade de ambos os personagens, são obrigados a suportar
presença um do outro. Os picos de conflito com uma imagem poderosa de discórdia, seguida por
uma sequência complexa de atribuição de estados mentais. O retrato frontal da irmã não deixa
dúvidas sobre seus sentimentos: ela está com medo e preocupada, porque, apesar de seu apelo, o
irmão a abandonou e se arrastou para dentro do túnel. Portanto, a segunda sequência de atribuição
de estados mentais é: o narrador visual quer que pensemos que a irmã está assustada e chateada.
O narrador verbal simplesmente afirma que ela “estava com medo do túnel”. Podemos, no entanto,
adicionar várias ordens de atribuição de estados mentais com a pergunta: O que o narrador quer
que pensemos (primeira ordem) sobre o pensamento da irmã (segunda ordem) a respeito do pensamento de seu irmão (terceira ordem) que se sentia (quarta ordem), quando ele a desafiou a entrar
no túnel? De acordo com Vermeule, nosso cérebro pode instantaneamente processar 3-4 ordens de
atribuição de estados mentais, enquanto que qualquer demanda adicional exige um esforço especial. Meu palpite é que um leitor sofisticado, como uma criança pequena, não vai além de segunda
ordem (o que a irmã está pensando), mas é impossível afirmar qualquer coisa sem uma substancial
pesquisa empírica. Presumivelmente, a habilidade de ler o outro é dominada gradualmente à medida que aprendemos a adicionar mais demandas à nossa leitura de estados mentais .
Esclarecendo esta complexa leitura de estados mentais, podemos ir passo a passo. Qual é o sentimento da irmã, como sugerido pela imagem? Provavelmente: “Estou com medo, chateada e irritada
com o meu irmão porque ele me deixou para trás”. Podemos inferir essa informação da expressão
facial da menina, mas talvez também porque, em nossa experiência de vida, estaríamos irritados
e decepcionados com uma situação similar. Será que ela sabe o que seu irmão está pensando?
Como? Presumivelmente, porque ela sabe que ele está sempre brincando com ela, e nós sabemos
disso, porque nos foi dito que “por vezes, ele entrou em seu quarto para assustá-la, pois sabia que
ela tinha medo do escuro”. Essa frase contém avançadas atribuições de estados mentais: o narrador
quer que saibamos (primeira ordem) que a menina sabe (segunda) que seu irmão sabe (terceira) o
que ela sente (quarta). A menina, assim, sabe que seu irmão acredita que ela vai ter medo do túnel.
112
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Ao fazer tal inferência, devemos ir além da imagem única, da menina na frente do túnel, e levar em
consideração todo o texto, assim como só podemos compreender os sentimentos da menina na página sem palavras em articulação com o conhecimento anterior. O que nós aprendemos por inferência
sobre o irmão é que, enquanto ele é capaz de se envolver, e saber como se sente a sua irmã, ele ainda
intensionalmente a assusta e aborrece. Esta é uma informação contraditória que evoca uma questão
ética: por que alguém quer prejudicar outra pessoa, em especial uma pessoa a quem supostamente
ama (com base na suposição de que os irmãos se amam)? Além disso, não deveria uma pessoa que
inflige sofrimento a alguém que supostamente ama se sentir culpada e, portanto, infeliz? Todavia,
essas questões somente emergirão se atribuições de estados mentais de alto nível ocorrerem.
Qualquer que seja o juízo que façamos do irmão, ainda precisamos decidir o que a irmã pensa sobre
ele e o que o narrador quer que pensemos. Ela está brava com ele, além de assustada? Será que ela
o odeia? O ódio é uma emoção social correspondente à emoção básica de nojo. Estaria a menina
enojada quando se arrasta através do “escuro e úmido, e viscoso” túnel, e será que ela redireciona
o nojo para o irmão? Será que ela secretamente o admira? Será que o inveja? Ela o teme? Sua real
emoção em relação ao irmão nunca é verbalizada, mas nós finalmente a interpretamos como “Rose
ama seu irmão”. Amor, como nos lembramos, é uma emoção social que implica querermos que o
objeto de nosso afeto seja feliz, mas também que o objeto de nossa afeição nos queira felizes. Este
é o objetivo alcançado por Rose ao final. A imagem de seu rosto sorridente é confirmada pelas palavras: “Rose sorriu para seu irmão. E Jack sorriu de volta”. Sorrir não é um discurso emocional direto
ou representação emocional, mas, como um emoticon, uma imagem de um rosto sorridente é um
sinal indicial, forte e permanentemente conectado com a felicidade. Apesar de não ver o rosto de
Jack, lemos sua felicidade refletida no rosto feliz de Rose. O reencontro e a reconciliação dos irmãos,
que estiveram antes em discórdia, é um final emocionalmente satisfatório para o leitor, porque o
objetivo final da felicidade foi alcançada. Uma vez que a discórdia é mais forte do que o simples
mal-entendido entre Sapo e Pata, nossa felicidade delegada também é mais forte. Ao contrário dos
livros da série O Sapo, The Tunnel explora uma vasta gama de emoções básicas e sociais mutuamente contraditórias dentro de uma única narrativa.
Raiva e culpa
Tanto a coleção d’O Sapo quanto The Tunnel exploram a interação emocional entre pares. Onde
vivem os monstros de Maurice Sendak envolve dois agentes em uma relação assimétrica de poder.
Além disso, o agente competente, a mãe, é representada apenas verbalmente. Max é o focalizador
único da narrativa verbal e focalizador parcial da narrativa visual, na imagem em que partilhamos
o seu ponto de vista literal. O padrão de leitura de estados mentais da narrativa será, segundo
Vermeule, como se segue. O narrador quer que o leitor acredite (primeira ordem) que Max sabe
(segunda ordem) que sua mãe será afetada por sua travessura (terceira ordem). O texto utiliza o narrador verbal para expressar a avaliação da situação através da afirmação que Max “fez mal” — uma
declaração de juízo, empregando uma perspectiva adulta. O narrador visual expande a declaração
verbal em uma sucessão ou interação de imagens que evocam emoções muito mais fortes do que
simplesmente “mal”; comportamento agressivo e destrutivo é uma descrição melhor, ainda que as
emoções não articuladas permaneçam vagas e abertas à interpretação. A expressão facial de Max e
sua postura fornecem uma boa indicação de seu estado de espírito, uma melhor indicação do que
de fato um discurso emocional verbal pode produzir.
113
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
O narrador verbal quer que o leitor acredite que a mãe de Max está com raiva. Ele também quer que o
leitor acredite que Max sabe que sua mãe está com raiva, e, ainda, que a mãe saiba que Max sabe que ela
está com raiva. Como nunca vemos a mãe em qualquer imagem, mas apenas ouvimos sua voz, não podemos ler suas emoções diretamente (como fazemos com o rosto de Max) só podendo fazer inferências a
partir do que nós pensamos que Max pensa. As expressões verbais pelos dois agentes não têm sentido se
interpretadas literalmente, pois eles são metafóricas: “Monstro” da mãe e “Eu vou te devorar” de Max.
O rosto de Max na imagem é aparentemente fácil de ler: ele está com raiva. Contudo, o âmbito das
emoções é mais complexo, e os leitores são convidados a utilizar a sua própria experiência de vida
e memória emocional para fazerem mais inferências. De maneira explícita, Max está com raiva, mas
implicitamente, ele também é infeliz. Assumimos que ele ama sua mãe porque a nossa experiência
sugere que crianças pequenas devotam amor às suas mães. Nós então inferimos que, já que Max
ama sua mãe e sabe que ela está zangada com ele, ele deve ser infeliz. Além disso, a infelicidade
como uma emoção básica é associada com a emoção social da culpa. Pensamos que Max se sente
culpado porque ele sabe que sua mãe, a quem ele ama, não estará apenas zangada com ele, mas
chateada. Sabemos que perturbar a quem amamos de propósito nos faz infelizes e, talvez, nos faça
sentir culpados. As imagens não tão diretamente sugerem esta longa cadeia de inferências, mas
ainda pode recuperar memórias que evocam emoções relevantes. Tal leitura de estados mentais
“profunda” pode parecer complicada demais para ser viável a todos; no entanto, é exatamente por
causa da natureza ambígua da narrativa visual que várias ordens embutidas estão disponíveis.
Assumimos que a mãe ama Max, porque nossa experiência sugere que as mães amam seus filhos.
Podemos trazer outras experiências em nossa interpretação, como tem sido feito repetidamente, em
especial nas imagens: a de que a mãe incentiva o lado selvagem de Max, dando-lhe uma fantasia
de lobo; que ela descuidadamente lhe permite brincar com objetos perigosos, ou que negligencia os
sinais que tem recebido a partir de seu comportamento agressivo. Esse nível avançado de interpretação pode levar o leitor a acreditar tanto que a mãe não ama Max, quanto que ela não se importa se ele
está feliz ou não. Tal interpretação exige uma maior experiência cognitiva do que o público principal
deste texto pode possuir. Portanto, descartemos essa interpretação e assumamos que o autor quer
que o leitor acredite que a mãe ama seu filho, como ela deve.
O leitor sabe que Max sabe que sua mãe o ama. Esse conhecimento vem de uma afirmação mais
tarde na narrativa referindo-se a “alguém que o amava mais que todos”, inferência de Max sobre os
sentimentos de sua mãe (de terceira ordem). No início da história, o leitor deve evitar a atribuição
de estados mentais temporária: “Max sabe que sua mãe está zangada com ele”, a fim de chegar à
definitiva leitura de estados mentais “Max sabe que sua mãe o ama” (terceira ordem) e depois “Max
sabe que sua mãe sabe que ele sabe que ela o ama” (quinta ordem). A última inferência exige duas
ordens adicionais, e a maioria dos leitores provavelmente não chegará tão longe, mas a profundidade da narrativa certamente permite isso.
Na sequência de imagens seguinte, a leitura de estados mentais é relativamente fácil, uma vez que
Max se torna o único agente, e nós só precisamos ler sua mente. Podemos ver com clareza a mudança
das emoções de Max através de sua expressão facial e postural. Ele está navegando feliz em seu barco,
com medo do primeiro monstro, irritado com o próximo grupo de monstros — enquanto as palavras
não mencionam qualquer das emoções. Além disso, suas emoções são representadas metaforicamente por meio de imagens visuais, os monstros. O texto verbal é totalmente interrompido quando
as emoções se tornam fortes demais, e três páginas sem palavras as transmitem no nível subverbal.
114
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Em seguida, as agressões são moderadas e o humor de Max se altera novamente. Sabemos que Max
está triste por causa de sua aparência física, apoiados pela declaração verbal que ele “estava só”.
Solidão é uma emoção social causada pela separação do objeto do nosso amor. Acreditamos que
Max está triste porque ele pensa que sua mãe ainda está brava com ele, mesmo que as palavras
digam que ele queria estar com alguém que o amava mais do que todos. É dada a nós a escolha de
acreditar que a mãe ainda está brava com ele ou não está mais. Além disso, nós devemos reconciliar
as duas ideias contraditórias: que a mãe pode amar Max e estar brava com ele ao mesmo tempo,
algo que jovens leitores supostamente são incapazes de fazer. Eis uma emoção social complexa (e
permanente) que é confrontada com uma básica e temporária. Presumivelmente, leitores iniciantes
irão optar pela emoção básica. Devemos considerar a coexistência de duas emoções, levando em
conta a possibilidade de Max, como criança, ser incapaz de reconciliá-las. Como não possuímos indicação visual para compreender o que pensa a mãe nós ficamos totalmente dependentes das nossas
habilidades cognitivas e sociais.
De volta a seu quarto, Max está sorrindo, e devemos acreditar que ele está feliz porque ele acha
que sua mãe o ama. O que sua mãe realmente acha que está além de nosso conhecimento, mas é
provável que um leitor imaturo infira que, se ela lhe deu o jantar, ela o ama (com base na suposição
de que uma pessoa que ama alguém quer fazê-lo feliz). A representação simbólica do amor através
da comida tem sido observada repetidamente na literatura infantil. No entanto, a parte preocupante
dessa narrativa é que a mãe deixa a refeição de Max em vez de ficar com ele na sala, dando-lhe um
abraço. Ela, portanto, substitui com gratificação material o envolvimento emocional. Sua ausência
na imagem guia a minha implícita compreensão do estado mental da mãe, proveniente apenas de
suas ações, de que ela é indiferente ao seu filho ou de fato ainda está zangada com ele, o que ele
não sabe, e que um leitor iniciante, provavelmente, não consideraria. Curiosamente, assim como a
narrativa verbal parou quando as emoções de Max se tornaram muito vívidas, a narrativa visual é
cortada quando não há emoções envolvidas. A emoção final que é deixada aos leitores depende de
quanto eles mergulharam nas várias ordens de leitura da mente. Embora Vermeule não afirme isto,
implicitamente, a partir de seu argumento, a qualidade de uma obra literária pode ser julgada pelo
número de ordens plausíveis de atribuições de estados mentais. Onde vivem os monstros, publicado
em 1963, ainda é considerada uma das narrativas multimídias psicologicamente mais complexas.
Presumivelmente, não tanto por conta de sua complexa ordem de atribuição de estados mentais
que só podemos analisar em detalhes agora, com o surgimento de narratologia cognitiva. (Eu argumentaria ainda que a adptação recente para um filme reduziu o número de ordens e, assim, não
conseguiu transmitir a complexidade do livro).
***
Minha intenção neste artigo é mostrar como as crianças podem aprender a atribuir estados mentais
outras pessoas através da ficção e como os textos multimídia, em especial, estimulam essa habilidade de reconhecermos as emoções dos personagens e nos envolvermos com eles, mas sem necessariamente nos identificarmos com eles. Mostrar também como, mesmo em narrativas aparentemente simples, há espaço para várias interpretações de imagens, desde que as palavras não sejam
excessivamente intrusivas. O principal problema ao representar emoções em um texto verbal literário é a linguagem não ser suficientemente adequada para transmitir estados emocionais complexos,
algo que Jacques Lacan e seus seguidores enfatizam, e que narratologistas como Dorrit Cohn (1978)
têm discutido. Estudos mostram que as imagens multimídia são, de acordo com Cohn, subverbais ou
115
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
pré-verbais, pois elas podem tomar a frente quando as palavras tornam-se ineficientes. Assim, textos multimídia oferecem uma boa área de treinamento para habilidades de atribuições de estados
mentais Vermuele (2010) afirma que a compreensão de estados mentais é o principal incentivo para
a leitura ficcional. No entanto, a representação verbal dos estados mentais é, como muitos estudos
narratológicos têm mostrado, incompleta e inadequada. O título de Ann Banfield Unspeakable Sentences (1982) resume o dilema. Eu tentei mostrar que os textos têm forte potencial multimídia para
o sucesso da atribuição de estados mentais. Minha análise de álbuns ilustrados pode ser facilmente
transferidas para o estudo de outras narrativas multimídia, especialmente cinema e videogames (cf
Mackey 2011), enquanto o surgimento de livros ilustrados digitais abre novas possibilidades.
Envio: 5 jul. 2011
Aceite: 10 jul. 2011
116
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Referências bibliográficas
Banfield, A. Unspeakable Sentences: Narration and Representation in the Language of Fiction.
Boston: Routledge and Kegan Paul, 1982.
Blakemore, S-J.; Frith, U. The Learning Brain: Lessons for Education. Londres: Wiley Blackwell,
2005.
Carr, N. The Shallows: How the Internet is Changing the Way we Read, Think and Remember.
Nova York: Atlantic Books, 2010.
Cohn, D. Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton,
N.J.: Princeton University Press, 1978.
Crane, M. T. Shakespeare’s Brain: Reading with Cognitive Theory. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.
Feagin, S. L. “‘How Could You?’: Deeper Understanding through Fiction”. In Gibson et al (eds.).
A Sense of the World: Essays on Fiction, Narrative and Knowledge. Nova York: Routledge, 2007, pp.
55-66.
Gavins, J.; Steen, G. (eds.). Cognitive Poetics in Practice. Londres: Routledge, 2003.
Gibbs, R. W. The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding. Cambridge:
Cambridge University Press, 1994.
Gibson, J.; Huemer, W.; Pocci. L. (eds.) A Sense of the World: Essays on Fiction, Narrative and
Knowledge. Nova York: Routledge, 2007.
Hogan, P. C. Cognitive Science, Literature and the Arts: A Guide for Humanists. Nova York: Routledge, 2003a.
_______. The Mind and Its Stories: Narrative Universals and Human Emotion. Cambridge: Cambridge University Press, 2003b.
Keene, S. Empathy and the Novel. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Mackey, M. Narrative Pleasures: Young Adults Interpret Book, Film, and Video Game. Basingstoke:
Palgrave, 2011.
Nalbantian, S. Memory in Literature from Rousseau to Neuroscience. Basingstoke: Palgrave,
2003.
Nikolajeva, M. The Rhetoric of Character in Children’s Literature. Lanham, Md.: Scarecrow, 2002.
_______. “The Identification Fallacy: Perspective and Subjectivity in Children’s Literature”. In Cadden, M. (ed.). Telling Children’s Stories: Narrative Theory and Children’s Literature. Lincoln, Nebr.:
University of Nebraska Press, 2011.
_______; Taylor, L. “‘Must We to Bed Indeed?’ Beds a cultural signifiers in picturebooks for children”. New Review of Children’s Literature and Librarianship, 2011, p. 2.
Oatley, K. Best Laid Schemes: The Psychology of Emotions. Cambridge: Cambridge University
Press, 1992.
Stockwell, P. Cognitive Poetics: An Introduction. Londres: Routledge, 2002.
Tsur, R. Towards a Theory of Cognitive Poetics. Amsterdam: North Holland, 1992.
117
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Turner, M. The Literary Mind: The Origins of Thoughts and Language. Nova York: Oxford University Press, 1996.
Vermeule, B. Why Do We Care about Literary Characters? Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2010.
Walsh, S. “Irony and the Child”. In Lesnik-Obertein, K. (ed.). Children in Culture, Revisited: Further
Approaches to Childhood. Basingstoke: Palgrave, 2011.
Wolf, M. Proust and the Squid: The Story of Science and the Reading Brain. Nova York: HarperCollins, 2007.
Ficção
Browne, A. The Tunnel. London: Julia McRae, 1987.
Haddon, M. O estranho caso do cachorro morto. Rio de Janeiro: Record, 2004.
Sendak, M. Onde vivem os monstros. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
Tan, S. A árvore vermelha. São Paulo: Edições SM, 2009.
Velthuijs, M. O Sapo está triste. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2004.
_______. O Sapo está com medo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
_______. O Sapo é Sapo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.
_______. O Sapo apaixonado. São Paulo: WMF Martins Fontes, 1998.
118
Infância e memória na leitura perceptiva da ilustração
Childhood and memory in perceptive reading of illustration
Infancia y memoria en la lectura perceptiva de ilustración
Maria José Palo1
Resumo
O objetivo deste estudo é expor de uma concepção de leitura do livro infantil no espaço interativo das relações entre
palavra e imagem. A aproximação dos dois sistemas de linguagem, o ficcional e o ilustrativo, tem o objetivo de descrever
e caracterizar o texto imagético ilustrador. O texto ilustrador tem como função estimular o imaginário infantil e ser o
espaço de memória da leitura perceptiva do livro ilustrado para as futuras gerações de crianças leitoras.
Palavras-chave: infância, interação palavra e imagem, Lewis Carroll.
Abstract
This study aims to conceive an understanding on the reading of children’s literature in the interactive space of relations
between words and images. The approximation of both language systems, the fictional and the illustrative, is a means
to describe and characterize illustrator imagery texts. The main functions of the illustrator text are stimulating children’s
imagination, and being the perceptive reading memory space of picture books for the future generations of children
readers.
Keywords: childhood, word and image interaction, Lewis Carroll.
Resumen
El objetivo de este estudio es el de exponer una concepción de lectura del libro infantil en el espacio interactivo que se
construye en la relación entre palabra e imagen. La aproximación de ambos sistemas de lenguaje, el ficcional y el ilustrativo, tienen como objeto describir y caracterizar el texto en imágenes como ilustrativo. La función del texto ilustrativo es
el de estimular la imaginación infantil y ser el espacio de memoria de la lectura perceptiva de el libro ilustrado para las
futuras generaciones de niños lectores.
Palabras clave: infancia, interacción palabra e imagen, Lewis Carroll.
1. Professora doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Contato: [email protected]
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Être ´devant´ l´image fait partie des grands mythes de notre culture que la représentation picturale a contribué à nous faire prendre
pour une évidence alors que, toujours some ´dans l´image. (TISSERON, 2000-2001:29)
Desde a Antiguidade, a ilustração tem sido entendida como uma pragmática de representação de
fé e verdades míticas, privilegiando a palavra, que até então subordinava a imagem aos emblemas
sustentados como parâmetros culturais de tradição. Esses emblemas influenciaram diretamente a
manufatura das ilustrações, que deles se serviu, ao partilhar a interdisciplinaridade de diversas áreas
de linguagem e ao trocar com elas finalidades específicas.
Uma vez submissa ao ponto comum da interdisciplinaridade, a imagem na ilustração se sujeitava
aos códigos dominantes no sistema social e cultural liderado pelo uso do código verbal hegemônico.
Ante o consequente hibridismo de linguagens, dentre elas, a da Arte, tornou-se difícil reconhecer
o elemento de distinção entre a qualidade artística e o não artístico da ilustração, enrijecida como
estava entre áreas de linguagem e ideologias fixadas na complexa estrutura da imagem. Por conseguinte, a produção do livro ilustrado foi marcada por uma maior ambiguidade em virtude de a criança estar inserida na estrutura familiar, único lugar em que encontrava sua verdadeira identidade de
leitor junto aos adultos. Maurice Sendak o confirma: “[...] there was a time in history when books
like Alice in Wonderland and the fairy tales of George MacDonald were read by everybody. They
were no segregated for children” (SENDAK apud DIOGO, 1994:25).
No evoluir histórico do gosto vitoriano do século XIX, o gênero infantil foi condicionado à legibilidade da criança por sua própria natureza fantasística. Razão pela qual a ilustração do livro só poderia
cumprir as regras dadas pela visualidade em sua produção. Enquanto narrativa ilustrada, as imagens
criadas nesse espaço de leitura da interação com o verbal apenas traduziam a realidade visual, sob
o âmbito da língua e do discurso comum. Com o objetivo de cumprir as regras desse código, o trabalho do ilustrador do livro chamado infantil desempenhava a representação simbólica evocada pela
palavra. Seu único fim era informar e comunicar de modo idêntico a ela, alheio ao texto originado
no espaço das inter-relações palavra e imagem. Por consequência, reduzido a lições de leitura, o
sentido artístico da ilustração também era negado ao leitor, em favor da sua aculturação literal.
Entretanto, em face da ambiguidade dos códigos e das leis da ilustração, a narrativa verbal se projetou sobre a narrativa visual do livro, num sistema aberto pelos códigos independentes da pintura e do desenho. A captação dos índices óticos e plásticos pelo leitor, tanto da pintura quanto
do desenho, em consequência, coloca em questão a prioridade do código verbal sobre o processo
interativo palavra e imagem por meio da leitura ótica e tátil. A razão maior é que, neste contexto de
natureza ficcional, a entrada das estruturas imagéticas impõe a distinção da mediação entre ver a
figura e ler a imagem. Distinção essa que afetou o modo como o ilustrador transforma a palavra em
imagens, as quais narram histórias assim como a palavra. Melhor dizendo, as estruturas ilustrativas
se convertem em imagens discursivas, que não são diferentes das imagens naturais, já que ambas
se equivalem pelo modo como funcionam nos movimentos de uma escrita que tende para um grau
zero do significante.
A bem dizer, esta diferença só ganha equivalências se bem observada no caráter figurativo das palavras-válise (portmanteaux), dos doublets e do nonsense, em uso textual, tanto em Alice no País
das Maravilhas, quanto em Alice através do Espelho (também presentes em seus originais em Língua Inglesa). São alusões verbais e fonéticas híbridas que roçam a paródia e o fantástico, analogias
e recorrências poéticas figurativas, seguindo o exemplo do mestre James Joyce (Humpty Dumpty;
120
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
minsicais; momirratos; grilvos; Liddell e little; fiddle; molasses (melado) e treacle well; triciturno;
gaiolouvo; porverdidos; estriguilar; vertigiros; Lacie (anagrama de Alice), entre outros.
Podemos avançar, um pouco mais, no entendimento do evoluir histórico das finalidades do texto do
ilustrador, conhecendo os usos que ele faz da imagem em deslocamento de sentidos, na medida em
que invade as fronteiras da representação verbal para a cognitiva. Texto esse que é um lugar e não
lugar, ao mesmo tempo, onde vários processos de signos funcionam a níveis diferentes de linguagem que, por consequência, geram um novo tempo de ver no espaço interativo das relações exigido
pela composição ambígua do próprio livro. No tocante à diferenciação figura e imagem, entendemos
que, enquanto a imagem ganha sua distinção como uma ilusão estruturante discursiva, a espacialidade passa a cobrar a existência de uma recepção capaz de ver não só relações, mas também de
interpretar o verbal pela via artística.
A presença de poemas da lírica vitoriana, em especial as canções de ninar (nursery rhymes), em
Através do Espelho (“Dorme, dorme, querida, a tua calma sesta” (LEITE, 1980:233), faz o ritual da
transformação entre os rituais do passado da realeza inglesa e os rituais do presente da Rainha Alice: “E salve a Rainha Alice por trinta-vezes-três” (LEITE, 1980:235). Prosa e poesia, nessas canções,
imbricam um jogo retórico espelhado no discurso e o remete para o mundo das coisas, degenerando
o sentido através dos sons e das letras em figura e imagem. Um dos motivos pelo qual, no texto híbrido, em Alice no País das Maravilhas, estreitam-se criador e objeto criado, confundindo imaginário e
realidade, no presente da escritura acrônica, ritmada e dialogada entre equivalências morfológicas
e sonoras: “Enquanto a Duquesa cantava o segundo verso, agitava o bebê violentamente de um lado
para o outro. O pobre-coitado berrava tanto que Alice mal podia ouvir as palavras da canção:
Falo rude com o pequenino,
Dou-lhe firme quando ele espirra.
Com força, forço-lhe o pepino:
Ele adora a pimenta, irra!
Coro
Urra! Urra! Urra!”. (LEITE, 1980:80)
Todo ato de interpretação das aventuras de Alice, uma vez regido pelas regras de diferenciação entre
dois sistemas, o ficcional e o visual, da figura e da imagem, faz-se interativo no contexto ordenado pelas
relações da hegemonia epistemológica. Essas correlações em interação com outros códigos se efetuam
não mais de modo racional, mas de modo interdiscursivo, ao mesmo tempo em que atribuem um lugar
central ao sujeito. Este passa a ser uma referência do conhecimento. E, uma vez exercitado pela via da
experimentação das relações cognitivas, o sujeito leitor ganha a capacidade de perceber o espaço vivido
na página ilustrada do livro, seu contexto de representação, significação e transformação.
Enquanto na lógica renascentista, a imagem aloca-se na centralidade da figuração pela perspectiva
fixa do desenho, sob um único ponto de vista, na lógica experimental do sistema textual, a figura
visualizada pelo desenho da ilustração passa a exibir o confronto espacialidade versus visualidade.
Espacialidade que deve ser lida como categorias de espaço e lugar prontas à captação pela visibilidade, e, então, ser apreendida além do espaço, no domínio da pluralidade perceptiva sujeita a uma
nova organização do campo da visualidade.
121
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Novos espaços são estruturados nesse campo de sentidos sob uma sintaxe organizacional, e devem
ser completados pela recepção, transpondo o limiar do presente da representação visual, com o
objetivo de irromper espacialidades, visualidades e comunicação. Suas funções não são mais subordinadas à lógica da mimese e ao conhecimento do sujeito sobre o objeto de conhecimento. Agora,
a ordem lógica é rejeitar a imagem enquanto um arquétipo de cultura ocidental patriarcal ao qual
a literatura infantil esteve submissa por séculos. Ela deseja mais integrar-se nesse sistema cultural
como um corpo ou presença corporal de um sujeito com um pensamento reconhecido como tal: “je
pense” toda e qualquer coisa. Além disso, a linguagem pensada deseja ser a imagem de utilidade e
comunicação e ganhar uma leitura de ação social pela via do diálogo, sem distinção entre o ver e o
ler: fazer do significado da linguagem ordinária significações ricas e similares em forma de réplicas
que interrogam o mundo sobre sua verdade.
Tempo e espaço, elementos constituintes de toda narrativa, passam a inserir espacialidades visíveis
no livro ilustrado pela via da percepção, pelos modos de uso das inter-relações figura e palavra que
resultam na tensão do código hegemônico cultural. De modo inverso, ao receber a imagem na reestruturação fabular da narrativa infantil, a ilustração também acolhe em seu espaço essa emergência
de valores utilitários da palavra, que deseja mais mostrar do que narrar, sem dela se prescindir. O
espaço da arte visual já não é mais o espaço ideal; nele, a criança recebe um novo lugar (do Eu) no
espaço representado, como na tela do pintor inglês William Hogarth (o inventor da tira cômica). No
centro de um tabuleiro de xadrez desenhado numa sala, a criança se exibe ao olhar do observador
frente à tela. Ela ganha um lugar de personagem no enredo do quadro, um sistema sem articulações,
o da pintura, e neste pode inventar e subverter o código cultural e ético com os quais coabita pela
ação interpretativa da metonímia.
Além disso, ocorre que, na composição da página ilustrada, a imagem ganha a mobilidade do ler-ver
errático não mais imitativo na reversão da visualidade para a visibilidade; mais do que isso, a imagem
sai do plano da página para contar a história das simetrias, das inversões, da centralidade e policentralidade, dos equilíbrios e desequilíbrios, das anamorfoses. Tudo isso tende, por consequência, a
levar a recepção à percepção de uma nova imagem em outras interações comunicativas que descentralizam o ponto de vista do observador em função de um lugar contextual, “lugar da voz do pensamento”, sendo que “Outrora, a voz se escreveu na linguagem” (AGAMBEN apud OLIVEIRA, 2008:110).
Na leitura das aventuras de Alice no País das Maravilhas (publicada em 1865), e Através do Espelho (publicada em 1871), de Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson 1832-1898), transparece essa
obsessiva ideia de jogo, enigma, trocadilho e paradoxo. A própria frase-monólogo pensada por Alice,
sentada no barranco, ouvindo histórias de um livro infantil lidas por sua irmã, sem figuras nem diálogos, prevê em si a inquietação do autor Carroll por um novo imaginário a ser trabalhado no livro
ilustrado infantil. Ela sugere a presença do dispositivo da imaginação do produtor de um livro de
imagens a serem geradas pela decifração da cultura e da tecnologia do livro ilustrado. Carroll já lançava o “livro com figuras” a serviço de uma leitura inaugural da modernidade e da contemporaneidade da literatura infantil: “E de que serve um livro”, pensou Alice — “sem figuras e nem diálogos?”
(LEITE, 1980:41).
O escritor, matemático, artista e amante de pinturas Lewis Carroll projetou um território gerador
da imagem no plano tridimensional da página do livro em suas histórias, a partir do plano bidimensional. Perspectiva que foi herdada do imaginário artístico, e que atribuiu uma posição espacial à
personagem Alice em suas aventuras em relação às demais personagens, sob uma nova consciência
122
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
de leitura daquilo que vê, comunica e pensa entre “imagens de imagens”. A tríade espaço, imagem
e imaginário passa a ganhar, nessa arena, uma espécie de grau zero semelhante à literatura e às
artes, capaz de anular as fronteiras entre o real e o irreal, na voz de muitos narradores. Abre-se, por
conseguinte, um campo de possibilidades, no qual estruturas linguísticas entram em desvios verbais
mais próximos da linguagem da ficção adequada à verossimilhança do real: “Tantas coisas extravagantes tinham acontecido até então que Alice começava a pensar que quase nada seria realmente
impossível” (LEITE, 1980:44).
As representações imaginárias das aventuras de Alice são os dados transformadores da visualidade
figurativa em visibilidade imagética, ou signos do imaginário coletivo, peculiares à fotografia, signos
que constroem um diálogo das alteridades visíveis e comunicáveis com o receptor. Essas alteridades
são concebidas como consciências de linguagem — “linguagem de outros” (BAKHTIN, 1998:127)
ou uma dialogia de textos que ilustram enquanto lugares de discursos que demarcam as Vozes da
linguagem. Elas são expressões de eventos de significado, ninhos da negatividade ou “berços da
Infância”, lugares de experiência, o “antes da linguagem”. Circuito que faz da infância “a origem da
linguagem e a linguagem na origem da infância” (AGAMBEN, 2008:108).
O novo conceito de espaço da infância, já presente no pensamento e no desejo de Alice de Carroll, seria o agente construtor, interativo e diferencial, modo de ler o mundo moderno, porém, em
ritmo, densidade e velocidade, mutações de narrativas inconclusas e finitas. A fuga da linearidade
figurativa presente nas proezas de Alice aponta-nos, a partir daí, para o caminho não só da reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin, mas também da espacialidade e da relatividade einsteiniana,
entrando em desafio com sua própria história. Agora, as espacialidades passam a ser esquemas
imaginados e percebidos como meios de identificar estados de coisa, esquemas delimitadores do
próprio sujeito observador e intérprete; o leitor criança passa a ser o centro de organização de sua
própria cognição: “Le regard qui tente de maîtriser et d´organiser le monde a besoin de se constituer
como extérieur à ce qu´il voit” (TISSERON, 2000-2001:29).
No sistema ilustrador, os signos podem ser qualquer coisa e tudo que lhes é similar, eles se oferecem
como meio de identificar objetos de parecença com o real do mesmo modo como se estruturam no
pensamento. São signos que se atualizam enquanto invariantes em formas feitas de qualidades de
sentimento infantil: sentimentos, sensações, afetividades, percepções, conhecimentos. Essas qualidades manifestam-se como formas sensíveis com semelhanças selecionadas e inerentes à criança
capaz de apreendê-las do “infantil”, e, principalmente, de si mesma, em sua natureza humana transitória. Nesse mesmo sistema, o leitor criança ganha uma informação e uma prática cultural superior
enquanto leitura de signos ambíguos, verbais e não verbais. São estes os signos que lhe apresentam
sua própria imagem infantil sob um olhar exterior àquilo que vê. Olhar que tem um tempo de ver, ao
abrir-se para a fala, e que atribui ao “eu” um estatuto transcendental, capaz de torná-lo um evento
de linguagem com “essência infantil”.
A fábula clássica do passado, o “fairy-tale”, que trazia enredos de encantos em figuração transparente e correspondente entre o silêncio e a palavra, reinventa-se pela ilustração, e passa a ser mais um
indicador histórico de marcas não verbais e verbais em fragmentação (shifters), ruptura e contraste de alteridades. Na paisagem interior de natureza ficcional revelam-se objetos convertidos para
imagens em devir. Nela, signos verbais e visuais refletem-se a si mesmos na homologia fantasia e
experiência. Todavia, apoiam-se mutuamente enquanto mediações do conhecimento re-assimiladas
pela unidade buscada e conquistada de um lugar no tempo: “o tempo é algo objetivo e natural, que
123
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
envolve as coisas que estão dentro dele como um envólucro (periechón) [sic]: assim como cada coisa
está no lugar, ela está no tempo” (AGAMBEN, 2008:114).
No tocante aos termos infância e memória, falamos de linguagem, da experiência muda perceptiva (“sempre palavra”), experiência que está antes do sujeito, antes da linguagem. Trata-se de uma
experiência muda, no sentido literal do termo, uma in-fância do homem, assim nomeada por Agamben, “da qual a linguagem deveria, precisamente, assinalar o limite” (AGAMBEN, 2008:48). Se o ato
de contar histórias sempre foi um ato humano histórico do sujeito que quer se comunicar com o
Outro, em tempos modernos, o ato de contar é a experiência da linguagem que faz a sua história
por meio do relato. Trata-se da experiência do narrar do Eu, o emissor, para o Outro, o ouvinte. Um
diálogo que outorga o estatuto da diferença ao ato de fabular ou fingir, tanto em perspectiva quanto
em sentido, o que resulta na dominância da polissemia da visibilidade sobre a da verbal — o mostrar
sobre o dizer. É bem nesta experiência dialógica que, ambas, imagem e palavra, devem ser tratadas,
agora, como fenômenos de percepção, memória e cognição, oferecendo seus procedimentos e fins
à identidade do texto ilustrador: lugar de sentido a ser gerado pelo receptor; está aí construído o
lugar da diferença do ser infantil.
Equivalências e interdependências presentes no texto ilustrador em sintaxe plural são privilegiadas
por ganharem uma estimulação informativa de ordem espacial, atuando na interdisciplinaridade
dos dois contextos, o linguístico e o artístico, ao contrapor os dois sistemas de representação à escritura diferencial do texto infantil. Ambos os sistemas subjazem a leitura do livro infantil ilustrado, já
no alvorecer da modernidade da Literatura Infantil. Tempo em que Lewis Carroll se destaca como
escritor e matemático, na consideração de seus comentadores, como um sistema de referências
“sem que se tenha uma noção aproximada, pelo menos de seus interesses na área científica, sobretudo na área das indagações lógicas” (LEITE, 1980:18).
Esta resultante distorção de funções geradas pelas finalidades didáticas, cognitivas e estéticas do
livro infantil ilustrado, quando voltadas para o lazer, entretenimento e fruição envolvem outras
modalidades de leitura, entre o linguístico e o imagético, e uma recepção idealizada. São leituras
que, por sua ambiguidade, selecionam o leitor; este ao ler a lógica do jogo do nonsense é chamado
para ler a linguagem, algo que somente a experiência do “antes da linguagem” (a experiência muda)
pode fazer, pois ela não é só algo que conhecemos, mas “algo a ser descoberto”.
O próprio Carroll, em seu artigo “The Stage and the Spirit of Reverence” (GARDENER, 2002:206-207)
assim se expressa: “palavra alguma tem um sentido inseparável ligado a ela; uma palavra significa o
que o falante pretende dizer com ela, e o que o ouvinte entende por ela, e isso é tudo...”. Com essa
notável declaração, Carroll desautoriza as associações normatizadas do significado das palavras ou
expressões aos escritores em geral, desde que aceitas pela lógica de valor múltiplo, evidentemente,
em defesa da poesia:
Li num livro — disse Alice. — Mas já me recitaram coisas mais fáceis do que isso... acho que foi o Tweeedledee, assim:
O sol brilhava sobre o mar
E brilhava a seu bel-prazer
Caprichando o quanto podia
Para as vagas embranquecer (LEITE, 2008:198).
A declaração de Carroll subentende, a nosso ver, que comunicação e recepção caminham juntas e
trocam funções representativas entre si, comunicam-se, e ambas a palavra e a imagem estruturam
124
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
um texto autônomo que pode dominar sobre o linguístico, chamado de texto imagético ilustrador,
nomeação dada por Thürlemann, conforme o cita Greimas:
O fato de que um texto imagético individual é precedido, com frequência, por um texto linguístico de conteúdo comparável, de que um texto imagético ilustra um texto linguístico, não é um argumento contrário à
autonomia discursiva do texto imagético. Isto porque, mesmo quando o conhecimento do texto linguístico
deve pressupor a compreensão da imagem, não é indiscutível que o sentido do texto linguístico deva ser
precisado ou corrigido por comentários do texto imagético ilustrador (THÜRLEMANN apud SANTAELLA,
1998:43).
A leitura diferencial do texto ilustrador aponta, pois, tanto para novas formas ficcionais de contar
histórias quanto para modos de interação com o texto linguístico, embora o texto ilustrador seja o
único a caracterizar a narrativa verbovisual sob a distinção da linguagem espacial, podendo até mesmo intervir no sentido do texto linguístico. Enquanto sistema textual orgânico e significativo cabe
ao artista ilustrador apresentar também a sua diferença na organização do visível pelo repertório
técnico em uso (cor, formas, desenho, espacialidade), visto que nela reside a qualidade de essência
infantil. A criança ao ler/ver a imagem que narra, torna-a sua enquanto centro de si mesma; desse
modo faz da história do texto ilustrador a história de sua memória de criança. Memórias de Infância
que têm atravessado memórias de outras vozes passadas de fábulas da metade do século XIX ao
século XXI, ou das Alices carrollianas às Alices de hoje.
No plano da espacialidade da cognição e da percepção, as inter-relações palavra e imagem alicerçam
uma memória de leitura da imagem no texto ilustrador, ambas interrogando-se pela equivalência
de suas proposições lógicas, tanto verbais quanto visuais. O desejo de Carroll é dar lugar à mudez
da in-fância por meio da equivalência entre a oralidade, o diálogo e a livre expressão. São elas que
remetem Infância à Memória, uma a outra, em um círculo lógico que vai ao encontro da linguagem
da criança leitor, deixando à margem a cronologia temporal em favor da comunicação e da mensagem. Em seu livro Symbolic Logic, diretamente da bocarra de Humpty Dumpty, Carroll declara: “Em
certo sentido, as palavras são nossos senhores, ou a comunicação seria impossível. Em outro, nós
somos os senhores; se fosse diferente não poderia haver poesia” (GARDENER, 2002:207). Por essa
perspectiva, o Chapeleiro narra à Alice a sua história poética em tempo alinear, sob a ameaça de
morte da Rainha de Copas, àquele que matasse o tempo linear, porque não deseja ler equivalências
lógicas: “Bom, eu mal tinha acabado o primeiro verso, continuou o Chapeleiro — quando a Rainha
saltou e vociferou: — Ele está aqui matando o tempo! Cortem-lhe a cabeça!” (LEITE, 1980:89).
Figura 1: Aventuras de Alice, de Lewis Carroll (LEITE, 1980:129).
125
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Observa-se que, na fábula verbal, o discurso da in-fância muda prepara a origem da fala em muitas
possibilidades de sentido por meio das alteridades do imaginário estimulado pelo visível, expandindo a voz à palavra, e esta ao sensível; é o logocentrismo da imagem recebendo a voz infantil no
seu corpo verbal. Isso porque, vice versa, este logocentrismo pode derivar suas estruturas novas
daquelas da metalinguagem verbal da percepção da imagem, pois sempre contem algo lembrado,
visto que o lembrado tem memória e história. Lidando com semelhanças aparentes, é pela via da
iconicidade que o leitor pode representar uma infinidade de maneiras de apresentar o signo infantil,
sem obedecer a qualquer hierarquia de sentido em detrimento da imagem.
Neste cruzamento logocêntrico entre palavra e imagem, segundo os estudiosos, se poderia pensar
na fundamentação de uma Gramática da imagem baseada na Gramática da língua, pois é fundamental contar com a linguagem na análise da imagem. Com essa mesma intenção, a personagem
Alice faz dos lugares do mundo o seu imaginário para alcançar os entre-lugares do conhecimento
— a meta-cognição. Entre a palavra e a imagem, no texto ilustrador, também são reconhecidas as
diferenças tensivas das linguagens da percepção em atos de ação emotiva. Se os modos de contar,
no texto ficcional, de um lado, fazem o lugar, de outro, a ação faz as personagens por caracterizações
no texto ilustrador, usadas tanto para a descrição externa quanto interna, sendo a descrição visual a
mais eficiente no narrar das aventuras, embora o faça indiretamente:
E assim fez: andou de cima para baixo, deu voltas e mais voltas, mas sempre estava retornando para a
casa, fizesse o que fizesse. E aconteceu, na verdade, que dobrando numa esquina com mais rapidez, não
conseguiu evitar um esbarro na casa.
— Não adianta insistir nisso — Alice falava com a casa e fingia estar discutindo com ela. — Eu não vou
entrar ainda, não vou não. Sei que teria de atravessar o espelho outra vez e voltar à minha velha sala. E
adeus minhas aventuras!” (LEITE, 1980:149).
No país das maravilhas e através do espelho, as Alices, em aventuras de ação e fabulação, tem os
lugares e tempos apontados pelo modo de narrar verbal, cuja fusão tempo-espaço se reduz aos
instantes de eus de linguagem. São eus enunciados pelas fantasias de sua experiência no espaço do
poço, lugar de espacialidades e verticalidades em novo tempo de conhecimento: “Caindo, caindo,
caindo. Essa queda nunca teria fim? Só queria saber quantos quilômetros já desci esse tempo todo!
— disse em voz alta” (LEITE, 1980:42). Neste descontínuo atemporal do cair do poço, desfilam, com
a personagem Alice, os eus”, tanto de conhecimento como de afetividade, que resultam da experiência da união do sensível e do possível num espaço (o poço) que podemos chamar de “poço utópico”,
onde tudo é possível e real, presente e futuro. Nesse poço, tudo tem sua lógica para a personagem
Alice e para as personagens secundárias, excluindo qualquer tipo de narrador visual; resta apenas
a lógica do leitor e sua leitura.
Téoricos modernos das artes, artistas como Picasso, Miró, Kandinsky, Magritte, entre outros, já têm
discutido a imagem no seu pragmatismo pictorial, interrogando na pintura sua equivalência às proposições verbais, ao mesmo tempo em que evidenciam a projeção da linearidade da linguagem no
universo da visibilidade. Fato esse que causou a inversão do princípio estrutural da simultaneidade
da imagem em sua capacidade proposicional — imagem entendida como argumento proposicional.
A imagem no contexto do texto ilustrador funciona também como um argumento de uma proposição verbal, e lê-la significa representá-la e apresentá-la como um fenômeno sígnico, enquanto indicador ou meio de tendência logocêntrica. No fenômeno é que se reafirma a estrutura argumento-predicado na sintaxe das imagens em leitura perceptiva, uma leitura cognitiva de sentido impreciso.
126
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Dá-se, desse modo, a inversão de efeitos que traduzem força verbal em força pictorial ou linguagem
visual, e negam qualquer nexo de causalidade final do verbal, sem apelar mais para os dados dos
sentidos. O que se apreende no processo perceptivo da imagem mais insiste sobre a percepção do
leitor e menos se apresenta aos sentidos: incorpora-se ao pensamento do leitor de modo sincrônico
e, pela via da atenção, integra-se a sua mente enquanto ação de conhecimento, pensamento e linguagem. Alice bem nos revela seu desinteresse pelo pensamento explicativo ao narrar acrônico de
suas aventuras ao Grifo:
E o Grifo acrescentou: — Vamos, vamos! Agora queremos ouvir algumas das suas aventuras.
— Eu podia contar minhas aventuras... começando desde hoje de manhã — começou Alice um pouco hesitante. — Mas não vale a pena contar desde ontem, porque eu era uma pessoa diferente (LEITE, 1980:116).
Imagens têm o potencial de preencher o critério de uma estrutura proposicional na frase narrativa
ou poética. Sua natureza de vagueza (vagueness) não confirma nem mensagens verdadeiras nem
falsas — imagens são plurais e não impõem verdades a serem lidas como argumentos gerais contra
o conhecimento contextual, co-textual e cultural. O filósofo norte-americano Charles S. Peirce nos
esclarece sobre a questão negativa e vaga da imagem que a distingue do objeto real, com a seguinte asserção: imagem é “algo do qual todo caráter possível, ou o negativo, deve ser verdadeiro” (CP
5.299 apud PALO, 1998:155-8). A imagem é um conjunto de formas apresentadas pelo sensível, pelo
oculto, pela negatividade de perceptos ou um feixe de aspectos de sensações indefinidas. Estas sensações não se dirigem ao desconhecido e ao misterioso, que, uma vez trazidas à luz, ganham continuidade, temporalidade e sentido. Desse modo, a imagem insere sua fenomenalidade no campo das
representações para ganhar sentidos futuros de uma inferência hipotética: ela é forma, qualidade,
sentimentos, mediações ganhando movimento e acompanhadas de sensações. Em Arte da Criação,
defendemos este pensamento:
No pensar de certos teóricos da arte, não podemos adotar o conceito de imagem enquanto uma falsa
noção unificadora. E, muito menos, não nos cabe nela mostrar as diferenças entre imagem verbal e mental. Apenas podemos nos referir às imagens perceptivas na Arte Visual, enquanto mediações sígnicas de
dados dos sentidos, dados sensoriais, uma imagem em movimento acompanhada de outras sensações
(PALO, 1998:158).
Imagens em geral não têm nem precisão nem certeza, e não apresentam qualquer valor epistêmico:
são perceptos mudos, sensações, afecções, qualidades que demandam a atenção indicial do observador para significar. No texto ilustrador infantil, todos os tipos de signos materiais ou mentais, imaginados ou sonhados são mediações reguladas pelo princípio da semelhança e do conceito de figura
e descrição (mostram-se). Sua imagem é um vetor de atualização, mediações de possibilidades de
conhecimento por ela pensadas e representadas: “a realidade devolve ao fenômeno pensado ou
reproduzido na imaginação da criança a condição para que se torne sujeito de um pensamento (IL =
ELE), sujeito à predicação e portador de matéria” (TIENNE, 1996:248-9).
O que interessa à leitura das relações palavra e imagem no texto ilustrador sob o sentido dado
pela dimensão fenomenológica do sujeito é pensá-las como objetos de imaginação e “saber apenas
como estes são feitos” pela representação que prescinde da coisa e da forma. Sua leitura se refere
aos novos modos de perceber um objeto, de observá-lo, de atualizá-lo e de significar conteúdos
perceptivos, à semelhança da reinvenção do trabalho do artista ilustrador. É o ilustrador quem faz
da palavra uma imagem (ilustração) e da imagem uma palavra sugestiva (ekphrase). São duas pers127
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
pectivas de um objeto recriado a serem preenchidas pela regra da disposição própria do processo
criador, em saltos sacádicos relacionais de similaridade: são hábitos criadores da leitura sensível
da ilustração da forma, deslocando o tempo da significação à frente, no sistema textual ilustrador
interpretativo e autônomo.
Na leitura da imagem ilustrativa do livro para crianças, entendemos que tanto as mensagens verbais
quanto as pictóricas devem ser interpretadas dentro de um contexto mais amplo. Visto que as imagens podem ser fiéis ou infiéis à realidade, no sistema ilustrativo significativo contínuo. Interpretar
deve ser uma ação entendida como uma mediação entre recepção, aprendizado e interpretação,
que tem e teve sempre a escola como um lugar de legitimação do uso didático do livro, com o objetivo de ganhar emancipação e saber.
Sem dúvida, há uma mistura entre os paradigmas da imagem que na moderna ilustração do livro
infantil ganham atualidade no texto, ao conceber “el texto como el lugar donde el sujeto se produce
com riesgo, donde el sujeto es colocado en processo y, com él, toda la sociedad, su lógica, su moral,
su economia” (PERRONE-MOISÉS apud PALO, 2007b:55). Esse fato se deve ao processo de criação do
artista ilustrador, o primeiro leitor perceptivo do texto, que resultará no “modo como ele percebe o
mundo” e, principalmente, “no modo da imagem que tem do seu mundo”.
Todavia, cabe ao receptor perceber, imaginar o objeto singular e existente na realidade, seja figurativo ou não figurativo, ao concentrar-se na materialidade da imagem, em sua natureza qualitativa,
sensível, vaga e livre de qualquer esquema composicional. Não se esquecendo de que é pela via
perceptiva que esses dados são substituídos pelos signos que substituem o objeto do real, representam-no, porém, sem jamais chegar a sê-lo em sua totalidade. Os índices apreendidos pela leitura
atenta do texto ilustrador mostram ao leitor o seu duplo objeto, palavra-e-imagem, em trabalho de
ação do signo pensamento.
No texto ilustrador, por conseguinte, o campo de forças é o das inter-relações palavra e imagem, ele
é diferenciado do contraponto tempo e espaço linear, e jamais coincidente nas relações espaciotemporais da imagem: a imagem visual é o texto mimético, a imagem verbal é o texto diegético narrativo, um segundo texto, sua metalinguagem. Nesse texto híbrido esquemático, o ilustrador pode
descobrir soluções proposicionais como lógicas úteis para descrever dimensões espaciais. Nele a
interação da palavra-e-imagem também faz o jogo com as regras de transformação de seus próprios
códigos, pois desempenha a metalinguagem verbal da percepção da imagem. Cada uma inventa sua
gramática verbal e imagética, ao mostrar, descrever, apresentar e representar o objeto imaginado
do real, em “instâncias prioritárias ou secundárias”. Palavra e imagem cumprem seu código, uma em
face da outra, embora imagens estimulem motivação e atenção voltadas para processos de aprendizagem. Entendemos como necessário distinguir essas instâncias, uma da outra, no testemunho de
Sophie Van der Linden:
Tal distinção implica a ideia de primazia e prioridade do texto ou da imagem. No livro ilustrado, é possível
definir uma regra a priori. Cada obra propõe um início de leitura quer por meio do texto, quer da imagem,
e tanto um como outro pode sustentar majoritariamente a narrativa. Se o texto é lido antes da imagem e
é o principal veiculador da história, ele é percebido como prioritário. A imagem, apreendida num segundo
momento, pode confirmar ou modificar a mensagem oferecida pelo texto. Inversamente, a imagem pode
ser preponderante no âmbito espacial e semântico, e o texto ser lido num segundo momento. Vou empregar, portanto, os termos “instância prioritária” e “instância secundária” (2O11:122).
A leitura perceptiva é capaz de “captar contrastes expressivos elementares que pertencem aos cam128
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
pos cor e forma” (THÜRLEMANN apud SANTAELLA, 1998:43), e que o leitor criança detecta enquanto
diferença na articulação pictorial, ao abrir, nesses vazios, paradigmas de legibilidade e de articulação
pelo verbal: “Portanto, é o discurso verbal sobre a pintura que permite sua articulação e a constitui
como um todo significante” (MARIN apud SANTAELLA, 1998:101). Do que se pode deduzir que, no
campo interativo palavra-e-imagem, na ilustração, a palavra é imprescindível para tornar o signo
imagético visual significativo pela própria diferença. Lê-lo enquanto significante para encontrar o
caminho dessa diferença, o que reclama uma leitura distinta entre ambas, tanto do ponto de vista
objetivo quanto subjetivo — a leitura perceptiva.
O sistema textual ilustrador é um sistema complexo de variáveis resultantes do cruzamento de elementos artísticos e verbais, no qual vigem sistemas distintos de oposição tanto do nível de expressão
quanto do nível de homologias binárias. Estas oposições tornam complexo o texto ficcional infantil,
mais significante que significado, suscitando a leiturabilidade entre dois tipos de textos (FERRARA,
2007:94):
De acordo com Flusser (2002:21) existem dois tipos de textos: o das linhas escritas e o das superfícies. O
texto das linhas escritas corresponde ao alfabeto ocidental e se caracteriza pelo processo sequencial de
leitura. Já o das superfícies representa o mundo das imagens, exemplo da fotografia, pintura e cartazes.
Na linha escrita, captamos a mensagem conceitual, na superfície apreendemos a mensagem de imediato a partir de um pensamento imaginativo, com base no sentido da visão e nos demais sentidos.
Agora, é o olhar movente, livre, líquido e errático que seleciona a interpretação subjetiva da leiturabilidade, entre os códigos diversos de construção e a mensagem prevista.
A partir desses modos de inscrição das associações no sistema textual ilustrador ou por reconhecimento ou comparação, o receptor é estimulado à leitura de passagem do visual para o visível, ou
seja, da visualidade em ato de visibilidade, atingindo graus de leiturabilidade de um texto híbrido e
metalinguístico. Trata-se, agora, de construir um tempo de leitura de mediações, que exige atenção
e reação do leitor para formar novos hábitos artísticos interpretativos. O olhar artístico edifica o
tempo da leitura perceptiva, entre instantes lembrados pela memória involuntária no ato de percepção do objeto pensado e conhecido.
Temos enfatizado, na leitura perceptiva, uma memória de vozes refratantes ou alteridades que busca o ter-lugar da linguagem, enquanto conexões de atos indicativos da enunciação da narrativa ou
instâncias do discurso. São esses os lugares de negatividade que a voz narrativa constrói nas dobras
da expressão do pensamento e da linguagem, pela palavra e pela imagem em interdependência fabular (mostrar (indicar) e dizer (narrar). Aqui, o signo é objeto de um escrever que se apresenta e se
reescreve e é também meio de representação. São duas funções entre dois planos simultâneos da
representação: é o que se depreende do momento em que Alice ouve a estória narrada pelo Rato em
forma de uma cauda, o verbal e o não verbal unidos, dois ícones carrollianos que ganham estruturas
isomórficas (olho e ouvido): o rabo do rato e o sorriso do gato de Cheshire. São aproximações da
linguagem em representação das estruturas do mundo visível e sonoro, a ocupar o lugar da negatividade do pensamento criador encarnado no campo descritivo textual. Observe-se a citação a seguir:
Olhou em volta procurando algum meio de escapar dali, e se perguntava se poderia sair sem ser vista,
quando subitamente notou uma curiosa aparição no ar: isso a princípio intrigou-a bastante, mas, depois
de observar durante algum tempo percebeu que era um sorriso, e disse para si mesma: “É o Gato de
Cheshire. Agora tenho com quem conversar.
129
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
— Como é que está indo? — perguntou o Gato, assim que teve boca suficiente para falar” (LEITE, 1980:98).
Essa memória de vozes tão desejada pela linguagem é também objeto de afetividade do leitor e do
autor, objeto de seu afeto, lembrado e imaginado, imagens infantis ou objetos vagos da Memória da
Infância que estão à espera de ação presente. Na ação do narrar, eles ganham a materialidade ficcional como correlatos dos objetos da realidade feitos signos afetivos, sob visões que oscilam entre polos
opositivos conceituais. Segundo as teses de Langer, imagens representam holisticamente e designam
singularidades (LANGER apud SANTAELLA, 1998:44), mas para Janney & Arndt “as imagens atuam
mais fortemente de maneira afetivo-relacional, enquanto a linguagem apresenta mais fortemente
efeitos cognitivo-conceituais” (JANNEY & ARNDT apud SANTAELLA, 1994:44). Em síntese, imagens
apresentam informação espacial sugerindo determinados processos de aprendizagem da leitura, os
quais são aperfeiçoados por uma crescente busca de iconicidade ou contemplação ativa e atrativa, que guarda em si afetividades, que a aproximam do verbal poético visualizado pela imaginação.
Assim diria Humpty Dumpty: “‘Por falar em poesia, sabe’, [...] estendendo uma de suas grandes mãos,
‘posso recitar poesia melhor que ninguém...’: — O poema que vou declamar — prosseguiu ele sem
nem se dignar ouvir o comentário dela — foi escrito unicamente para deleitá-la” (LEITE, 2008:196).
Nas aventuras de Alice através do Espelho, este engajamento à concretude da imagem inominável e
realista se manifesta em diálogos e esboços desconexos e alternados com o texto ilustrador narrativo, porém, de intensa e reiterada visibilidade descritiva e poética:
Alice ficou olhando o Bicho-de-pau-para-toda-obra com o maior interesse, e concluiu que ele acabava de
ser repintado, tão lustroso e pegajoso era o seu aspecto. Depois continuou.
— Tem também a Lagarta-de-fogo.
— Olhe para o galho acima de sua cabeça — disse o Mosquito. — Lá está a Lagarta-de-Fogo-de-palha. O
corpo seco e quebradiço, se inflama com a maior facilidade, mas as chamas se apagam.
— E se alimenta de quê? — indagou Alice, como antes.
— De pudim flambado — respondeu o Mosquito. (LEITE, 1980:164)
Figura 2: Alice, de Lewis Carroll e Martin Gardener (2002:162).
Nessa citação observa-se que em níveis de sentimento, afetividade e surpresa, a leitura verbal do
texto ilustrador em sua “singularidade infantil muda” aguarda sempre uma tradução do visível que
lhe impregne uma lógica surpreendente, por meio da função construtora da leitura da criança. Traduzir signos verbais em imagéticos é um processo abstrativo de signos que deverá partir do real para
ganhar a síntese da generalidade sob recreações amáveis da mente: “Sua livre manifestação gera
caracteres imaginários sob um poder moldado por recreações amáveis da mente” (PALO, 1998:156),
visto ser a imagem aquela que insere a fenomenalidade no campo das representações, sempre
130
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
incluindo nele o da representação verbal.
O objeto de afeto lembrado ou imaginado pela criança enquanto imagem ilustrada faz do ato da leitura do texto ilustrador um gênero chamado Literatura Infantil pelas correlações entre a polissemia
pictorial e a verbal, ao mesmo tempo em que modaliza a qualidade da imagem como um correlato
de Infância tornado Voz. Voz que, para Agamben, é pura temporalidade: “À pergunta ‘o que existe
na voz?’ a Filosofia responde: nada existe na voz, a voz é o lugar do negativo, é Voz, ou seja, pura
temporalidade” (AGAMBEN, 2006:60).
Entre memórias em correlação espacial de gerações de leitores, do passado ao futuro de um presente, em paralelos de espiral temporal, essa voz-leitor-criança, sem idade cronológica, vive as idades
da leitura perceptiva (PALO, 2007b:56), e só tem um desejo: o sonho de ir ao encontro de um lugar
de Outrora, “onde a voz se escreveu na linguagem da sua natureza infantil”.
Ver o objeto de afeto imaginado significa criar uma percepção particular e não o seu reconhecimento, pois o observador deverá vê-lo tal como ele é sem deformá-lo. Como primeiro observador,
o narrador ou o ilustrador não chama o objeto pelo nome (a exemplo de Carroll), mas o descreve
considerando a diferenciação que a percepção instaura enquanto comportamento ou novo hábito
de apreender o real. Alterar a idade do leitor perceptivo significa mudar o hábito de ler sob uma
lógica que identifica a nova linguagem feita de complexidades e de hierarquias nas inter-relações
palavra e a imagem.
O teórico das interartes Kibédi-Varga (1989) afirma em seu artigo “Criteria for describing Word-and-image relations” que a mímese faz na pintura em relação à literatura; para ele sempre são as letras
separadas das outras que compõem as palavras que devem ser decifradas, a partir de uma morfologia da palavra-imagem. Se nas imagens figurativas, a palavra imita a imagem, nas não figurativas ou
abstratas, a imagem fala por si só: é a própria Voz na instância do discurso infantil, “todo o enredo
de cabo a rabo”, a exemplo do poema-história visual do Rabo do rato (apresentado, aqui, em formas
editadas pela Editora Martin Gardener, 2002, única edição de todas as formas ilustrativas publicadas
do poema icônico do rabo do rato) e Jaguadarte.
Figuras 3 e 4: Alice, de Lewis Carroll e Martin Gardener (2002:32-33).
131
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
A leitura perceptiva das Alices carrollianas inova uma orientação de leitura sob outra acepção de
Infância, que já traz consigo uma concepção de identidade para a literatura infantil com novo perfil.
A transferência de um objeto para a percepção do observador detém nela uma imagem ou não imagem em variações semelhantes. De forma análoga ao real, a metáfora é que a toma emprestada ao
mundo sensível, entre o que é ou não é imagem — esta metáfora pode definir uma possível pedagogia do texto ilustrado e as normas de sua hierarquia. Aqui, o termo “infantil” é um adjunto sob
sinônimos: “o mundo como é ou deveria ser” em forma de um relato ficcional imaginário.
— Que espécie de coisas? — disse a Rainha, olhando por cima do livro (no qual Alice tinha escrito “O Cavaleiro Branco desliza pelo atiçador. Seu equilíbrio não é dos melhores”). — Mas isso não é um relato do
que você sentiu? (LEITE, 1980:145)
Figura 5: Alice, de Lewis Carroll e Martin Gardener (2002:155).
Para Alice, o relato do mundo deveria ser de modo semelhante ao mundo das maravilhas ou ao
mundo dentro do espelho — lugares nos quais a imagem ou quase signo dura enquanto percepções,
em variações semelhantes ou análogas ao real. Na proposição objetiva de Valéry, encontramos seu
melhor sentido: “Diria que o que existe de mais real no pensamento é o que não é a imagem ingênua
da realidade sensível” (VALÉRY, 1991:41). Este objeto negativo percebido só é conhecido na descontinuidade de uma vida em fragmentos que apaga as diferenças entre o que é e o que não é imagem,
no diferencial do texto ilustrador, texto dentro de texto, do mesmo modo como acontece no sonho
de Alice, sonho dentro de sonho. Leiamos esta inferência hipotética, em outra versão, no entremeio
da simulação da forma analógica:
Da convivência com a história-sonho de Alice e sua irmã, o intérprete experimenta um desempenho lúdico, jogando com o regrado da linguagem escrita, agora com suporte sintático em signos de natureza predicativa, a imagem, no entremeio da simulação e da concretização da forma analógica (PALO, 1987:191).
Ludismo, jogo, simulação, analogias arquitetam o sonho de Alice em trabalho de experimentação de
histórias sonhadas, indicando novos hábitos de interpretação na forma de aprendizado sustentado
pela consciência de síntese. O pensamento inferencial é o que está em aplicação experimental de
modo a produzir efeitos possíveis no leitor, criar nele hábitos de imaginar, ou seja, aumentar-lhe a
132
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
compreensão de predicação pela relação de uma lógica que possa metamorfosear a vida:
Como é o seu nome, jovem? — Meu nome é Alice, para servir à Vossa Majestade — disse Alice com
polidez; mas acrescentou a si mesma: “Ora eles são apenas um baralho de cartas, no fim de contas. Não
preciso ter medo deles”. (LEITE, 1980:95)
Figura 6: Alice, de Lewis Carroll e Martin Gardener (2002:79).
Em processo experimental, representação e mediação se conectam, no qual a imagem analógica ou
icônica recebe as verdadeiras qualidades de uma coisa, melhor dizendo, recebe uma representação
feita de semelhanças em seu corpo de figura e imagem, uma metamorfose. Entre o ilusório e o real,
Alice pode diferenciar seus sentimentos pelo modo como estão na imaginação. Ao romper o tempo
cronológico, abre-se um espaço do narrar para o possível de uma hipótese — SE —, enquanto seu
sonho assemelha-se àquilo que jamais contemplou em sua experiência de infante: o estranhamento
diante das maravilhas da imaginação em livre expressão.
Agora, podemos entender a razão pela qual a Alice das maravilhas e de através do espelho, de
Carroll, acordou de um sonho espacial e atemporal para ter-ser o lugar de uma nova realidade no
discurso de um livro ilustrado, “com figuras e imagens”. Alice sonhou com o texto ilustrador metalinguístico que tange as estruturas de uma poética analógica infantil, fundindo Voz e Palavra para
serem “memória de imagens às Alices leitoras”, de hoje, sonho de estranhas aventuras. Uma combinação de concepção com sensação de esquisito e significação, entre o sonhar e o acordar. Leiamos
a citação:
Viu-se então deitada no barranco com a cabeça no colo da irmã, que delicadamente afastava do seu rosto
algumas folhas mortas que haviam tombado da árvore.
— Acorde, querida Alice!— dizia sua irmã. — Mas que sono pesado você teve!
133
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Figura 7: Alice, de Lewis Carroll e Martin Gardener (2002:97).
— Ah, eu tive um sonho tão esquisito! — disse Alice. E pôs-se a contar à irmã, até quanto podia se lembrar,
todas essas estranhas Aventuras que vocês acabaram de ler. (LEITE, 1980:130)
Acrescentaria, ainda, ao pensamento criador do autor Lewis Carroll, a intenção latente de formar
uma consciência interpretadora de relações entre todas as formas manifestas da Arte e a Literatura
Infantil, numa escritura das aventuras de Alice. Sua história não é mais página contígua, mas espacialidades geradas entre relatos das páginas do livro, com as marcas textuais da memória perceptiva
(de Alice e da criança leitora de sempre), cuja recepção se qualifica como imersiva e estrutural. Ao
combinar emoções, sensações, memórias e percepções em mediação com o mundo objetivo, uma
consciência de síntese emerge de um aprendizado de leitura imersa em um diagrama de relações
inferenciais constitutivas do objeto de conhecimento que apenas busca as conexões internas da leitura perceptiva para tornar-se fato.
Mesmo sem a menor partícula de sentido, a verdade sonhada por Alice no “quando e no enquanto”
compõe formas de possibilidade de uma realidade que “pode e não pode existir”, e que no texto
ilustrador, entre dois sistemas, o da palavra e o da imagem existem realmente. Hipótese que é reafirmada pela palavra do próprio Rei de Copas, sua alteridade maior, ao enfatizar o sentido da linguagem sobre a língua, com autoridade de lei, à Alice: “— Se não existe sentido neles (os versos) — isso
nos poupa um grande incômodo: não precisamos procurar nenhum sentido. E no entanto não sei
[...] — eu diria que existe algum sentido neles, no fim de contas” (LEITE, 1980:128).
Algum “sentido, no fim de contas”, sim, ao ignorar a sequencialidade da história narrada, fingindo
traduzi-la, ao resgatar o sentido primeiro da imagem de um conto-sonho que acaba de se tornar um
presente vivido, “Longe”.
“E você, quem é que você acha que sonhou?...
Longe. A vida o que é, senão sonho?”
Envio: 11 ago. 2011
Aceite: 15 set. 2011
134
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Referências bibliográficas
AGAMBEN, Giorgio. Infância e História: destruição da experiência e origem da História, trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
A linguagem e a morte: um seminário sobre o lugar da negatividade, trad. de Henrique Burigo. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
_______.
DIOGO, Américo António Lindeza. Literatura infantil: História, teoria, interpretações. Portugal: Porto Editora, 1994.
FERRARA, Lucrécia D´Aléssio. Ver a cidade: cidade, imagem, leitura. São Paulo: Nobel, 1988.
_______ (org.).
Espaços comunicantes: Grupo ESPACC. São Paulo: Annablume, 2007.
GARDENER, Martin (intr. e notas); Carroll, Lewis. Alice: edição comentada – Aventuras de Alice
no País das Maravilhas e Através do Espelho, il. John Tenniel, trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.
PALO, Maria José. Arte da criação: dos manuscritos de Charles S. Peirce aos escritos de H. Matisse.
São Paulo: Educ, 2006.
_______.
“A consciência de um processo: a prática semiótica do sentido”. In OLIVEIRA, Ana Cláudia de;
SANTAELLA, Lúcia (orgs.). Semiótica da literatura, série Cadernos PUC 28. São Paulo: Educ, 1987.
_______. “Ilustración: el doble estatuto de la relación palabra e imagen”, Cuadernos Literarios, año IV,
n. 7. Peru: Fondo Editorial UCSS, 2007a. p. 115-26.
_______. “El perfil de la identidad de la literatura infantil”, Riesgo de educar – Revista de la Universidad
Católica Sedes Sapientiae, Peru, ano 2, n. 4., 2007b, p. 53-61.
_______;
OLIVEIRA, Maria Rosa de. Literatura Infantil: voz de criança. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006.
PUCHEU, Alberto (org.). Nove abraços no inapreensível: filosofia e arte em Giorgio Agamben. Rio
de Janeiro: Beco do Azougue/Faperj, 2008.
LEITE, Sebastião Uchoa (org. e trad.); Carroll, Lewis. Aventuras de Alice. 3 ed. São Paulo: Summus, 1980.
LINDEN, Sophie Van der Linden. Para ler o livro ilustrado, trad. Dorothée de Bruchard. São Paulo:
Cosac Naify, 2011.
NIKOLAJEVA, Maria; SCOTT, Carole. Livro Ilustrado: palavras e imagens, trad. Cid Knipel. São Paulo:
Cosac Naify, 2011.
TIENNE, André de. L´ Analytique de la représentation chez Peirce: la gènese de la théorie des catégories. Bruxelas: Facultés Universitaires Saint-Louis, 67, 1996.
TISSERON, Serge. “Les Images, du tactile aux fonctions de la peau”, Visio – Revue de l´Association
Internacionale de Sémiotique Visuell (AIS), n. 4, v. 5, Inverno, 2000-2001, p. 29.
SANTAELLA, Lucia; NOTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras,
1998.
VALÉRY, Paul. Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1991.
135
Lire l’album, entre texte, image et support
Ler o álbum, entre texto, imagem e suporte
Reading picturebook, between text, image, and support
Leer el libro álbum, entre texto, imagen y soporte
Sophie Van der Linden1
Tradução de Leonardo P. Almeida2
Résumé
À l’occasion de la parution de « Lire l’album » dans sa traduction au Brésil, Sophie Van der Linden revient sur la démarche qui fut la sienne pour l’élaboration de son ouvrage théorique consacré au fonctionnement interne de l’album. Elle
rappelle d’abord la spécificité de la production européenne et particulièrement française, conditionnée par le lien étroit
qui existe entre littérature pour la jeunesse et sphère artistique. Ceci car sa démarche s’appuit sur la singularité des
œuvres. Sa théorie est effectivement bâtie à partir des œuvres mêmes. C’est pourquoi elle revient ensuite sur les grands
cas particuliers que présentent ces œuvres en s’appuyant sur des exemples en images.
Mots clés: théorie de l’album, critique de l’album, relations texte et image.
Resumo
Fruto da palestra realizada na Jornada “Livro ilustrado: palavra e imagem em debate”, em junho, por ocasião do lançamento da obra Para ler o livro ilustrado no Brasil, este texto retoma a abordagem que Sophie Van der Linden utilizou em
sua obra teórica consagrada sobre o modo de funcionamento interno do álbum ilustrado. Ela lembra a especificidade da
produção europeia, e particularmente a francesa, condicionada pela forte ligação que existe entre a literatura infantil e
a esfera artística. Tal abordagem se apoia na singularidade das obras: sua teoria é de fato construída a partir dos livros.
Esse é o motivo pelo qual ela retorna aos grandes casos específicos que apresentam obras se apoiando nas imagens.
Palavras-chave: teoria do álbum, crítica do álbum, relações entre texto e imagem.
Abstract
Originated in the lecture that took place in the seminar “Picturebook: word and image on debate”, on the occasion of
the release of the book Para ler o livro ilustrado [Reading picturebooks] in Brazil, this article remounts Sophie Van der
Linden’s approach in her renowned theoretical work about the inner workings of picturebooks. She recollects the European production’s specificity, mainly French, conditioned by the strong bond between children literature and arts. Such
approach is based in the picturebooks’ singularity: her theory is in fact constructed from the picturebooks. And this is the
reason why she leans on great paricular case-studies that present picturebooks using the image examples.
Keywords: picturebook theory, picturebook criticism, text and image relationships.
1. Ex-diretora do Institut Internacional Charles Perrault, onde criou a primeira Université d’été de l’image pour la jeunesse, e chefe de
redação da revista Hors-Cadre(s). Contato: [email protected].
2. Editor da Leitura em Revista e professor adjunto do curso de psicologia da SFC/UFF.
Resumen
Fruto de la conferencia realizada en la Jornada “Libro Ilustrado: palabra e imagen en debate”, en junio, en ocasión de la
presentación del libro Para leer el libro ilustrado en Brasil, el cual retoma la perspectiva que Sophie Van der Linden utilizó
en su obra teórica consagrada sobre el funcionamiento interno del libro álbum. Van der Linden recuerda la especificidad
de la producción europea, particularmente la francesa, condicionada por la fuerte relación que existe entre la literatura
infantil y el campo artístico. Este abordaje se apoya en la singularidad de las obras: su teoría es de hecho construida a
partir de los libros álbum. Ese es el motivo por el cual ella regresa a grandes los casos específicos que presentan obras
apoyándose en imágenes.
Palabras clave: Teoría del álbum, crítica del álbum, relaciones entre texto e imagen.
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Lire l’album, entre texte, image et support
Comment analyser l’album ? Quels outils mobiliser pour cet objet qui emprunte aussi bien à la littérature qu’à l’illustration, à l’affiche qu’à la bande dessinée ou au cinéma ? comment construire une analyse qui ne soit pas le résultat d’un jonglage malhabile de théories empruntées à ces différents médias ?
Pour analyser l’album il faut connaître la narratologie ou la sémiologie notamment. Mais cela n’est pas
suffisant. Très tôt, j’ai compris l’absolue nécessité d’une théorie dédiée à l’album qui parte absolument
de la singularité de sa production et qui se construise à partir des œuvres elles-mêmes. Et, en France,
cette production, particulièrement au tournant du XXIème siècle, est très libre et diversifiée.
Pour comprendre cette production, il faut d’abord rappeler le travail déterminant mené par quelques éditeurs depuis la seconde moitié du XXe siècle (pour ne s’en tenir qu’aux sources directes de
la production contemporaine). Robert Delpire, éditeur de livres de photographie, directeur d’une
agence de communication a donné l’impulsion à l’album contemporain, en publiant en 1956 Les Larmes de crocodile d’André François, un ouvrage dont l’originalité de la narration, l’attention apportée à
l’ensemble des composantes du livre, jusqu’à la typographie, augure de la priorité donnée à l’image,
de la dimension graphique de l’album et de sa proximité avec le livre d’art. L’Ecole des loisirs, l’éditeur
d’albums le plus important en France, s’inspirera grandement de la démarche de Robert Delpire.
C’est également au cœur des années 1960 que naît le projet éditorial de François Ruy-Vidal (un français)
et Harlin Quist (un américain) qui conteste le cloisonnement de la littérature pour la jeunesse avec la
littérature générale. Les livres publiés favorisent l’émergence d’une image inattendue, s’adressant à la
« nature première » du lecteur. En confrontant le langage plastique de jeunes illustrateurs, innovants,
aux textes littéraires de grands auteurs contemporains (Eugène Ionesco, Marguerite Duras), ces publications ont ouvert la voie à la collection « Enfantimages » développée par Pierre Marchand, fondateur,
avec Jean-Olivier Héron, du département jeunesse des prestigieuses éditions Gallimard en 1972.
Dans les années 1970 et 1980 à leur suite, de petites maisons d’édition explorent de nouvelles voies
pour l’album, qui développent des partis-pris narratifs et esthétiques audacieux en faveur d’œuvres
fortes et singulières. Le marché de la petite édition est d’ailleurs aujourd’hui toujours aussi florissant
en France et continue de se poser à l’avant-garde de bien des créations.
Les années 1990, quant à elles, voient l’apparition de démarches éditoriales qui achèveront cette
révolution de l’image dans le livre pour la jeunesse. En 1993, Jojo la mache inaugure une collection
d‘albums aux Éditions du Rouergue dont l’auteur, Olivier Douzou, devient le directeur. Priorité est
alors donnée au visuel et toute une génération de graphistes investit le secteur.
Parallèlement, Le Seuil Jeunesse élabore l’un catalogue les plus dynamiques des années 1990 et
2000 et publie des artistes, Kveta Pacovska, Paul Cox, Hervé Tullet qui s’emparent du livre pour
enfants en tant que forme d’expression artistique à part entière.
Au tournant du XXIe siècle, les jeunes éditions Thierry Magnier font paraître Tout un monde, de Katy
Couprie et Antonin Louchard, que l’on peut voir comme l’aboutissement de ces évolutions valorisant
le langage visuel, développant les techniques et les styles, frayant avec la création artistique contemporaine et promouvant de nouvelles formes narratives et esthétiques.
Dès lors, en France, priorité sera donnée au visuel. Il en résulte une vision kaléidoscopique, bigarrée, éclatante
de talents, d’humour et d’innovations reflétant bien ce secteur en perpétuel mouvement et transformation.
138
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
L’édition française s’est donc construit un rapport particulier à l’image par le biais de son rapport à
l’art contemporain et aux avant-gardes qui l’a amenée à développer une production très visuelle,
fortement ancrée dans l’expression plastique et le graphisme.
Il me fallait donc partir de cette diversité de la production pour construire cette théorie. Partir de ce
kaléidoscope pour arrêter une typologie de travail, qui ne pouvait être trop figée et qui distingue plus
des « pôles » que des « modèles ». Ces pôles sont des points de repères pour considérer la manière
dont, dans un album donné, le texte et les images s’articulent entre eux, mais aussi dont ils s’articulent
au support livre (la double page, le format, l’espace du livre). Car l’organisation du texte et des images
me paraît aussi importante à prendre en compte que le contenu même du texte ou de l’image.
Hérité du livre illustré, l’album peut s’organiser avec une page réservée à l’image et une page réservée
au texte. Nous sommes, visuellement, dans le plus haut degré de séparation entre texte et image. Cette
dernière étant d’ailleurs généralement rapidement regardée et pas réellement lue. Priorité est donnée au
texte qui conduit la narration. Plus le texte est important, plus l’image est seconde, lui est subordonnée.
Le texte peut être combiné à l’image (de l’insert d’un cartouche jusqu’à l’incrustation du texte sur
l’image même). C’est le modèle de l’album lu à l’enfant par excellence, dans lequel ce dernier est
comme au spectacle car il perçoit simultanément le texte par l’audition, et l’image, par la vision.
L’enfant a tout loisir de lire l’image tandis que l’adulte est occupé à lire le texte. Tomi Ungerer, Anthony
Browne, Claude Ponti adorent parsemer de petits détails dans l’image, permettant à l’enfant de les
découvrir avant l’adulte et d’être ainsi valorisé dans sa lecture de l’image.
Dans ces deux premiers « pôles », nous sommes en présence d’une image unique (isolée) et d’un texte. Cette image et ce texte peuvent fonctionner en redondance, en collaboration ou en disjonction.
Mais ce qui est intéressant, c’est de voir comment ça marche vraiment entre texte et image. Et ces
trois fonctions peuvent également avoir cours successivement.
Image 1: Olivia et le jouet perdu (Falconer, 2004)
139
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Ici à première lecture, on pense à un rapport de redondance entre le texte « Alors elle sortit jouer
avec le chat » et l’image. Mais l’image montre non seulement le chat mais aussi le jouet. Il y a donc
disjonction. Cependant, le texte qui passe sous silence le jouet a pour but d’attirer l’attention du
lecteur sur le jouet, lequel jouera un rôle déterminant dans les pages suivantes à condition que le
lecteur l’ait bien repéré.
Cette articulation du texte et de l’image permet une complémentarité intéressante dans les points
de vues respectifs. La notion de « focalisation » me semble intéressante à utiliser, que ce soit pour
préciser le point de vue de l’image (quelle perspective, quel point de vue) et celui du texte (focalisation interne sur le personnage ou focalisation externe).
Image 2: Toujours rien? (Voltz, 1997)
Comme ici, où le texte en focalisation interne sur le personnage de Monsieur Louis télescope la focalisation par l’image qui révèle « l’envers du décor » par cette vision en coupe et octroie finalement
à l’enfant le premier rôle, puisque, ainsi, il en sait plus que le personnage et, en conséquence, plus
que le livre lui-même.
En France, un modèle de mise en page largement utilisé est le modèle fondé par Jean de Brunhoff
pour sa série Babar. La page est un espace global qui présente une articulation fluide entre textes et
images. La narration est portée aussi bien par l’un que par l’autre (on ne peut comprendre l’histoire
si on ne lit que le texte ou que les images). Visuellement, tout est fait pour organiser la fluidité de la
lecture de l’un à l’autre (convergence des tracés, absence de cadres, correspondances visuelles entre
typographie et style graphique). Les images ici ont un statut particulier. Jusqu’à présent on n’a vu que
des images isolées. Ici, elles sont, « associées ». Et ce statut est tout à fait particulier à l’album. Elles
sont en coprésence, en relation et pourtant elles sont davantage articulées au texte qu’entre elles.
140
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Bien souvent, l’album possède toutes les caractéristiques de la bande dessinée. Sachant que, comme le théoricien Thierry Groensteen3, j’affirme que la bande dessinée se caractérise par la solidarité
de ses images (séquentielles) et non par la présence de phylactères. Dans ce cas les images sont
donc solidaires, totalement dépendantes les unes des autres. À signaler, en général, le niveau vertical de bandes d’images ne dépasse pas 2 niveaux. C’est que l’album est fortement vectorisé (dans le
monde occidental, de la gauche vers la droite) et se lit davantage dans l’idée d’un balayage latéral de
la page que dans un réel parcours de haut en bas.
À l’opposé du premier pôle se trouvent les albums qui combinent textes et images au sein de la double
page. On est souvent très proche de l’affiche et de l’esthétique dadaïste. Il n’existe plus de hiérarchie
entre texte et image, il n’existe généralement pas d’unité de l’un ou l’autre qui sont pluriels et éclatés.
Bien téméraire celui qui se risquera à lire un tel livre à haute voix, car ce type d’album ne présente
bien souvent plus de narration ! C’est l’album favori des petits groupes d’enfants lecteurs qui se montreront à tour de rôle les détails amusants. On est proche de la lecture multimédia, d’internet, avec un
espace à explorer et des liens hypertextes à pointer. Voici au moins un cas où le livre n’est pas décalage avec les nouveaux médias ! Cette configuration permet beaucoup d’audace dans l’expression.
Image 3: Le jour où papa a tué sa vieille tante (Riff, 2004)
3. Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, coll. « Formes sémiotiques ».
141
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Ainsi cette double page de « Le jour où papa a tué sa vieille tante » (rassurez-vous en fait le héros
« croit » avoir tué sa vieille tante mais on découvrira qu’il n’en est rien). Toujours est-il que sur cette
double page, le jeune Adrien cherche sa vieille tante et le texte nous dit « C’était sûr, maintenant,
il fallait chercher ailleurs ». C’est le texte premier, celui de la narration. Mais on voit que d’autres
textes sont également inscrits, lesquels expliquent qu’un souvenir ancien liant Adrien à sa tante lui
revient en mémoire. Et un troisième niveau intervient également, en tout petit pour commenter ce
souvenir. Trois niveaux de texte, donc.
Observons maintenant l’image : elle montre le décor où se trouve Adrien, et dans lequel il cherche
sa tante. Des phylactères iconiques montrent également le récit dans le récit. Mais l’image apporte
encore un niveau supplémentaire, qui lui est tout à fait propre : voyez ces silhouettes d’Adrien, comme la trace de son action de recherche qui appartient à un passé proche : Adrien a cherché ici et là
sa tante. Et l’image contient encore en elle les traces de cette recherche, ajoutant une dimension
temporelle supplémentaire (alors même qu’il est généralement très difficile pour une image fixe
isolée d’exprimer le temps). On voit bien ici de manière éclatante à quel point le travail de la mise en
page, l’organisation des messages, dans ses plus audacieuses compositions, permet de donner, avec
l’album, une expression d’une complexité sans équivalent.
Il existe enfin un dernier pôle, l’album sans texte. Qui constitue d’ailleurs quasiment un genre à part,
tant il repose sur des codes, sur des règles du récit en images particulièrement précises. Un éditeur
habitué des albums sans texte me confiait que c’est sur ce type d’album qu’il intervenait le moins :
en effet affirmait-il, l’album sans texte ne supporte pas la médiocrité : ça marche ou ça ne marche
pas. Si ça ne marche pas, c’est généralement irrécupérable. Deux écueils sont à éviter avec l’album
sans texte : croire que c’est réservé aux non lecteurs (il faut au contraire un bon niveau de fréquentation de l’album pour « lire » au sens de « dénoter » l’album sans texte et c’est le plus souvent à
partir de 7/8 ans que les enfants sont les plus à l’aise avec ce médium), et croire qu’on peut inventer
un texte (ce qui n’est absolument pas le cas dans les albums sans texte narratifs qui racontent bien
une histoire et non n’importe quelle histoire à inventer). De fait, les créateurs d’albums sans texte
travaillent beaucoup la relation au cinéma et empruntent nombre de ses codes.
Image 4: L’ORage (Brouillard, 1998)
142
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Cette approche, à partir de la seule double page permet de poser quelques-unes des bases du fonctionnement de l’album. Cependant, c’est bien à l’échelle de l’album, dans l’enchaînement même
de ses pages que l’on mesure l’ampleur de ses règles de fonctionnement interne. Pour rester dans
le cadre de ce 6ème pôle, celui de l’album sans texte, regardons les 4 premières images de l’album
d’Anne Brouillard intitulé L’Orage : Ici Anne Brouillard fait littéralement entrer le lecteur dans son
livre comme il entrerait dans une maison, caméra à l’épaule : les espaces sont bloqués, la profondeur
de champ appelle une entrée, effective à la page suivante, on pénètre plus encore dans l’espace de
la maison, cette fois-ci sur chaque image (grâce au rôle des marges). Un détail de la troisième image
fait l’objet d’un sur-cadre interne, qui permet ensuite un travelling avant et se retrouve à l’extérieur,
pour se focaliser sur le ciel en un raccord sur le regard du chat. Enfin, zoom arrière et on a un plan
d’ensemble. En quatre double page on traverse la maison et on revient sur nos pas par l’extérieur.
Les variations de mises en pages sont souvent absolument essentielles à l’échelle de l’album et on
sait, depuis Max et les Maximonstres à quel point elles peuvent soutenir une narration, soit en lui
impulsant un rythme, soit en participant directement à l’élaboration du sens. On voit bien ici dans
l’exemple de cet album coréen à quel point le créateur a choisit de reconfigurer chaque fois sa mise
en page pour créer un effet supplémentaire à la seule narration du texte et des images.
Image 5: Série d’images La Terre Tourne (Brouillard, 2009)
143
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
La même créatrice de L’Orage, Anne Brouillard, lorsqu’elle travaille le texte et l’image donne une
importance première à l’organisation des messages verbaux et iconiques et insinue le sens, la narration, dans tous les éléments constitutifs du livre. Ainsi, ce texte, qui reprend invariablement le thème
de « La Terre tourne », du cycle de la vie, de la circulation des flux, des rencontres des êtres humains,
a-t-il une dimension d’abord poétique, qui peut entrer en résonance avec les images situées sur la
page de droite. Pourtant ces images ne sont pas seulement illustratives, et on s’aperçoit qu’elles portent à elles seules une narration : celle d’un récit « en randonnée » où des personnages se rejoignent
les uns les autres pour converger vers un banquet final en célébration des un an d’un enfant. Chaque
image appelle sa suivante et lui est indéfectible. La petite série de vignettes en bas de page, quant à
elle, soutient ce rôle de liaison en faisant varier un motif qui part de l’image de la page précédente.
Et cette vignette en haut de page, variation d’un seul et même motif, celui de la porte fenêtre, il sert
à annoncer l’arrivée du petit enfant qui sera célébré. Chaque composante de cet album fait sens, et
c’est dans le lien entre image, texte et mise en page que se construit le propos du livre.
Au terme de ce travail, j’ai mesuré plus que jamais à quel point l’album est une forme originale, libre,
qui reste pour partie, et c’est heureux, insaisissable. Ce type de livre échappe en effet à toute tentative de fixation de ses règles de fonctionnement. Sa diversité et sa souplesse contrarient souvent les
tentatives de modélisation de ses principes et impliquent une constante mise à jour des certitudes.
Toute grille, tout schéma préétabli se révèle vain car, en dernier lieu, l’album invente sa critique.
C’est bien à partir de chaque production que le regard s’aiguise, que les outils, nombreux et variés,
doivent être mobilisés. En tout domaine, mais certainement plus ici qu’ailleurs, il faut partir, pour
l’analyse ou pour la lecture critique, de la singularité de l’œuvre et comprendre la manière dont elle
forme un ensemble cohérent dont tous les éléments, combinés, font sens.
144
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Ler o álbum, entre texto, imagem e suporte
Como analisar o álbum ilustrado? Que ferramentas utilizar neste objeto que traz características tanto
da literatura quanto da ilustração, apresentando elementos das histórias em quadrinhos e do cinema?
Como construir uma análise que não seja o resultado de um malabarismo desajeitado de teorias emprestadas dessas diferentes mídias? Para analisar o álbum, é necessário dominar narratologia e semiótica.
Mas isso não é suficiente. Muito cedo, percebi a grande necessidade de uma teoria dedicada ao álbum
que parta exatamente da singularidade de sua produção e que se construa a partir das próprias obras.
E na França, essa produção, particularmente na virada do século XXI, é muito grande e diversificada.
Para compreendê-la, devemos primeiro lembrar o importante trabalho que vem sendo desenvolvido por alguns editores desde a segunda metade do século XX (para nos restringir somente às fontes
diretas da produção contemporânea). Robert Delpire, editor de livros de fotografia, diretor de uma
agência de comunicação, impulsionou a difusão do álbum contemporâneo, publicando, em 1956,
Les Larmes de Crocodile de Andrew Francis, um livro cuja originalidade da narrativa, a atenção a
todos os componentes do livro, até a tipografia, prevê a prioridade dada à imagem, na dimensão
gráfica do álbum e em sua proximidade com o livro de arte. L´école de loisirs, editora dos álbuns
mais importantes da França, se inspira fortemente no trabalho desenvolvido por Robert Delpire.
Foi também em meados da década de 1960 que nasceu o projeto editorial de François-Ruy Vidal (um
francês) e Harlin Quist (um norte-americano), que desafiou a separação entre a literatura infantil e a literatura em geral. Os livros publicados promoveram o surgimento de uma imagem inesperada, dirigindo-se a
“primeira natureza” do leitor. Ao comparar a linguagem plástica dos jovens ilustradores, inovadores, com
os textos literários de grandes autores contemporâneos (como Eugène Ionesco e Marguerite Duras), essas
publicações abriram o caminho para a coleção “Enfantimages”, desenvolvida por Pierre Marchand, fundador, com Jean-Olivier Heron, do departamento infantojuvenil da prestigiada editora Gallimard em 1972.
Depois desse feito, na década de 1970 e 1980, as pequenas editoras exploraram os novos caminhos
abertos para o álbum, desenvolvendo ideias narrativas e estéticas ousadas em favor de obras fortes
e singulares. O mercado de pequenas editoras continuou, aliás, a prosperar na França e continua a
se colocar na avant-garde de muitas criações.
Os anos 1990, por sua vez, viu surgir procedimentos editoriais que completaram essa revolução da
imagem do livro infantojuvenil. Em 1993, Jojo la manche inaugurou uma coleção de álbuns para
Éditions du Rouergue cujo autor, Olivier Douzou, tornou-se o diretor. Prioridade foi dada ao visual e
toda uma geração de grafistas investiu no setor.
Paralelamente, Le Seuil Jeunesse elaborou um dos catálogos mais dinâmicos dos anos 1990 e 2000,
publicando artistas como Kveta Pacovska, Paul Cox, Hervé Tullet. Esse último apoderou-se do livro
infantil como uma forma de arte completa.
Na virada do século XXI, a editora Thierry Magnier publicou Tout un monde, de Katy Couprie e Antonin Louchard. Essa publicação pode ser vista como o resultado das evoluções que valorizam a linguagem visual, desenvolvendo as técnicas e os estilos, abrindo caminho para a criação artística contemporânea e promovendo as novas formas narrativas e estéticas.
Assim, na França, a prioridade foi dada ao visual, resultando em uma visão caleidoscópica, colorida,
profusa de talentos, de humor e de inovações que refletem bem esse setor em constante movimen145
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
to e transformação. Essa relação especial com a imagem foi construída pela edição francesa em sua
relação com a arte contemporânea e com a avant-garde, tendo como resultado uma produção altamente visual, firmemente ancorada na expressão plástica e gráfica.
Assim, foi necessário partir dessa diversidade da produção para construir esta teoria. Partir desse
caleidoscópio para fundar uma tipologia de trabalho que não fosse muito rígida e que oferecesse mais
“polos” do que “modelos”. Esses polos são pontos de referência para considerar a maneira como, em
um determinado álbum, o texto e as imagens se articulam, não deixando de considerar como eles se
articulam no suporte livro (na página dupla, no formato, no espaço do livro). Para a organização de
textos e das imagens, parece-me importante considerar o conteúdo do texto ou da imagem.
Herdeiro do livro ilustrado, o álbum pode ser organizado com uma página dedicada à imagem e uma página dedicada ao texto. Estamos, visualmente, no mais alto grau de separação entre texto e imagem. Esta
última, aliás, sendo em geral vista rapidamente sem ser de fato lida. A prioridade é dada ao texto que conduz a narrativa. Quanto mais o texto é importante, mais a imagem é secundária, sendo a ele subordinada.
O texto pode ser combinado com a imagem (estando dentro de um quadro ou mesmo sobre a
imagem). Esse é o modelo do álbum lido na infância por excelência, como um espetáculo por ser
percebido simultaneamente o texto pela audição e a imagem pela visão. A criança está livre para
ler a imagem, enquanto o adulto se ocupa de ler o texto. Tomi Ungerer, Anthony Browne e Claude
Ponti adoram espalhar pequenos detalhes na imagem, permitindo que a criança os descubra antes
do adulto e possa, portanto, ser valorizada em sua leitura da imagem.
Nestes primeiros dois “polos”, estamos diante de uma única imagem (isolada) e de um texto. Esta
imagem e este texto podem funcionar de forma redundante, em colaboração ou em disjunção.
Mas interessante é observar como funciona de fato esse jogo entre texto e imagem. E estas três
funções podem, do mesmo modo, ocorrer sucessivamente.
Imagem 1: Olivia et le jouet perdu (Falconer, 2004)
146
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
À primeira leitura, pensamos em uma relação de redundância entre o texto Alors elle sortit jouer
avec de chat [Então ela saiu para brincar com o gato] e a imagem. Mas esta mostra tanto o gato
quanto o brinquedo. Há então uma disjunção. No entanto, o texto que ignora o brinquedo tem
por função atrair a atenção do leitor sobre o brinquedo, no qual terá um papel crucial nas páginas
seguintes sob a condição em que o leitor se encontra.
Esta articulação do texto e da imagem permite uma complementaridade interessante sob seus pontos de vista respectivos. O conceito de “focalização” parece importante para se usar, já que possibilita esclarecer o ponto de vista da imagem (qual perspectiva, qual ponto de vista) e do texto (focalização interna sobre o personagem ou focalização externa).
Imagem 2: Toujours rien? (Voltz, 1997)
Como aqui, onde o texto em focalização interna no personagem Seu Luís é ampliado pela
focalização da imagem, que revela com esta visão em corte seus “bastidores” e, por fim, dá
protagonismo à criança, que passa a saber mais do que o personagem e, portanto, mais do que
o próprio texto.
Na França, um modelo de layout amplamente utilizado é aquele fundado por Jean de Brunhoff para
sua série Babar. A página é um espaço global que apresenta uma articulação fluída entre os textos e
as imagens. A narrativa é tomada assim por ambos (não se pode compreender a história se o leitor
lê apenas o texto ou as imagens). Visualmente, tudo é feito para organizar a fluidez de leitura de um
e de outro (convergências de traços, sem frames, conexões visuais entre tipografia e estilo gráfico).
As imagens aqui têm um status especial. Até agora vimos apenas imagens isoladas. Aqui elas estão
“associadas”. E esse status é muito especial para o álbum. Elas estão em convívio, em relação, e no
entanto estão ainda mais articuladas ao texto do que entre elas mesmas.
147
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Frequentemente, o álbum tem todas as características dos quadrinhos. Como o teórico Thierry Groensteen, afirmo que os quadrinhos se caracterizam pela solidariedade de suas imagens (sequenciais) e não pela presença de balões de fala ou de legendas. Desse modo, as imagens são solidárias,
totalmente dependentes umas das outras. Devemos assinalar que, em geral, os quadrinhos não tem
muita verticalidade. O álbum também é altamente vetorizado (no Ocidente, da esquerda para a
direita), e tendemos a lê-lo mais nessa varredura lateral da página do que em um caminho de cima
para baixo.
Em contraste ao primeiro polo, encontram-se os álbuns que combinam textos e imagens na página
dupla. Estamos, com frequência, muito próximos do pôster e da estética dadaísta. Não há mais hierarquia entre texto e imagem, e em geral não há unidade de nenhum dos dois já que são plurais e
fragmentados. Bem temerário àquele que deseja ler o livro em voz alta, porque este tipo de álbum
não apresenta mais narração! É o álbum favorito dos pequenos grupos de crianças leitoras que
mostram sucessivamente detalhes divertidos. Estamos próximos da leitura multimídia, da internet,
com um espaço para explorar links hipertextuais. Encontramos aqui ao menos um caso em que o
livro não está em defasagem em relação às novas mídias! Esta configuração permite muita audácia
na expressão.
Imagem 3: Le jour où papa a tué sa vieille tante (Riff, 2004)
148
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Assim como esta página dupla de Le jour que papa a tué sa veille tante (não se preocupe, na verdade
o herói “acredita” que matou sua tia idosa, mas descobrimos ao ler este livro que ele está errado).
Nela, o jovem Adrien procura sua velha tia e o texto nos diz “Estou certo, agora devo procurar em
outro lugar”. Este é o primeiro texto, o da narração. Mas vemos que os outros textos estão igualmente incluídos, o que explica a lembrança antiga que liga Adrien à sua tia quando esta vem à sua mente.
E um terceiro nível também intervém para comentar essa lembrança. Três níveis de texto, então.
Agora vamos à imagem: ela mostra a cena em que Adrien se encontra, na qual ele procura a sua tia.
Filactérios icônicos mostram a história na narrativa. Mas a imagem traz ainda um nível suplementar,
que lhe é bastante específico: veja as silhuetas de Adrien, como o traço da sua ação de busca pertence a um passado: Adrien procurou aqui e ali sua tia. E a imagem contém em si os traços dessa
procura, adicionando uma dimensão temporal suplementar (embora seja normalmente muito difícil
para uma única imagem expressar o tempo). Aqui vemos de maneira impressionante como o trabalho de layout, de organização de mensagens, em suas composições mais ousadas, pode dar, com o
álbum, uma expressão de complexidade sem precedentes.
Finalmente, há um terceiro polo, o livro-imagem, que é o álbum sem texto. Ele constitui, aliás, quase
que um gênero à parte, já que se baseia em códigos, em regras da narrativa em imagens particularmente precisas. Um editor, acostumado a trabalhar com a publicação de álbuns, me confiou que
este é o tipo de álbum que ele intervém menos: de fato, ele afirmou, o livro-imagem não suporta a
mediocridade: ele funciona ou não. Se ele não funciona, geralmente é fatal. Duas armadilhas devem
ser evitadas no livro-imagem: crer que está reservado aos não leitores (é necessário, ao contrário, já
estar bem familiarizado com o álbum para “ler”, no sentido de “denotar” o livro-imagem, e na maioria
das vezes é a partir de 7 a 8 anos que as crianças estão mais confortáveis com essa mídia), e crer que
podemos inventar um texto (o que não é de modo algum o caso dos livros-imagem narrativos que
contam bem uma história não importa qual inventemos). Na verdade, os criadores de livros-imagem
trabalham muito a relação com o cinema e pegam emprestado muitos de seus códigos.
Imagem 4: L’ORage (Brouillard, 1998)
149
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Esta abordagem, a partir da página dupla, permite abordar alguns dos princípios básicos do funcionamento do álbum. No entanto, é na escala do álbum, no encadeamento de suas páginas que
medimos a amplitude de suas regras de funcionamento interno. Para se manter no quadro desse
terceiro polo, do livro-imagem, observemos as quatro primeiras imagens do álbum de Anne Brouillard intitulado L´Orage. Aqui Anne Brouillard faz, literalmente, o leitor entrar em seu livro como
entraria em uma casa com uma filmadora nos ombros: os espaços são bloqueados, a profundidade
de campo chama uma entrada, em vigor na próxima página, penetramos mais ainda no espaço da
casa, desta vez em cada imagem (graça ao papel das margens). Um detalhe da terceira imagem faz
o papel de um frame interno, o que permite viajarmos para frente e nos encontrarmos no exterior,
para nos concentrar no céu através do olhar do gato. Finalmente, um zoom para trás e temos um plano aberto. Em quatro páginas duplas, atravessamos a casa e voltamos com nossos passos para fora.
As variações de layouts são absolutamente essenciais em relação ao álbum. Sabemos, desde Onde
vivem os monstros, como elas podem sustentar uma narrativa, seja lhe dando um ritmo, seja participando diretamente na produção de sentido. Podemos ver claramente aqui no exemplo deste
álbum coreano cada vez que o criador reconfigurou seu layout para criar um efeito adicional à única
narração do texto e das imagens.
Imagem 5: Série d’images La Terre Tourne (Brouillard, 2009)
150
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
A mesma criadora de L´Orage, Anne Brouillard, quando trabalha o texto e a imagem, dá uma importância primordial à organização de mensagens verbais e icônicas, insinuando o sentido e a narrativa em todos os elementos constitutivos do livro. Assim, este texto, que retoma invariavelmente o
tema de La Terre tourne, do ciclo de vida, da circulação de fluxos, dos encontros em seres humanos,
tem uma dimensão primeiro poética, que pode entrar em ressonância com as imagens situadas na
página direita. No entanto, essas imagens não são meramente ilustrativas, e percebemos que elas
exercem a sua própria narrativa: uma em “caminhada”, onde os personagens se encontram para
convergir em um banquete final em comemoração de um ano de uma criança. Cada imagem chama
a seguinte, sendo a ela indefectível. A pequena série de vinhetas na parte inferior da página, por sua
vez, oferece apoio a esse papel de ligação, mudando o motivo que parte da imagem da página anterior. E esta vinheta no alto da página, variação de um só e mesmo motivo, o da janela da porta, serve
para anunciar a chegada da criança que será celebrada. Cada componente deste álbum faz sentido,
e é na relação entre imagem, texto e layout que se constrói a proposta do livro.
Ao concluir esse trabalho, avaliei mais do que nunca como o álbum é uma forma original, livre, que
permanece em parte, e felizmente, inalcançável. Esse tipo de livro escapa a toda tentativa de fixação das suas regras de funcionamento. Sua diversidade e flexibilidade contrariam frequentemente
as tentativas de modelização dos seus princípios e exige uma constante atualização de certezas.
Qualquer tabela, qualquer esquema pré-estabelecido se revela vão. Enfim, o álbum inventa suas
críticas. É partindo de cada produção que o olhar se aguça, que as ferramentas, muitas e variadas,
devem ser mobilizadas. Em qualquer domínio, mas certamente mais aqui do que em outros lugares,
é necessário começar, pela análise ou pela leitura crítica, da singularidade da obra e compreender a
maneira como ela forma um todo coerente no qual todos os elementos combinados fazem sentido.
Envio: 5 set. 2011
Aceite: 13 set. 2011
151
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Referências bibliográficas
Groensteen, Thierry. Système de la bande dessinée. Paris: Presses Universitaires de France,
1999.
_______. Système de la bande dessinée 2 – Bande dessinée et narration. Paris: Presses Universitaires de France, 2011.
Linden, Sophie Van der (org.). Images des livres pour la jeunesse. Paris: Thierry Magnier, 2006.
Peeters, Benoît. Lire la bande dessinée. Paris: Flammarion, 2002. (1a. ed. Casterman, 1998, com o
título Case, planche, récit – lire la bande dessinée).
Ficção
BROUILLARD, Anne. L’Orage. Nêmes: Éditions Grandir, 1998.
_______. La terre tourne. Paris: Éditions du Sorbier, 1997.
FALCONER Ilan. Olivia et le jouet perdu. Paris: Le Seuil Jeunesse, 2004.
RIFF, Hèlléne. Le jour où papa a tué sa vieille tante. Paris: Albin Michel Jeunesse, 2004.
VOLTZ, Christian. Toujours rien? Rodez: Editions du Rouergue, 1997.
152
On the Border between Implication and Actuality: Children Inside and
Outside of Picture Books
Na fronteira entre insinuação e realidade: crianças dentro e fora de álbuns ilustrados
En la frontera entre insinuación y realidad: niños dentro y fuera del libro-álbum
Perry Nodelman1
Tradução de Renata Nakano2 e Labiuai Coimbra3
Resumo
Apesar de concordarem que indivíduos diferentes em geral leem e recebem os mesmos textos de modo distinto, é
comum pesquisadores que realizam pesquisas quantitativas sobre leitura e recepção de crianças dos álbuns ilustrados
fazerem um número enorme de generalizações sobre crianças e suas leituras e recepções. Depois de considerar as generalizações encontradas em muitos ensaios e livros que descrevem experiências específicas nas quais adultos interagem
com crianças e álbuns ilustrados, vou além para sugerir como a pesquisa quantitativa nessa área poderia ser favorecida
sem se comprometer com esse tipo de generalização contraprodutiva.
Palavras-chave: pesquisa qualitativa, leitura e recepção de crianças, generalizações sobre infância.
Abstract
While they tend to agree that different individuals usually read and respond to the same texts differently, researchers
who do quantitative research that involves reading and discussing picture books with children often make a surprising
number of generalizations about children and about their reading and responses. After considering the generalizations
found in a range of recent essays and books that describe specific experiences in which adults interact with children and
picture books, I go on to suggest how quantitative research in this area might move forward without engaging in this
sort of counter-productive generalizing.
keywords: qualitative research, children’s reading and response, generalizations about childhood.
Resumen
A pesar de estar de acuerdo en que individuos diferentes en general leen y reciben los mismos textos de manera distinta, es
común encontrar investigaciones cuantitativas que hacen muchas generalizaciones sobre la recepción de la lectura del libro-álbum en los niños. Después de considerar dichas generalizaciones, encontradas en libros y ensayos que describen experiencias específicas en donde los adultos interactúan con niños y libros-álbum, voy más allá para sugerir cómo la investigación cuantitativa en esa área podría ser beneficiada sin comprometerse con ese tipo de generalizaciones contraproductivas.
Palabras clave: investigación cualitativa, lectura y recepción en niños, generalizaciones sobre la infancia.
1. Professor emérito do Departamento de Inglês da University of Winnipeg. Contato: [email protected].
2. Mestranda em Literatura, Cultura e Contemporaneidade na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
3. Graduando em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
De acordo com David Lewis, há duas abordagens convenientes na pesquisa de álbuns ilustrados para
crianças: “Um caminho envolve cuidado e paciência para ouvir o que as crianças dizem conforme
elas leem; o outro envolve uma descrição igualmente paciente e cuidadosa de cada livro” (LEWIS,
1996:113). Enquanto meu próprio trabalho segue o segundo caminho, encontro-me intrigado pelo
primeiro — e, também, de algum modo incomodado por ele, por levantar questões que me parecem merecer mais consideração do que costumam receber. Qual é, ou deveria ser, o lugar das crianças no estudo de álbuns ilustrados infantis? Quais crianças, quando e por quê?
Suspeito que a maioria dos críticos de literatura infantil concordariam que basear avaliações
ou entendimentos dos livros em generalizações sobre crianças e suas respostas é uma prática
perigosa, assim como usar expressões descuidadas das caricaturas convencionais da infância
disseminadas na cultura contemporânea, ou aceitar sem questionamento teorias de desenvolvimento baseadas em idade-e-estágio, existentes há muito tempo, que têm sido seriamente enfraquecidas pelas pesquisas da Psicologia das últimas décadas.4 Além disso, a atual hegemonia dos
estudos literários entende que indivíduos respondem a textos de modo diferente, como Arizpe
e Styles afirmam: “Apesar do conhecimento, da compreensão e dos valores sobre crianças estarem culturalmente saturados, a extensão com que eles afetam a interpretação literária sempre
será mediada pela personalidade única de cada criança” (ARIZPE; STYLES, 2003:184), logo, nas
palavras de Janet Evans, “os textos são interpretados por nós dependendo de quem somos, onde
estamos, o que buscamos no texto, de modo consciente ou subconsciente em um momento
específico” (EVANS, 1998:xiv). Se acreditarmos ser este o caso, então temos de admitir que tudo
o que podemos saber, na realidade, é como uma criança ou um grupo de crianças que conhecemos responde ao texto. Explorar essas respostas como um resultado não parece nos ensinar
sobre nada além de uma compreensão sobre o gosto, interesses e estratégias de produção de
sentido dessas crianças em particular, muito pouco sobre um conhecimento mais universalmente aplicável da recepção de textos na infância.
Todavia, Arizpe e Styles expressam sua fé na influência da individualidade na interpretação em um
estudo contextualizado de “como textos visuais são lidos pelas crianças” (ARIZPE; STYLES, 2003:1)
— pelas crianças específicas de seu estudo, mas com o que parece ser uma suposição não declarada
de que a experiência desses indivíduos singulares oferecerão informações significativas para aqueles
que trabalham com outras crianças. E Evans sugere de modo similar uma suposição parecida quando
ela diz que “decidiu trabalhar com uma classe de 36 crianças de 8 a 9 anos” para tentar descobrir
“como crianças responderiam a um álbum ilustrado bastante conhecido que apresenta uma visão
alternativa de um conto de fadas tradicional” (EVANS, 1998:101) — um grupo específico de crianças,
mais uma vez, mas com uma aura de generalizações sugeridas pela rotulação delas não como estas
crianças mas apenas como “crianças” não especificadas. De fato, se algum tipo de generalização ou
aplicação a outras crianças em outras situações não são possíveis, haveria pouco ou nenhum motivo
para alguém além dos próprios pais e professores desse grupo específico de crianças lerem sobre as
experiências delas.
Então, podemos ou devemos generalizar? Como, se estamos nos esquivando desses tipos de generalizações que com muita certeza a maioria de nós concordaria serem insustentáveis? E por quê, se
desejamos evitar essas generalizações?
4. Para examinar esses desenvolvimentos, ver The Pleasures of Children’s Literature, de autoria minha e de Mavis Reimer (2003:91-95).
154
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Apesar das graves restrições que esses pontos envolvem, encontro-me mais uma vez fascinado
pessoalmente por essas descrições de interações de outros adultos com crianças e livros. Tenho a
impressão de que estou de fato aprendendo algo de valor com elas e poderia aprender ainda mais,
mesmo não tendo muita clareza sobre exatamente o quê aprendo ou como isso poderia melhorar
minha compreensão sobre o assunto. Também tenho uma forte sensação de que se esperamos
desenvolver um entendimento útil sobre livros produzidos especificamente para leitores/visualizadores crianças, não podemos proceder de modo legítimo sem ao menos traçar algumas considerações sobre essa audiência. Como Pat Pinsent coloca, “olhar somente para as qualidades de um
álbum ilustrado valiosas para adultos, sem pensar em seu leitor direto, é negligenciar um aspecto
essencial da sua criação” (PINSENT, 2008:152). Não podemos almejar uma compreensão auspiciosa
de um livro infantil que lemos e olhamos de perto como adultos formados se não temos ideia sobre
sua relação potencial com um leitor criança sem dúvida muito diferente desse adulto. Não podemos
alegar legitimamente a compreensão de livros infantis sem antes não ter realizado nenhuma reflexão sobre crianças.
Mas então como poderíamos, ou deveríamos, pensar nelas? Minha prática como crítico literário
com pouco conhecimento sobre quaisquer leitores crianças além dos meus três filhos quando novos
tem sido focar nos leitores/visualizadores sugeridos pelo texto — no repertório de habilidades interpretativas e de informações, apoderadas por leitores mais preparados para entendê-las. Em geral,
porém, eu sigo o conselho de Mavis Reimer e mostro nosso livro, The Pleasures of Children’s Literature, para estudantes universitários:
Ao comparar a nossa percepção de um leitor implícito do texto com as crianças que conhece, você pode
determinar qual repertório específico ou estratégias especiais de produção de sentido poderiam ser requeridos para entender e apreciar esse texto específico. Você pode decidir se as crianças que conhece
estariam familiarizadas com esse repertório e essas estratégias — e se não estão, como poderia ajudá-las
a desenvolver esse conhecimento. (NODELMAN; REIMER, 2003:20)
Mas e as crianças que você não conhece? Como o que você sabe sobre as crianças que conhece
pode ser interessante ou relevante a outras pessoas que trabalham com outras crianças?
Tentando responder a essas questões, tenho explorado descrições das recepções de crianças a livros
publicados nas últimas décadas, considerando os modos nos quais estas transformam alegações
ditas ou não ditas em conhecimento útil sobre álbuns ilustrados, sobre crianças lendo álbuns ilustrados e sobre as interações entre livros e crianças de modo mais geral. Minhas proposta aqui é
considerar no que implicam essas alegações e a legitimidade de diversas justificativas desse tipo de
trabalho com crianças e livros.
O estudo da recepção de livros por grupos específicos de crianças cai sob a categoria geral de pesquisa qualitativa nas ciências sociais: estudos próximos a pequenos grupos como oposição a análise
quantitativa de informações respingadas de grandes populações.
O detalhe na maioria das pesquisas qualitativas é tanto uma bênção quanto uma maldição. Pelo
lado positivo, permite a você descrever o fenômeno de interesse muito detalhadamente, na língua
original dos participantes pesquisados... Pelo lado negativo, quando se tem esse nível de detalhamento, torna-se difícil definir quais podem ser os temas generalizáveis. Na verdade, muitas pesquisas qualitativas sequer se preocupam em chegar a conclusões gerais — elas se contentam em gerar
descrições ricas de seus fenômenos (site Qualitative Measures).
155
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Para muitos pesquisadores de linha qualitativa, de fato, o generalizável não é uma questão: “Uma
pequena amostra é escolhida justamente porque o pesquisador deseja entender esse particular com
profundidade, não para descobrir qual é, sem detalhes, a verdade do todo” (MERRIAM, 2002:28). A
pesquisa procede na crença de que quanto mais completo é o detalhamento das descrições de um
grupo específico, mais exata é a descrição daquele grupo particular, então o mais provável é que ela
permita a leitores ou usuários determinar o quão generalizável ela poderia ser; “os próprios leitores
determinam quanto de um estudo pode ser aplicado no contexto deles” (2002:28-29). Nenhuma
alegação é feita além daquela que, diz: se esse grupo específico agiu desse modo, outros podem ser
melhor compreendidos como sendo parecidos ou diferentes dele. “De fato”, diz Joseph Maxwell, “o
valor de um estudo qualitativo pode depender da carência de generalizações externas num sentido
estatístico; ele pode oferecer um relato de um lugar ou população que é exemplificado como um
caso extremo ou ‘tipo ideal’” (Mawell, 2002:54).
Algumas das pesquisas que investiguei usa uma versão dessa postura. Depois de descrever seu trabalho com duas jovens meninas, por exemplo, Victor Watson diz que “Ann e Sadie foram leitoras muito
diferentes [...] e eu não acho possível generalizar sobre a leitura de crianças de textos pós-modernistas” (WATSON, 1996:98). E depois de discutir como um grupo de crianças gregas criaram seus
próprios álbuns ilustrados, Vasiliki Labitsi deseja concluir apenas que “Assim como elas foram aptas a
desenvolver habilidades narrativas e de produção artística, foram aptas também a negociar e comunicar mensagens, ideias e sentimentos importantes a elas. Cada livro foi um texto multimodal único
e poderoso que permitiu a seus leitores terem compreensão sobre a natureza íntima dos interesses
autênticos, necessidades e preocupações dessas crianças” (LABITSI, 2008:200). Labitsi não considera
o motivo dessa descrição ter importância a seus leitores — porque o que aconteceu a “essas crianças”
poderia ter valor na reflexão sobre as respostas latentes de outras crianças. Insistir na individualidade
do sujeito criança é enfraquecer a validade e valores desse tipo de pesquisa em termos de sua capacidade de compartilhamento, de conclusões generalizadas — ou talvez, de confirmar o que já temos
como verdade: que cada criança lê e responde de modo diferente.
Todavia, as descrições de trabalhos com crianças e livros que tenho lido de fato faz uma série de
alegações de conhecimentos mais generalizáveis. Por exemplo, alguns pesquisadores sugerem que
as experiências com leitores crianças descritas por eles poderiam ser generalizadas, mas apenas em
circunstâncias específicas. Depois de falar sobre como seu próprio filho desenvolveu algumas habilidades interpretativas muito específicas, por exemplo, Michael Rosen diz: “A meu ver, esses tipos
de habilidade são vitais para transformar crianças em leitores. O que é significativo naquilo, quando
aplicados nas situações corretas, é que essas crianças podem ensinar essa habilidade a si mesmas”
(ROSEN, 1996:135, grifo nosso). Ele não chega a dizer quais são essas situações corretas, apenas
sugere, talvez, que aquelas descritas por ele nesse caso específico eram sem dúvida uma delas, e
que o sucesso poderia então estar garantido apenas à prole jovem branca masculina de classe média
de uma família leitora com posturas específicas sobre liberdade na infância e com personalidade
muito particular. Em outras palavras: Rosen oferece a possibilidade de generalização de um modo
que na verdade sugere exatamente o contrário. É mais comum, no entanto, as generalizações agirem
com discrição de modo intrigantemente capcioso, enquanto autores seguem entre singularizações e
generalizações sobre crianças. Às vezes, crianças específicas se transformam em exemplos generalizados de infância — e vice-versa. Por exemplo, Helen Bromley diz que as crianças específicas com as
quais ela trabalhou “tinham um conhecimento intermediário de artistas como Monet, Turner e Van
Gogh” (BROMLEY, 1996:106). Uma frase depois, essas crianças ganham pouco a pouco o status de
156
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
representar todas as crianças. “Isto pode surpreender alguns professores, mas crianças hoje [note,
o “essas” desapareceu] são visualmente sofisticadas, não encontram dificuldade em reconhecer
os estilos de diferentes artistas e de fato os acham interessantes” (BROMLEY, 1996:106). Quando
o ensaio de Bromley é concluído, poucas páginas depois, ela diz, “Não há dúvidas para mim que
crianças pequenas podem identificar com sucesso links intertextuais de natureza tanto escrita como
ilustrativa” (1996:111). Enquanto a frase poderia literalmente ser compreendida como se estivesse
se referindo apenas a crianças específicas com as quais tinha trabalhado, ela de fato tende a sugerir
que o que aconteceu com elas é possível de modo generalizado também a outras crianças. O mesmo
acontece na afirmação de Janet Evans, “em um esforço por descobrir sobre o que crianças pensavam
sobre leitura e recepção de álbuns ilustrados, falei com algumas crianças de 11 anos de idade com
quem estive trabalhando” (Evans, 2009:xix). Tanto a primeira “crianças” nesta sentença se refere a
mais que apenas este grupo ou a sentença tautologicamente sugere que Evans falou com esse grupo
apenas para descobrir o que esse grupo pensava.
Diversos ensaios que analisei expressam semelhante relação capciosa entre casos específicos e
crianças generalizadas. Depois de ter sido informado em uma entrevista sobre as respostas de crianças específicas a seu trabalho, o autor-ilustrador Anthony Browne diz “Ouvir esse tipo de coisa me
agrada muito, porque crianças, de certo modo, são capazes de muito mais do que pensam a maioria
das pessoas” (BROWNE, 2003:210); as respostas de apenas duas crianças tornam evidente a capacidade de todas as crianças. Morag Syles faz semelhante dedução de sua experiência com crianças
conhecidas para crianças em geral: “Eu nunca conheci uma criança que desse atenção para um livro
que ele ou ela achasse desagradável. As crianças são seus próprios censores” (STYLES, 1996:42). A
mesma coisa pode, ou não, estar acontecendo quando Janet Evans discute a pesquisa de Carger: “ao
trabalhar com algumas crianças bilíngues de 8 anos, para investigar como as artes visuais poderiam
auxiliar no aprendizado da língua e no letramento, ela descobriu que as crianças se desenvolveram
como críticas de arte quando lhes foram dadas oportunidades de falarem sobre álbuns ilustrados
[...]”(EVANS, 2009:101). Essas crianças? Ou, como as palavras parecem sugerir, todas as crianças?
Uma falta de clareza parecida a respeito de crianças específicas e crianças generalizadas parece ser
determinante na pesquisa descrita por Kate Noble, em que trabalha com crianças “selecionadas em
duas escolas locais” (NOBLE, 2008:155) que a levam a chegar à significativa e ampla conclusão: “Descobri que jovens crianças têm uma aguçada consciência das possibilidades comunicativas distintas
da palavra e da imagem, e que elas usam diferentes tipos de conhecimento para entender álbuns
ilustrados” (NOBLE, 2008:161). Essa frase poderia significar apenas que essas crianças têm tal consciência, porém parece pretender muito mais. Arizpe e Styles fazem algo semelhante na descrição
de seu trabalho com crianças com o livro Lilly Takes a Walk, de Kitamuta: “Mas como jovens leitores aprendem como funcionam os álbuns ilustrados? [...] E como eles lidam com a incoerência e a
incompletude? Hoje exploramos algumas dessas questões como entrevistadores, e crianças seguem
os passos de Lilly e Nicky pelo álbum ilustrado” (ARIZPE; STYLES, 2003:57).
Em mais um exemplo, Brenda Parkes “explora como leitores iniciantes usam as ilustrações em álbuns
ilustrados nas suas buscas por significado” a partir do “trabalho com um estudo etnográfico de três
anos que documentou, descreveu e analisou as experiências de duas crianças da Educação Infantil
com seus álbuns ilustrados favoritos”, mas focada na verdade “em como uma criança, Sarah, fez uso
das ilustrações para extrair um significado do texto” (PARKES, 1998:44). Parkes então conclui:
157
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Parece evidente, o que o usuário da língua leva o signo a significar é uma função de sua intenção e do
repertório de experiências do momento. O texto e a ilustração criam um potencial aberto, parte de um
reservatório de dados semióticos, através dos quais a criança constantemente gera novas hipóteses e
descobre novos significados (PARKES, 1998:44).
A expressão “a criança” aqui poderia significar tanto essa criança específica quanto um tipo de criança universalmente generalizado; do modo como está, o texto parece sem dúvida estar reivindicando
a segunda hipótese.
Às vezes, essa alegação é um pouco mais explícita, e as experiências com crianças específicas são
apresentadas como exemplos de verdades já determinadas e presumidas. Por exemplo, Morag Styles fala de “uma possível relação entre a complexidade dos desenhos de crianças e seus interesses pelas imagens em álbuns ilustrados”, e então usa como argumento para essa teoria generalista
sobre infância “dois desenhos de meu sobrinho de 6 anos de idade” (STYLES, 1996:28). E poucas
páginas depois, ela diz: “Minha visita seguinte à escola confirmou minha intuição sobre a habilidade
das crianças para interpretar e negociar sentido em textos pictoriais complexos” (STYLES, 1996:31).
Ao apresentar uma experiência específica como evidência da veracidade de uma generalização
maior, essa frase representa um padrão que entendo como “o desaparecimento do ‘essa’”. Styles
poderia muito bem ter dito, e pode ser interpretada como se quisesse dizer, “Minha visita seguinte à
escola confirmou minha intuição sobre a habilidade dessas crianças em interpretar e discutir textos
pictoriais complexos” — i.e., dessas crianças específicas em questão. Mas a falta do “dessa” implica
em um emprego mais amplo de sua conclusão. Styles e sua colaboradora Evelyn Arizpe esquecem
do “essa” em muitos pontos-chave na sua discussão sobre o trabalho com crianças: “Nossa pesquisa
mostra que álbuns ilustrados encorajam o desenvolvimento intelectual de crianças e acreditamos
que eles deveriam ser usados mais amplamente com alunos mais velhos assim como com crianças
pequenas que estão aprendendo os rudimentos da leitura” (ARIZPE; STYLES, 2003:27); ou, “Browne é
extremamente divertido e crianças riem muito quando leem o livro dele” (ARIZPE; STYLES, 2003:78).
Às vezes, o “essa” é esquecido em uma frase mas lembrado na seguinte: “O que vimos, mesmo com
essas crianças pequenas [i.e., crianças específicas com as quais eles trabalharam], pode ser descrito
apenas como excitação intelectual pelas ideias surgidas do livro e pelo prazer estético das imagens.
Foi como se Zoo oferecesse um convite que crianças [crianças em geral?] se sentissem instigadas a
aceitar” (ARIZPE; STYLES, 2003:80). Ou, “Neste capítulo, analisaremos alguns dos comentários feitos
por crianças sobre leitura de textos visuais na tentativa de entender o processo de pensamento por
trás dessas habilidade. [...] por fim, devemos buscar unir todas essas observações para compreender como crianças entendem seus próprios processos de construção de sentido” (ARIZPE; STYLES,
2003:191). Arizpe por si só evita um “essa” quando fala sobre outro projeto de pesquisa: “esses
resumos de discussões dessas meninas revelam o potencial de crianças em construir e compartilhar,
umas com as outras, interpretações de imagens visuais em álbuns ilustrados” (ARIZPE, 2009:144).
Arizpe e Styles não estão sós no desaparecimento do “essa”. Sua colega Kate Rabey diz: “Ao observar
os desenhos de minha classe e analisar sua discussão durante nosso estudo de Zoo, descobri que
crianças podem ver coisas ainda mais incríveis além daquelas que já assumiriam saber” (ARIZPE;
STYLES, 2003:222). Carol Fox descreve como algumas das cinco crianças que ela estudou citaram
livros que já conheciam em suas próprias histórias, então conclui, “Eu acredito que o envolvimento
acontece porque crianças [em geral, parece] ouvem suas histórias favoritas como metáforas de seus
próprios interesses, emoções e vidas” (FOX, 1993:12). Margaret Meek de modo semelhante sugere
158
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
em seu prefácio para o livro de Fox que “esse livro deixa claro que crianças [sem o “essas”, então
presumivelmente todas as crianças?] usam a criação de histórias para organizar o conhecimento e
ideias delas” (FOX, 1993:VIII). O “essa” também está ausente na alegação de Sylvia Pantaleo — em
um ensaio que descreve respostas de crianças específicas ao livro de Lauren Child Who’s Afraid of
the Big Bad Book — que seu trabalho “explora a recepção de crianças e interpretações de alguns
artifícios metaficcionais nesse álbum ilustrado pós-moderno” (PANTALEO, 2009:46).
Em seu livro Storytime, Lawrence Sipe deixa claro que entende o problema que resumi:
Embora seja verdade que a pesquisa interpretativa qualitativa almeja apresentar uma descrição completa e matizada o suficiente para que seus leitores possam fazer suas próprias conexões com outras situações e contextos, o desafio real é ir além da “epistemologia do particular”
[STAKE, 240], a caminho de uma generalização que está atenta aos perigos das narrativas que se
veem proprietárias de qualquer comportamento, incluindo a produção de significado verbal e
visual de crianças. (SIPE, 2009:35)
Sipe acredita ter resolvido o problema ao generalizar sobre “um grupo de idade” (2009:35) e ao
representar nesse grupo de participantes “diversidade entre diversas dimensões, incluindo raça,
etnia e situação socioeconômica” (2009:35); mas ele não descreve os princípios ou a metodologia
que o levaram a escolher esses representantes, ou em que base ele acreditar ser seguro assumir que
eles de fato representam um grande número de crianças norte-americanas, ou talvez até de todas as
crianças. Todavia, ele acredita ter “construído uma sólida teoria de compreensão literária de crianças pequenas baseada nesse trabalho” (2009:1) — não apenas “das crianças pequenas” ou “dessas
crianças pequenas”, mas, como parece, de crianças em geral.
Às vezes, esses pesquisadores justificam suas generalizações, que inferem a partir de interações
específicas com crianças específicas, ao se referirem a suas experiências prévias com muitas outras
crianças que confirmam resultado semelhante. Victor Watson está então apto a afirmar que as qualidades das conversas com crianças específicas que ele descreve são “todas características de um
tipo particular de conversa em sala de aula” (WATSON, 1996:88) que ele tem experimentado, e
sugere que “Eu aprendi com o trabalho com diversas crianças por muitos anos [...] que rotulação
rapidamente se transforma em interpretação” (WATSON, 1996:147). Mas como Karl Propper uma
vez sugeriu de um comentário semelhante do psicólogo Alfred Adler,
suas observações prévias não parecem ser mais confiáveis que esta nova [...] cada uma por sua vez tem
sido interpretada à luz de ‘experiência prévia’, e ao mesmo tempo considerada uma confirmação adicional. O que, perguntei a mim mesmo, ele confirmou? Nada além de que um caso poderia ser interpretado
à luz de uma teoria. (POPPER, 1963:46)
É mais comum, no entanto, pesquisadores justificarem suas generalizações não em termos de suas
próprias experiências anteriores com crianças, mas em termos da experiência — ou mesmo em termos apenas das teorias generalizantes — de outros. A recepção de crianças específicas com as quais
eles trabalharam são usadas no contexto, e assumidas como representantes, de generalizações já
comuns nos estudos acadêmicos. Porém, Helen Bromley considera as respostas interessantes de
uma criança ao dizer que “Todas as interações entre Momahl, as crianças e os álbuns ilustrados
parecem a mim serem exemplos de aprendizado compartimentalizado” (BROMLEY, 1996:140) —
i.e., de teorias de aprendizado originadas por Vygotsky. Depois de descrever a recepção de uma
criança, Arizpe e Styles dizem, “Isso mostra como a ‘criança pré-operacional’ de Piaget lida com o
159
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
meio em um nível perceptual e age a respeito disso” (ARIZPE; STYLES, 2003:33), e em outra instância, “Aos leitores foi determinado que interpretassem a história, que tentassem explicar por que as
coisas apareciam nas ilustrações, que tentassem criar uma unidade coerente [...] Isso coincide com
a descrição de Gardner da fase inicial do desenvolvimento infantil no que diz respeito a histórias”
(2003:102-103). Peggy Rice faz referência a dois especialistas ao generalizar o comportamento de
crianças no estudo multicultural da literatura, e descreve:
[...] as crianças não foram capazes de se identificar com as ações de uma personagem e acabavam desmerecendo a personagem, principalmente porque achavam que ela não tinha muita inteligência nem educação. Os meninos estavam mais inclinados a fazer esse tipo de julgamento, e as meninas, a fazer isso com
discussões de ambos os sexos em vez de discussões do ponto de vista de um único sexo. Tannen (1990)
apontou que homens tendem a julgar os outros. Bleich (1998) caracteriza a inabilidade do homem a reagir
positivamente ou a identificar-se com personagem como uma postura “masculina” de distanciamento.
(RICE, 2005:350)
Depois de se referir a uma série de trabalhos sobre o aprendizado da língua de teóricos da psicologia, Caro Fox anuncia sua intenção de “voltar ao material da história infantil, e ver como essas ideias
mapeiam o que aqui está sob escrutínio” (FOX, 1993:29). Ela conclui que essas “questões teóricas
[...] oferecem algumas explicações acerca das operações linguísticas com as quais as crianças estavam envolvidas” (1993:35).
O que me interessa nesses argumentos é a circularidade que estabelecem. As crianças sob investigação tornam-se evidências para a teoria, que faz com que a teoria pareça mais válida, intensificando a
sua força como uma explicação do comportamento infantil. Por conseguinte, crianças como um todo
começam a parecer mais como indivíduos, mais capazes de acomodar e agir de acordo com as generalizações sobre o comportamento infantil. Enquanto isso, sinto que outras possíveis explicações
não estão sendo consideradas. Como frequentemente acontece em pesquisas de todos os campos,
a tentação de confirmar padrões pré-existentes e explicações algumas vezes deixa caminhos inexplorados para outros tipos de compreensão.
Assim, por exemplo, Carol Fox nos conta que escolhe incluir apenas cinco das dez crianças que
considerou para o seu estudo “porque por uma série de motivos as outras crianças não achavam a
contação de histórias uma atividade muito natural” (FOX, 1993:18); mas ela então tende a esquecer
a existência dos cinco eliminados quando faz uma generalização, a partir dos cinco que gostavam
da atividade, acerca das habilidades de contação de história de crianças em geral. Um projeto mais
persuasivo poderia ter incluído os menos interessados e produzido generalizações mais cuidadosas
como resultado.
Um outro exemplo é a descrição que Kathy Coulthard faz de seu trabalho com Eylem, cipriota de
segunda geração cujas respostas às suas perguntas sobre um álbum ilustrado “sugerem a mim que
Eylem entende a leitura como um processo de recuperação no qual o sentido é fixado nas palavras
com pouco ou nenhum espaço para a interpretação” — um entendimento que vai contra seu próprio comprometimento a uma maior amplitude de respostas individuais (COULTHARD, 2003:186).
Coulthard oferece várias razões para a incapacidade de Eylem em adotar uma visão, como ser de
uma “comunidade de imigrantes com uma longa história de pouca leitura” (2003:188), não ter familiaridade com os tipos de perguntas que lhe são feitas e a postura perante as imagens que as perguntas implicam, e estar envolvido em um programa de leitura focado na audição e que “não está
lhe ajudando a se tornar letrado no sentido mais amplo” (2003:188). Mas ela nunca considerou
160
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
a possibilidade de que Eylem pode simplesmente não gostar de sua abordagem, ou não achá-la
significativa ou útil — a possibilidade de que ele seja uma pessoa única com uma ideia do que é
importante diferente da dela, faz o que é melhor para ele e não tem nenhum interesse particular
pelo que importa tanto a ela, ou em ser mais parecido com ela e menos como os outros membros
daquela “comunidade [...] com uma longa história de pouca leitura”. Seu comprometimento com o
seu próprio modo de fazer as coisas como sendo o melhor leva-a a adotar uma postura crítica com
relação à resposta de um indivíduo diferente da sua, e, também, parece cegá-la para os modos como
aquela resposta diferente poderia ser aberta a outras interpretações além daquelas suportadas na
(para, como argumentei) e defendidas pela atual pesquisa.
De qualquer forma, e apesar de suas inclinações para a ideia de que somos todos indivíduos únicos com respostas particulares, alguns dos pesquisadores que estudei de fato fazem generalizações
sobre as interações de crianças com livros, algumas vezes, até, sem nenhuma tentativa de justificá-las. No processo de argumentar que o trabalho que outro pesquisador efetuou com crianças revela
o acesso delas a formas sofisticadas de humor, por exemplo, Barbara Jordan expressa a convicção de
que “Crianças são altamente observadoras e não perdem os detalhes bem humorados que Anthony
Browne incutiu nas suas imagens” (JORDAN, 1996:53-4), sem apresentar nenhuma evidência, argumento ou sequer autoridade para tal afirmação.
_______________
Por quê, então, todas as generalizações? A resposta, eu acho, emerge de uma consideração de dois
aspectos significativos de todo este trabalho — aspectos que eu não posso deixar de aprovar. O primeiro é otimista. O segundo, propagandístico.
O otimismo emerge de uma qualidade distintiva de praticamente todas as generalizações que encontrei nesse trabalho. Em contraste com a grande maioria de generalizações sobre crianças que têm
caracterizado os discursos sobre a infância em diferentes culturas pelo mudo afora desde alguns
séculos atrás até os dias de hoje, estas enfatizam a capacidade em vez da deficiência.
Mais frequentemente, generalizações sobre crianças se focam no que elas não podem fazer ao invés
de se focarem no que elas podem fazer. Em The pleasures of Children’s Literature, Mavis Reimer e
eu listam uma série destas:
Crianças têm entendimento limitado e atenção de curta duração. [...] Crianças são inocentes por natureza,
felizmente ingênuas. [...] não se interessam por assuntos fora das suas experiências imediatas. Não gostam de histórias sobre pessoas diferentes delas mesmas vivendo em lugares diferentes de onde vivem.
[...] têm um desgosto básico para pensar e aprender, para vivenciar qualquer coisa diferente daquilo que
já conhecem e gostam. (NODELMAN; REIMER, 2003:86-87)
Qualquer um de nós poderia encontrar com facilidade exemplos expressivos de ideias como essas
em praticamente qualquer conversa sobre livros infantis — até mesmo com muitos especialistas em
infância ou educação. Eu os ouvia constantemente durante os meus trinta anos de ensino de futuros professores de literatura para crianças. Por ideias limitadoras como essas serem tão difundidas,
os pesquisadores que estou explorando aqui têm claramente um senso de que os resultados que
descrevem vão contra as ideias que a maioria das pessoas têm sobre o que as crianças são capazes
e o que vivenciarão com a literatura e o seu ensino — assim, suspeito que eles tendem a ter muita
confiança sobre o quão facilmente o que eles fizeram com algumas crianças poderia representar
161
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
o potencial de todas as crianças de todos os lugares. Eles tendem, então, a pular a verdade óbvia
demonstrada por suas pesquisas de que pelo menos algumas crianças são mais capazes do que as
generalizações comumente sugerem à implicação ilógica e improvável acerca do que todas as crianças são. Arizpe e Styles, por exemplo, ressentem-se da constatação de que “foram raras as vezes que
o álbum ilustrado fracassou em causar impacto nas crianças do nosso estudo, mas na exceção (nesse
caso uma criança hiperativa com um âmbito de atenção pequeno), pouco ou nenhum engajamento
foi possível e por isso a atividade foi bastante inútil” (ARIZPE; STYLES, 2003:44). Elas se prendem com
teimosia, otimismo, e, preciso dizer, afeto à sua ideia de que crianças geralmente são capazes, e que
a que tem um âmbito de atenção pequeno representa a exceção ao invés da norma, como muitos
pensam. E isso ocorre por causa do aspecto propagandístico desse trabalho. Não é meramente, ou
puramente, a pesquisa científica objetiva que ele representa. É também, sem dúvida, um trabalho
que emerge da convicção de que crianças merecem ser tratadas com mais respeito do que o normal,
e que a maioria dos professores, pais e outros adultos poderiam fazer mais e melhor. O trabalho
científico descrito não é apenas uma série de estudos de caso vistos sob a luz do que eles revelam.
Eles são apresentados também como bons exemplos do que pode ser feito, do que possivelmente
será feito e do que deve ser feito.
Isso é um trabalho importante. Muitas crianças frequentemente podem fazer mais do que a maior
parte das pessoas suspeitam, e se beneficiam do acesso a adultos que acreditam que elas são capazes de fazer mais e as ajudam. Suspeito que Lawrence Sipe e Caroline McGuire estão certos ao
dizerem no seu estudo sobre as implicações das guardas do álbum ilustrado que, “se professores se
ocuparem com o significado das guardas, as crianças também o farão” (SIPE; MCGUIRE, 2009:78),
mesmo que eu não esteja convencido acerca da verdade universal da sua afirmação que tem como
resultado que, “sua experiência estética literária e visual será intensificada” (2009:78). Assim como
algumas crianças não gostam de aspargos, algumas crianças sãs e felizes sem dúvida simplesmente
não ligam, nem nunca vão ligar, para as guardas.
De acordo com a minha experiência, tal trabalho seria benéfico em especial na América do Norte,
onde a ideologia dominante mais poderosa no ensino literário perpetua a ideia de que qualquer
forma de instrução por um professor é um ato intrusivo no direito e no desenvolvimento da resposta
individual nas crianças, e onde até mesmo a possibilidade de mais de uma criança ser solicitada para
ler e discutir o mesmo texto ao mesmo tempo é vista como repressiva, uma violação do direito da
criança de ler apenas o que cada uma quer ler, e quando quiser ler. Sob a luz da tendência amplamente difundida a tais ideias nas salas de aula da América do Norte, entendo que os pesquisadores
considerados aqui podem querer trabalhar muito para sugerir que sua fé na habilidade das crianças
para se envolverem, desfrutarem e lucrarem com discussões críticas e análises com objetivos pedagógicos específicos é deveras justificado.
Por outro lado, preocupo-me com as maneiras em que a propaganda dilui a objetividade científica
das conclusões alcançadas. Muitas alegações sobre esses trabalhos em termos da aplicabilidade
em outras situações podem estar minando os próprios ideais que esses escritores acertadamente
desejam difundir.
_______________
Isso me traz à minha pergunta original: o que pode ser legitimamente aprendido sob a forma de
conhecimento compartilhável de um trabalho com um grupo específico de crianças? Se os tipos de
162
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
generalização que eu tenho grifado são confiantes demais e vão longe demais, quais tipos de conclusões legítimas poderão ser tirados desse tipo de trabalho?
Primeiro, pesquisadores podem se focar mais explicitamente do que o normal nos modos que seus
trabalhos podem desafiar a generalização — enfraquecer ideias que outros tomam como válidas.
Rice oferece um exemplo disso quando ela diz que seu estudo demonstra que
é importante não assumir que crianças se identificarão com as experiências universais retratadas por
personagens em histórias multiculturais com temas universais. Nesse estudo, os ‘kits de identidade’ dos
alunos limitavam suas interpretações dessas histórias multiculturais com temas universais até o ponto de
restrições estéticas ocorrerem, fazendo com que as crianças não entendessem esses contos realistas de
ficção como realistas. (RICE, 2005:357)
Em segundo lugar, o fato de que algumas crianças realmente conquistaram algo não prova que todas
as crianças poderiam fazê-lo, mas isso revela, sim, que generalizações negativas sobre aspectoscomo pequeno âmbito de atenção, incapacidade de pensar abstratamente ou de fazer juízos éticos
sutis não são universalmente verdadeiras. Carol Fox apresenta um argumento desse tipo quando
afirma, “Eu quero desafiar a visão de Piaget [que crianças novas são egocêntricas e incapazes de ver
alguma coisa como outra pessoa veria] ao mostrar que as crianças no meu estudo algumas vezes
foram capazes de variar o ponto de vista nas suas histórias” (FOX, 1993:121). Esse tipo de desafio é
importante por si só. Enquanto o discurso hegemônico contemporâneo sobre a infância continuar
embebido de ideias sobre a incapacidade, precisaremos nos lembrar a todo momento de que crianças podem não ser meramente e sempre incapazes. Suposições acerca da falta de capacidade das
crianças têm tanta força que até mesmo esses pesquisadores comprometidos com a comprovação
de uma capacidade maior frequentemente expressam sua surpresa sobre o que pode ser conquistado. Por exemplo, Kate Noble diz, “Ao olhar, falar sobre e desenhar o que viram e entenderam desses
álbuns ilustrados, as crianças de 4 e 5 anos da minha sala pareceram ter descoberto muito mais
do que eu tinha esperado” (NOBLE, 2008:153). Ao introduzir a discussão de Bromley sobre o seu
trabalho com crianças, Arizpe e Styles dizem, “Apesar de sempre ter tido convicções fortes sobre a
capacidade de crianças novas lerem textos imagéticos com insight e inteligência, Hele Bromley ficou
surpresa com as interpretações intertextuais dessa turma de crianças de 6 anos” (ARIZPE; STYLES,
2003:101). E por todo o livro Storytime, Sipe se refere aos comentários das crianças sobre os livros
com os quais interagem como “maravilhosos” (SIPE, 2008:10), como algo que “só podemos admirar”
(2008:97), como “inacreditavelmente sofisticados” (2008:165), como algo que permite um “senso
de fascínio” (2008:2) na sofisticação delas.
Esse tipo de fascínio e surpresa também revela uma modéstia desnecessária e contraproducente
no seu trabalho: a mim parece óbvio que esses projetos obtiveram sucesso porque os adultos
envolvidos acreditavam que eles poderiam ter sucesso, e tinham sabedoria e experiência suficientes para fazer com que os projetos tivessem sucesso. Um dos efeitos colaterais negativos em se
insistir que os resultados desses experimentos sejam uma prova de que crianças são geralmente
mais capazes do que a maioria das pessoas pensa é que eles dão pouca ênfase não somente à
individualidade e ao talento dessas crianças únicas, mas também à individualidade e ao talento
desses indivíduos adultos, professores e pesquisadores. De fato, este trabalho, de forma útil e
difundida, representa uma evidência da natureza e do valor de práticas pedagógicas produtivas e
coerentes — exemplos do que professores com objetivos significativos e ideias de como atingi-los
podem conquistar.
163
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
É uma pena, então, que esses pesquisadores tão frequentemente determinados a provar suas hipóteses sobre o quão inteligentes as crianças podem ser não considerem o quão inteligentes eles
mesmos são. Enquanto Sipe e McGuire reconhecem que o seu trabalho demonstra “o interesse e a
sofisticação interpretativa que até crianças mais novas podem demonstrar com o apoio do professor” (SIPE; MCGUIRE, 2009:76), a maioria se focam nas crianças e não levam em conta a significância
do envolvimento deles mesmos. Arizpe e Style refletem, “Em vez de descobrir o que eles já sabiam
sobre álbuns ilustrados, estávamos mesmo diligentemente ensinado a eles como olhar?” (2009:10).
Elas reconhecem com frequência que “Nossas interações com crianças podem ter moldado suas respostas em formas que não tinham sido planejadas” (2009:243). Mas elas também querem confirmar
que a exposição a livros sofisticados e o potencial inato de cada criança eram mais importantes do
que suas próprias ações e convicções: “as crianças do nosso estudo consideraram a leitura de álbuns
ilustrados uma atividade intelectual em parte porque assim nós pensávamos. De qualquer forma,
acreditamos que a maior parte das crianças teriam se relacionado com os textos mesmo em nossa
ausência” (2009:246). Um orgulho mais justificável de seu nobre trabalho poderia tê-las levado a
generalizar menos sobre crianças e a se focarem mais nas suas crenças específicas, habilidades e
estratégias que utilizam e que possam recomendar a outros que tentassem com outras crianças —
como, por exemplo, Sipe o faz num capítulo onde analisa como professores com os quais as crianças
do seu estudo trabalharam encorajavam as respostas sofisticadas dos seus alunos.
Uma maior consciência sobre a influência dos adultos em encontros desse tipo pode também levar
pesquisadores dessa área a se tornarem mais alertas a algo que Sipe não considera naquele capítulo: como fazem, de modo consciente ou, com maior frequência, inconsciente, as crianças concordarem com suas metodologias de leituras e com suas próprias interpretações. Sobre o seu trabalho
com uma criança, Bromley diz, “Fiquei tão impressionada com a reação de Momahl ao livro que a
elogiei profusamente, enquanto o resto da turma estava sentado no tapete, impressionados com o
meu óbvio entusiasmo” (Bromley, 1996:139) — mas ela não chega a considerar possíveis implicações negativas de como seu entusiasmo agiu como uma influência propagandística de ideias e
interpretações específicas nas outras crianças a sua volta. Janet Evans faz uma afirmação parecida:
“Fiquei maravilhada com o fato de as crianças, trabalhando juntas e desenhado de acordo com as
suas bases de conhecimento particular, terem percebido o simbolismo usado por Botero” (EVANS,
2009:109-110) — o artista que estudou com as crianças — mas de modo semelhante não explora
as implicações do seu prazer pelas crianças conquistarem o que desejava e entenderem as pinturas
como ela entendia. Ademais, como Mazzei e Jackson argumentam,
Deixar os leitores ‘ouvirem’ vozes participativas e apresentar suas ‘palavras exatas’ como se fossem transparentes é uma manobra que deixa de considerar como, sendo pesquisadores, estamos sempre moldando
essas “palavras exatas” com as relações desiguais de poder presentes e pelos objetivos e direcionamentos
das nossas próprias pesquisas exploradoras. [...] Como as vozes podem ser distorcidas e ficcionalizadas no
processo da reescritura? (MAZZEI; JACKSON, 2009:2)
Um comprometimento mais forte em explorar todas as formas possíveis em que a presença e os
valores de um indivíduo possam ter influenciado o trabalho poderia se estender ao ponto de fazer
com que esse tipo de pesquisa se tornasse uma fonte mais rica para entender como adultos transmitem suas ideologias para crianças — e, se estivermos comprometidos de verdade com o ideal de que
indivíduos respondem diferentemente, podemos nos tornar conscientes das maneiras inconscientes
com as quais nós como adultos limitamos o âmbito de ações possíveis, práticas e interpretativasmesmo com a fé de que estamos encorajando a resposta individual.
164
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
Um compromisso mais completo com a conscientização do envolvimento do adulto pode inclusive aumentar o nosso entendimento de como convenções e práticas sociais podem ter influência
no desenvolvimento infantil. A descoberta de que diferentes grupos de crianças com mesma faixa
etária, em diferentes lugares, situações econômicas ou contextos culturais respondem de forma
parecida pode ser considerada não apenas como uma evidência das capacidades infantis universais,
mas também sob a luz de como as propagadas suposições sobre crianças e os objetivos e estratégias
pedagógicas amplamente difundidas podem estar agindo para regularizar a experiência infantil, deixando as crianças mais parecidas umas com as outras.
É intrigante, portanto, como muitos desses pesquisadores usam o trabalho de Anthony Browne, particularmente os livros The Zoo [o zoológico] e The Tunnel [o túnel], como gostam tanto desses livros,
e como quase todas as crianças com quem trabalham passam a gostar deles também — reforçando,
entretanto, a generalização de que todas as crianças são capazes de responder positivamente a
esse tipo sofisticado de álbum ilustrado.5 Mas e se todas as crianças tivessem aprendido a admirar
um livro diferente que algum adulto gostasse — chamado, vamos dizer, Todos menos eu são feios e
burros, ou talvez O Coelho Carlos para de perder seu tempo precioso com livros e fica rico e famoso.
Seria isso também uma evidência da sofisticação das crianças, ou apenas de seu desejo maleável de
se adequarem à suposições pré-existentes dos poderosos adultos?
Em termos da investigação das pressões de adequação, fico intrigado com a conclusão de Evelyn
Arizpe de que as conversas entre meninas de diferentes minorias culturais que ela relata no seu
estudo representam um potencial “de abordagem e entendimento das diferenças nas experiências
pessoais, abrindo caminho para o compartilhamento de valores como futuras cidadãs do mesmo
país” (ARIZPE; 2009:144). Essa frase ambiguamente escrita diz que as meninas comunicavam seus
valores diferentes e assim compartilhavam-nos, ou que suas conversas conduzem-nas a um compartilhamento dos mesmos valores? — como um acordo não verbal da democracia em voga de que tais
discussões são úteis e valiosas. Essas meninas na verdade estão ficando menos diferentes, e, se for
o caso, seria isso um desenvolvimento necessariamente bem-vindo? Uma exploração mais completa
das forças ideológicas que estão trabalhando aqui poderia ser altamente instrutiva.
Assim como prestar mais atenção em seus próprios papéis e no papel da ideologia nos processos
que descrevem. Pode ser possível também que pesquisadores sobre a recepção da literatura por
crianças cheguem a generalizações mais persuasivas ao fazer o uso de práticas mais convencionais
em outras áreas de pesquisa das ciências sociais: processos de amostragem e randomização mais
cuidadosamente controlados, maior uso de técnicas como grupos de controle e testes duplo cego —
técnicas que podem implicar em generalizações mais válidas. Suspeito, entretanto, que a introdução
desses tipos de práticas quantitativas possam fragmentar e distorcer os próprios processos que os
pesquisadores pretendem entender. O problema aqui não é que o trabalho que descrevo seja qualitativo ao invés de quantitativo; é que o trabalho qualitativo precisa ser menos dependente de pressuposições sobre tanto crianças quanto literatura, e mais atento ao amplo espectro de implicações
dos encontros entre crianças e livros, que registra de forma tão útil e intrigante.
Comecei a pensar em investigar esse tópico em uma conferência para alunos de pós-graduação no
Canadá, onde ouvi um trabalho em que uma aluna de doutorado descreveu sua pesquisa sobre o
5. Como um crítico anônimo desse ensaio apontou, “Um dos fatores é que Browne regularmente concede permissões
sem custo para a reprodução de suas ilustrações em publicações acadêmicas”.
165
LEITURA EM REVISTA Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio n.3, out., 2011.
compartilhamento de livros com um grupo específico de crianças mas não oferecia nenhuma explicação de como ela entendia que o seu trabalho contribuía para o nosso conhecimento geral de livros
e crianças. Presumi, no entanto, que ela tinha um argumento para o seu projeto, um objetivo para
um certo tipo de entendimento compartilhável que ela deixou de mencionar, então no momento
para perguntas ao final da sua comunicação perguntei a ela qual era o seu argumento. Se ela estava
comprometida com a ideia de que indivíduos respondem individualmente como ela afirmava, como
o que essas crianças fizeram poderia se aplicar a situações envolvendo outras crianças? Para a minha
surpresa, ela não tinha resposta, além de dizer que era uma pergunta interessante e que precisaria
pensar mais sobre isso. Ou pior, depois de uma hora ou duas, outra jovem correu para mim e disse, “Professor Nodelman, você arruinou a minha tese!” Ela ouvira a minha pergunta mais cedo, e
também tinha no seu projeto um relatório com crianças específicas, e tinha acabado de perceber
que ela não fazia a menor ideia sobre qual poderia ser a justificativa ou o objetivo do seu trabalho,
ou o que ela poderia ensinar para outros sobre crianças. Ela simplesmente tinha ignorado que seria
necessário ter algum tipo de valor, e então ficou arrasada.
Fiz o melhor que pude para mostrar a ela que seus dois anos de trabalho não tinham sido perda de
tempo sugerindo que ela considerasse algumas das implicações possíveis do seu trabalho que eu
destaquei aqui. Espero que tenha ajudado. Porém, encontrei-me preocupado com o fato de que a
validade de trabalhos descrevendo interações específicas de crianças com livros são tão tomadas
como verdadeiras que nenhum dos orientadores dessas jovens pesquisadoras pediu para que elas
pensassem sobre o propósito dos trabalhos ou o que eles poderiam conquistar. A pesquisa mais
produtiva sobre a leitura infantil presumiria o mínimo possível — não presumiria a utilidade, justificativa nem objetivo do trabalho, nem a validade dos valores dos próprios pesquisadores, nem
as implicações de ambientes e populações específicas, nem a generabilidade dos seus resultados.
Pesquisadores precisam estar especialmente atentos ao que pode ser contraproducente no que
acreditam e admiram, às possíveis implicações negativas de seus comportamentos otimistas. Um
comprometimento firme com esse tipo de pensamento autocrítico tem maior chance de produzir
um conhecimento que, se não for generalizável, pelo menos, utilmente compartilhável.
Envio: 18 jun. 2011
Aceite: 30 jun. 2011
166
Referências bibliográficas
Arizpe, Evelyn. “Sharing Visual Experiences of a New Culture: Immigrant Children’s Responses to
Picturebooks and Other Visual Texts”. In Evans (ed.). Talking Beyond the Page. Londres: Routledge, 2009, p. 134-51.
_____; Styles, Morag. Children Reading Pictures: Interpreting Visual Texts. Londres; Nova York:
Routledge, 2003.
Bromley, Helen. “Madam! Read the Scary Book, Madam: Momahl and Her Picture Books—The
emergent Bilingual reader”. In Watson, Victor; Styles, Morag (eds.). Talking Pictures: Pictorial
Texts and Young Readers. Londres: Hodder & Stoughton, 1996, p. 136-144
_____. “Spying on Picture Books with Young Children”. In Watson, Victor; Styles, Morag (eds.).
Talking Pictures: Pictorial Texts and Young Readers. Londres: Hodder & Stoughton, 1996. p. 101111.
Browne, Anthony. “The Artist’s Voice: Browne and Kitamura Talking Pictures”. In Arizpe, Evelyn;
Styles, Morag. Children Reading Pictures: Interpreting Visual Texts. Londres; Nova York: Routledge, 2003. p. 205-221.
Coulthard, Kathy. “‘The Words to Say It’: Young Bilingual Learners responding to visual Texts”. In
Arizpe, Evelyn; Styles, Morag. Children Reading Pictures: Interpreting Visual Texts. Londres; Nova
York: Routledge, 2003. p. 164-189.
Evans, Janet. “Introduction: Responding to Illustrations in Picture Books”. In Evans, Janet (ed.).
What’s in the Picture? Responding to Illustrations in Picture Books. Londres: Paul Chapman, 1998.
p. xiii-xviii.
_____. “‘Real Boys Don’t Go to Dance Classes’: Challenging Gender Stereotypes”. In Evans, Janet
(ed.). What’s in the Picture? Responding to Illustrations in Picture Books. Londres: Paul Chapman,
1998. p. 96-114.
_____ (ed.). What’s in the Picture? Responding to Illustrations in Picture Books. Londres: Paul Chapman, 1998.
_____. “Children’s Thoughts about Picture Books”. In Evans, Janet (ed.). Talking Beyond the
Page: Reading and Responding to Picturebooks. Londres; Nova York: Routledge, 2009. p. xix-xxx.
_____. “Reading the Visual: Creative and Aesthetic Responses to Picturebooks and Fine Art”. In
Evans, Janet (ed.). Talking Beyond the Page: Reading and Responding to Picturebooks. Londres;
Nova York: Routledge, 2009. p. 99-117.
_____ (ed.). Talking Beyond the Page: Reading and Responding to Picturebooks. Londres; Nova
York: Routledge, 2009.
Fox, Carol. At the Very Edge of the Forest: The Influence of Literature on Storytelling by Children.
Londres: Cassell, 1993.
Harding, Jennifer; Pinsent, Pat (eds.). What Do You See? International Perspectives on
Children’s Book Illustration. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars, 2008.
Jordan, Barbara. “Tricks and Treats: Picture Books and Forms of Comedy”. In Watson, Victor;
Styles, Morag (eds.). Talking Pictures: Pictorial Texts and Young Readers. Londres: Hodder & Stoughton, 1996. p. 48-60.
Labitsi, Vasiliki. “Students as Illustrators: Illustrated Storybooks in Greek Primary Education”.
In Harding, Jennifer; Pinsent, Pat (eds.). What Do You See? International Perspectives on
Children’s Book Illustration. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars, 2008. p. 179-203
Lewis, David. “Going Along with Mr. Gumpy: Polysemy and Play in the Modern Picture Book”.
Signal, n. 80, 1996, p. 105-29.
Mawell, Joseph A. “Understanding and Validity in Qualitative research”. In Huberman, A. Michael; Miles, Matthew B. The Qualitative Researcher’s Companion. Thousand Oaks; Londres: Sage,
2002.
Mazzei, Lisa A.; Jackson, Alecia Youngblood. “Introduction: The Limit of Voice”. Jackson, Alecia
Youngblood; Mazzei, Lisa A. (eds.) Voice in Qualitative Inquiry: Challenging Conventional, Interpretive, and Critical Conceptions in Qualitative Research. Abingdon; Nova York: Routledge, 2009. p.
1-14.
Merriam, Sharan B. “Assessing and Evaluating Qualitative Research”. In Merriam, Sharan B.
Qualitative Research and Practice: Examples for Discussion and Analysis. São Francisco: Jossey-Bass, 2002.
Noble, Kate. “Picture Books and the Development of Visual Literacy”. In Harding, Jennifer;
Pinsent, Pat (eds.). What Do You See? International Perspectives on Children’s Book Illustration.
Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars, 2008. p. 153-163.
Nodelman, Perry; Reimer, Mavis. The Pleasures of Children’s Literature. 3.ed. Boston: Allyn and
Bacon, 2003.
Pantaleo, Sylvia. “Exploring Children’s Responses to the Postmodern Picturebook Who’s Afraid
of the Big Bad Book?” In Evans, Janet (ed.). Talking Beyond the Page: Reading and Responding to
Picturebooks. Londres; Nova York: Routledge, 2009. p. 44-61.
Parkes, Brenda. “Nursery Children Using Illustrations in Shared Readings and Rereadings”. In
Evans, Janet (ed.). What’s in the Picture? Responding to Illustrations in Picture Books. Londres:
Paul Chapman, 1998. p. 44-57.
Pinsent, Pat. “Introduction to Part III: Remembering the Child Audience”. In Harding, Jennifer;
Pinsent, Pat (eds.). What Do You See? International Perspectives on Children’s Book Illustration.
Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars, 2008. p. 151-152.
Popper, Karl. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 1963. Londres :
Routledge, 2002.
“Qualitative Measures”. The Research Methods Knowledge Base. Disponível em: <<http://www.
socialresearchmethods.net/kb/qual.php>>. Acesso em 20 out. 2011.
Rice, Peggy S. “It ‘Ain’t’ Always So: Sixth Graders’ Interpretations of Hispanic- American Stories
with Universal Themes”. Children’s Literature in Education, n. 36, v. 4, dez. 2005, p. 343-362.
Rosen, Michael. “Reading The Beano: A Young Boy’s Experience”. In Watson, Victor; Styles,
Morag (eds.). Talking Pictures: Pictorial Texts and Young Readers. Londres: Hodder & Stoughton,
1996. p. 123-135.
Sipe, Lawrence. Storytime: Young Children’s Literary Understanding in the Classroom. Nova York;
Londres: Teacher’s College Press, 2008.
Sipe, Lawrence; McGuire, Caroline. “Picturebook Endpapers: Resources for Literary and Aesthetic
Interpretation”. In Evans, Janet (ed.). Talking Beyond the Page: Reading and Responding to Picturebooks. Londres; Nova York: Routledge, 2009. p. 62-80.
Styles, Morag. “Inside the Tunnel”. In Watson, Victor; Styles, Morag (eds.). Talking Pictures:
Pictorial Texts and Young Readers. Londres: Hodder & Stoughton, 1996. p. 23-47.
Watson, Victor. “Imaginationing Granpa--Journeying into Reading with John Burningham”. In
Watson, Victor; Styles, Morag (eds.). Talking Pictures: Pictorial Texts and Young Readers. Londres: Hodder & Stoughton, 1996. p. 80-100.
_____. “The Left-handed Reader—Linear Sentences and Unmapped Pictures”. In Watson, Victor;
Styles, Morag (eds.). Talking Pictures: Pictorial Texts and Young Readers. Londres: Hodder & Stoughton, 1996. p. 145-163.
_____; Styles, Morag (eds.). Talking Pictures: Pictorial Texts and Young Readers. Londres: Hodder
& Stoughton, 1996.