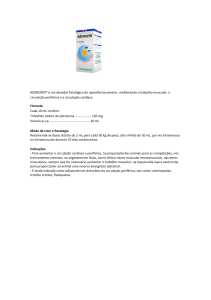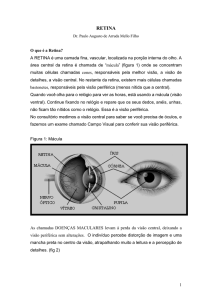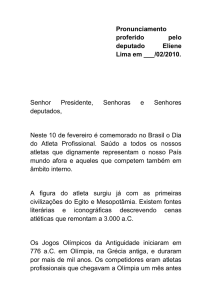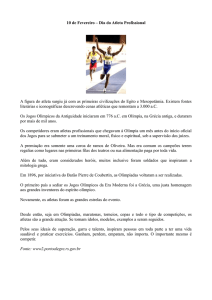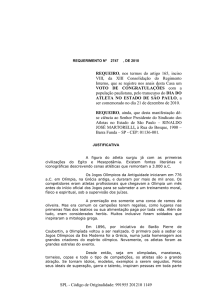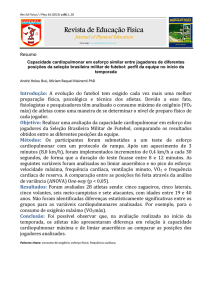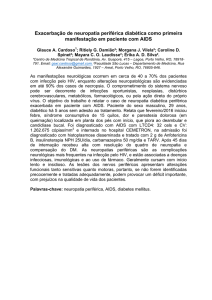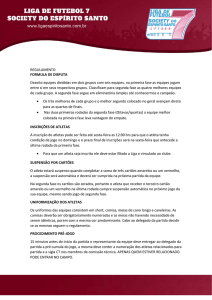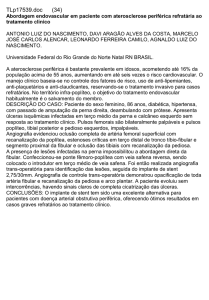AR TIGO
A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DA VISÃO PEFUFÉFUCA
NO FUTEBOL
José Alberto Pinto *
Nelson Inácio de ~ r a ú j *o*
RESUMO
O presente estudo teve como objetivos: efetuar uma análise do
sistema visual, relacionando-o com a percepção visual; relacionar a visão
periférica com as necessidades esportivas; demonstrar a importância do
treinamento da visão periférica no futebol; e discutir a questão do momento
ideal para iniciar o treinamento da visão periférica. O esporte necessita, para
sua prática, de padrões técnicos (gestos motores), e, para se obter sucesso,
utiliza-se de estratégias taticas, além de se obrigar os praticantes a ter de
tomar várias decisões no decorrer de suas ações. Portanto, fica evidente que
a percepção, principalinente a visual, torna-se um fator indispensável para
os esportes competitivos. Nos esportes caracterizados por tarefas motoras
abertas, em que o ambiente muda a cada instante, a visão passa a ser o
principal processo de informação do cérebro (MAGILL, 1984; SCHIMIDT,
1992). Se o objetivo é aumentar o número de informações que os atletas
utilizarão durante suas atividades motoras, então há necessidade de analisar
qual das visões, central ou periférica, será mais positiva na prática de tarefas
esportivas abertas e fechadas, sem e cbm contato físico direto. Pôde-se
concluir que a visão central possui menor ângulo de observação (20°),
possibilitando observar todos os detalhes, distinguindo, até mesmo, as cores
mais parecidas. Já a visão periférica possui maior campo visual (180°) e,
embora perdendo nos detalhes, ganha nas relações e inter-relações das
imagens e dos inoviinentos no contexto geral, fazendo com que o jogador
exerça inaior coiitrole sobre o ambiente. No caso do futebol, este estudo
deinoiistrou que se torna iinprescindivel sua utilização e que seu
treinamento é viável e de fácil desenvolvimento, podendo contribuir com
grandes avanços na formação dos futebolistas.
Palavras-chave: visão central, visão periférica, percepção visual.
*11Departamento de Educaçào Física da Universidade Federal de Viçosa.
Professor de 1:ducac;ão 1;isica.
R. min. Educ. Fis., Viçosa, 7(2): 8 1-93, 1'999
81
Devido ao alto nível de exigência a que os atletas são submetidos no
esporte de alto nível, os treinamentos são cada vez mais elaborados e
organizados, procurando atender todos os aspectos que envolvem as
competições, buscando, segundo DANTAS (1986), sua totalidade.
Além das evoluções nas partes física, técnica e tática, como
ocorrido nas décadas de 70 e 80, os treinadores têm procurado concentrar
seus trabalhos na preparação psicológica, e, diante da amplitude desta área
de conhecimento, o presente estudo estará restrito ao processo da tomada de
decisões; GROSSER (1988) enfatizou a importância dos aspectos cognitivos
contidos nesta.
SAMULSKI (1997), citando Mcnamada, Tenenbaum e Bar-Eli,
afírmou que o atleta se orienta, para tomar as decisões, de forma eficiente,
em três aspectos principais: a percepção, a memória e as relações espaciais,
ou seja, a tomada de decisão estará totalmente comprometida se esses
aspectos não forem desenvolvidos nos atletas. O treinamento da visão
periférica (ou visão de jogo, como dizem os leigos) torna-se uma importante
alternativa para desenvolver tais aspectos. Dessa forma, fica claro que a
evolução de um atleta vai depender também dos aspectos aqui citados, para
que ele consiga alcançar seus melhores resultados dentro de um processo de
treinamento de alto nível. Em algumas modalidades esportivas, dentre elas
aquelas classificadas como tarefas motoras abertas (MAGILL, 1984;
SCHIMIDT, 1992), em que o ambiente se modifica a todo instante, o
processo de tomada de decisões ocorre frequentemente, e, para que estas
solucionem os problemas ambientais, o atleta deverá desenvolver sua
capacidade de previsão e antecipação das ações. Para isso, ele deve possuir
bom sistema sensorial, com a visão, por sua importância nesse contexto,
passando a ser a principal via de acesso ao sistema nervoso central (SNC), a
fim de que as informações sejam processadas de acordo com as reais
necessidades ambientais.
A visão periférica é um dos mecanismos básicos para os atletas
realizarem tarefas mais coinplexas, como responder as diferentes situações
de jogo no menor espaço de tempo e tomar as decisões mais adequadas para
o sucesso de suas ações. Tanto o conhecimento como a utilização mais
adequada da visão periférica levarão a melhores desempenhos, com a
redução de erros decorrentes do processamento de informações em
momentos críticos de predomínio da visão central. Este estudo contribuirá
82
R. min. Educ. Fis., Viçosa. 7(2): 81-93, 1999
para que os profissionais de educação física, que atuam ou irão atuar nos
esportes com características semelhantes as do futebol, desenvolvam,
conscientemente, a formação esportiva básica como contribuição aos futuros
atletas.
Portanto, este estudo tem como objetivos: efetuar uma análise do
sistema visual, relacionando-o com a percepção; relacionar a visão
periférica com as necessidades esportivas; demonstrar a importância do
treinamento da visão periférica no futebol; e discutir a questão do momento
ideal para iniciar o treinamento da visão periférica.
Sistema visual
O ato de perceber consiste em conhecer os objetos e as situações
através dos sentidos, proporcionando as nossas relações com o meio em que
vivemos (PENNHA ,1968).
FORGUS (1971) classifica os órgãos dos sentidos específicos em
relação ao tipo de energia informativa, com a visão encontrando-se
classificada como exteroceptores, ou seja, sentido de distância, sendo
transmitida para nossos sentidos através de energia luminosa.
Conforme as leis da física, ver significa: a emissão de luz ou
refração dos objetos ambientais. "... As lentes dos olhos projetam as
imagens destes objetos nas retinas que transmitem a mensagem ao cérebro"
(ARNHEIM, 1974).
No entanto, a estrutura e a função do olho humano são muito bem
detalhadas pela medicina e seus especialistas, como descrito sucintamente a
seguir.
- O cristalino é um tecido transparente que focaliza os raios
luminosos, ao penetrarem na córnea, para formar a imagem na retina.
- A íris é um diafragma de tecido pigmentado, que controla as
dimensões da pupila e, dessa maneira, regula a quantidade total de luz que
atinge a retina, compensando as alterações de iluminações.
- A retina compõe-se de uma camada de células receptoras (cones e
bastonetes), que são neurônios sensíveis i luz e a mudança de luz, e de uma
camada de cé lu Ias bipolares e gangl ionares.
- A fóvea é uma pequena região no centro da retina que se compõe
inteiramente de cones e é altamente sensível aos detalhes.
R. min. Educ. Fis., Viçosa, 7(2.): 8 1 ~ 9 3 1999
,
83
- O nervo óptico é um
feixe de fibras neurais que vai da retina do
olho até a área de projeção no córtex (através de um centro retransmissor
chamado tálamo).
- O ponto cego é uma região diminuta que não possui receptores
sensíveis a luz (HOCHBERG, 1965).
Ver é, então, perceber as informações luminosas do objeto no
sistema visual, isto é, as luzes formam uma imagem que vai atravessar a
córnea, o humor aquoso, a pupila, o cristalino e o humor vítreo, chegando na
retina, a qual tem a função de transformar o estímulo luminoso em
bioquímico, que por sua vez será conduzido pelo nervo óptico até a área
visual no cérebro (CARVALHO e GONÇALVES, 1997).
A acuidade da retina vai depender em qual região desta é formada a
imagem. Se for formada na fóvea, que é o centro da mácula (que por sua vez
é conhecida como mancha amarela ou região pigmentada da retina), são
obtidas imagens ricas em detalhes (visão central). Caso a imagem não fique
somente na mácula e transcenda para periferia da retina, onde há células
bastonetes (pouco iluminadas e menor número de fibras nervosas, as quais
também vão formar o nervo óptico), a nitidez dos detalhes, das formas e das
cores é diminuída, enquanto aumenta a relação entre imagens e as
interpretações dos movimentos como um todo. Resumindo, perdem-se os
detalhes e ganham-se nas relações e inter-relações das imagens e dos
movimentos, além de se ter maior campo de observação (visão periférica).
A visão periférica é mais superjicial, não
percebe detalhes, e não sofre muita influência das cores.
A apresentação desta na retina periférica, no cérebro, é
mais anterior e mais profinda do que a região fóvea.
Portanto, as interligações sensório-motoras são
totalmente dgerentes qual a imagem é central ou
periférica. (CARVALHO e GONÇALVES, 199 7)
A importância da visão periférica
O esporte necessita, para sua prática, de padrões técnicos (gestos
motores), e, para se obter sucesso, utiliza-se de estratégias táticas, além de
se obrigar os praticantes a ter de toinar várias decisões no decorrer de suas
ações. Portanto, fica evidente que a relação da percepção, principalmente da
percepção visual, será um fator indispensável para os esportes competitivos.
84
R. rnin. Educ. Fís., Viçosa, 7(2): 8 1-93, 1999
Nos esportes caracterizados por tarefas motoras abertas, em que o
ambiente muda a cada instante, a visão passa a ser o principal processo de
informação do cérebro (MAGILL, 1984; SCHIMIDT, 1992).
GROSSER (1 998) afirma que, para os atletas realizarem as táticas e
estratégias, eles dependem dos processos intelectuais e perceptivos.
GRECO (1992) faz considerações, mostrando que os processos
cognitivos no comportamento tático dos esportes coletivos são, entre outros,
a percepção, a antecipação e a tornada de decisão. SAMULSKI (1992)
lembra que a antecipação e a tomada de decisão também dependem da
percepção.
Tenenbaurn e Bar-Eli, citados por SAMULSKI (1997), afirmaram
que "a inteligência perceptual é uin dos principais fatores responsável pela
qualidade e quantidade dos comportamei~tos apresentados nas disputas
diretas dentro dos esportes".
Os estudos publicados por TIEGEL (1994) deinonstrain que os
"processos cognitivos nos esportes estão na percepção, internalização,
decisão, ação e no controle das jogadas".
Se é consenso entre vários autores que a percepção, principalmente
a visual, é essencial nos esportes, fica clara a necessidade de se aprofundar
uin pouco inais nos estudos desta área de conhecimento, coino forina de
possibilitar aos atletas maior utilização deste indispensável mecanismo de
inforinação.
Se o objetivo é aumentar as inforinações que os atletas utilizarão
durante suas atividades inotoras, então há necessidade de analisar qual das
visões será mais positiva na prática de tarefas inotoras fechadas, abertas, de
contato direto OLI sein contato. Para isso, serão analisados os ângulos de
observação das visões e suas características.
A visão central tem uin ângulo de observação de 20°, mas consegue
ver todos os detalhes e definir as cores mais parecidas. Já a visão periférica
não capta os detalhes e nein diferencia as cores parecidas, porém seu ângulo
de observação é de 180" (CUYTON, 1988).
Em relação a esse aspecto, fica evidente que, nas inodalidades de
tarefas inotoras fechadas, é preciso concentrar a visão nos detalhes, pois o
ambiente não muda e os objetivos são fixos. Assiin, a visão central é mais
positiva para realizar tais atividades, coino no caso de arco e flecha,
arreinessos e o lance livre do basquete.
Nas tarefas motoras abertas sein contato coin o adversário, fica
difícil utilizar somente Lima visão, sendo o mais positivo a alternância do
predoiníiiio das visões central e periférica, pois ora é preciso ver os detalhes,
R. min. Educ. Fis., Viçosa, 7(2): 8 1-93, 1999
85
ora é necessário aumentar o campo visual (exemplos: voleibol, tênis, peteca,
squash, pingue-pongue ou tênis de mesa).
Nas tarefas motoras abertas em que se tem o contato direto com os
adversários, a visão periférica é mais positiva, pois o importante é aumentar
o campo visual do atleta; contudo, os detalhes e as cores parecidas não têm
grande significância (exemplos: futebol, basquete, handebol e futsal).
Complementando esse pensamento, D'AMARO (1993) entende que
"no futebol, é melhor perceber só os vultos de outros jogadores do que vê10s com os detalhes da visão central".
Com base nas descrições anteriores, fica demonstrada a importância
do campo visual periférico nos esportes de tarefas motoras abertas de
contato direto. Além disso, os atletas não perderão tempo com movimentos
excessivos nas tentativas de localizar seus objetivos, como é feito com a
visão central.
Carvalho e Gonçalves, citados por D'AMARO (1993), afirmam que
"a preparação dos atletas tem visado muito mais a parte motora, ao passo
que com treinamento da percepção pode-se melhorar a velocidade dos
reflexos. Por isto é importante também criar exercícios para os olhos".
O treinamento dos olhos é para que os atletas das modalidades
esportivas abertas e de contato direto com o adversário, como é o caso do
futebol, percebam através da visão periférica e se concentrem menos na
utilização da visão central.
Com o aumento do campo visual os atletas terão,
conseqüentemente, mais informações e ganhos na perforinance, devido a
eliminação de inoviinentos excessivos utilizados com a visão central. Os
atletas então terão mais informações e tempo para desempenhar sua técnica,
suas táticas e, principalmelite, a criatividade.
As concepções sobre a visão periférica no futebol
Uma vez demonstrada a iinportâilcia da visão periférica no esporte,
não poderia ser diferente sua importância no futebol, porém surge uina
questão polêinica: a melhor utilização da visão periférica é um dom de
nascença de uns poucos privilegiados ou ela pode ser treinada através de
exercícios específicos?
Para Falcão (técnico do Internacional de Porto Alegre e da seleção),
citado por D'AMARO (1 993):
"Exercícios como o do escanteio são uma questão
de reflexo, não de visão de jogo. Essa nasce com o atleta
86
R. inin. Educ. Fís., Viçosa, 7(2): 8 1-93, 1999
,
e uns têm, outros não. O que se pode fazer é orientar o
jogador para prestar atenção na posição dos
companheiros antes de receber a bola".
Esse inesino autor cita ainda a opinião de outros renomados do
futebol brasileiro, como segue: reforçando a concepção de Falcão, Rivelino
(comentarista de TV e técnico do clube Brasil de Masters) afirma que a
visão de jogo (obtida pela visão periférica) nasce com o jogador, sendo
característica de atacantes talentosos e geniais. No entanto, Ademir da Guia
(diretor da escola de futebol da Secretaria de Esporte de São Paulo) cita que
"o futebol precisa estar sempre evoluindo. Por isto, acho muito válido criar
exercícios para melhorar a visão periférica. Na minha época, não eram feitos
sequer exercícios de alongainento, coisa essencial hoje em dia". Também
Mário Sérgio (técnico do Coríntliians) e Sócrates (médico em Ribeirão Preto
- SP) afirmam que a capacidade que os jogadores possuein para perceber
rapidainente tudo que está ein sua volta pode ser treinada e desenvolvida por
estímulos específicos e que a falta de conheciinento desta área é que explica
o pouco uso desta nova técnica.
Ainda conforme o autor, Telê Santana, quando técnico do Sãq
Paulo, salientou que "os grandes jogadores têm a percepção apurada por
natureza, o que não significa que não possa ser aprimorada. Treinainentos
de passes rápidos, do tipo dois toques, obrigam o atleta a ficar atento aos
colegas".
Carvalho, citado por D'AMARO (1 993), observou que "os grandes
craques realmente conseguem aproveitar a visão periférica naturalmente.
Mas há como induzi-Ia também nos jogadores inenos dotados".
D'AMARO (1993) mostra ein seu trabalho que "nem só de pernas
vivem os jogadores de fiitebol. A medicina mostra que treinar os olhos
inelhora a perforinance dos atletas e que 'visão de jogo'iião é um dom de
nascença, privilégio de bem dotados", constatando assim que os jogadores
que somente conseguem ver a bola conseguirão somente perdê-la.
A necessidade do treinamento da visão periférica no futebol
Devido as características do futebol, os atletas precisam desenvolver
lima iilteligência específica para suprir as várias necessidades, como relata
Sainulski, citado por PAOLI f 1 994):
"O atleta tem que perceber o campo de jogo, os
movimento.~c. uções dos adversários e companheiros.
Deve, uindu, antecipar a direção e velocidude da bola,
R. inin. Educ. Fís., Viçosa, 7(2): 8 1-93., 1999
87
concentrar-se na execução das técnicas desportivas,
perceber rapidamente situações táticas e ter iniciativa
em momentos importantes... "
Levando em consideração a complexidade das ações e as prováveis
dificuldades que os atletas terão pela frente, fica demonstrada a necessidade
de elaborar treinamentos mais específicos para cada modalidade esportiva,
principalmente para o futebol, que se encontra em um avançado nível físico,
técnico e tático.
No entanto, uma vez que as exigências são cada vez mais
complexas, as respostas terão que ser mais precisas e organizadas dentro das
estratégias utilizadas para superar os adversários. Com isso, as equipes que
não conseguirem avanços em seus treiiiamentos, iião preparando
satisfatoriamente seus atletas, provavelmente ficarão ultrapassadas, sem
conseguir acompanhar a evolução das demais. Cada vez mais as decisões
terão seus resultados vinculados aos detalhes específicos do desempenho
altamente habilidoso.
Além da visão periférica que deve ser inserida nos treinamentos, há
outras habilidades visuais que vão auxiliar no melhor aproveitamento do
campo visual, as quais são trabalhadas em laboratórios, conforme
CARVALHO e GONÇALVES (1 997), sendo elas: os movimentos oculares,
a visão dinâmica, o processamento visual rápido, a visão binocular, a
rapidez nos movimeiitos oculares, a rapidez de acomodação, a percepção
espacial, a rapidez de reação aos estímulos seiisoriais, a memória
proprioceptiva e a memória visual de curto prazo.
O momento ideal para iniciar o treinamento da visão periférica
Restam dúvidas sobre qual o inoineiito ideal para iniciar o trabalho
da visão periférica: se antes do início da aprendizagem e autoinatização dos
fundamentos ou se após a apieiidizagein destes, ou, ainda, se é inellior
desenvolver este trabalho coincidindo com o eiisiiio dos fuiidaineiitos.
BELLO (1 998) preconiza que os atletas apreiidein a utilizar e a
deseiivolver a visão periférica ein qualquer idade.
CARVALHO e GONÇALVES (1997) argumentam que os atletas
que aprenderam a utilizar a visão periférica depois que os fuiidaineiitos já
estavam autoinatizados, nos inoineiitos de teiisão, poderão voltar a utilizar a
visão central. Afirmam ainda que eles demoram mais tempo para
aprenderem tal qualidade.
88
R. min. Educ. Fís., Viçosa, 7(2): 8 1-93, 1999
Com base nessa afirmação, ainda restam duas hipóteses de trabalho:
a melhor utilizaçâo da visão periférica deve ser desenvolvida antes da
automatização oli ao mesmo tempo em que ocorre a aprendizagem dos
fundamentos.
Segundo o "Guia para início da especialização do treinamento", de
POMPEU (1995), a idade correta fisiologicamente para os iniciantes
começarem os treinamentos é por volta de dez anos, em que eles estão
1 prontos para suportar as cargas de trabalho sem "tkm maiores complicações
I
quanto à sua estrutura fisiológica.
Para CARVALHO e GONÇALVES (1993), "a época ideal para
começar estes fundamentos é por volta dos quatro anos de idade, quando as
células nervosas estão abertas para a aprendizagem, facilitando o ativamento
deste tipo de função para sistema visual".
Como os profissionais esportivos não podem trabalhar tal qualidade
aos quatro anos de idade, porque geralmelite as crianças começam a prática
mais tarde nas escolinhas, esta possibilidade não pode ser atendida, exceto
nas atividades pré-escolares.
I
CARVALHO e GONÇALVES (1997) sugerem que, atualmente,
melhor seria se os professores das escolinhas de iniciaçgo tivessem em
I inente o objetivo de desenvolver tal qualidade e já utilizassem este trabalho
juntamente com os primeiros eiisiiiamentos dos fundamentos em suas
escolinhas. No entanto, os referidos autores ressaltam ainda que é melhor:
"Apreiider os fundameiitos ao mesmo tempo em que educa a visão, pois é
1 mais econômico, mais fácil e mais interessante do que corrigir defeitos
I
depois de instalados".
Portanto, fica evidente que os aprendizes que apresentam ganhos
nesta área terão, teoricamente, mais facilidade de acompanhar as atividades
aplicadas pelos profissionais em relação aos outros que não tiveram nenhum
estímulo que desenvolvesse as qualidades visuais. Entretanto, todo atleta,
I
em qualquer idade, pode e deve ser submetido ao treinamento, como
contribuição para a perforinance habilidosa.
1
CONCLUS~ES
Após análise das inforinações bibliográficas consultadas, tornou-se
possível coiicluir que:
- A percepção, principalinente a visual, e essencial para orientar os atletas
nas tomadas de decisões.
i
R. rnin. Educ. Fis., Viçosa. 7(2): 81-93. 1999
89
- A utilização da visão periférica no esporte é de fundamental importância,
principalmente nas atividades motoras abertas de contato direto com os
adversários, como no basquete, futebol, handebol, futsal, futebol americano,
entre outros.
- Com a concepção de utilização da visão não sendo um dom nato de uns
poucos privilegiados, ficou reforçado que ela pode e deve ser trabalhada
independentemente da idade dos aprendizes.'
- Devido ao elevado grau de complexidade dessas tarefas motoras e ao
grande número de informações que os atletas têm que processar, ficou
demonstrada a necessidade, no futebol, de treinamentos mais específicos de
utilização da visão periférica.
- A utilização da visão periférica possibilitará ao atleta o aumento de seu
campo visual. Dessa forma, poderá reduzir tempo de movimento,
eliminando movimentos excessivos decorrentes do excesso de utilização da
visão central.
- O melhor momento para iniciar estes treinamentos coincide com o início
da aprendizagem dos fundamentos. Entretanto, em qualquer idade pode e
deve ser trabalhada tal habilidade. Seria interessante que nas aulas de
educação física, em todos os níveis de ensino, fossem proporcionadas
atividades para utilização da visão periférica.
- Com redução do predomínio da visão central e maior utilização da visão
periférica, eliminam-se movimentos excessivos, simplificando o padrão de
movimento estabelecido e facilitando, assim, o maior rendimento e o
desempenho.
- Com este estudo, ficou demonstrada a importância não somente da
utilização da visão periférica, mas, principalmente, a necessidade de treinála. Atletas que aprenderam seu uso se destacaram em relação aos demais,
atingindo objetivos significativos ao longo da carreira amadora e
profissional.
ABSTRACT
The importnnce of trnining tlte outlying vision in soccer
The present study had as objectives: to inake ali analysis of tlie
visual system, related to tlie visual perception; to relate outlying vision witli
sporting needs; to demonstrate the irnportance of training the outlying vision
in soccer; and to discuss when is the ideal moment to begin tlie training of
90
R. min. Educ. Fts., Viçosa, 7(2): 81-93, 1999
outlying vision. The sport needs, to its practice, technical patterns (motor
gestures), and, to obtain success, tactiçal strategies are used, besides
assurning the apprentices have to rnake rnany decisions during actions.
Therefore, it is evident that the perception, rnainly the visual, becornes an
indispensable factor for cornpetitive sports. In sports characterized by open
motive tasks, where the environment changes every instant, the vision
becornes the principal information process of the brain (MAGILL,1984;
SCHIMIDT,1992). If the objective is to increase the information number
that the athletes use during your motive activities, then it is necessary to
analyze which vision, central or outlying, will be more positive in the
practice of open and closed sporting tasks, without and with direct physical
contact. The conclusion was that the central vision has smaller observation
angle (20°), making possible to observe all the details, distinguishing, even,
the most similar colors. The outlying vision has larger visual field (180")
and, although losing in details, it gains in relationships and interrelations of
images and movements in general context, so that the player exercises larger
control on the environment. In soccer, this study demonstrated that the use
of outlying vision becomes indispensable where the training is viable with
easy development and could contribute with great progresses in the soccer
players formation.
Key words: central vision, outlying vision, visual perception
ARNHEIN, R. Arte e percepção visual. Uma psicologia da visão
criadora. Tradução de Ivonne Terezinha de Faria, São Paulo: Pioneira,
1992. 503p.
BELLO, JR N. A ciência do esporte aplicada ao futsal. Rio de Janeiro:
Sprint, 1998. 172p.
CARVALHO, D. M., GONÇALVES, P. Visão periférica e futebol. São
Paulo: Hipócrates, 1997. 380p.
D'AMARO, P. Olhos de Craque, Superinteressante, v. 7, n. 11, p. 50-55,
Nov. 1993.
DANTAS, E. H. M. A pratica da preparação física. Rio de Janeiro:
Sprint, 1986. 576p.
R. min.,Educ. Fís., Viçosa, 7(2): 81i93, 1999
91
DOMINGUES, A.
1997. 105p.
D oleiro 100 segredos, Curitiba: CR&C Comunicação,
FORGUS, R. A. Percepção: o processo básico do desenvolvimento
cognitivo. São Paulo: Heder, 1971. 526p.
c
GUYTON, A. C. Fisiologia humana. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
1988. 565p.
GRECO, P. J. O componente tático. Material didático do curso de
mestrado em ciências do esporte da escola de Educação FísicaJUFMG,
Belo Horizonte, 1992. 320p.
GROSSER, M. et al. Alto rendimiento deportivo: planificación y
desarrollo. Espanha: Martinez, 1988. 280p.
HOCHBERG, J. E. Percepção, curso de psicologia moderna. Tradução de
Álvaro Cabral, Rio de Janeiro: Zahar, 1966. 180p.
MAGILL, R. A. Aprendizagem motora: conceitos e aplicações. São
Paulo: Edgard Blucher, 1984. 274p.
PAOLI, P. B. O componente tático no treinamento esportivo. Relatório
da Disciplina Teoria do Treinamento, Escola de Educação Física,
MestradoIUFMG. Belo Horizonte, 1994.
PENNHA, A. G. Percepção e realidade - introdução ao estudo da
atividade perceptiva. Brasil-Portugal: Fundo de Cultura, 1968. 1 83p.
POMPEU, F. A. M. Considerações biológicas sobre treinamento de
crianças e adolescentes. Revista Mineira de Educação Física, Viçosa,
v. 3, n. 1, p. 43-64, 1995.
SAMULSKI, D. M. et al. Temas atuais em educação fisica e esporte.
Coletânea de trabalhos do departamento de esportes da UFMG, Belo
Horizonte, 1997. 326p.
92
R. mín. Educ. Fis., Viçosa, f (2): 8 1-93, 1999
SCHMIDT, R. A. Aprendizagem e performance motora: dos princípios
à prática. São Paulo: Melhoramentos, 1992. 293p.
- *'
TIEGEL, G. Curso de futebol. Material didático do curso de rnestrado em
ciências do esporte, escola de Educação FísicdUFMG, Belo Horizonte,
1994.32~.
R! rnin. Educ. Fis.: Viçosa, 7(2): 81-93, 1999
93