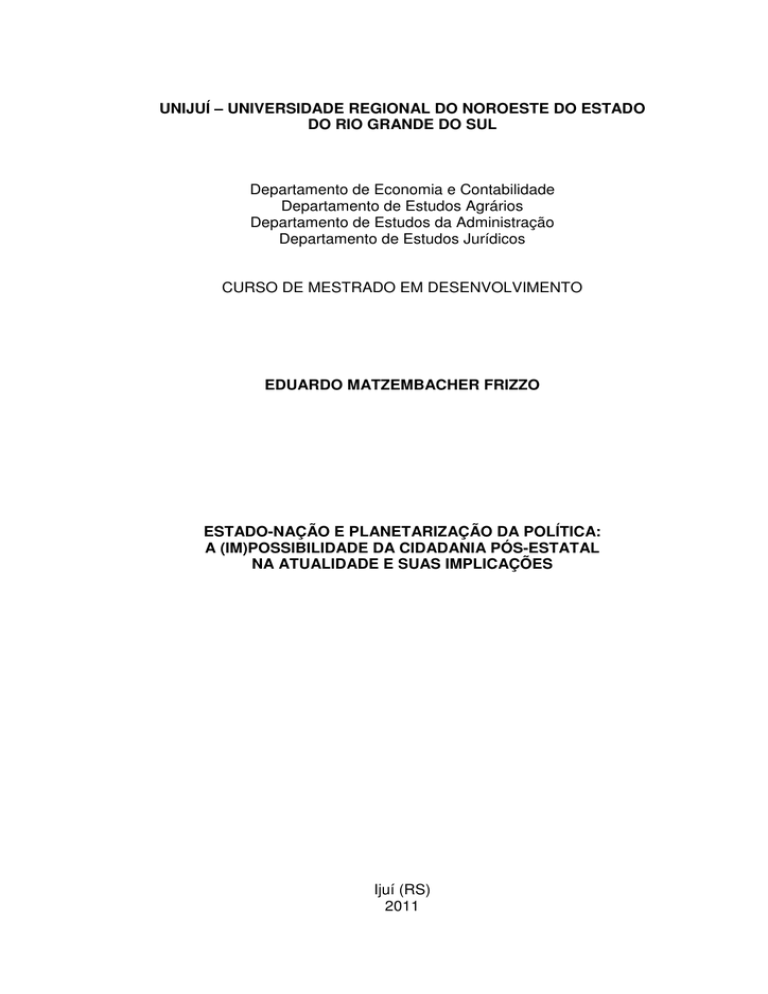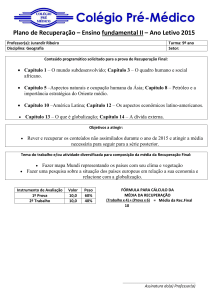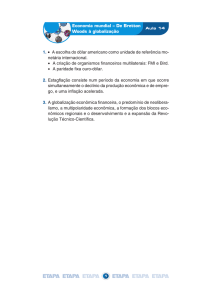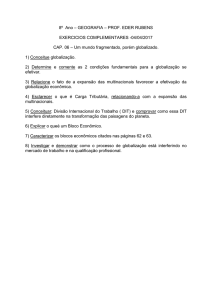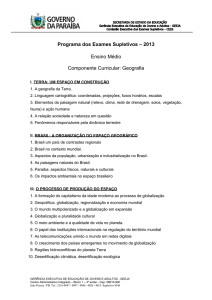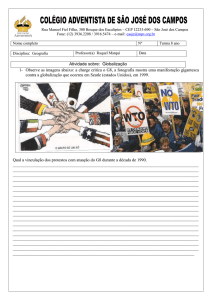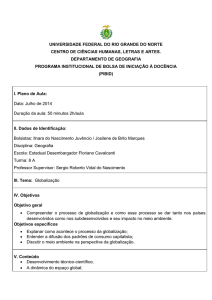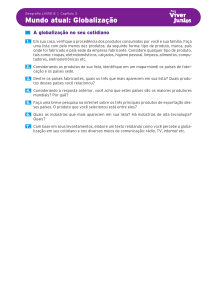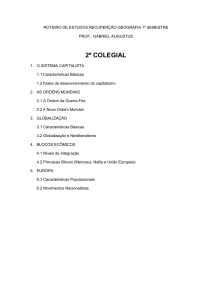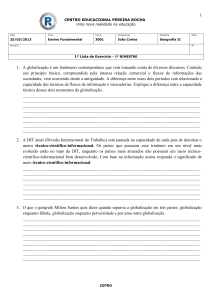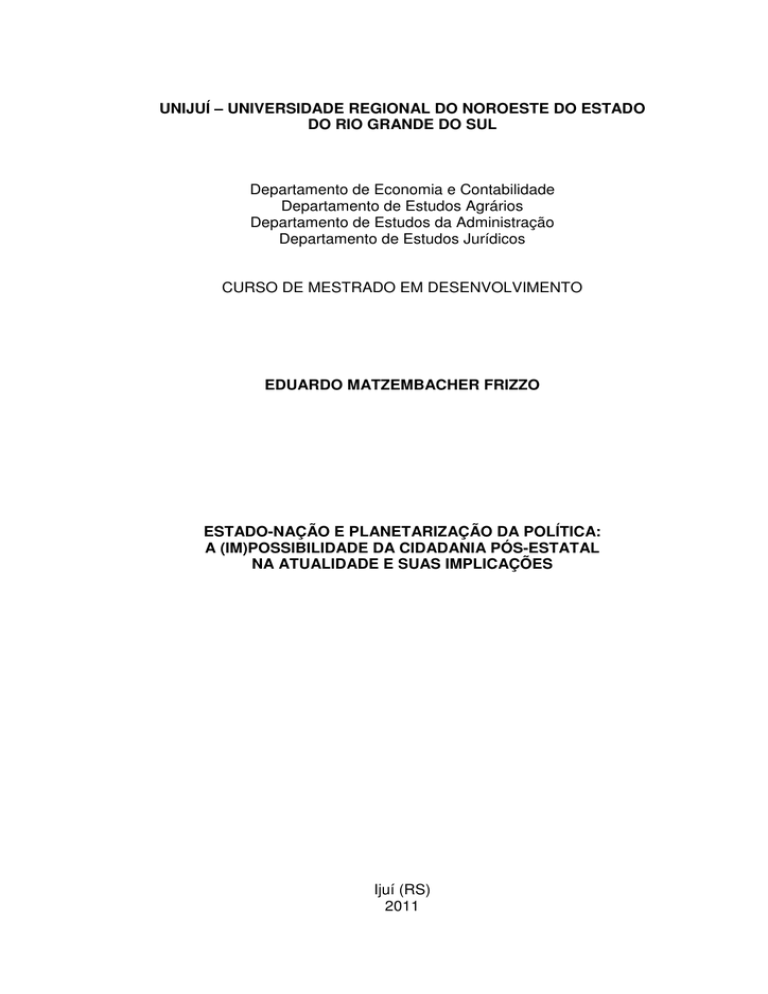
UNIJUÍ – UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL
Departamento de Economia e Contabilidade
Departamento de Estudos Agrários
Departamento de Estudos da Administração
Departamento de Estudos Jurídicos
CURSO DE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO
EDUARDO MATZEMBACHER FRIZZO
ESTADO-NAÇÃO E PLANETARIZAÇÃO DA POLÍTICA:
A (IM)POSSIBILIDADE DA CIDADANIA PÓS-ESTATAL
NA ATUALIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES
Ijuí (RS)
2011
2
EDUARDO MATZEMBACHER FRIZZO
ESTADO-NAÇÃO E PLANETARIZAÇÃO DA POLÍTICA:
A (IM)POSSIBILIDADE DA CIDADANIA PÓS-ESTATAL
NA ATUALIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES
Dissertação apresentada ao curso de
Pós-Graduação
Stricto
Sensu
em
Desenvolvimento, na linha de pesquisa
Direito, Cidadania e Desenvolvimento, da
Universidade Regional do Noroeste do
Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ),
como requisito parcial para obtenção do
título de Mestre em Desenvolvimento.
Orientador: Prof. Dr. Gilmar Antonio Bedin
Ijuí (RS)
2011
3
Catalogação na Publicação
F921e
Frizzo, Eduardo Matzembacher.
Estado-nação e planetarização da política : a (im)possibilidade da
cidadania pós-estatal na atualidade e suas implicações / Eduardo
Matzembacher Frizzo. – Ijuí, 2011. –
185 f. ; 29 cm.
Dissertação (mestrado) – Universidade Regional do Noroeste do
Estado do Rio Grande do Sul (Campus Ijuí). Desenvolvimento.
“Orientador: Gilmar Antonio Bedin”.
1. Estado-nação. 2. Cidadania. 3. Globalização. 4. Sociedade
internacional contemporânea. 5. Direitos humanos. I. Bedin, Gilmar
Antonio. II. Título. III. Título: A (im)possibilidade da cidadania pósestatal na atualidade e suas implicações.
CDU: 341.217
342.7
Aline Morales dos Santos Theobald
CRB10/ 1879
4
UNIJUÍ - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento – Mestrado
A Banca Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação
ESTADO-NAÇÃO E PLANETARIZAÇÃO DA POLÍTICA: A
(IM)POSSIBILIDADE DA CIDADANIA PÓS-ESTATAL NA ATUALIADADE
E SUAS IMPLICAÇÕES
elaborada por
EDUARDO MATZEMBACHER FRIZZO
como requisito parcial para a obtenção do grau de
Mestre em Desenvolvimento
Banca Examinadora:
Prof. Dr. Gilmar Antonio Bedin (UNIJUÍ): ________________________________________
Prof. Dr. Florisbal de Souza Del’Olmo (URI): ______________________________________
Prof. Dr. Doglas Cesar Lucas (UNIJUÍ): __________________________________________
Ijuí (RS), 17 de março de 2011.
5
Ao futuro do presente tramado no “Ainda-Não”.
6
AGRADECIMENTOS
É impossível enumerar de maneira justa a profusão de vozes silentes e
expressas que se encontram de alguma forma aqui matizadas. Como resultado de
um momento histórico, esse trabalho carrega traços do passado e do presente
apontados na direção de uma expectativa de futuro que começa a se delinear pelas
suas linhas. Agradecer, portanto, mais do que um ato de reconhecimento, é
sobretudo um modo de retribuição àqueles que nos mais variados papéis
possibilitaram a concretização desse estudo.
Agradeço assim aos meus pais, Jorge e Tânia, bem como ao meu irmão,
Jorge Henrique, pelo carinho, compreensão e apoio nos momentos difíceis que
enfrentei nos últimos anos – não conseguiria nada sem vocês. À Franciele, pelo
companheirismo impetuoso, crítico e apaixonado pelo viver – marca profunda de
ontem, hoje e amanhã. À Dênis, pelas discussões e angústias compartilhadas em
tanto tempo de convivência e conversas sem hora para acabar – sem nossa
contínua troca de idéias, muito disso que aqui está não seria possível.
Agradeço também aos colegas de mestrado, especialmente Gustavo,
Camila, Darlan, Alexandre e Patrícia, pela amizade franca e inestimável. Ao
professor doutor Gilmar Antonio Bedin, pela competência, racionalidade e paciência
na orientação – não chegaria a um ponto final sem a sua extrema sensatez e
acolhida. Ao professor doutor Doglas Cesar Lucas, que desde a graduação tenho
como exemplo na tentativa de lançar ao mundo um olhar diferenciado e solidário –
não fosse sua humildade e sua inteligência com as quais tive contato há cinco anos,
meu caminho seria completamente diferente. Ao professores doutores Darcísio
Corrêa, Martinho Luis Klein, Dejalma Cremonese, Daniel Cenci, Odete Maria de
Oliveira e Antonio Carlos Wolkmer, pela paixão ao conhecimento que me impulsiona
em meio às atribulações cotidianas. Aos colegas do Instituto Cenecista de Ensino
Superior de Santo Ângelo, pelo convívio amistoso e sempre frutífero à minha
formação diária.
Por fim, confessando novamente que certamente não abordei todos aqueles
que de algum modo me levaram a esta realização, agradeço ao subsídio financeiro
da Capes, sem o qual a concretização desse projeto não seria possível.
7
“Nunca nos ocorreu que era uma nova forma de sistema. Sem contornos definidos.
O nosso erro foi procurar na própria história os moldes. Esquecidos que os tempos e
os homens tinham se modificado, substancialmente. Como poderíamos chamar a
esta nova fórmula? Sistemas dissimuladores?
Assemelham-se, porém não são. São, mas não se assemelham. Um jogo de
esconde. Como se entrássemos num labirinto de espelhos, e perdêssemos a
imagem verdadeira. Ou todas as imagens à nossa volta dadas como verdadeiras.
Aceitar todas, admitindo a multiplicidade, ou permanecer em busca da única?”
Ignácio de Loyola Brandão – Não Verás País Nenhum (1982).
8
RESUMO
A presente dissertação analisa a (im)possibilidade do estabelecimento de uma
cidadania pós-estatal na atualidade e suas implicações para o Estado-Nação. Para
tanto, primeiramente aborda a conformação histórico-teórica do Estado-Nação e a
construção histórico-política da cidadania e seu estreito vínculo com os conceitos de
território e nacionalidade. Em um segundo momento, trata das transformações
ocorridas tanto em relação a cidadania quanto ao Estado em decorrência da
multidimensionalidade da globalização. Derradeiramente, aponta para a
transformação da sociedade internacional e sua crescente interdependência,
destacando também o processo de internacionalização dos direitos humanos, seus
limites num contexto de soberanias ainda co-existentes e suas potencialidades
contemporâneas.
Palavras-chave: Estado-Nação. Cidadania. Globalização. Sociedade internacional
contemporânea. Direitos humanos.
9
ABSTRACT
This thesis examines the (im)possibility of establishing a post-state citizenship in the
news and its implications for the nation state. Lastfor, fist addresses the historical
and theoretical conformation of the nation state and political-historical construction of
citizenship and its close link with the concepts of territory and nationality. In the
second part, deals with changes occurring both in relation to citizenship and the state
as a result of the multidimensionality of globalization. Ultimately, point to the
transformation of international society and its increasing interdependence, stressing
also the process of internationalization of human rights, their limits in the context of
sovereignty still co-existing and its potential contemporary.
Keywords: Nation state. Citizenship. Globalization. Contemporary international
society. Human rights.
10
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................9
1 ESTADO-NAÇÃO E CIDADANIA...........................................................................13
1.1 A conformação histórico-teórica do Estado-Nação .............................................13
1.2 Fundamentos e conceituação de Estado-Nação.................................................26
1.3 A construção histórico-política da cidadania .......................................................33
1.4 Cidadania e nacionalidade ..................................................................................47
2 GLOBALIZAÇÃO, ESTADO-NAÇÃO E CIDADANIA .............................................56
2.1 A multidimensionalidade da globalização contemporânea ..................................56
2.2 Globalização e sociedade de risco......................................................................78
2.3 Estado-Nação e globalização..............................................................................82
2.4 Cidadania e globalização ....................................................................................93
3 PLANETARIZAÇÃO DA POLÍTICA E CIDADANIA PÓS-ESTATAL ....................106
3.1 A sociedade internacional moderna ..................................................................106
3.2 A sociedade internacional contemporânea........................................................118
3.3 A universalidade dos direitos humanos.............................................................133
3.4 A (im)possibilidade da cidadania pós-estatal na atualidade ..............................149
CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................168
REFERÊNCIAS.......................................................................................................171
11
INTRODUÇÃO
As transformações dos últimos anos conformaram um mundo cada dia mais
complexo e dinâmico. Com a ampliação das formas capitalistas de atuação, fazendo
com que o desempenho das bolsas de valores, a entrada de capital estrangeiro nos
países e as oportunidades diversas que se abrem em um cenário multifacetado, a
globalização integra o espaço mundial de maneira jamais vista. Por outro lado, essa
integração oculta com números o sofrimento humano crescente por todas as partes
do globo, trazendo a sensação de que uma vida com um horizonte amplo, sólido e
aberto se torna mais distante.
Zonas esvaziadas de qualquer cobertura do direito, onde a segregação das
oportunidades destina os pobres do presente à certeza da pobreza futura, onde os
valores, dominados pelo discurso econômico, validam a desigualdade com a
finalidade de estimular um esforço geral que faça crescer a lucratividade dos
empreendimentos por meio de uma motivação constante daqueles que dependem
de certas empresas para sobreviver, traduzem-se em uma expectativa de felicidade
que passou a depender dos níveis de consumo e da quantidade de tranqüilizantes
utilizados para ser minimamente presente.
Quanto mais a rentabilidade capitalista descola das atividades produtivas,
tornando-se volátil ao sabor da especulação internacional, mais essa rentabilidade
descola também das necessidades humanas, as quais continuam a se expressar na
forma de trabalho e bens essenciais para que a própria vida seja possível.
Predomina assim uma descartabilidade do indivíduo que apenas propicia a
acumulação de problemas dissipados por todas as regiões do planeta.
12
Mas também se deve reconhecer que este novo mundo abre novas
possibilidades e indica que a humanidade está sendo reinventada, com a fixação de
parâmetros de destino ainda desconhecido. O intercâmbio de culturas, a noção de
que certas demandas locais somente podem ser resolvidas mediante articulações
globais e a revolução técnico-científica ocorrida nas últimas décadas, alicerçando
uma clara aceleração histórica, não traçam unicamente aspectos negativos para a
contemporaneidade, mas descortinam um leque de possibilidades que merecem
uma abordagem sensata nesse tempo de transições.
Nesse sentido é que a presente dissertação analisa a (im)possibilidade da
configuração de uma cidadania pós-estatal na atualidade e suas implicações para o
Estado-Nação, importando a pós-estatalidade da cidadania como uma condição
desvinculada da relação jurídico-política que liga o indivíduo ao Estado, dando
margem ao seu trânsito mundial com resguarda de direitos seja em qual país se
encontrar. A relevância dessa temática está para o entendimento de que a
globalização, apesar de hegemonizada pelo ideário neoliberal, tem implicações que
extrapolam esses limites. Ao enfraquecer a jurisdição estatal, a globalização obriga
os Estados a conviver com um pluralismo jurídico global e com dificuldades que
pressupõem respostas que ultrapassam em muito as fronteiras nacionais. Questões
que vão da problemática ambiental aos fluxos de imigrantes, necessitam réplicas
conjunturais que dependem de institucionalização política para que sejam efetivas
em suas resoluções com possibilidade de concretização.
Para situar e estruturar a pesquisa, partindo de um foco jurídico-político para
análise dos fenômenos abordados, é feito um resgate da conformação históricoteórica do Estado-Nação em conjunção com seus fundamentos e conceituação.
Para tanto, verifica-se que os Tratados que compuseram a Paz de Vestfália em
1648, acontecimento este que pôs fim à Guerra dos Trinta Anos, foram
fundamentais para a afirmação do Estado-Nação. Além disso, as contribuições de
Maquiavel, Bodin e Hobbes, tratando o Estado como uma entidade secular com
delimitação política diferenciada em virtude da sua qualidade soberana, são
envolvidas na direção de uma conceituação de Estado-Nação e estabelecimento dos
seus fundamentos. Após esse percurso, a construção histórico-política da cidadania
é relacionada às Revoluções Inglesa, Americana e Francesa na determinação dos
13
direitos civis e políticos. A Revolução Industrial também aparece como fundamental
para a emersão dos direitos sociais, relacionando-se essas esferas à formatação do
Estado em suas configurações Absolutista, Liberal e Social.
Afirmadas essas bases, tanto a cidadania quanto o Estado-Nação se
defrontam com a multidimensionalidade da globalização contemporânea, a qual
basicamente compreende camadas econômicas, culturais e políticas. Contempla-se
aí os fenômenos da mundialização e da planetarização, onde o primeiro se relaciona
com a cultura e o segundo com a política. Os reflexos da globalização para o
Estado-Nação são lidos no formato de um esvaziamento da sua soberania, do que
também se percebe que a cidadania, justamente pela fragilização da soberania,
igualmente sofre com as urgências verificadas na atualidade, seja por conta da sua
derrocada identitária ou pela incapacidade estatal de garantir a proteção do
indivíduo na sua jurisdição.
Dessa
maneira
é
que
o
surgimento
da
sociedade
internacional
contemporânea é verificado a partir de um contraponto com a sociedade
internacional moderna, remanescente de Vestfália. Suas características de contato e
dissenso, observadas quando da passagem de um sistema estadocêntrico para um
sistema multicêntrico dado pela proliferação de atores internacionais e a tentativa de
institucionalização de um modelo de sociedade afeito a um cunho eminentemente
relacional, são demonstradas principalmente pela criação das Nações Unidas em
1945 e pela desagregação da União Soviética em 1989. Em adição a essas
determinações, a universalidade dos direitos humanos, expressa pela Declaração de
1948, é problematizada em face da sua internacionalização, pois mesmo que a
afirmação internacional do princípio da dignidade da pessoa humana seja
perceptível, os mecanismos de proteção dos direitos humanos parecem ainda não
dar conta das pretensões contidas na sua designação universal.
Do embate notado entre o binômio Estado/cidadão e as dificuldades
provenientes dos influxos globalizantes, a planetarização da política é apontada na
função de descortinar as expectativas de uma cidadania pós-estatal. A
universalidade dos direitos humanos e o desenvolvimento da cidadania são
relacionados às vicissitudes da conjuntura atual na busca da verificação da
14
possibilidade contemporânea de uma cidadania pós-estatal. Como a nacionalidade é
tida na razão de um instrumento de acesso à cidadania, a experiência da União
Européia igualmente é abordada na tentativa de estabelecer parâmetros que
incorram na demonstração de uma pós-estatalidade cidadã.
Pretende-se dessa forma a construção de um estudo que não detém o
intuito de esgotar a amplitude da temática, já que parte de um tratamento
panorâmico e jurídico-político do assunto que denuncia seu caráter introdutório. Sua
justificativa repousa no aspecto claramente transitivo que perpassa a humanidade
atualmente, o qual diz da necessidade de análises lúcidas das transformações que o
Estado e a cidadania possam vir a sofrer. As esperanças e as possibilidades de
projetos que visem concretizar uma cidadania pós-estatal também são brevemente
evidenciados ao referir as mudanças necessárias para que o horizonte da
universalidade dos direitos humanos possa ser efetivado no plano da sua
internacionalização.
Trata-se um estudo afeito à plurivalência de expectativas e dificuldades
contemporâneas, determinado pelas incertezas das potencialidades de uma
sociedade identificada com o consumo. Ainda que o pessimismo característico
desse cenário tenda a uma defasagem que esgota projetos para uma reconfiguração
positiva de padrões sociais secularmente verificados, também demanda a procura
de alternativas presentes e futuras para que a conquista da cidadania não recaia em
um feitio puramente formalista. Ao invés da aceitação de um caminho único, propõese a emersão de vários rumos possíveis: de um tempo transitivo, busca-se
passagens múltiplas, ponderadas e transitáveis.
15
1 ESTADO-NAÇÃO E CIDADANIA
Com o objetivo de situar a discussão proposta, este primeiro capítulo busca
revelar a relação historicamente existente entre Estado-Nação e cidadania. Partindo
de uma abordagem panorâmica, primeiramente situa a conformação histórica do
Estado-Nação, enfatizando também os principais teóricos que contribuíram para sua
identificação assim como seus elementos fundamentais consoante a concepção
moderna.
Após é traçado basicamente o percurso da cidadania em correlação com a
modernidade somada às contribuições histórico-políticas das Revoluções Inglesa,
Americana e Francesa, adicionadas à Revolução Industrial, da mesma forma que
são tratadas as formatações do Estado Absoluto ao Estado Liberal em direção ao
Estado Social para a construção da possibilidade de consolidação dos direitos civis,
políticos e sociais. É também enfatizado o vínculo jurídico-político do cidadão em
relação ao Estado, considerando-se que dessa vinculação surge a cidadania
condicionada pela nacionalidade.
Ao final, são apontados alguns elementos que serão trabalhados no
segundo capítulo, tratando dos influxos provenientes da globalização tida como um
fenômeno multidimensional que afeta todos os níveis da vida humana, o que traduz
a
possibilidade
contemporânea
da
cidadania
pós-estatal multiplicada
pela
planetarização da política e pela universalidade dos direitos humanos, tópicos que
serão abordados no terceiro e último capítulo.
1.1 A conformação histórico-teórica do Estado-Nação
É fato que a organização social humana passou e passa por um contínuo
desenvolvimento. Das tribos primitivas formadas por caçadores e coletores às
organizações internacionais atuais, nutridas de preceitos universais que pretendem
uma integração global respaldada principalmente nos direitos humanos, foram
necessários séculos de desmitificação e racionalização jurídico-política para que se
chegasse ao estágio atual – o qual, não é demais dizer, igualmente se encontra em
inexorável e incerto desenvolvimento mediante a planetarização da política,
16
aduzindo a possibilidade de rumos jamais percorridos na história da civilização.
Como explica Antonio Carlos Wolkmer, o ser humano
[...] enquanto realidade histórico-social, tende a criar e a desenvolver, no
contexto de um mundo natural e de um mundo valorativo, formas de vida e
de organização societária. A espécie humana fixa, na esfera de um espaço
e de um tempo, tipos e expressões culturais, sociais e políticas,
demarcadas pelo jogo dinâmico de forças móveis, heterodoxas e
antagônicas. Cada indivíduo, vivendo na dimensão de um mundo simbólico,
lingüístico e hermenêutico, reflete padrões culturais múltiplos e específicos.
Sendo a realidade social o reflexo mais claro da globalidade de forças e
atividades humanas, a totalidade de estruturas de um dado grupo social
precisará o grau e modalidade de harmonização deste (2000, p.64).
Assim é que as peculiaridades das organizações sociais humanas apontam
fatores que descrevem uma circularidade entre indivíduo e sociedade condicionada
pela história, de maneira que a identificação do Estado-Nação denota a prevalência
atual de certas características germinais desse modelo de organização social.
Não sonegando a existência de polêmicas historiográficas quanto ao seu
surgimento1, o qual ocorreu na transição entre a Idade Média2 e a Idade Moderna, o
1
É preciso logo admitir que toda classificação é arbitrária e reducionista, abastecida pelos seus
pressupostos que direcionam seus componentes. Como percebe Luiz Carlos Bombassaro, “enquanto
produto, a ciência é uma atividade intelectual que vincula o homem ao mundo. Esta afirmação se
produz tanto individualmente, entre e coletivamente. Neste sentido, o conhecimento consiste num
processo efetivo e contínuo de compreensão e explicação do lugar no qual o homem se acha situado.
Enquanto produto, a ciência constitui-se num conjunto significativo de enunciados sobre esse mundo
vivido pelo homem. Este conjunto de enunciados é necessariamente histórico, na medida em que
está sujeito à transformação, seja mediante o uso de provas empíricas, seja pelo surgimento de
novas idéias” (1992, p.77). Se a ciência implica uma articulação dos dados objetivos com categorias
teóricas, considerando que são essas categorias teóricas que irão dar a qualidade de fato aos dados
objetivos, diferindo-os de meros objetos ou eventos, vez que descritivas dos mesmos, conveniente
perguntar quais são as categorias teóricas utilizadas para produzir o conhecimento científico, tendose em mente que uma teoria, palavra que provém do grego theorien, significando originalmente,
consoante Arcângelo R. Buzzi, “ver o aspecto sob o qual a coisa presente aparece” (1983, p.110), é
um grupo de leis dedutivamente ligadas na moldura de um paradigma. Nessa conjuntura é que
Thomas S. Kuhn apresenta o que denomina como “ciência normal” na “pesquisa firmemente baseada
em uma ou mais realizações científicas passadas” (2000, p.29), sendo que estas realizações são
reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica para oferecer os
fundamentos de sua prática posterior. A “ciência normal”, portanto, está estritamente relacionada ao
paradigma enquanto grupo de leis dedutivamente ligadas. Isso ocorre porque se a ciência procura
fatos ou teorias, considerando que tanto para dizer de fatos quanto para dizer de teorias um grupo de
pessoas tem de concordar com relação aos enunciados ou conceitos que recaem sob os eventos ou
objetos pretendidos para então organizá-los cientificamente buscando assim o conhecimento, existe
um paradigma que se converte em uma comunidade espacial que faz com que esse grupo de
pessoas esteja unido pelas mesmas bases de um campo de estudo. Assim, a trama de relações aqui
tratada panoramicamente quanto à conformação histórico-teórica do Estado-Nação e à construção
histórico-política da cidadania, é apenas uma das várias interpretações desses fenômenos, não
pretendendo ser exaustiva, o que vale para todas as opções teóricas delineadas no decorrer desse
17
aparecimento do Estado-Nação, na fala de Raquel Kritsch, não se configurou “ao
mesmo tempo nem por um processo único em toda a Europa” (2004, p.103). Ao
contrário, conforme Gilmar Antonio Bedin (2001), entendendo-se que a Idade Média
se encontra entre a queda do Império Romano no século V e o advento do
Renascimento no século XV, percebe-se que um largo espaço de tempo foi
necessário para que a humanidade atingisse, consoante Newton de Menezes
Albuquerque, “a formação e a consolidação do Estado Moderno no século XVI"
(2001, p.31). Apesar disso, alguns teóricos defendem a tese de que a formatação de
certos elementos essenciais e mesmo do Estado-Nação remontam a polis grega ou
ao Império Romano, atribuindo uma continuidade na concepção de Estado no
transcorrer da história.
Nessa interpretação historiográfica, importa dizer que Aristóteles aduz que “a
sociedade formada por inúmeros pequenos burgos constitui-se uma cidade
completa, com todos os meios para se prover a si mesma, e tendo alcançado, por
assim dizer, a finalidade que se tinha proposto” (2002, pp.14-15), a qual, para o
filósofo, “subiste para uma existência feliz (2002 p.15). Vê-se, segundo Christopher
W. Morris, que “a preocupação de Aristóteles era de que a polis permanecesse
suficientemente pequena para ser auto-governada e auto-suficiente” (2005, p.52).
Depreende-se daí o fato de que a polis grega detinha uma clara incapacidade de
expandir seus territórios ou mesmo de incorporar outros grupos a esse território,
característica que muito a diferencia dos Estados Modernos, os quais, nas palavras
de Luigi Ferrajoli, “detém vocação expansionista e destrutiva” animadas pela
“soberania estatal” (2007, p.37).3
estudo. Porém, atentando-se ao fato de que a tese da descontinuidade estatal, ponderando-se como
acontecimento histórico determinante para o surgimento da sociedade internacional moderna a Paz
de Vestfália em 1648, conforme será visto adiante, é o fator utilizado para dispor o norte da pesquisa,
torna-se nítida a ocorrência de que a cidadania da qual se falará, por exemplo, é uma cidadania afeita
à modernidade relacionada às contribuições de determinadas revoluções político-sociais e
formatações estatais igualmente modernas ocorridas nos últimos trezentos anos. Essas revoluções,
se não trouxeram imediatamente a gama de direitos concernentes aos elementos civis, políticos e
sociais da cidadania, dispuseram de forma basilar a possibilidade de efetivação desses direitos, a
qual se tornou possível com a emersão de determinadas configurações do Estado Moderno,
relacionando-se, portanto, ao Estado Absoluto, Liberal e Social.
2
Para fins historiográficos, costuma-se dividir a Idade Média em quatro períodos distintos: Primeira
Idade Média ou Antiguidade Clássica Tardia (séc.V a VIII), Alta Idade Média ou Idade Média Média
(séc.VIII a X), Idade Média Central (séc.X a XIII) e Baixa Idade Média (séc.XIII a XV).
3
Como relata Raquel Souza (2001), para perceber isso basta atentar que um dos únicos momentos
da história grega na qual a fragmentação do seu território em polis foi posto de lado para dar lugar a
18
No que diz respeito ao Império Romano, a própria extensão do Império, o
qual detinha seu centro nevrálgico em Roma, de maneira alguma lhe dava
integridade territorial ou mesmo unidade. “As fronteiras do Império não eram limites,
mas meramente demarcações – o ponto mais distante atingido pela conquista”
(MORRIS, 2005, p.56). Consequentemente, a polis grega e o Império Romano
consistem em sociedades pré-estatais, diferenciando-se dos Estados Modernos pela
seguinte razão básica: “o poder e a autoridade eram descentralizados” (MORRIS,
2005, p.58), o que de maneira alguma anula, por exemplo, a penetração do Direito
Romano nos Estados Modernos, o qual, segundo Thomas Marky, “apresenta as
categorias jurídicas fundamentais nas quais o direito moderno se baseia” (1995,
p.4).4
Como ensinam Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais, à parte
essas considerações, é necessário reconhecer também que “não há data precisa
delimitando a passagem do feudalismo (ou da forma estatal medieval) para o
capitalismo, onde começa a surgir o Estado Moderno em sua primeira versão
(absolutista)” (2000, p.22). O mais sensato é afirmar que por séculos conviveram na
Europa Ocidental e Central o decadente modo de produção feudalista e o
ascendente modo de produção capitalista. Quanto à decadência do feudalismo em
face do capitalismo ocorrida na Idade Média, é de se dizer que esta se deu de modo
lento e gradativo, delineando aos poucos os contornos sociais, políticos, econômicos
e culturais que resultaram no surgimento do Estado-Nação.
É preciso elencar certos aspectos do mundo medieval, os quais, na análise
de R.H.S. Crossman, estão para “seu lento sistema econômico (...) e sua
descentralização e hierarquização do poder político” (1980, p.19). Entretanto, se
política e economicamente o panorama medieval era profundamente restrito, “existia
uma instituição, muito mais universal e internacional do que o que nós possuímos
nesse sentido. A Igreja Católica era a dona espiritual do mundo civilizado”, sendo
que “a civilização era católica, e o catolicismo era civilização” (CROSSMAN, 1980,
uma união entre as cidades-estado, ocorreu quando das Guerras Pérsicas, no formato de ligas ou
confederações.
4
Alerta-se que embora existam algumas vicissitudes conceituais que serão expostas no transcorrer
do trabalho, as terminologias “Estado Moderno”, “Estado-Nação”, “Estado” e “país” serão utilizadas
como sinônimas.
19
p.20). Pode-se categoricamente afirmar que o Sacro Império Romano-Germânico
dominou espiritualmente todo período medieval, incorporando a herança romana, os
costumes germânicos e os ensinamentos da própria Igreja. Constituindo uma união
de vários territórios centro-europeus criada no século X, o Sacro Império RomanoGermânico consistiu, na explicação de Perry Marvin (2002), em uma tentativa de
reavivar a grandiosidade e a imponência do Império Romano sob o qual emergiram
as próprias bases da Idade Média. Viviam-se tempos teocêntricos e supersticiosos,
onde doenças e mesmo aquilo que era considerado estranho ou extravagante ao
senso comum da época, era visto como ofensa ao extremo poder expresso pela
Igreja na sociedade.
Para além do plano espiritual dominado pelo catolicismo provindo das ruínas
de Roma por sobre as quais a Igreja construiu seus alicerces, o plano material da
Idade Média Central (séculos X a XIII) se caracterizou basicamente pelo
estabelecimento de uma sociedade estratiforme enrijecida, conduzida por laços de
dependência e dominada por formatações sociais agrárias completamente
fragmentadas politicamente. As relações de produção se baseavam no trabalho
servil prestado fundamentalmente nas terras dos senhores feudais que, entre os
séculos XI e XIV, aumentaram em número e se tornaram mais exigentes com
relação aos seus hábitos de consumo, determinando a necessidade de elevar suas
rendas. Seguiu-se um fortalecimento do grau de exploração da massa camponesa, o
qual produziu protestos dos servos que foram duramente reprimidos pelos nobres.
Mesmo assim, foi nesse cenário que a civilização medieval atingiu sua maturidade
mediante o forte estabelecimento da sistemática feudal, momento igualmente
marcado pela expansão populacional e territorial dessa sociedade também distinta
pela privatização da defesa e da guerra em razão da descentralização do poder, o
qual era essencialmente local.
Contudo, a Baixa Idade Média (séc.XIII a XV) denunciou a aguda crise em
que mergulhava aquele mundo. A fome5, a peste6 e a guerra7, traduzem a angústia e
5
“Decorrente da crise agrícola de 1315 e 1317 (...), contribuiu significativamente para a crise
demográfica que se seguiu” (BEDIN, 2001, p.76).
6
A Peste Negra, “que dizimou um terço da população européia”, consistiu em uma “epidemia
existente na Europa no século XIV, em especial, a partir de 1340” (BEDIN, 2001, p.76).
20
os tormentos que perpassaram o período, causando insegurança tanto econômica
quanto física, a qual, por sua vez, refletiu-se em inconstância política diante da
fragmentação do poder feudal. Dificuldades de toda ordem assolavam a Europa, que
passou a conviver com um outro problema: o esgotamento das fontes de minérios
preciosos necessários para a cunhagem de moedas, o que levou a sua constante
desvalorização e ao consequente agravamento das dificuldades. Somando-se a
isso, o declínio do papado que “atuava como supremo senhor espiritual”
(CROSSMAN,
1980,
p.21),
a
Reforma
Protestante
e
a
Contra-Reforma,
enfraqueceram os laços espirituais e materiais da Baixa Idade Média. Tantas
desgraças afetaram profundamente a Europa, derivando-se novas necessidades
espirituais e religiosas, já que se por um lado era premente uma outra concepção de
ser humano e de mundo, por outro a Igreja Católica não mais atingia facilmente os
fiéis, o que deu espaço a uma teologia mais dinâmica relacionada ao protestantismo.
Dessa maneira é que “a desintegração das formas políticas medievais e a
emergência do Estado moderno coincidiram com a ruptura gradativa do sistema
socioeconômico da Idade Média” (MARVIN, 2002, p.248) baseado na tradição e na
hierarquia.
Não mais restrita aos limites do feudo e suas relações de mútua
dependência entre os detentores de um poder fragmentado e seus subordinados, a
crise da sociedade feudal traçou caminho para a florescência das cidades e do
comércio, o que teve início no século XI, generalizando-se nos séculos XIV e XV. O
feudalismo foi gradualmente abandonado na medida em que os camponeses se
viram em melhor situação quando perceberam os benefícios de trabalhar em troca
do dinheiro. Deixando as terras dos senhores feudais onde mantinham possibilidade
de obtenção da produção em determinados momentos, os camponeses passaram a
trabalhar em terras onde eram remunerados, o que fomentou o comércio e deu
fôlego ao nascente capitalismo. Um novo ser humano, distinto do clérigo bem como
dos senhores feudais e seus servos, passou a se definir pela classe comerciante
dos centros urbanos, citadinos com “espírito crítico” (MARVIN apud BEDIN, 2001,
7
Refere-se aqui à Guerra dos Cem anos tida no “conjunto de guerras travadas entre Inglaterra e
França no período final da Idade Média, mais precisamente entre 1337 e 1453” (BEDIN, 2001, p.76).
21
p.83), dinamismo e fervor pelas mudanças: a burguesia, a qual teria papel
preponderante nos movimentos histórico-políticos que a partir dali transcorreriam.
Da convergência desses fatores da crise na Baixa Idade Média, resultou o
Renascimento, marco fundamental da Idade Moderna, “o momento culminante do
florescimento do comércio e da ascensão das cidades” (BEDIN, 2001, p.94). Como
demonstra Giulio Carlo Argan, no final do século XVI a cidade traz consigo
disposições e aspectos totalmente diversos daqueles encontrados na Idade Média:
“mais do que como organismo sócio-econômico, configura-se como entidade
política, elemento ativo de um sistema de forças (...) de um jogo de interesses mais
complexo”, dando-se a “configuração nova e ‘moderna’ recebida pelas cidades
européias no século XVII” (1999, pp.56-57). Nessa cidade, “sob a pressão das
exigências sociais, econômicas e políticas” (ARGAN, 1999, p.56), foi forjado o
homem renascentista, de consciência humanística e individualista. Tratava-se de
“um novo mundo clássico, aberto ao homem livre e racionalista, que tinha
capacidade para conquistá-lo e para moldá-lo de acordo com seu desejo”
(CROSSMAN, 1980, p.27). Uma cultura leiga, burguesa e urbana tomou as cidades
européias, passando-se de uma visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica do
mundo e do Universo – a qual atingiu seu auge com o Iluminismo do século XVIII.8
Em conjunção com essa realidade, o acontecimento culminante que resultou
na afirmação histórica do Estado Moderno e na formação da sociedade internacional
moderna se relaciona com os Tratados remanescentes da Paz de Vestfália, datada
de 1648. Resultado da Guerra dos Trinta Anos, a qual envolveu praticamente todos
os Estados europeus9, a guerra em princípio esteve localizada na Europa Central,
8
Essa revolução renascentista não se deu de forma gratuita. “Os comerciantes espanhóis e
portugueses tinham descoberto novas terras, e a Índia, a África e a América passaram a derramar na
Europa uma sempre crescente inundação de prata e de especiarias” (CROSSMAN, 1980, p.29). Foi
desse processo de espoliação das “novas terras” que se nutriu a abundância econômica e artística
desse período. Eduardo Galeano ilustra que “entre 1503 e 1660, chegaram ao porto de San Lúcar de
Barrameda 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata. (...) E é preciso levar em conta que
essas cifras oficiais são sempre minimizadas” (2007, p.40). “As nações ocidentais européias tinham
começado sua carreira imperial, descobrindo novos continentes, despojando-os dos tesouros (...).
Como resultado imediato, a costa ocidental da Europa transformou-se em centro econômico do
mundo” (CROSSMAN, 1980, p.29).
9
Salienta-se que o termo “Estado” é aqui utilizado em sentido estrito, não compactuando com o
“Estado Moderno” e o “Estado Nação”, servindo para designar as configurações sócio-políticas de
então.
22
especificamente nos Estados alemães, tendo início em 1618 quando o Sacro
Império Romano-Germânico tencionou arruinar os protestantes da Boêmia. Quando
houve repercussões nos Estados vizinhos, a guerra se deu numa luta entre Império
e Estados alemães, na qual o caráter religioso, segundo Charles Tilly, “opunha uma
Áustria monárquica e católica aos Estados alemães, feudais e protestantes” (apud
BEDIN, 2001, p.170).
Saíram “vitoriosos desse conflito a Suécia e os Estados protestantes (...) que
passaram a ter mais autonomia e liberdade religiosa” (BEDIN, 2001, p.171). Afora
estes, principalmente a França se tornou a grande potência européia do período,
perdendo
a
guerra
o
Sacro
Império
Romano-Germânico,
a
Espanha
e
principalmente a Alemanha, a qual teve suas cidades e principados arrasados por
anos de intermitentes conflitos, o que somente reforçou sua consequente
fragmentação, sobrevindo a unificação alemã apenas em 1871, protagonizada por
Otto Von Bismarck. O que é importante observar nos Tratados que resultaram na
Paz de Vestfália, é o fato de que esta nasceu de um longo período de negociações
diplomáticas entre os diversos Estados participantes dos conflitos. De tais
negociações, consubstanciadas em Conferências de Paz, resultaram três princípios
fundamentais: “a) o princípio da liberdade religiosa dos Estados; b) o princípio da
soberania dos Estados; c) o princípio da igualdade entre os Estados” (BEDIN, 2001,
p.173). Esses três princípios inauguraram a sociedade internacional moderna,
surgindo igualmente “o direito internacional público, a institucionalização da
diplomacia e as conferências de cúpula, o intento de reduzir as guerras, a aceitação
do princípio da integridade territorial, o conceito de equilíbrio de poderes” (BEDIN,
2001, p.173), dentre outros. 10
Nesse sentido, alguns marcos teóricos são de fundamental importância para
o estabelecimento do Estado Moderno, destacando-se Maquiavel, na Itália, Bodin,
na França, e Hobbes na Inglaterra. Antes de uma análise sucinta da contribuição
desses pensadores, importa referir que se Maquiavel fala da especificidade da
esfera política, Bodin conceitua a soberania estatal e Hobbes teoriza acerca do
10
Maiores especificidades quanto à sociedade internacional moderna serão tratadas no terceiro
capítulo, onde se fará um contraponto dessa conjuntura social em relação à sociedade internacional
contemporânea com a intenção de evidenciar suas diferenças básicas.
23
fundamento do poder, todos, quando somados, resultam no aporte que aponta para
a
conceituação
de
Estado-Nação
que
ainda
persiste
basicamente
na
contemporaneidade.
A começar por Maquiavel, o que primeiro se pode afirmar é “seu
pensamento
radicalmente
antropocêntrico”
(ALBUQUERQUE,
2001,
p.68).
“Maquiavel não pode ser classificado entre os teóricos da política do tipo acadêmico.
Escrevia sobre política tal como havia praticado, discorrendo sobre a arte de
conquistar o poder e de conservá-lo” (CROSSMAN, 1980, p.23). Maquiavel jamais
aborda questões acerca da origem do Estado, limitando-se a vê-lo como uma
realidade posta e humana, o que consiste em uma adjetivação renascentista e
moderna. Para Maquiavel, “a política independe dos juízos éticos ou morais
correntes. Isso permite a afirmação de uma visão absolutamente realista das
relações de poder, que se concretiza por meio da secularização e da racionalização”
(BEDIN, 2008, p.97) de toda argumentação política. “Maquiavel permitiu a
compreensão de que o fenômeno político possui uma especificidade própria, que
permite afirmar que, no exercício do poder, os fins justificam os meios” (BEDIN,
2008, p.97). Por isso é que, para Jean-Jacques Chevallier, em Maquiavel “há uma
única realidade, a do Estado, um único fato, o do poder. E um problema: como se
afirma e se conserva o Estado. O imoralismo de Maquiavel é simplesmente lógica de
afirmação política do Estado Moderno” (apud BEDIN, 2008, p.98).
Em O Príncipe, pode-se dizer que existem dois pontos centrais: a) em todos
os Estados existe um poder supremo, o soberano; b) o controle do poder é a
justificação da soberania. Quanto ao primeiro ponto, o argumento é taxativo: “daqui
em diante, o mundo seria dividido em territórios ou Estados (...), cujas leis deveriam
ser promulgadas por um governo central” (CROSSMAN, 1980, p.26). Poder
espiritual algum poderia contrapor um Estado secularmente dado. No que diz
respeito ao segundo ponto, o mesmo fala da maneira como o governante deveria se
manter no poder e controlá-lo, justificando os meios através das finalidades11. Como
11
Rousseau é claro ao referir que “O Príncipe de Maquiavel é o livro dos republicanos” (1989, p.78).
Do mesmo modo, parece corroborar com alguns aspectos do pensamento de Maquiavel ao dizer que
é “mais fácil conquistar que administrar. Com uma alavanca adequada pode-se abalar o mundo; mas,
para o sustentar, são necessários os ombros de Hércules” (1989, p.79). O que Maquiavel fez em sua
24
teórico político realista, Maquiavel percebe as realidades que se encontram
escondidas por detrás das ações e das idéias do seu tempo. Segundo Marcílio
Marques Moreira, “foi o primeiro a denunciar que a pureza de intenções é capaz de
todos os crimes, exatamente como as intenções mais ínvias são capazes dos mais
nobres atos” (2003, p.22). Se o Estado Moderno se constitui como novo centro
político, uma nova moral, a moral do cidadão, do homem que se propõe a construir o
Estado, igualmente deve ser construída. Mas não se trata de uma moral apegada à
religião ou ao “além”, mas uma moral imanente e mundana que diz da política dos
homens que vivem em um Estado. Além desses fatores, é pacífico, segundo
Norberto Bobbio, que a “palavra ‘Estado’ se impôs através da difusão e pelo
prestígio do Príncipe de Maquiavel” (1997, p.65), tendo esse termo, pouco a pouco,
substituído outras formas então utilizadas para a designação das organizações
políticas.
Conforme Sahid Maluf, ainda que não haja e nem possa “haver uma
definição de Estado que seja geralmente aceita”, já que “as definições são pontos de
vista de cada doutrina, de cada autor” (2009, p.20), o fato do Príncipe ter
consagrado a palavra “Estado”, considerando-se que se trata de um dos marcos
teóricos para a conformação do Estado-Nação, mais uma vez atesta a distância
existente entre a polis grega e o Império Romano em relação aos fatores
condicionantes do Estado Moderno, os quais, diferentemente das civilizações grega
e
romana,
“já
nasceram
tentando
expandir
seu
poder
na
direção
da
‘extraterritorialidade’” (STRECK, 2002, p.60), caracterizados sobretudo pela
centralização jurídico-política diferenciada pela formulação do conceito de soberania
expresso por Bodin.
Em sua obra Os Seis Livros da República, Bodin, citado por Paulo
Bonavides, é claro ao referir que “a República é o justo governo de muitas famílias, e
do que lhes é comum, com poder soberano” (1995, p.125), sendo que o termo
República é utilizado pelo autor com o mesmo sentido de Estado. Para melhor
clássica obra, foi destrinchar os mecanismos do poder, o modo como o soberano se mantém no
poder e a forma como esse poder se manifesta em determinado espaço-tempo. Daí aparenta provir a
afirmação de Rousseau, já que O Príncipe está carregado de uma intenção nitidamente libertária ao
publicizar essas engrenagens políticas.
25
entendimento do pensamento de Bodin, Alberto Ribeiro de Barros refere que muito
embora
[...] a palavra “Estado” já esteja presente na literatura política do século XVI,
Bodin continua utilizando o tradicional termo “República” para designar a
sociedade política organizada, que não se constitui, segundo ele, pela
aceitação das mesmas leis, da mesma religião, dos mesmos costumes, da
mesma língua, mas pelo reconhecimento da submissão a uma mesma
autoridade soberana, sem a qual há apenas grupos sociais dispersos. A
soberania é considerada condição indispensável para a existência da
sociedade política, uma vez que é a única forma de poder capaz de
assegurar a esse agrupamento social sua necessária unidade e coesão
(2001, p.28).
É assim que Bodin apresenta a República como um navio. “A soberania é
comparada com a quilha, peça estrutural básica (...) de uma embarcação, e sem a
qual ela não passa de um amontoado de partes desconexas” (BARROS, 2001,
p.227). Como então se dava a afirmação dos incipientes Estados europeus, recém
egressos de uma longa e cruel batalha que redundou na Paz de Vestfália, torna-se
óbvio o relevante papel assumido pela teorização de Bodin. Nesse aspecto,
[...] a França, mais que qualquer outro país, enfrentou o drama histórico que
gerou o conceito de soberania. Esse drama teve ali seu palco principal. A
expressão souveraineté (soberania) é francesa. O grande teórico da
soberania vem a ser Bodin, cujos olhos estiveram sempre presos à
realidade histórica de sua pátria. O rei de França afirmava externamente
nas lutas com o Império e o sacerdócio sua independência política. Esse
fato passa a traduzir para o publicista um pensamento que se lhe afigura
essencial ao conceito de Estado: o de soberania (BONAVIDES, 1995,
p.124).
O rei se torna “detentor de uma vontade incontrastada em face de outros
poderes” (STRECK e MORAIS, 2000, p.123), como os senhores feudais e as demais
ordens intermediárias. Ao definir a soberania como “poder absoluto e perpétuo de
uma República”, Bodin estabelece as bases ideológicas daquela que é “a força de
coesão, de união da comunidade política, sem a qual esta se deslocaria”
(CHEVALLIER, 1999, p.55). Nas palavras de Dalmo de Abreu Dallari, sendo um
poder absoluto, tem-se que a sua “soberania não é limitada nem em poder, nem
pelo cargo (...). Nenhuma lei humana, nem as do próprio príncipe, nem as de seus
predecessores, podem limitar o poder soberano” (2001, p.77). Já o poder perpétuo
indica que a soberania não pode ter por limitação um período de tempo prédeterminado para o seu exercício. “Se alguém receber o poder absoluto por um
tempo determinado, não se pode chamar soberano, pois será apenas depositário e
26
guarda do poder” (DALLARI, 2001, p.77). O soberano teria como limitação apenas
as leis divinas e naturais, denotando um caráter jusnaturalista presente em Bodin ao
cunhar a soberania como qualidade suprema do poder.
Assim é que o
[...] feudalismo, cascata de suseranias e de homenagens, de laços
hierárquicos pessoais, esfacelando ao infinito da autoridade pública,
confusão dos poderes públicos e dos poderes privados, desfazia-se em pó
sob o choque dessa soberania absoluta, armada do monopólio de
promulgar e de revogar a lei (CHEVALLIER, 1999, p.57).
Outra ressonância política da teoria de Bodin expressa nos Seis Livros da
República, está para o fato de que, segundo o autor, a soberania pode advir da
multidão, configurando-se como democracia, de uma minoria, afirmando-se como
aristocracia, ou mesmo de um único homem, dando-se a monarquia. Se Maquiavel
descreve basicamente uma ordem política de natureza monárquica, Bodin suscita a
possibilidade da soberania advir de outros atores do Estado que não o soberano,
embora demonstre uma preferência nítida pela monarquia.
Se os atributos da soberania dados à especificidade da esfera política
adjetivada pela sua secularidade renascentista constituem vetores fundamentais
para a conformação teórica do Estado Moderno, falta-lhe uma justificação que traga
a razão de ser desse Estado, o alicerce sob o qual essa organização social é
preferível e necessária frente às demais. Desse modo é que Hobbes, na busca de
uma fundamentação ou justificativa para o poder estatal, conforme João dos Passos
Martins, é, “de todos os grandes filósofos da era moderna, (...) aquele que elaborou
a fórmula mais drástica de soberania” (2006, p.112). No dizer de Darcy Azambuja,
para Hobbes, ante a “tremenda e sangrenta anarquia do estado de natureza, os
homens tiveram que abdicar em proveito de um homem ou de uma assembléia os
seus direitos ilimitados, fundando assim o Estado” (2001, p.91).
Percebe-se que esse pensador afirma um estado de natureza no qual os
homens estariam em constante situação de luta, dominados por impulsos primitivos
movidos unicamente pelo interesse e pela necessidade, o que deveria ser freado em
prol da civilidade com a criação do artifício estatal. De tal estado de natureza
27
hobbesiano, ressalta Darcísio Corrêa (1999), surge uma visão na qual o Estado têm
como finalidade tornar a vida dos homens mais segura, garantindo-se a paz mesmo
à custa de quase todos os direitos do homem, não renunciando este, porém, o seu
direito à vida. Segundo Pierre Manent, há uma esperança depositada no direito do
indivíduo que não renuncia à vida, mas abdica da sua liberdade, confiante na
promessa de civilidade característica do Estado:
Os homens já não tinham de se guiar pelos bens ou pelo bem, mas pelo
direito nascido da necessidade de fugir do mal. Na linguagem moral e
política elaborada por Hobbes, e que ainda é a nossa dos dias atuais, o
direito assumiu o lugar do bem. A ênfase positiva, a intensidade de
aprovação moral que os antigos, pagãos ou cristãos, depositavam no bem,
os modernos, depois de Hobbes, passaram a depositar no direito, no direito
do indivíduo (1990, p.45).
Quanto aos atributos inerentes à soberania, Hobbes fala da exclusividade,
da indivisibilidade, da supremacia, da imunidade, do caráter ilimitado e por fim da
irresistibilidade. Sem detalhar tais caracteres, destaca-se que, dado o pessimismo
hobbesiano em relação à espécie humana e a selvageria intrínseca ao estado de
natureza, tais atributos são necessários para traçar “um modelo de soberania que
feche todas as frestas por onde possa se infiltrar o germe corrosivo da
desobediência e da rebelião” (MARTINS NETO, 2006, p.120)12. Também é
necessário referir que a construção teórica hobbesiana é de matriz eminentemente
intelectual, vez ser completamente plausível afirmar que uma sociedade afeita ao
excessivo pessimismo de Hobbes, onde o digladiar dos homens é interminável e
sangrento, jamais existiu, sendo pouco razoável igualmente falar do consentimento
dos indivíduos para a superação desse estado de natureza. Bobbio, comentado por
Valdir Graniel Kinn, afirma que na
[...] evolução das instituições que caracterizam o Estado moderno, houve a
passagem do Estado feudal ao das corporações, desde às monarquias
absolutas, da monarquia absoluta ao Estado representativo, etc. A imagem
de um Estado que nasce do consentimento recíproco de indivíduos
12
Na obra mais conhecida do filósofo, O Leviatã, existe uma passagem certificando que “o poder
soberano, quer resida num homem, como numa monarquia, quer resida numa assembléia, como nos
Estados populares ou aristocráticos”, deve ser “o maior que é possível imaginar que os homens
possam criar” (apud MARTINS NETO, 2006, p.113). Mais uma vez, percebe-se o caráter pétreo e
absoluto da soberania cunhada como uma qualidade de poder que se sobrepõe às demais instâncias
decisórias existentes em um Estado.
28
singulares, originalmente livres e iguais, é uma concepção puramente
intelectual (1998, p.24).
Ao ser criado o Leviatã, artifício humano e nada divino, mito que justifica a
existência do Estado para regulação pelo direito de uma organização social voltada
para a sua própria sobrevivência em um ambiente de hostilidade infinita, funda-se
uma condição na qual o homem sai do estado de natureza e entra no estado social
ou civilizado, onde reside a possibilidade do alcance da felicidade. Se “o poder é a
condição sine qua non para essa Felicidade” (CHEVALLIER, 1999, p.69), aí se
funda a razão de ser do Leviatã, porta de entrada e justificativa para uma sociedade
organizada pelo direito afeita à suposição de que houve um consentimento entre os
indivíduos de que este é o melhor ou o único caminho a ser traçado para a
existência da civilização.
Interessante notar que o autor inglês, consoante Arno Dal Ri Júnior (2003),
compreende que “os Estados, no que diz respeito às relações entre si, se
encontrariam em pleno estado de natureza” (p.134). Isso equivale a dizer que a
possibilidade de civilidade justificada pelo Leviatã hobbesiano existe nos Estados e
não entre os Estados, ponto do qual se verifica a qualificação suprema do poder
soberano do Estado em relação aos indivíduos que nele habitam, sendo que esse
poder, entretanto, não é barrado por qualquer outro Estado ou instituição. Nas
palavras de René-Jean Dupuy, “declarando-se soberanos”, os Estados “não
reconhecem nenhuma autoridade acima deles” (1993, p.5), o que leva a uma
concepção
estadocentrista
típica
da
sociedade
internacional
moderna,
condicionando as relações internacionais até pelo menos a segunda metade do
século XX.
Portanto, dada a especificidade da esfera política em Maquiavel, dado o
caráter soberano do Estado em Bodin, bem como a sua justificativa e
fundamentação em Hobbes, existe um quadro teórico que, quando somado ao
caráter histórico que atinge seu ápice com a Paz de Vestfália em 1648, diz da
conformação histórico-teórica do Estado-Nação13, assim como dos pontos
fundamentais que direcionam a formação da sociedade internacional moderna, onde
13
Obviamente não se desconhece que o termo “Nação” é agregado ao do “Estado” mais fortemente a
partir da Revolução Francesa.
29
o atributo da soberania absoluta de um Estado em relação ao outro é fator chave
para sua compreensão.
1.2 Fundamentos e conceituação de Estado-Nação
A
conformação
histórico-teórica
do
Estado-Nação
desencadeou
o
surgimento de uma gama de princípios que vieram a organizar o sistema
internacional de Estados. Essa organização, em sua estruturação básica,
permanece inalterada até os dias atuais, apesar de hoje se verificar que a segunda
metade do século XX e o início do século XXI foram vitais para a relativização do
conceito de soberania, o que trouxe inegáveis alterações para o panorama
organizacional internacional, possíveis pelo que se configura como a planetarização
da política somada aos influxos provenientes da multidimensionalidade da
globalização contemporânea, levando-se em conta ainda a transformação dos
direitos humanos em um tema global.
Antes disso, porém, é preciso referir que segundo Lizst Vieira “a constituição
do sistema internacional de Estados” (2001, p.95) provinda da Paz de Vestfália,
trouxe consigo quatro “princípios normativos centrais: a) territorialidade; b)
soberania; c) autonomia e d) legalidade” (VIEIRA, 2001, p.95). Esses princípios, por
sua vez, invocam noções mais profundas para que efetivamente se identifiquem os
fundamentos do Estado-Nação. O que pode ser encontrado tanto em Maquiavel
quanto em Bodin e Hobbes, é o fato de que “o conceito de Estado moderno se
desenvolve juntamente com o de soberania” (MORRIS, 2005, p.69). Mesmo que
alguns entendam que a soberania, como afirma Luciana de Medeiros Fernandes,
seja apenas “um plus, de caráter não determinante, para a configuração plena do
ente estatal, admitindo-se mesmo a existência de Estados não-soberanos ou semisoberanos” (2002, p.32), praticamente toda construção teórica e jurídica que se dá
em torno do Estado detém a soberania como elemento preponderante. À parte
esses embates, interessa dizer que os elementos essenciais que constituem o
Estado Moderno são três, sendo que é a partir deles que se pode defini-lo: o povo, o
território e o poder juridicamente organizado, por sua vez centralizados pela
soberania estatal. Como fala Celso Albuquerque de Mello, “a coletividade estatal
30
digna de ser reconhecida como Estado é aquela que possui população, território,
governo e soberania” (1994, p.345).
O primeiro elemento essencial constitutivo do Estado-Nação é o elemento
humano caracterizando o povo e a Nação. O povo é resultado do agrupamento
social que se dá no próprio Estado, considerando-se que para Kelsen, já anunciando
o poder jurídico-político do Estado, o indivíduo faz parte do Estado na medida em
que “submetido a uma ordem coerciva relativamente centralizada” (MELLO, 1999,
p.318), vez que, como refere Cabral de Moncada, um grau maior de “concentração,
organização e institucionalização do ‘político’” (1955, pp.165-166) é que diferencia o
Estado Moderno das organizações políticas anteriores, onde a descentralização
desses caracteres constitui vetor fundamental.
Com relação à diferenciação entre povo e Nação, “povo é a população do
Estado, considerada sob o aspecto puramente jurídico, (...) grupo humano encarado
na sua integração numa ordem estatal determinada, (...) sujeitos às mesmas leis,
(...) os cidadãos de um mesmo Estado” (AZAMBUJA, 2001, p.31). Determina-se que
o povo sempre é o elemento humano atrelado de forma genérica e permanente à
ordem jurídico-política do Estado. “Nação”, por outro lado, “é um grupo de indivíduos
que se sentem unidos pela origem comum, pelos interesses comuns e,
principalmente, por ideais e aspirações comuns. Povo é uma entidade jurídica;
nação é uma entidade moral no sentido rigoroso da palavra” (AZAMBUJA, 2001,
p.31). Conclui-se que Nação é distinta de povo como personalidade moral: se povo
está para um vínculo jurídico, Nação está para um vínculo moral. Para Eric J.
Hobsbawm, Josef Stalin possivelmente construiu a definição de Nação mais
conhecida: “Uma Nação é uma comunidade desenvolvida e estável, com linguagem,
território, vida econômica e caracterização psicológica manifestos em uma
comunidade cultural” (apud HOBSBAWM, 2002, p.24). “A Nação é uma realidade
sociológica;
o
essencialmente
Estado,
de
uma
ordem
realidade jurídica.
subjetiva,
enquanto
O
o
conceito
conceito
de
de
Nação é
Estado
é
necessariamente objetivo” (MALUF, 2009, p.15).
Para o estabelecimento do conceito de Nação, podem ser elencados alguns
fatores: “a) naturais (territórios, unidade étnica e idioma comum); b) históricos
31
(tradições, costumes, religião e leis; c) psicológicos (aspirações comuns, consciência
nacional etc.)” (MALUF, 2009, p.15). Percebe-se assim que Benedict Anderson,
apoiando-se em Ernest Gellner, acerta ao referir que “as nações são verdadeiras
formações antropológicas” (2000, p.17), dadas as suas especificidades variáveis de
acordo com fatorações naturais, históricas e psicológicas, de onde provém “a
doutrina das nacionalidades, que consiste em reconhecer, a cada grupo nacional
homogêneo, o direito de se constituir em Estado soberano” (MALUF, 2009, p.19).
Esse direito, contudo, não consiste numa regra, tendo em vista que a própria
conceituação de Nação afeita a uma imprecisão teórica de improvável resolução,
denuncia o fato de que a Nação pode existir sem o Estado, também possibilitando a
existência de várias nações em um Estado ou da divisão de uma Nação em vários
Estados.
Consoante Friedrich Muller, “não existe na realidade nenhuma comunidade
‘de sangue’, mas comunidades culturais que representam culturas constitucionais na
esfera do direito constitucional: a ‘nação’ política dos que querem viver sob essa
constituição” (1998, p.52). Embora o “querer” expresso por Muller seja questionável,
daí é que parece emergir o que se entende por Estado-Nação, compreendendo-se
que se o Estado está para um vínculo jurídico e objetivo entre indivíduos que
habitam um mesmo território, a Nação está para uma comunidade cultural que gera
vínculos de pertença subjetiva selados pelo direito – o qual, por sua vez, é
proveniente do Estado em virtude da sua condição soberana, notando-se uma
circularidade interdependente entre Estado e Nação com base na teoria moderna.
O segundo elemento fundamental do Estado Moderno é o território, o qual é
“a base física sobre a qual se estabelece o povo, organiza-se e realiza-se o poder
estatal e vigora o sistema normativo” (FERNANDES, 2002, p.38). Mais do que isso,
o território “é o espaço ao qual se circunscreve a validade da ordem jurídica estatal,
pois, embora a eficácia de suas normas possa ir além dos limites territoriais, sua
validade como ordem jurídica estatal depende de um espaço certo, ocupado
exclusivamente” (DALLARI, 2001, p.87). “Sem território não pode haver Estado”
(AZAMBUJA, 2001, p.38). O que o território traduz é certo “sedentarismo” do povo
que habita aquele espaço fixo e soberano em razão da sua ordem jurídico-política
figurada pelo monopólio do poder. Quanto às fronteiras do território, existem as
32
fronteiras artificiais e as fronteiras naturais. Se as primeiras consistem em tratados
materializados em demarcações feitas pela mão humana, móveis pelo correr da
história aliada do expansionismo estatal, as segundas consistem em rios,
montanhas e demais configurações geográficas balizadas como fronteiras pela
soberania. O que caracteriza o território, com suas linhas divisórias naturais ou
artificiais que o distanciam de outros Estados, é mais uma questão de “jurisdição do
que de propriedade” (MORRIS, 2005, p.37). “Não se pode evitar a submissão à
autoridade de algum Estado quando nos encontramos no território desse Estado”
(MORRIS, 2005, p.36).
Para Georg Jellinek, esse sentido jurídico inerente ao território detém uma
consequência positiva e outra negativa: “negativa una, en tanto que se prohibe a
cualquier otro poder no sometido al del Estado ejercer funciones de autoridad en el
territorio sin autorización expresa del mismo; positiva la otra, en cuanto las personas
que se hallan en el territorio quedan sometidas al poder del Estado” (1974, p.295).
Dentre a negativa da afirmação territorial que delimita seus contornos e a positiva da
possibilidade de ação do Estado nos limites do seu território por meio da ordem
jurídico-política estabelecida, repousa esse elemento constituinte do Estado-Nação.
Se o Estado, nas palavras de Fabiana Marion Spengler, ao fazer uso da
teoria de Weber, define-se como “uma organização que reivindica o monopólio sobre
o uso legítimo da força dentro de um determinado território, sendo que sua
legitimidade também sofre influências do prestígio internacional que possui” (2008,
p.41), vê-se que “o território é o país propriamente dito, e portanto país não se
confunde com povo nem com nação, e não é sinônimo de Estado, do qual possui
apenas um elemento” (AZAMBUJA, 2001, p.38). O terceiro elemento fundamental
que constitui o Estado-Nação assim está para o poder juridicamente organizado ou
poder jurídico-político, o qual é dependente dos outros dois elementos para que se
estabeleça em determinado espaço e tempo. O Estado impõe seu poder jurídicopolítico aos indivíduos que habitam seu território, poder este que, para a
organização estatal, torna-se indispensável para a garantia da estabilidade social. “O
sentido normativo do poder político é conferido pelo ordenamento jurídico”, já que “o
poder político não deve ter caráter de poder de fato (não vinculado ao direito), mas
33
sim, de poder jurídico, não se podendo dissociar Estado de Direito, na medida em
que o Direito vai regular a atuação do poder” (FERNANDES, 2002, p.40).
Dadas de maneira sucinta essas explicações acerca dos elementos
fundamentais que constituem o Estado-Nação, é importante afirmar que é a
soberania que aglutina os mesmos em torno de um único conceito. Pode-se referir
que os
[...] Estados modernos reivindicam uma variedade de poderes para si
próprios e os negam para não-Estados. Afirma-se que os Estados reclamam
o monopólio do uso da força legítima. Governantes e governos declaram, de
modo característico, possuir autoridade. A forma que isso assume no
Estado moderno é a soberania: uma certa autoridade exclusiva sobre seu
domínio e uma certa independência de outros Estados. Somente os
Estados são assegurados como detentores de tais poderes (MORRIS,
2005, p.35).
É a soberania estatal que dá suficiente força aos elementos do EstadoNação, já que por conta dela, nos limites do seu território e em relação aos
indivíduos que nele habitam, o Estado detém o monopólio da força configurada no
poder jurídico-político, pois
[...] embora apareça já na Idade Média em autores como Beaumanoir e
Marino da Caramanico, é indubitável que a noção de soberania como
suprema potestas superiorem non recognoscens (poder supremo que não
reconhece outro acima de si) remonta ao nascimento dos grandes Estados
nacionais europeus e à divisão correlativa, no limiar da Idade Moderna, da
idéia de um ordenamento jurídico universal, que a cultura medieval havia
herdado da romana (FERRAJOLI, 2007, pp.1-2).
Tem-se também que o Estado Moderno pode ser conceituado, segundo
Bonavides, tanto em uma acepção filosófica quanto jurídica ou sociológica do termo.
Na acepção filosófica de Hegel, por exemplo, o Estado é definido como “a realidade
da idéia moral” (1995, p.62). Já no plano jurídico, Jean-Yves Calvez comenta que o
“Estado é a generalização da sujeição do poder ao direito (...) por (...) certa
despersonalização” (apud BONAVIDES, 1995, p.64), demonstrando que o Estado só
existirá se concebido como um poder que independe da pessoa dos governantes.
Na sociologia, interessante reafirmar Weber, para o qual o Estado é “aquela
comunidade humana que, dentro de um determinado território, reivindica para si, de
maneira bem sucedida, o monopólio da violência física legítima” (BONAVIDES,
34
1995, pp.65-66). Enfim: “O Estado é o executor da soberania nacional” (MALUF,
2009, p.22).
Esclarecendo essas considerações, Morris (2005) afirma que o Estado
Moderno igualmente se caracteriza na funcionalidade de cinco aspectos que se
inter-relacionam: continuidade no tempo e no espaço, transcendência, organização
política, autoridade e compromisso de fidelidade. Com relação à continuidade no
tempo e no espaço, as instituições estatais resistem às mudanças de liderança e de
governo. Sobrevivem como “forma de organização política de um território definido e
distinto” (MORRIS, 2005, p.76), independendo dos seus governantes. Quanto à
transcendência, o que é relevante está para o fato de que o governo, o judiciário e
as forças armadas “não constituem em si mesmas o Estado” (MORRIS, 2005, p.76),
sendo somente seus agentes. Da organização política, o essencial é que a mesma é
formal e centralizada, abrangendo todos os indivíduos que habitam o território
estatal, penetrando na sociedade de forma legal e administrativa através de um
controle direto e territorial. A autoridade, por sua vez, está para o Estado soberano
como derradeira fonte jurídico-política em seu território, levando-se em conta que
suas instituições se estendem a todos os residentes ou membros desse território por
meio do monopólio da força. Derradeiramente, o compromisso de fidelidade revela
que “os membros de um Estado estão sujeitos às suas leis e têm obrigação de
obedecê-las em virtude de sua qualidade de membro” (MORRIS, 2005, p.77).
Diante desse quadro, nitidamente se vislumbra que “os Estados Modernos
são formas territoriais características de organização política que reivindicam
soberania sobre os seus domínios e independência de outros Estados” (MORRIS,
2005,
p.77).
Se
a
sociedade
pré-estatal
se
caracteriza
por
um
poder
descentralizado, o Estado Moderno se caracteriza pela centralização e pelo
monopólio do poder por meio da sua condição soberana, afirmando sua supremacia
nos limites do seu território que, ao contrário do período feudal, comporta no mais
das vezes milhares de indivíduos sujeitos a uma mesma ordem jurídico-política. O
Estado Moderno está baseado em um poder “racional-legal”, isto é: “poder que se
exerce dentro dos parâmetros legais” e “na crença do ordenamento jurídico”
(FERNANDES, 2002, p.41), o qual sujeita todos aqueles que habitam seu território.
35
O caráter eminentemente racional da modernidade, proveniente do
renascentismo exponenciado pelo Iluminismo, relacionado com organização
centralizada característica do Estado Moderno, considerando-se que é essa
organização, matizada pela racionalidade instrumental, que cria o aparato
burocrático estatal, caracteriza e singulariza tal Estado frente às demais
organizações jurídico-políticas pré-estatais. É a racionalidade secular da soberania
estatal, tanto em sua afirmação intra-territorial quanto em sua imposição extraterritorial, da qual deriva a própria sociedade internacional moderna, que irá
diferenciar a formatação do Estado Moderno, racional e logicamente construído, em
comparação às demais organizações sociais verificadas no transcorrer da história.
Entretanto, se o Estado é um conceito jurídico e a Nação um conceito social
completamente arraigado à história e à cultura dos seus membros, o próprio
parâmetro do que se entende por nacionalidade se trata de uma subjugação do
jurídico em relação ao social na formatação do Estado-Nação. Como é a cidadania
que garante a qualidade de membro aos indivíduos que habitam determinado
Estado, sua importância, dada a realidade de que um Estado não existe sem
cidadãos e de que cidadãos “ainda” não existem sem Estado, é imensa para a
compreensão da sua correlação íntima com o Estado-Nação.
1.3 A construção histórico-política da cidadania
Não é possível dissociar a cidadania da vida em sociedade. É inegável que
sua origem se encontra na polis grega, podendo também ser vinculada ao status
civitatis romano. Mas igualmente não se pode afirmar que o conceito deixou de
sofrer mutações significativas com o transcorrer da história. Seu significado clássico,
atrelado à participação política dos cidadãos na polis, passou por uma potencial
reconfiguração em razão das transformações sociais, políticas, econômicas e
culturais da modernidade. Como explica João Baptista Herkenhoff, “o conceito de
cidadania ampliou-se no correr da história”, considerando-se que essa ampliação
“envolveu a incorporação de direitos ao patrimônio jurídico das pessoas” (2001,
p.33).
36
Para que isso fosse possível, a desestruturação do modelo feudal tida na
Baixa Idade Média foi fundamental. Houve, segundo Marco Mondaini, duas forças
atuando em conjunto na promoção das inúmeras mudanças ocorridas: “A ‘crítica
interna dos religiosos’ da Reforma e a ‘crítica externa dos cientistas’ do
Renascimento inviabilizaram a continuidade absoluta de uma maneira transcendente
de compreender a História” (2003, p.115). Ao contrário de “um mundo de ‘verdades
reveladas’,
construiu-se
assentado
um
no
trinômio
outro
particularismo/organicismo/heteronomia,
mundo
universalidade/individualidade/autonomia”
pautado
(MONDAINI,
2003,
no
p.115),
trinômio
onde
a
descoberta e o estabelecimento das verdades dependeria unicamente do homem.
A cidadania, realização que se dá na dinâmica concreta das relações
sociais, relaciona-se com o Estado na medida em que sua “natureza política” está
ligada à “era dos nacionalismos e da constituição dos Estados nacionais” (VIEIRA,
2001, p.240). Como afirma Simone Goyard-Fabré, “a cidadania [moderna] apareceu
no dia em que a soberania estatal se manifestou” (apud DAL RI JÚNIOR, 2002,
p.47). A particularidade da vinculação jurídico-política que a cidadania traz consigo,
configurada na relação do Estado-Nação com o cidadão, não é encontrada em
organizações pré-estatais.
O desenvolvimento da cidadania modelou os vínculos do cidadão com o
Estado, protegendo-o dos desmandos absolutistas questionados pela ascensão
burguesa entre os séculos XI e XV, a qual coincide com a afirmação histórica do
Estado Moderno. Quando essa burguesia se consolidou como classe social
dominante, surgiram as cartas de direitos relacionadas primeiramente às esferas
civis e políticas, o que ocasionou a passagem do citadino/súdito feudal ao
citadino/cidadão moderno.
É preciso elencar, ainda que brevemente, certas ocorrências históricas da
modernidade que consagraram, respectivamente, os direitos civis, políticos e
sociais, os quais se relacionam, em âmbito estrito, às Revoluções Inglesa,
Americana e Francesa quando adicionadas à Revolução Industrial, assim como às
formatações do Estado Absoluto ao Estado Liberal em direção ao Estado Social,
este verificado a partir de meados do século XX.
37
A liderança burguesa na Inglaterra, levantando-se contra os privilégios
aristocratas, redundou, no século XVII, na formulação do Bill of Rights em 1689, o
qual consistiu em um desdobramento da oposição de comerciantes e proprietários
de terra ingleses, com relevante expressão no Parlamento, em relação ao Rei Jaime
II. “A Revolução Inglesa de 1640-1660 foi um momento no qual o poder estatal
passou para as mãos de uma nova classe social, abrindo assim o caminho para o
livre desenvolvimento do modo de produção capitalista” (MONDAINI, 2003, p.122).
A ênfase expressa pelo Bill of Rights inglês detém como ponto marcante a
ideologia liberalista, o que, dado o fato da Revolução Inglesa ter sido protagonizada
pela burguesia, a qual arregimentou as massas na luta pelos seus objetivos frente à
aristocracia, é algo nitidamente perceptível. Se a tentativa de fundamentação da
primeira forma estatal, o Estado Absoluto, passa diretamente pelas formulações
teóricas de Hobbes, a nova configuração preconizada pela Revolução Inglesa
encontra eco no pensamento de Locke, dando os primeiros sinais que resultaram na
formação do Estado Liberal.
Como foram os indivíduos que, saindo de um mítico estado de natureza,
compactuaram para a organização de uma sociedade civilizada, onde abdicaram de
uma parcela da sua liberdade em prol da existência da civilização, a prevalência do
indivíduo como início da justificação estatal secularizada e racionalizada é nítida.
Advindo a justificação estatal da vontade dos indivíduos estatizada pelo Leviatã
absoluto de Hobbes, esses mesmos indivíduos, em determinado momento, também
deveriam ser protegidos “das próprias ações despóticas do Estado” (MONDAINI,
2003, p.129). “Chegava a hora do liberalismo e sua defesa implacável dos direitos
civis” (MONDAINI, 2003, p.129).
O Liberalismo surgiu como uma nova visão global do mundo, constituída
pelos valores, crenças e interesses de uma classe social emergente (a
burguesia) na sua luta histórica contra a dominação do feudalismo
aristocrático fundiário, entre os séculos XVII e XVIII, no continente europeu.
Assim, o Liberalismo torna-se a expressão de uma ética individualista
voltada basicamente para a noção de liberdade total que está presente em
todos os aspectos da realidade, desde o filosófico até o social, o econômico,
o político [e] o religioso (WOLKMER, 2000, pp.116-117).
38
Esse liberalismo relacionado aos direitos civis, alicerçado no contratualismo
liberal de Locke, para o qual a propriedade, relacionada à vida, à liberdade a aos
bens, deve ser uma garantia dos indivíduos condicionada pela sua legalidade
estatal, embasou teoricamente as mudanças almejadas pela burguesia do período,
segundo as quais
[...] o Parlamento limita a autoridade do rei e cria a liberdade dos cidadãos,
estabelecendo que o rei não pode suspender as leis elaboradas pelo
Parlamento nem dispensar ninguém de cumpri-las; (...) todo cidadão tem o
direito de petição; (...) em tempo de paz o rei não pode organizar exércitos
sem consentimento do Parlamento; (...) os membros do Parlamento não
podem ser presos nem responsabilizados pelos seus votos; (...) não devem
ser impostas multas excessivas nem penas cruéis aos criminosos; (...) o
Parlamento deve ser convocado frequentemente para fazer as leis
(AZAMBUJA, 2001, p.156).
No modelo de produção feudal, a ordenação social se dava de acordo com
contratos tácitos de obrigações mútuas. Já “com o surgimento do modelo
individualista de sociedade, ocorre uma inversão deôntica: dos deveres para os
direitos” (BEDIN, 2002, p.436). Enquanto houve a prevalência de um modelo social
organicista “que indicava o Estado como complemento natural e forçoso do homem
após organizar-se em família” (MONDAINI, 2003, p.129), “foi impossível a
concretização de que o homem possui direito a ter direitos (...), pressuposto
fundamental da cidadania moderna” (BEDIN, 2002, p.436).
Apesar de haverem críticas em relação ao reducionismo de Locke em sua
concepção de propriedade, a qual foi fundamental para o estabelecimento de uma
organização social centrada no indivíduo, também não se pode negar que a partir
dessa concepção surgiu a discussão relativa à “diferença” e por conseqüência à
“tolerância”, seja étnica, religiosa ou sexual. O fundamento da igualdade de todos
perante a lei, de tal modo, pode ser legado às conquistas dos direitos civis a partir
do século XVII, da mesma maneira que “a ideologia liberal evoluiu e prolongou-se no
bojo da Democracia contemporânea” (WOLKMER, 2000, p.119). Nota-se assim que
os direitos civis, influenciados pelo pensamento hobbesiano, afirmados pelo
contratualismo liberal de Locke, promulgados pelo Bill of Rights proveniente da
Revolução Inglesa de 1640, onde a burguesia com representação no Parlamento foi
a grande protagonista frente ao reinado de Jaime II, vivenciado em meio a uma
aristocracia privilegiada, mais uma vez referenciam o fato de que, segundo Isabel
39
Estrada Carvalhais, a “cidadania (...) se apresenta intimamente ligada ao
aparecimento do Estado moderno e do modo da produção capitalista” (2004, p.19)
que veio a sobrepujar o modo de produção feudal.
O principal aspecto do Bill of Rights, portanto, está relacionado com a
restrição do poder do soberano. Por conseqüência, a relevância da Revolução
Inglesa está para os direitos civis, “isto é, todos aqueles direitos que tendem a limitar
o poder do Estado e a reservar ao indivíduo, ou para grupos particulares, uma esfera
de liberdade em relação ao Estado” (BOOBIO, 1992, p.32). Como explica T.H.
Marshall, “o elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual
– liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à
propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça” (1967, p.63). Mas é
essencial referir que os direitos civis foram afirmados por meio da Revolução Inglesa
em razão do “triunfo da ideologia dos homens com propriedade” (MONDAINI, 2003,
p.128), o que aponta justamente para sua conotação liberal.
É necessário frisar que o “sistema inglês era uma monarquia constitucional,
limitada pelo Parlamento como expressão da soberania do povo” (MALUF, 2009,
p.131). “O absolutismo monárquico”, relativo ao Estado Absoluto, “que surgiu no fim
da Idade Média e triunfou por todo o continente europeu, procurou instalar-se na
Inglaterra com Carlos I” (MALUF, 2009, p.131), encontrando desde o início fortes
reações liberais iniciadas em 1215 e culminadas com o Bill of Rights de 1689. Se a
“Monarquia absoluta assentava-se sobre o fundamento teórico do direito divino dos
reis”, considerando-se que o poder do soberano era tido “como de natureza divina e
proveniente de Deus” (MALUF, 2009, p.127), as contestações liberais, centradas em
um individualismo burguês com fortes influências da secularização da Reforma
religiosa e da racionalização renascentista, gérmen do Iluminismo dos séculos XVII
e XVIII, erigiram as bases de um novo modelo estatal: o Estado Liberal.
Conforme expõe Dallari (2001), essa nova forma de Estado criou uma
estrutura de poder político capaz de manter e ampliar suas conquistas,
estabelecendo-se do modo mais inexpressivo possível, o que levou a ser chamado
de “Estado mínimo”. Suas funções eram restritas, com a menor interferência social
aceitável, de maneira que dispusesse a sedimentação das conquistas da burguesia.
40
Uma das consequências do Estado Liberal foi a constituição do proletariado
moderno, ocasionando o surgimento de numerosos aglomerados urbanos como
reflexo direto da Revolução Industrial a partir do século XVII. Houve o fortalecimento
dos que eram economicamente sólidos, sendo que a burguesia não permitia a
intervenção do Estado para modificar a posição instituída e minimizar as injustiças
sociais, levando-se em conta o fato de que as liberdades conquistadas pela
Revolução “durante muito tempo” foram “associadas exclusivamente ao critério
excludente de ser proprietário (MONDAINI, 2003, p.131). O “artigo 11 do Bill of
Rights já falava dos jurados que tomam decisões referentes à ‘sorte das pessoas’
como devendo ser ‘livres proprietários de terras’” (MONDAINI, 2003, p.131).
Mesmo assim, a Revolução Inglesa consistiu num grande passo para a
cidadania na limitação do poder monárquico absoluto pelo Parlamento, afirmando
direitos que “estabelecem um marco divisório entre a esfera pública (Estado) e a
esfera privada (sociedade civil)”, considerando-se que tal “distinção entre esfera
pública e esfera privada é uma das características fundamentais da sociedade
moderna, e é a partir dela que se estrutura o pensamento liberal e o pensamento
democrático” (BEDIN, 2002, p.439). É preciso afirmar, entretanto, que a “Revolução
Inglesa de 1640 – assim como os outros processos revolucionários burgueses – foi
um cadinho de várias revoluções, uma brotando das vísceras da outra, com
múltiplas referências ideológicas” (MOIDAINI, 2003, p.127). Nesse contexto é que
pode ser situada a Revolução Americana contra o domínio inglês. Claramente
inspirados no Bill of Rights promulgado pelo próprio país contra o qual se rebelaram,
os colonos norte-americanos marcaram a construção histórico-política da cidadania
com a Declaração da Virgínia, datada de 1776.
No entendimento de Leandro Karnal, “envolvidos nas suas disputas internas
que levariam à decapitação de Carlos I, à República e à deposição de James II, os
ingleses pouca atenção deram às suas colônias”, comportamento que sofreu
mudanças a partir do século XVIII, cujas razões, sempre complexas, são
“usualmente atribuídas às dívidas contraídas pelo governo de Londres durante a
chamada Guerra dos Sete Anos com a França (1756-1763) e às novas
necessidades ditadas pela Revolução Industrial” (2003, p.138). Houve a imposição
de uma legislação mais rígida, onde “os colonos passaram a receber,
41
sistematicamente, leis restritivas como a do açúcar, a do selo [e] a da moeda”
(KARNAL, 2003, p.138).
Paul Singer explica ao comentar Howard Zinn:
A Revolução Americana foi o resultado de uma frente única da plebe
(agricultores familiares, artesãos urbanos, pequenos comerciantes etc.) com
latifundiários escravistas e com a plutocracia manufatureira e banqueira do
Nordeste dos EUA. Foi liderada por homens como George Washington, o
homem mais rico das Colônias; Thomas Jefferson, que, apesar de ser
pessoalmente contra a escravidão, era grande proprietário de terras e de
centenas de escravos; Alexander Hamilton, advogado ligado à elite
financeira e industrial de Nova York; e Thomas Paine, o democrata mais
radical de todos, mas que, apesar disso, tornou-se sócio de Robert Morris,
um dos homens ricos da Pensilvânia, e de apoio ao Banco da América do
Norte, criado pelo último (2003, pp.202-203).
Nesse cenário e com esses protagonistas, claramente baseados em Locke,
pelo qual os revoltosos foram influenciados principalmente pelo Segundo Tratado
Sobre o Governo, onde o autor dizia da necessidade do governo preservar os
direitos naturais e principalmente o direito à rebelião, os colonos americanos
proclamaram a Declaração de Independência em 1776, a qual deu suporte para a
Constituição Federal elaborada em 1787. O pioneirismo da Revolução Americana é
motivado pelo fato de que “pela primeira vez, um povo fundamenta sua aspiração à
independência nos princípios da cidadania, ou seja, coloca como finalidade
primordial do Estado a preservação das liberdades dos integrantes do povo,
elevados à condição de sujeitos políticos” (SINGER, 2003, p.201). Baseados na
tripartição e no equilíbrio de poderes desejados Montesquieu, “os Estados Unidos da
América tinham criado a mais ampla possibilidade democrática do planeta na época
da sua independência” (KARNAL, 2003, p.143). Marcada por uma sempre presente
desconfiança em relação ao Estado e na crença no indivíduo, a Constituição Federal
de 1787 “inicia falando do Legislativo, a salvaguarda mais eficiente contra o
personalismo”, considerando-se que “o Executivo só aparece no artigo seguinte e o
Judiciário no artigo III” (KARNAL, 2003, p.142). O que parece surgir dessa
organização textual é um ressalte, ainda que embrionário, nos direitos políticos.
Se os direitos civis se constituíram como categoria negativa no sentido de
serem “direitos estabelecidos contra o Estado”, os direitos políticos se constituíram
como categoria positiva por compreenderem a possibilidade “de participar do
42
Estado” (BEDIN, 2002, pp.439-440). Dessa maneira, “concebendo a liberdade não
apenas
negativamente,
como
não-impedimento,
mas
positivamente,
como
autonomia” (BOOBIO, 1992, pp.32-33), os direitos políticos “tiveram como
consequência a participação cada vez mais ampla, generalizada e freqüente dos
membros de uma comunidade no poder político (ou liberdade no Estado)” (1992,
p.33), podendo ser vistos como uma decorrência dos direitos civis. Embora o
nascedouro dos direitos políticos possa ser encontrado na Revolução Americana,
sendo indissociável, contudo, das Revoluções Inglesa e Francesa, considerando-se
que uma aparenta desencadear a outra, o que é palpável pela influência do Bill of
Rights inglês nos Estados Unidos é fato que a igualdade política defendida visava
“obter igualdade (...) para um grupo determinado” (KARNAL, 2003, p.144). A
efetivação de algumas das pretensões igualitárias abstratas presentes tanto na
Declaração da Virgínia de 1776, quanto na Constituição Federal de 1787, só foram
se dar no século XX, como ocorreu em 1964 com o Civil Right Act, “que bania, na
forma jurídica, quaisquer distinções de raça, sexo, cor, religião ou origem nacional”
(KARNAL, 2003, p.151).
O que é repudiado pela Revolução Americana, porém, são principalmente
distinções baseadas no privilégio do nascimento. Ao revés do heterônomo
particularismo organicista da Idade Média, a Idade Moderna está marcada pela
defesa da universalidade autônoma do indivíduo. Os Estados Unidos foram assim
constituídos como “terra das oportunidades”, na acepção pela qual hoje são tão
conhecidos, na medida em que se deu a vitória de uma ideologia do sucesso
baseada no esforço individual, o que denota uma clara matriz liberalista. Se Locke
predisse que o poder do Estado é limitado, divisível e resistível, ao passo que
Hobbes afirma justamente o contrário, o cidadão, protegido civilmente, e portanto
juridicamente, pelo Estado ao qual está vinculado obrigatoriamente, também deve
deter o direito de participar das esferas do poder politicamente organizado nesse
Estado. Surgem então os direitos políticos, sendo que por “elemento político se deve
entender o direito de participar no exercício do poder político, como um membro de
um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor de membros de tal
organismo” (MARSHALL, 1967, p.63). A “terra das oportunidades” não poderia
sonegar a possibilidade da participação dos indivíduos na vida política, afirmando
43
um caráter intercambiente entre uma “polarização positiva” referente aos direitos
políticos e uma “polarização negativa” referente aos direitos civis.
Mas se os processos revolucionários inglês e americano consagram
historicamente os direitos civis, foi a Revolução Francesa que fortaleceu os direitos
políticos. Também resultado de uma luta contra um poder monárquico absoluto, a
“Revolução Francesa tem seu início datado da reunião dos Estados Gerais,
convocados pelo rei Luís XVI, em 1789” (SINGER, 2003, p.207). Entretanto, as
raízes da revolução são encontradas em 1774, quando do coroamento de Luís XVI
em razão da morte de Luís XV. Esse momento de transição do poder, o qual,
segundo Paul Kropotkine, sempre compreende “um afrouxamento da autoridade”
(apud SINGER, 2003, p.207), foi percebido pelo povo que padecia de extrema
miséria e enorme opressão, gerando inúmeros motins de camponeses em toda
França. Quando esses motins se aproximaram de Paris, gerando inclusive saques
de padarias por multidões de famintos, espalharam pela França tumultos que se
generalizaram a partir de 1788. “O que transformou uma epidemia de inquietação
camponesa em uma convulsão irreversível foi uma combinação de levantes das
cidades provincianas com uma onda de pânico de massa, que se espalhou de forma
obscura mas rápida por grandes regiões do país” (HOBSBAWM, 1996, p.25).
Com a passagem da Idade Média à Idade Moderna, Nilo Odalia afirma que
“os reis assumiram o poder político em prejuízo dos senhores feudais, que
acabaram por ser apenas caudatários da monarquia. Esta, pouco a pouco, tornou-se
absolutista, cujo exemplo mais famoso e ostensivo foi a monarquia de Luís XIV da
França” (2003, p.163). A aristocracia feudal passou “a gravitar em torno dos seus
monarcas, deixando administradores para cuidar de seus pertences” (ODALIA,
2003, p.163), surgindo assim uma vida estritamente palaciana distinta pela
ociosidade e pelas intrigas dos membros dessa camada social privilegiada, ansiosos
pela possibilidade da conquista de um cargo ministerial. Havia uma relação de
reciprocidade entre a monarquia e os nobres, onde a primeira buscava nos
segundos um aporte político e financeiro para sua permanência no poder.
A potencialização dos conflitos sociais mostrou a incapacidade do controle
monárquico frente às insurreições movidas pela pobreza. Diante dessa pressão, o
44
poder real convocou, a partir de maio de 1789, “os chamados Estados Gerais,
instituição política formada por deputados representantes de Nobres, do Alto Clero
(bispos, arcebispos e cônegos) e do Terceiro Estado”, o qual era constituído por
plebeus das mais diversas origens, misturando “advogados, médicos, a alta, a média
e a pequena burguesia, profissionais liberais, juízes, baixo clero (padres provinciais),
corregedores, grandes e pequenos comerciantes, operários [e] artesãos” (SINGER,
2003, p.164). Se por um lado “a Revolução começou (...) com uma tentativa
aristocrática de recapturar o Estado” (HOBSBAWM apud SINGER, 2003, p.209), por
outro demonstrou que “os reis tradicionais que abandonam seus povos perdem o
direito à lealdade” (HOBSBAWM, 1996, p.32), ao que também se adicionou a aguda
crise econômica francesa em decorrência das más colheitas de 1788 e 1789.
Nessa conjuntura que soma revoltas sociais que vão do campo à cidade a
uma crise econômica inflada pelo descrédito do poder político absolutista, Luís XVI,
em seu discurso inaugural da reunião convocada, enfatizou que os deputados não
deveriam tocar em qualquer inovação política, reputando-se exclusivamente à
votação do orçamento do Estado. Considerando-se que os membros dos Estados
Gerais e do Terceiro Estado se reuniam separadamente, logo no início da reunião
“os representantes do Terceiro Estado propõem que seja abolida a separação e que
as sessões e votações sejam conjuntas” (ODALIA, 2003, p.165), proposta que não
foi aceita pela grande maioria dos nobres, embora tenha havido uma divergência na
votação do Alto Clero. Foi assim que no dia 17 de junho o Terceiro Estado se
declarou Assembléia Nacional, “intentando garantir em suas mãos todo o poder
político”, com adesão do clero e de “47 membros dos nobres” (ODALIA, 2003,
p.165). Percebendo o tumulto generalizado ocorrido em consequência dessa
divergência política e da violência crescente nas ruas de Paris, Luis XVI convocou
“tropas para guarnecer a capital e manter sob controle os Estados Gerais” (ODALIA,
2003, p.165).
A Revolução Francesa desenvolve-se no plano político parlamentar por
meio de uma sucessão de estágios, cada qual mais radical que o anterior
(...). O primeiro foi o da Assembléia Nacional, em que se transformou o
Terceiro Estado, com a adesão (...) da nobreza e do clero. Era um poder
desarmado, à mercê das tropas do rei e da corte, se não fosse o povo de
Paris, já sublevado pela fome, que se apodera dos canhões e fuzis e toma a
Bastilha, frustrando o golpe tramado pela realeza. Esta reviravolta foi
decisiva no primeiro estágio da Revolução, e não por acaso o 14 de julho
45
tornou-se a data nacional da França. (...) O momento seguinte foi a famosa
noite de 4 de agosto de 1789, quando nobres e clérigos renunciam a seus
direitos feudais. A abnegação das classes privilegiadas era motivada pelo
pavor que os levantes camponeses espalharam por todos os lados
(SINGER, 2003, p.210).
Impossibilitado de usar seu exército, “Luís XVI se vê constrangido a aceitar
as imposições em favor de uma nova constituição e convoca uma nova assembléia
de todas as ordens (Nobres, Clero e Terceiro Estado), que se transforma numa
Assembléia Constitucional” (ODALIA, 2003, p.166). Antes disso, porém, em 26 de
agosto de 1789, o Terceiro Estado proclama a Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão. Estabelecendo já em seu primeiro artigo a igualdade e a liberdade dos
homens em direito, tidas como naturais e imprescritíveis, a Declaração igualmente
ressalta que essa liberdade está condicionada pelo direito à propriedade assim
como à segurança e à possibilidade de resistir à opressão, o que aponta um vínculo
com a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776. Dizendo também
da soberania da Nação, da qual a lei deve ser a expressão geral da vontade, a
Declaração, seguindo os preceitos de Montesquieu, estabelece a separação dos
poderes políticos, referindo que cabe aos cidadãos o controle das finanças e da
administração pública por meio dos seus representantes. A pressuposição da
inocência, a liberdade restrita pela lei, que não pode ser desobedecida pelos
cidadãos em razão de ser a expressão da sua própria vontade geral por meio dos
seus representantes, constituem importantes contribuições provindas da Revolução
Francesa de 1789 na formatação básica dos direitos civis e políticos.
Apesar de tamanhas contribuições expressas pelas Revoluções Inglesa,
Americana e Francesa para os direitos civis e políticos, deve-se frisar que a
efetividade dos direitos políticos plenos ainda não estava garantida. Como refere
Bonavides, a revolução da burguesia francesa levou “à consumação de uma ordem
social, onde pontificava, nos textos constitucionais, o triunfo total do liberalismo. Do
liberalismo, apenas, e não da democracia, nem sequer da democracia política”
(1972, p.7), a qual somente se tornou possível a partir do século XIX. A abstração
das declarações de direitos veio acompanhada de uma segregação concreta
avassaladora, imersa na desigualdade social proveniente da Revolução Industrial
desde o século XVII. Isso é revelado pelo fato de que os direitos políticos ainda
consistiam em direitos relacionados a um status social configurado por fatores
46
econômicos, sexistas e racistas, os quais foram enfrentados por novas demandas
sociais surgidas a partir de então.
Não conferir direitos mas reconhecer capacidades para o exercício de
direitos, promove um componente excludente presente nos primórdios dos direitos
políticos. Contudo, estavam consolidadas as bases para a emersão do Estado
Liberal, para o qual, segundo Wanderley Guilherme dos Santos, os limites da
atuação estatal “derivam de uma proposição fundamental básica: a de que só é
legítima a ação que visa a preservar a segurança individual dos governados” (1981,
p.163). Esse modelo estatal, conservado em suas matrizes fundamentais até
meados do século XX, será pautado principalmente pelo
[...] consentimento individual, a representação e o governo representativo, o
constitucionalismo político (o Estado de Direito, o império da lei, a
supremacia constitucional, os direitos e garantias individuais), a teoria da
Separação dos Poderes (descentralização administrativa e restrição da
atividade do Estado) e a soberania popular” (WOLMER, 2000, p.118).
O que é interessante notar é que a Constituição Francesa de 1791 irá dispor
da necessidade da existência de mecanismos básicos de assistência pública às
crianças abandonadas, aos pobres enfermos assim como àqueles que, gozando de
plena saúde, não encontram oportunidades de trabalho para garantir sua
subsistência. Da mesma forma, irá prescrever um sistema básico de instrução
comum aos cidadãos, o qual deveria ser gratuito pela indispensabilidade do ensino
para todos os homens que nascem iguais em liberdades e direitos. Parece residir aí
uma referência, ainda que longínqua, aos direitos sociais, visto que os mesmos
dizem respeito “a tudo o que vai desde o direito a um mínimo bem-estar econômico
e segurança ao direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida
de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade”
(MARSHALL, 1967, pp.63-64). Se for levado em conta que as instituições que
caracterizam basicamente os direitos sociais “são o sistema educacional e os
serviços sociais” (MARSHALL, 1967, p.64), a Constituição Francesa traz consigo a
possibilidade do surgimento de mais uma esfera de direitos que irá condicionar as
demais, de modo a formar um todo único e indivisível na composição da cidadania
moderna.
47
Os direitos sociais, entretanto, apenas conquistaram possibilidade de
efetivação com a emergência do Estado Social14, o qual principia “a ser construído
com as Constituições Mexicana de 1917 e a de Weimar de 1919” (STRECK, 2002,
p.63). Com influência dos movimentos operários tidos a partir do século XIX em
função do crescimento dos aglomerados urbanos desde a Revolução Industrial e a
consequente formação do proletariado moderno, caracterizados especialmente
pelas formulações teórico-políticas de Karl Marx e Friedrich Engels, o Estado Social
pode ser visto como aquele “que garante tipos mínimos de renda, alimentação,
saúde, habitação, educação, assegurados a todo cidadão, não como caridade mas
como direito político” (STRECK, 2002, p.63).
Na fala de Carmen Camino, a invenção da
[...] máquina [à vapor], em 1812, aperfeiçoada por James Watt, em 1848,
ensejou rápido crescimento industrial e este acarretou profundas alterações
na Economia e nas relações sociais, em especial entre Capital e Trabalho.
Surgiram as grandes concentrações de operários, nasceram os primeiros
centros industriais, formando terreno propício à expansão do capitalismo
emergente à época dos grandes descobrimentos, favorecido pelas idéias
liberais nascidas na Revolução Francesa de 1789. No falso pressuposto da
igualdade entre os homens e consequente liberdade de contratar, os
trabalhadores foram explorados à exaustão e submetidos a condição
aviltante. A desigualdade econômica, ignorada pelo Estado abstenseísta,
inspirada nos falsos princípios do laisser faire, laisser passer, do “que é
contratual é justo, gerou situação de miséria sem precedentes para a classe
operária que, explorada e faminta, iniciou movimento ascendente de
grandes proporções, impulsionada pelo sentimento de solidariedade que é
próprio dos oprimidos (1999, p.28).
Mas o fator principal que levou ao surgimento do Estado Social foi “o colapso
do capitalismo nos anos 20/30” (WOLKMER, 2000, p.120) do século XX, colocando
em crise o Estado Liberal e suscitando a necessidade de reformulações jurídicopolíticas que realmente atendessem às exigências dos direitos sociais. “O velho
liberalismo, na estreiteza de sua formulação habitual, não pôde resolver o problema
essencial de ordem econômica das vastas camadas da sociedade, e por isso entrou
irremediavelmente em crise” (BONAVIDES, 1972, p.211). Houve a passagem de um
“Estado Mínimo” (Estado Liberal) à um “Estado Intervencionista” (Estado Social), o
qual “passa a assumir tarefas até então próprias à iniciativa privada” (STRECK,
14
O termo “Estado Social” é aqui utilizado no mesmo sentido de “Estado de Bem-Estar Social” ou
“Welfare State”.
48
2002, p.63). Com o Estado Social, manifesta-se um modelo estatal inclinado a
proporcionar uma condição de bem-estar geral, havendo a construção jurídica de
garantias e prestações positivas que se destinam à busca de uma igualdade não
alcançada pelo Estado Liberal. Para a formulação das bases do Estado Social, foi
decisiva a contribuição teórica de Keynes, o qual, diante da crise do capitalismo
liberalista, buscou soluções capitalistas para o próprio capitalismo. O Estado,
consoante Ademir Alves da Silva (2004), deveria atentar para sua intervenção
econômica e social com a finalidade de garantir emprego e distribuição de renda
mínima à população, intervencionismo este que se intensificaria após a Segunda
Guerra Mundial em um contexto econômico extremamente fragilizado. A lei aparece
como instrumento de ação concreta, revelando-se um meio disposto a proporcionar
a justiça social. A justiça social, por sua vez, segundo José Murilo de Carvalho
(2001), provém da consolidação dos direitos civis, políticos e sociais com a
finalidade de efetivar a cidadania por meio do intervencionismo estatal. Assim, podese afirmar que “Estado social significa intervencionismo” (BONAVIDES, 1972, p.232)
estatal que visa à consecução da justiça social como propriedade indissolúvel da
cidadania.
Com o desenvolvimento do Estado Social a partir da crise liberalista que
colocou em xeque o modelo do Estado Liberal, os direitos sociais passaram a
expressar “o amadurecimento de novas exigências – podemos dizer, de novos
valores –, como os do bem-estar e da igualdade não apenas formal, e que
poderíamos chamar de liberdade através ou por meio do Estado” (BOBBIO, 1992,
p.33). Os direitos sociais estão estritamente relacionados “com o Estado moderno
em sua fase intervencionista, voltada à afirmação de uma rede de proteção social, e
tem como pressuposto uma certa relativização do sistema capitalista” (BEDIN, 2002,
p.441).
Mesmo que perceptíveis na própria Constituição Francesa de 1791, foi
apenas no século XX, com a passagem do Estado Liberal ao Estado Social, que
houve a afirmação concreta dos direitos sociais, os quais consistem em um legado
inegável dos movimentos operários visíveis desde o século XIX. Dessa maneira, a
influência da ideologia socialista, fundada na tentativa de resolução dos problemas
surgidos com a Revolução Industrial, foi fundamental. Tal ideologia, “em sentido lato,
49
pretende transformar radicalmente o regime social, suprimindo as diferenças de
classes e transformando a propriedade privada em propriedade coletiva dos meios
de produção, visando a melhorar as condições de vida das massas urbanas
trabalhadoras” (WOLKMER, 2000, p.125). Embora se constate, na explicação de
Leandro Konder,
[...] algumas diferenças entre o que os socialistas se propunham a realizar
no século XIX (o revolucionamento da sociedade burguesa, com a
superação do modo de produção capitalista) e o que eles de fato
conseguiram fazer, não se pode deixar de reconhecer que constituíram um
fator decisivo no (...) aprimoramento da cidadania em geral (2003, pp.187188).
Percebe-se assim que todas as revoluções caracterizadoras da construção
histórico-política da cidadania tiveram por fundo uma intenção liberal relativizada
pelo Estado Social, o qual, por sua vez, detém uma origem socialista. Isso denuncia
vários pontos, a começar pelo fato de que é impossível dissociar a cidadania da
dinâmica social concreta, de maneira que ela envolve aspirações de ordem políticoeconômica na tentativa de harmonizar intenções individuais com necessidades
coletivas, sendo também válido afirmar que se o indivíduo é o núcleo do Estado,
este não mais provido de uma estrutura organicista, calcada essencialmente em
deveres e não em direitos, é da luta pelos direitos desse indivíduo no Estado e frente
ao Estado que surge a sempre aberta construção da cidadania.
Como diz Ihering no primeiro capítulo do clássico A Luta Pelo Direito: “O fim
do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta” (2003, p.27).
Trata-se, entretanto, de uma luta pelos direitos circunscrita ao âmbito dos Estados.
Como a modernidade liga de modo indissolúvel Estado e Direito, a concessão de
direitos e a possibilidade de possuí-los ou mesmo lutar pela sua maior abrangência
está restrita aos nacionais de determinada entidade soberana, do que decorre
fundamentalmente o condicionamento da cidadania pela nacionalidade
1.4 Cidadania e nacionalidade
A consolidação do Estado-Nação e da cidadania impulsionou o surgimento
de novas identidades e, por conseqüência, das diversas nacionalidades. Nas
50
palavras de Bertrand de Jouvenel ao referir a Revolução Francesa e as imensas
repercussões históricas que desencadeou,
[...] a entrada em cena da personagem Nação constitui um fenômeno de
importância capital na história. Assume importância na ordem internacional,
já que, da Revolução aos nossos dias, as modificações geográficas se
processam no sentido da congruência com as nacionalidades; e também na
ordem interna, já que o Estado Moderno apóia sua ação sobre o direito do
conjunto em face dos seus membros (1978, p.117).
O surgimento do princípio da nacionalidade, para o qual o Estado é a
personificação jurídica da Nação, “experimentou seu apogeu com a chamada escola
italiana do direito internacional, inspirando juridicamente os movimentos pela
unificação nacional na Itália e na Alemanha” (BONAVIDES, 2009, p.92). A partir de
meados do século XIX, com o surgimento do princípio da autodeterminação dos
povos na sistemática das relações internacionais, o princípio da nacionalidade,
apontando, como diz Tito Ballarino, a “cidadania como relação jurídica” (2002, p.86),
está vinculado ao fenômeno moderno do nacionalismo.
Segundo Charles P. Schleicher, enquanto ideologia o nacionalismo carrega
ao menos quatro paradigmas: “a) A independência da nação-Estado; b) A exigência
de um progresso nacional; c) A realização de uma missão nacional; d) A
manutenção de uma suprema lealdade à nação-Estado” (apud WOLKMER, 2000,
p.135).
Embora
contenha
uma
acepção
mítica
totalitária
enraizando
“a
autodeterminação política e cultural, a pureza racial, a supremacia nacional e o
princípio da unificação e integração” (WOLKMER, 2000, p.135), o nacionalismo é a
expressão ideológica do princípio da nacionalidade, referindo que “toda nação deve
corresponder a um Estado” (BONAVIDES, 2009, p.92). Como aduz L.A. Costa Pinto,
o nacionalismo “é a ideologia da nação, da sua formação e de sua integração. É um
conjunto de valores e de lealdades que fazem da nação uma unidade social e que
distinguem cada nação, como tal, das outras nações” (apud WOLKMER, 2000,
p.136).
O princípio da nacionalidade, contudo, serve “apenas para nacionalidades
de um certo tamanho” (HOBSBAWM, 2002, p.43). Nem todo Estado irá corresponder
a uma Nação e nem toda Nação irá corresponder a um Estado. Isso decorre da
51
própria imprecisão do conceito de Nação, o qual, mesmo que tencione objetividade,
será necessariamente subjetivo, ainda que combine várias categorias teóricas na
intenção de descrever esse fenômeno. Adam Smith, por exemplo, em sua obra A
Riqueza das Nações, de 1776, irá utilizar “Nação” com a intenção de designar as
organizações humanas, sem entrar em maiores determinações. Pode-se dizer,
porém, que a Nação “pertence exclusivamente a um período particular da história
recente. Ela é uma entidade social apenas quando relacionada a uma certa forma de
Estado territorial moderno, o ‘Estado-nação’” (HOBSVAWM, 2002, p.19) – o que é
reforçado pelo papel determinante da Revolução Francesa na construção de uma
concepção de Nação.
Se no Estado Absoluto havia “um ser imanente, o Rei”, a Revolução
Francesa irá fundar “um ser transcendente, a Nação”, a qual, ao invés de dedicação,
implicará em devoção, pois se o “soberano era um superior no seio do grupo, (...) a
soberania representa a superioridade do grupo” (JOUVENEL, 1978, pp.118-119).
Esse grupo dotado de uma soberania principiada pela nacionalidade, constituirá a
Nação sustentada por uma congruente “unidade política e nacional” (GELLNER
apud HOBSBAWM, 2002, p.18), a qual, consoante o princípio da nacionalidade,
deverá se constituir em Estado.
Percebe-se a partir daí uma crescente identificação da cidadania com a
nacionalidade, considerando-se que a “nacionalidade francesa era a cidadania
francesa” (...) (HOBSBAWM, 2002, p.108) manifesta principalmente pelos direitos
políticos, o que também foi nutrido pela Revolução Americana, os quais se
configuram como sinônimos de cidadania, uma vez que o reconhecimento desta
pelo Estado é pré-requisito para o acesso à igualdade de participação na construção
política da sociedade. Assim é que a nacionalidade, consoante Rui Moura Ramos,
reporta-se “a um vínculo jurídico (e não natural ou factual) que liga o indivíduo a uma
realidade política (e não puramente sociológica): o Estado”, embora também esteja
relacionada a uma
[...] ligação do indivíduo a uma entidade humana coletiva (a Nação), de
contornos difíceis de precisar mas que se entende revelada por diversos
índices de valor nem sempre idêntico: a comunidade de origens, de cultura
ou o destino político, o sentimento de pertinência a um mesmo povo e a
vontade de continuar nessa comunidade (2002, p.280).
52
Existindo um conjunto de “traços morais, que dão uma fisionomia peculiar a
cada nação” (AZAMBUJA, 2001, p.35), esse conjunto se chama nacionalidade, a
qual pode expressar tanto o vínculo jurídico-político do indivíduo com o EstadoNação quanto sua relação de pertencimento a determinada ordem social identificada
na comunhão de aspirações coletivas. “A nacionalidade tem sido apontada como
uma base – a base – para a autoridade dos Estados. Um Estado – atualmente é dito
com freqüência – somente se justifica à medida que sirva aos interesses ou articule
as aspirações da ‘nação’” (MORRIS, 2005, p.341), o que é notado pela circularidade
inerente à concepção moderna de Estado-Nação, cristalizada pelo princípio da
nacionalidade.
“Tradicionalmente,
somente
são
cidadãos
os
nacionais
de
determinado país” (VIEIRA, 2001, p.238), excluindo-se os imigrantes e estrangeiros
dos benefícios da cidadania.
Essa concepção exclusivista da cidadania implicará no vínculo jurídicopolítico do indivíduo a determinado Estado condicionado pela nacionalidade,
manifestando-se esta em dois pólos principais: o jus soli e o jus sanguinis,
determinantes das condições de acesso à cidadania. “O jus soli é um direito mais
aberto que facilitou a imigração e a aquisição da cidadania. Pelo jus soli, é nacional
de um país quem nele nasce” (VIEIRA, 1998, p.31). Já no “jus sanguinis, (...) a
cidadania é privativa dos nacionais e seus descendentes, mesmo nascidos no
exterior, enquanto que filho de estrangeiro nascido no país será sempre estrangeiro”
(VIEIRA, 1998, p.31).
“Habitualmente, a cidadania também pode ser adquirida por meio da
‘naturalização’, o processo de obtenção da cidadania. Aqueles que desejam se
tornar membros de outro Estado podem procurar fazê-lo” (MORRIS, 2005, p.367)
desde que preencham certas condições variáveis de Estado para Estado. Conforme
José Francisco Rezek, “a cada Estado incumbe legislar sobre sua própria
nacionalidade, desde que respeitadas, no direito internacional, as regras gerais,
assim como as regras particulares com que acaso se tenha comprometido” (2005,
p.180). Entretanto, uma das regras comuns para a “naturalização” costuma ser a
permanência por determinado tempo no país do qual se deseja obter a
nacionalidade. Importa ainda referir que a nacionalidade relacionada ao jus solis e
ao jus sanguinis é denominada como “nacionalidade primária ou originária”,
53
enquanto que a nacionalidade relacionada à naturalização é denominada como
“nacionalidade secundária”. Igualmente relevante mencionar que o vínculo
estabelecido pela nacionalidade, segundo Renata Campetti Amaral, “não deve
fundar-se em pura formalidade ou no mero artifício, mas sim na existência de laços
sociais consistentes entre o indivíduo e o Estado” (2007, p.128), de onde provém o
princípio da efetividade.
Ocorre que a “crescente circulação internacional de pessoas e o afrouxar
das barreiras (físicas, jurídicas e outras) (RAMOS, 2002, p.284)” trouxe novas
situações ao mundo contemporâneo, como o caso do “polipátrida”, o qual se
caracteriza pelo indivíduo “que possui mais de uma nacionalidade, como resultado
da aplicação, por diferentes Estados, de critérios diferentes para a aquisição da
nacionalidade” (AMARAL, 2007, p.128). A polipatria resulta na “cidadania
plurinacional”, na qual, na explicação de Florisbal de Souza Del’Olmo, “dá-se
preferência momentânea a uma das nacionalidades: a local, a do nascimento, a
última nacionalidade ou aquela em que o interessado tem relações mais estreitas”
(2005, p.48). Há também a figura do “apátrida” ou “anacional”, referindo-se àquele
indivíduo que está momentaneamente privado de qualquer nacionalidade, situação
esta que gradativamente tem se reduzido.
À parte essas considerações, é preciso acrescentar a situação da
supranacionalidade
proveniente
especialmente
dos
Tratados
Institutivos
da
Comunidade Européia, a qual, com o Tratado de Maastricht, de 1992, passou a ser
denominada União Européia. A partir desse Tratado, como explica Odete Maria de
Oliveira, a integração européia apresenta um “caráter misto: natureza supranacional
e da cooperação intergovernamental no que diz respeito à Política Exterior e de
Segurança Comum e Cooperação no Âmbito da Justiça e Assuntos de Interior,
conhecidas essas cooperações como segundo e terceiro pilares da União” (2009,
pp.145-146). Essa natureza supranacional da União Européia permite que, segundo
o Tratado de Roma de 1957, a cidadania por ela consiganada seja “extensível a todo
nacional dos países integrantes da mesma, (...) complementar à cidadania nacional,
não a substituindo” (DEL’OLMO, 2005, p.186).
54
Isso implica no fato de que todo “cidadão da União goza do direito de circular
livremente no território dos Estados-membros (...) e pode ser candidato nas eleições
municipais do Estado de sua residência, bem como nas eleições do Parlamento
Europeu, nas mesmas condições nacionais desse Estado” (DEL’OLMO, 2005,
p.186). Da mesma forma, todo cidadão da União Européia tem o “direito de petição
ao Parlamento Europeu e de dirigir-se por escrito, em uma das doze línguas oficiais
adotadas pela União, a qualquer das instituições desta e obter resposta redigida na
mesma língua” (DEL’OLMO, 2005, p.186).
Convém assinalar, porém, que mesmo havendo uma tendência à
constituição de blocos econômicos e políticos15 cada vez mais presente no mundo
atual, a “supranacionalidade” da União Européia se trata de uma exceção, já que a
maior parte dos Estados adota as formas da aquisição da nacionalidade em seus
modelos “primário ou originário” e “secundário”. Apesar disso, há também um
afrouxamento dos ordenamentos nacionais que “visavam impedir o aparecimento
das situações de plurinacionalidade (...): a sujeição da aquisição de uma nova
nacionalidade à perda dos vínculos anteriores do mesmo tipo, e a previsão da perda
da nacionalidade como consequência da aquisição de uma nacionalidade
estrangeira” (RAMOS, 2002, pp.285-286).
Pode-se afirmar desse modo “que nacionalidade é o vinculo jurídico que une
a pessoa ao Estado, cidadania é o vínculo político (gozo desse direito pelo nacional)
e naturalidade é o simples vínculo territorial pelo nascimento” (DEL’OLMO, 2005,
p.47). Apesar de inexistir cidadania sem nacionalidade, “(...) já que esta, mais
abrangente, engloba aquela, “(...) a perda da cidadania não retira a nacionalidade”
(DEL’OLMO, 2005, p.47), relevando-se que a nacionalidade importa na medida em
que estabelece um elemento de conexão no âmbito do direito internacional privado,
tomada, segundo Amílcar de Castro, “como o domicílio, a situação da coisa ou o
lugar do delito” (apud DEL’OLMO, 2005, p.48).
Assim, o cidadão é
15
Maiores explicações quanto aos blocos regionais e suas repercussões para a cidadania e para a
sociedade internacional contemporânea estão dispostas no segundo e no terceiro capítulo.
55
[...] o indivíduo que garante o seu regaste de um degradante estado de
natureza egoísta e solitária, pela adesão a uma comunidade politicamente
organizada sob a forma de um Estado (...) soberano e suserano (soberano,
porque não encontra na ordem internacional nenhum organismo superior
que possa impedir as suas acções internas e externas; suserano, porque é
ele a entidade máxima que conduz os seus cidadãos, no seu território)
(CARVALHAIS, 2004, 53).
Dessa forma, há uma tripartição valorativa da cidadania, para a qual
nacionalidade é sinônimo de cidadania:
a) vínculo de pertinência ao Estado relevante para o direito internacional
público;
b) meio para determinar a lei reguladora do estatuto pessoal dos indivíduos
e a disciplina de outras relações relativas ao direito privado, como as
familiares e as sucessórias causa mortis;
c) título de participação na vida do Estado (exercício de direitos políticos,
acesso aos cargos públicos e a profissões regulamentadas por lei)
(BALLARINO, 2002, pp.85-86).
O que subiste dessas considerações é o fato de que há uma dissociação
entre nacionalidade e cidadania, a qual confere uma estatura jurídico-política à
cidadania e outra eminentemente cultural e social existente em cada Nação.
Havendo o Estado que representa uma esfera jurídico-política e a Nação que
representa uma esfera social e cultural, a nacionalidade conferida pelo EstadoNação subjuga os contornos para a existência da cidadania, acentuando o
distanciamento entre os termos que, entretanto, encontram-se indivisivelmente
ligados. Percebe-se esse condicionamento quando se nota que tanto o jus solis
quanto o jus sanguinis denunciam o espaço conflitivo no qual se constrói a
cidadania, já que se o primeiro remete ao “solo”, o segundo remete ao “sangue”,
personificando o conceito em um ambiente nitidamente centrado na vocação
expansionista do Estado Moderno que procura reduzir suas conquistas àqueles que
de algum modo estão vinculados aos seus postulados originários pelo nascimento
ou pela descendência. Extrai-se daí o entendimento claro de que a nacionalidade é
o instrumento de acesso à cidadania, correspondendo à condição de possibilidade
para que o indivíduo seja detentor de direitos no âmbito do Estado-Nação16.
16
Essa afirmação não destoa, porém, da representatividade dos direitos humanos na tentativa de
romper as barreiras estatais para a concessão de direitos aos indivíduos, assunto que será tratado no
último capítulo.
56
O território, além de consistir no espaço onde reside o povo de determinado
Estado sob o domínio jurídico-político deste sustentado pela sua soberania, é um
espaço jurisdicional onde as condições para a aquisição da cidadania estão
condicionadas pela nacionalidade. Nesse sentido,
[...] a jurisdição do legislativo para criar leis, a do judiciário para aplicar,
interpretar e fazer leis, e a do executivo para obrigar seu cumprimento e,
geralmente, para agir, são normalmente compreendidas como territoriais.
Muitos Estados obrigam seus cidadãos a se submeter às suas leis, mesmo
quando fora de seus limites territoriais, mas, na maior parte, estas
jurisdições são entendidas territorialmente (MORRIS, 2005, p.379).
“A noção geral de cidadania é a de uma determinada espécie de membro”
do Estado-Nação, sendo que “a plena qualidade de membro hoje consiste no status
unívoco de cidadania (...), característica central que os indivíduos têm com seus
Estados” (MORRIS, 2005, p.365). A interpenetração da nacionalidade em relação ao
território para que o membro de um Estado adquira o status de cidadão se torna
nítida. A nacionalidade é fator condicionante ao acesso dos cidadãos aos
instrumentos jurídico-políticos estatais. Apenas ela reconhece juridicamente a
igualdade entre os indivíduos na produção da sociabilidade no território do EstadoNação, elaborando um vínculo de pertencimento na binariedade cidadão/Estado.
Na expressão de Bernardo Sorj,
[...] a cidadania no mundo moderno é, em primeiro lugar, um mecanismo de
inclusão/exclusão, uma forma de delimitação de quem é parte integrante de
uma comunidade nacional. Portanto, a cidadania é a expressão de uma
construção coletiva que organiza as relações entre os sujeitos sociais, que
se formam no próprio processo de definição de quem é, e quem não é,
membro pleno de uma determinada sociedade politicamente organizada
(2004, p.22).
A relação do cidadão tanto com o Estado, tido como realidade objetiva e
jurídica, quanto com a Nação, tida como realidade subjetiva e moral, é expressa na
nacionalização da cidadania pelos Estados Modernos, mais uma vez se
identificando a circularidade existente no conceito de Estado-Nação, agora
abarcando a própria cidadania a partir do momento em que se a cidadania está para
um vínculo objetivo e jurídico, a nacionalidade está para um vínculo subjetivo e
moral, consistindo em condição de acesso à cidadania.
57
A aparente confusão teórica e prática, contudo, reside no fato de que a
nacionalidade subordina a cidadania e a cidadania, por sua vez, é subordinada pela
nacionalidade – o que por certo gera inúmeros empecilhos para qualquer
conceituação rígida, já que a Nação pode existir sem o Estado da mesma forma que
também é possível a existência de várias nações em um Estado ou da divisão de
uma Nação em vários Estados. Dessa subordinação da nacionalidade à cidadania e
da cidadania à nacionalidade, porém, é que provém a própria cidadania moderna, a
qual identifica cidadania à nacionalidade e nacionalidade à cidadania. O
condicionamento da cidadania pela nacionalidade provém dessa subordinação,
indicando as linhas básicas pelas quais é direcionada a sociedade internacional
moderna.
Nas palavras de Doglas Cesar Lucas apoiado em Miguel Carbonell, no
conturbado cenário contemporâneo “a cidadania nacional pode representar um
acirramento dos afastamentos e das diferenças excludentes e opressoras que
tendem a propiciar violência e prejudicar uma conversação democrática” (2008, p.90)
entre várias culturas, credos, nações e Estados. O cidadão do Estado-Nação não
convive apenas com os nacionais do seu próprio Estado. Imerso em uma
globalização complexa e multifacetada, experimenta a sensação de que o mundo
torna-se um único lugar para todos, e que os “principais problemas (...) adquiriram
rapidamente o caráter de questões mundiais ou globais” (BEDIN, 2003, p.506), de
modo que a dissolução entre local e global, podendo redundar na possibilidade de
um isolamento, é praticamente nula.
Se o Estado Moderno é fruto de uma construção nas linhas do seu
ajustamento histórico-teórico, no dizer de Nestor Canclini, “as nações são cenários
multideterminados,
onde
diversos
sistemas
simbólicos
se
cruzam
e
se
interpenetram” (2006, p.136). Tratando-se de multideterminadas faces, obviamente
que o Estado-Nação deve ser analisado em sua relação com a globalização
atualmente vivenciada, o que também implica um necessário trato das questões
relativas
à
cidadania
e
suas
novas
possibilidades
abertas
pelo
cenário
contemporâneo, visto que disso se depreendem perspectivas que podem alterar
significativamente configurações já sedimentadas tanto do Estado quanto da
cidadania.
58
2 GLOBALIZAÇÃO, ESTADO-NAÇÃO E CIDADANIA
Determinado esse cenário panorâmico pertinente ao Estado e à cidadania, é
preciso situar essas categorias na sociedade contemporânea, perpassada pela
multidimensionalidade da globalização. O tema central do segundo capítulo consiste
em abordar a globalização em suas dimensões econômicas, sociais, culturais e
políticas, relacionando-a, a seguir, com seus inevitáveis reflexos para a estruturação
do Estado-Nação, com especial atenção à soberania, a qual é afetada tanto em sua
perspectiva interna quanto externa.
A cidadania posteriormente também é relacionada à globalização, tratandose da sua condição em uma sociedade que cada vez mais se torna planetária.
Seguindo-se essas determinações esquematizantes, não se pretende esgotar a
temática, mas referir um quadro que dirá, quando do terceiro capítulo, das
possibilidades de uma cidadania pós-estatal em razão da universalidade dos direitos
humanos e da planetarização da política.
2.1 A multidimensionalidade da globalização contemporânea
Não há como negar que a dimensão técnica do aperfeiçoamento humano
atravessa todas as demais dimensões. Levando-se em conta que o vocábulo
“técnica”, proveniente do grego téchne, pode ser associado, consoante Walter
Bruguer, à “realização de coisas sensorialmente perceptíveis a serviço de uma
necessidade ou idéia”, invocando “a habilidade e a destreza tanto para o necessário
(produzir coisas) quanto para o belo (tornar visível uma idéia)” (1962, p.400),
materializa-se essa realidade. A técnica está relacionada à determinada habilidade
com possibilidade de produzir eficácia em sua concretização mediante a
necessidade de certa adequação em relação àquilo que é pretendido. De forma
ampla, como fala Heidegger, “a técnica é um meio para um fim” e também “é uma
atividade do homem”, levando-se em conta que tais “determinações da técnica
pertencem reciprocamente uma à outra” (2006, p.13).
59
Nesse sentido, Milton Santos pontua que o “desenvolvimento da história vai
de par com o desenvolvimento das técnicas” (2008, p.24). “A cada revolução
técnica, uma nova etapa histórica se torna possível” (SANTOS, 2008, p.24). Na
atualidade, onde as técnicas da informação, subsidiadas pela cibernética, pela
informática e pela eletrônica, propiciam a convivência de várias técnicas a um só
tempo, preconizadas pelas telecomunicações, percebe-se de forma inequívoca que
“é a primeira vez que tal conjunto de técnicas envolve o planeta como um todo e faz
sentir, instantaneamente, sua presença” (SANTOS, 2008, p.25). Nota-se que surgiu
a possibilidade de uma nova etapa histórica para a humanidade. Como o século XIX
foi marcado por inúmeras descobertas científicas, o século XX foi marcado pela
aplicação dessas descobertas, as quais trouxeram novas descobertas em uma
velocidade inimaginável em outros tempos, o que foi possível em razão principal das
novas tecnologias da informação e dos transportes.
Como explica René Armand Dreifuss, se por séculos “o esforço criativo se
concentrou na complementação e ampliação da capacidade manual e locomotiva do
ser humano” (1996, p.17), buscando-se uma reprodução, um aumento e uma
substituição da capacidade muscular e das possíveis articulações físicas no formato
de objetos, máquinas ou sistemas, atualmente
[...] o esforço se concentra na reprodução (em equipamentos) dos sistemas
visual e nervoso humanos e da capacidade física de pensar, além da réplica
(...) das condições aproximadas de funcionamento e performance do
cérebro e da memória. (...) Esforços exemplificados pela configuração de
sistemas e redes artificiais neurais (vastas sucessões de processadores
eletrônicos interconectados que permitem o desenvolvimento de uma
tecnologia de acelerado processamento para comando e controle de robôs)
que imitam as redes de células nervosas no cérebro; pelas supervias de
informação e comunicação (infocom); pelo aumento da velocidade de
operação dos computadores e da transmissão de dados; pelo incremento
de densidade de memória dos microprocessadores que são o cerne do
computador, etc (DREIFUSS, 1996, pp.17-18).
Vê-se que a otimização das possibilidades de comunicação se tornou uma
constante na contemporaneidade, a qual surge em conjunto com as novas formas
de processamento e armazenamento de danos em meio digital. Exponenciadas por
transportes cada vez mais velozes, os quais propiciam uma circulação rápida de
pessoas e mercadorias pelo globo, as novas tecnologias de maneira inequívoca
60
promovem transformações nunca ocorridas na história humana, ocasionando o
surgimento de uma nova etapa histórica em cujo centro se encontra a globalização.
Percebe-se que o fenômeno da globalização se tornou um lugar comum no
discurso contemporâneo, presente em todas as esferas sociais, o que é acentuado
em razão da instantaneidade das telecomunicações – não restringindo-se, porém, a
esta motivação. Segundo Armand Mattelart (2005), a passagem do século XIX ao
século XX já aduz à constatação de que cada vez mais global e local não poderiam
ser separados. As ligações transcontinentais de cabos telegráficos submarinos, a
corrente navegação oceânica e o mercado entre os países, permitem dizer que o
mundo se torna interligado assim como um todo orgânico, o que dá margem à
tradução das questões geopolíticas em “metáforas biomórficas” (MATTELART, 2005,
p.29) relacionadas ao fato de que o planeta está imbricado em um todo de
impossível dissolução organicamente constituído.
Ocorre que a conceituação e a exata delimitação histórica da globalização,
na procura uma continuidade que leve à própria conceituação, mostra-se imprecisa,
vez que sua multiface impede essa exatidão, já que toda busca de uma excessiva
categorização do fenômeno levaria a um generalismo ou a um reducionismo que
não daria conta da sua explicação. Mesmo que a aceleração da integração
econômico-social percebida na globalização possa apontar realidades já em curso
desde a Revolução Industrial, remontando ainda às grandes descobertas
geográficas ocorridas durante o Renascimento, as quais propiciaram um intercâmbio
crescente do comércio intercontinental, não é possível referir um acontecimento
determinante que a tenha posto em marcha.
Caso haja a pretensão de se remontar às origens do fenômeno, as mesmas
podem ser vistas na passagem do século XV ao XVI, onde foram iniciadas as
Grandes Navegações. Com a expansão colonialista presenciada nos séculos XVI a
XVIII, havendo uma crescente ascendência do capitalismo comercial, houve uma
acumulação de riquezas essencial à Revolução Industrial, a qual atingiu seu ápice
na segunda metade do século XIX, sendo caracterizada pelo imperialismo
econômico de determinados Estados europeus – a exemplo da Inglaterra –, o que
determinou uma nova fase do crescimento do capitalismo. Essa fase, como informa
61
Eustáquio de Sene, marcada “pelo desenvolvimento dos trustes e cartéis” (2004,
p.38), irá desembocar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, passando por
períodos de grande depressão econômica entre as décadas de 1920 e 1930,
seguidos por uma expansão lenta e desigual do sistema capitalista em nível
planetário. Mas foi “no pós-Segunda Guerra (...) que o capitalismo teve sua fase
áurea, quando se consolidaram os grandes conglomerados multinacionais,
responsáveis pela mundialização da produção” (SENE, 2004, p.38).
Houve então condições para a gestação da multidimensionalidade da
globalização por três décadas, de maneira que o fenômeno pode ser tido como a
fase contemporânea da expansão capitalista com impactos sociais, culturais e
políticos. De qualquer maneira, trata-se de uma interpretação, de forma que a
globalização se afigura mais como “o resultado de uma longa, lenta e quase que
imperceptível evolução da sociedade moderna do que o desfecho imediato e
inexorável de um fato isolado” (BEDIN, 2001, p.332). Por isso é que nas palavras de
Anthony Giddens, “a globalização não é (...) um processo singular, mas um conjunto
complexo de processos” (2007, p.23). Apesar disso, é possível traçar uma análise
panorâmica da globalização com a intenção de verificar seus efeitos na estruturação
do Estado-Nação e da cidadania, considerando-se que suas influências, como refere
Maria da Graça dos Santos Dias, convergem para o grande desafio do século XXI, o
qual consistirá em encontrar algum formato de organização jurídico-política que
ajuste as “tendências de globalização econômica com a necessidade premente de
distribuição de riquezas, de justiça social e de uma nova concepção de civilização”
(2006, p.104).
Como expõe Danilo Zolo, a “‘globalização’ (...) se afirmou na literatura
econômica, política, sociológica e multimidiática do Ocidente na última década do
século passado” (2010, p.15). Com referência “a um processo de extensão ‘global’
das relações sociais entre os seres humanos, tão amplo a ser capaz de cobrir o
espaço territorial de todo planeta” (ZOLO, 2010, p.15), a globalização, levando a
uma “configuração do mundo como um sistema global é, sem a menor dúvida, um
dos mais significativos acontecimentos políticos, econômicos e sociais das últimas
duas ou três décadas” (BEDIN, 2001, p.328). Se a dimensão técnica, tida em sentido
62
estrito, de modo invariável afeta o aperfeiçoamento humano em conjunto com a
dimensão política, de maneira que é impossível haver uma separação dessas
esferas, pode-se notar que “como resultado dos grandes avanços técnico-científicos,
tem havido uma crescente aceleração em todos os setores da vida” (SENE, 2004,
p.65-66), o que corrobora a afirmação do surgimento de uma nova etapa histórica a
partir da ocorrência desse fenômeno multidimensional.
Com a globalização, consoante Octavio Ianni, ocorreu a “descoberta de que
a terra se tornou mundo, de que o globo não é mais apenas uma figura astronômica,
e sim o território no qual todos encontram-se relacionados e atrelados, diferenciados
e antagônicos” (2001, p.13). Embora formatações e indicações antigas e diversas da
globalização possam ser rastreadas, visto que com o desenvolvimento do
capitalismo na Europa surgiram traços nítidos de “conotações internacionais,
multinacionais, transnacionais e mundiais, desenvolvidas no interior da acumulação
originária do mercantilismo, do colonialismo, do imperialismo, da dependência e da
interdependência”, parece “inegável que a descoberta de que o globo terrestre (...)
não é mais apenas uma figura astronômica, e sim histórica” (IANNI, 2001, p.14), traz
consigo uma gama de consequências e significações jamais registradas.
Impulsionada pelo crescente desenvolvimento tecnológico, a globalização
propicia o reconhecimento de uma universalidade que “deixa de ser apenas uma
elaboração abstrata na mente dos filósofos para resultar da experiência ordinária de
cada homem” (SANTOS, 2008, p.21). A relevância da percepção do planeta como
globo leva à constatação da “existência de uma universalidade empírica” (SANTOS,
2008, p.21) plenamente palpável na contemporaneidade. Vê-se o ajustamento de
um “novo momento do desenvolvimento da humanidade”, o qual redefine noções de
tempo e principalmente de espaço, “conduzindo a uma diminuição das distâncias e
tornando instantâneo qualquer acontecimento em qualquer lugar do planeta”
(BEDIN, 2003, p.507).
A globalização designa “a intensificação de relações sociais mundiais que
unem localidades distantes de tal modo que os acontecimentos locais são
condicionados por eventos que acontecem a muitas milhas de distância e viceversa” (GIDDENS apud ZOLO, 2010, p.16). Essa intensificação invariavelmente
63
resulta em um cenário de confluências e tensões, acomodações e contradições.
Articulando essa realidade, a comunicação, proliferada e generalizada por meios
impressos e eletrônicos concatenados em teias multimídia, proporciona, conforme
Zygmunt Bauman, o surgimento de um mundo condicionado pela eliminação ou
rompimento de fronteiras em razão da “avalanche de informações, a globalização
galopante, uma orgia consumista no Norte abastado e um ‘penetrante sentimento de
desespero e exclusão em grande parte do resto do planeta’” (2005, p.86), o qual
provém das assimetrias existentes em um complexo sistema que se por um lado
produz imensa riqueza, por outro gera intensas desigualdades. Os processos
engendrados
pelo
fenômeno
globalizante
passam
a
produzir
grandes
transformações, unificando e ampliando o “sistema-mundo” para todas as
localidades e para todas as pessoas, agregando e separando a um só tempo o
global e o local, o que, se promove o acirramento de conflitos, colocando em contato
culturas totalmente díspares, gera a necessidade de algum consenso, vez que
existem determinadas problemáticas globais contemporâneas que somente podem
obter alguma resolução mediante uma visão global.
Não se trata a globalização de um fenômeno ou um processo homogêneo e
muito menos consolidado, de forma que seu “o conceito (...) apresenta-se vago,
ambíguo e impreciso” (OLIVEIRA, 2002, p.475). Existem diversos entendimentos
acerca da sua conceituação, os quais, em inúmeras oportunidades, desvelam
conteúdos ideológicos, havendo mesmo aqueles que negam sua existência ou a
designam de outras maneiras, embora se refiram a um mesmo momento histórico da
humanidade. Há um consenso de que o termo “veio à tona (...) como uma linguagem
dos administradores” (SENE, 2004, p.21), influenciados principalmente pelas
universidades norte-americanas ao longo da década de 1980. Partindo inicialmente
das estratégias de marketing defendidas por Theodore Levitt, bem como pelas
formulações inerentes ao mercado global de Kenichi Ohmae, o termo encontra outra
possível origem em Marshall McLuhan, o qual, teorizando acerca da “crescente
interconexão mundial como resultado dos avanços das telecomunicações” (SENE,
2004, p.23), foi quem criou a metáfora da “aldeia global” e quem primeiro falou em
“era da informação”.
64
Reconhecendo-se que “as metáforas parecem florescer quando os modos de
ser, agir, pensar e fabular mais ou menos sedimentados sentem-se abalados”
(IANNI, 2001, p.14), o que é potencializado pelo intenso dissenso teórico quanto à
sua conceituação assim como quanto às suas origens, proliferam inúmeras
representações metafóricas do fenômeno, a exemplo de
[...]
economia-mundo,
sistema-mundo,
sociedade-informática,
mundialização da cultura, cidade global, sociedade amébica, disneylândia
global, tecnocosmo, shopping-center global, fábrica global, ocidentalização
do mundo, aldeia global, fim da história, fim da geografia,
desterritorialização, terceira onda, cidadão-mundo, capitalismo-global,
cidade-internet, entre outras (OLIVEIRA, 2002, p.479).
Tomado de maneira primária como um fenômeno econômico, tida em um
cenário de crescente apologia ao livre mercado, a globalização expandiu o alcance
do ideário neoliberal. Segundo Perry Anderson, o “neoliberalismo nasce após a
Segunda Guerra Mundial, na Europa Ocidental e na América do Norte. Ele traduz
uma reação teórica e política veemente contra o intervencionismo estatal e o Estado
de Bem-Estar Social (Welfare State)” (2002, p.17). Tendo por base teórica principal
a obra O Caminho da Servidão, de 1944, escrita por Friedrich August Von Hayek, o
neoliberalismo se volta “contra qualquer limitação do livre funcionamento dos
mecanismos do mercado por parte do Estado” (ANDERSON, 2002, p.17).
Entendendo que esses mecanismos estatais constituem “uma ameaça mortal contra
a liberdade econômica” (ANDERSON, 2002, p.17) e a liberdade política, o
neoliberalismo “se posiciona contra as sociedades comunistas, contra as sociedades
nazistas e fascistas e contra as sociedades democráticas contemporâneas, ou seja,
contra todos os tipos de sociedades modernas em que esteja presente algum tipo de
intervenção do Estado” (BEDIN, 2002, p.445). Como tônicas dominantes no contexto
internacional, o neoliberalismo prega, na posição de René Passet, a especialização
das produções dos países de modo que estes se voltem a tendências para as quais
costumam obter maior sucesso, a “repartição mais eficiente da poupança, atraída,
naturalmente, para as regiões do mundo onde, como as necessidades não são
satisfeitas, suas oportunidades de investimento seriam melhores” (2003, p.19),
assim como a apologia das vantagens da competição internacional, capaz de
conciliar eficácia e qualidade em razão da intensa competitividade.
65
A partir do seu primeiro governo em 1979, Margaret Tratcher manifestou na
Inglaterra seu comprometimento de pôr em prática de maneira radical o programa
neoliberal, fazendo do modelo neoliberal inglês “o mais sistemático e ambicioso de
todas
as
experiências
neoliberais
em
países
de
capitalismo
avançado”
(ANDERSON, 1995, p.12).
Os governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas
de juros, baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos,
aboliram controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de
desemprego massivos, afastaram greves, impuseram uma nova legislação
anti-sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente – esta foi uma medida
surpreendentemente tardia –, se lançaram num amplo programa de
privatização, começando por habitação pública e passando em seguida a
indústrias básicas como o aço, a eletricidade, o petróleo, o gás e a água
(ANDERSON, 1995, p.12).
A ideologia neoliberal, posicionando-se contra as pretensões do Estado Social
surgido a partir da segunda metade do século XX, propagou-se com a economia
globalizada,
ocorrendo
também
uma
internacionalização
da
modernização,
amplificando uma “crescente dependência do mundo com relação a um fluxo
constante e ininterrupto de comunicações, serviços, tecnologias, entregas e
suprimentos” (HOBSBAWM, 2007, pp.24-25). Na economia global, “os principais
fatores de produção apresentam uma taxa de interdependência, de integração e de
abertura que não encontra precedentes na história da humanidade” (ZOLO, 2010,
p.31). Deve-se levar em conta que essa
[...] abertura global dos mercados, inclusive os financeiros, e a sua
expansão sem limites territoriais têm o efeito de aumentar a concorrência e
a produtividade, de estimular a circulação das economias e pessoas em
escala mundial, de reduzir a desocupação e, portanto, de incrementar em
medida considerável a riqueza geral produzida (ZOLO, 2010, p.31).
Baseada “em empresas privadas transnacionais que se esforçam ao máximo
para viver fora do alcance das leis e dos impostos dos Estados” (HOBSBAWM,
2007, p.41), a economia globalizada, sob o norte da ideologia neoliberal que prega a
propagação do livre mercado, diluiu fronteiras geográficas, fronteiras de produção,
de renda e de crédito, dando espaço ao surgimento de uma nova configuração da
economia contemporânea caracterizada pela transação. Essa interdependência
econômica característica de uma economia global onde o lucro provém mais da
movimentação de capitais que do investimento em produção, relaciona-se com uma
66
significativa mudança dos “fluxos comerciais internos e externos, os quais passam a
operar em nível mundial e a exigir nova dinâmica de regulação financeira, originando
(...) na arena da competitividade das corporações transnacionais” (OLIVEIRA, 2002,
p.480) uma disputa pelo controle dos principais mercados mundiais.
Quanto ao papel das corporações transnacionais na economia global, as
quais constituem importantes atores internacionais na contemporaneidade, é
necessário dizer que foi a partir de 1960 que “as companhias internacionais se
rebatizam como multinacionais” (MATTELART, 2005, p.89), mudança esta que não
ocorreu levianamente. Se o termo “internacionais” sugere que a companhia tem
base em um local e a partir de lá espraia sua influência, o termo “multinacional”
sugere que as companhias são moldadas de acordo com os interesses do local
onde se instalam. Em 1970, porém, a comissão da Organização das Nações Unidas
(ONU)17 encarregada de conter os excessos promovidos por estas companhias,
propôs uma nova nomenclatura: “transnacionais”. O termo “transnacional” sugere
que as empresas dependem não de uma estratégia local para sedimentar sua
atuação em determinado lugar, mas de uma estratégia mundial, fazendo com que a
palavra diga da interconexão global/local, a qual corresponde ao próprio movimento
da globalização. Isso atesta a expansão do comércio e da produção, a qual é
alargada com a “possibilidade de desfrutar das ‘vantagens comparadas’ de cada
economia local, a rápida expansão dos investimentos produtivos no exterior, a
estruturação ‘em rede’ (...) das empresas que operam em escala mundial” (ZOLO,
2010, p.32), dentre outras.
Dada a crescente transformação das companhias multinacionais em
corporações transnacionais, verifica-se, consoante Alfonso de Julios-Campuzano, a
configuração de “complexas estruturas empresariais com grande capacidade de
17
“Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a união dos Estados em torno de objetivos comuns –
superar divergências, preservar a paz, e perseguir níveis mais altos de bem-estar para a população
mundial – acabou por ocasionar, juridicamente, a celebração de acordos internacionais e a criação de
organizações, dentre as quais a Organização das Nações Unidas (ONU) foi o exemplo mais
significativo, como forma de implementação dessa convergência de interesses. Em 26-06-1945, em
São Francisco, ocorreu a assinatura da Carta da ONU (tratado constitutivo da organização) e do
Estatuto da Corte Internacional de Justiça – CIJ. (...) A ONU atua nas mais diversas áreas (direitos
humanos, direitos do mar, direitos do meio ambiente, etc.), em atividades que compreendem, de certa
maneira, as esferas legislativa, administrativa e judiciária” (AMARAL, 2007, p.35-36). Maiores
detalhes com relação à ONU serão tratados no último capítulo.
67
gestão e adaptação às demandas mutantes dos mercados”, articulando inúmeras
“estratégias tendentes à diversificação de produtos e serviços, de sedes, de
provedores e de clientes, projetando novas técnicas produtivas que permitam a
flexibilização da produção e da fragmentação do mundo do trabalho” (2009, pp.8687). Isso não seria possível sem uma mudança econômica conjuntural ocorrida a
partir de 1971, modificando as regras do sistema econômico mundial fundadas pela
Conferência Financeira e Monetária de Bretton Woods, realizada em 1944, em New
Hampshire nos Estados Unidos.
Os acordos de Bretton Woods, dos quais foram signatários quarenta e
quatro países, caracterizaram-se “pela fixidez das taxas de câmbio entre as moedas
e o favorecimento do papel do dólar como divisa internacional” (PASSET, 2003,
p.32). “Naquela ocasião foi criado o sistema ouro-dólar, no qual o governo dos
Estados Unidos, além de garantir a paridade fixa com o ouro, ainda garantiria a livre
conversibilidade de sua moeda” (SENE, 2004, p.45). O resultado prático foi a
equivalência do dólar com o ouro e a transformação deste em uma moeda de
reserva com circulação mundial, garantindo um período de estabilidade à economia
mundial em um contexto pós-guerra marcado por políticas governamentais que
pudessem precaver a economia de crises tal qual aquela vivenciada entre as
décadas de 1920 e 1930.
Bretton Woods também criou o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), a instituição mais célebre do conhecido Bando Mundial18, o
Fundo Monetário Internacional (FMI)19, e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio
18
“O Banco Mundial, criado em 1944, tem 181 membros e reúne várias instituições da ONU: o Bird
(Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento), incumbido de definir os projetos de
desenvolvimento, associado ao FMI na aplicação dos programas de ajuste estrutural; a AID (Agência
Internacional para o Desenvolvimento), encarregada da ajuda aos países mais pobres; e a SFI
(Sociedade Financeira Internacional) incumbida dos financiamentos ao setor privado” (PASSET,
2003, p.17).
19
“O FMI (Fundo Monetário Internacional) foi criado no contexto da ONU em 1944. É dirigido pelos
representantes dos ministérios das Finanças dos Estados membros. Sua missão é garantir a
estabilidade do sistema monetário internacional. A partir de 1980, sua competência foi ampliada para
as estruturas produtivas dos países em desenvolvimento devedores, nos quais condiciona sua ajuda
à aplicação dos famosos PAS (programas de ajuste estrutural). Ele coordena também as políticas dos
países ricos em casos de crise financeira internacional. Os Estados Unidos desempenham nele um
papel absolutamente preponderante” (PASSET, 2003, p.17).
68
(GATT) – atual OMC20 (Organização Mundial do Comércio) –, instituições estas que
“tornaram-se de facto subordinadas à política americana”, com a intenção primeira
de “promover o investimento internacional e manter a estabilidade do câmbio, além
de tratar de problemas de balanças de pagamento” (HOBSBAWM, 1995, p.269).
Contudo, em 1971, Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos,
“diante dos problemas estruturais da economia norte-americana – perda de
competitividade, elevação do déficit público e da dívida interna, desvalorização do
dólar, alta da inflação –, de seu enfraquecimento relativo frente à Europa Ocidental e
ao Japão” (SENE, 2004, p.48), somando-se à impossibilidade de garantir a
conversibilidade livre, rompeu com a paridade ouro-dólar. Introduziu-se, em 1973, “a
livre flutuação das divisas (...), a troca de moeda contra moeda” (PASSET, 2003,
p.32), estimulando-se a desvalorização do dólar frente às outras moedas. O fator
peculiar reside no fato de que o dólar permaneceu como uma divisa internacional
aceita mundialmente, o que possibilitou a eclosão da globalização em seu sentido
econômico ao final de 1980 e início de 1990, incidindo em uma diferenciada política
financeira no governo de Ronald Reagan, entre 1981 e 1988.
Os planos governamentais de Reagan, nos Estados Unidos, e Thatcher, na
Inglaterra, possibilitaram o advento do livre-cambismo e da desregulamentação
financeira, dando margem para uma contínua exclusão de barreiras à livre
circulação
de
capitais.
“Como
resultado
dos
avanços
tecnológicos
nas
telecomunicações e na informática (...), os capitais especulativos de curto prazo
ganharam grande mobilidade no mundo” (SENE, 2004, p.68), propiciando o
surgimento de uma economia especulativa virtual onde o valor real das empresas
não se baseia nem mesmo no seu lucro, sustendo sua cotação no mercado em
razão da confiança dos investidores no seu futuro, crentes na sua capacidade
criativa em um cenário globalizado.
20
“A OMC (Organização Mundial do Comércio) foi criada em 1944 (como prolongamento do GATT –
Acordo Geral de Tarifas e Comércio –, que então deixou de existir) para coordenar as relações de
troca entre seus 139 países-membros (...)” (PASSET, 2003, p.17), caracterizando-se pela “sua
subordinação aos princípios do livre-comércio neoliberal” (PASSET, 2003, p.17).
69
A transformação das corporações multinacionais em transnacionais diz de
um perfil empresarial extremamente flexível em sua estruturação, permitindo
operações rápidas “no processo de adaptação contínua às demandas de um
mercado que muda incessantemente” (JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p.87). “Como
afirma Grahame Thompson, a corporação transnacional representa a síntese do
capital global; sua base de operações, mais que um país concreto ou um grupo dos
mesmos, é a arena global” (JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p.87). A dinâmica
empresarial acompanhou a flexibilização das regras para a circulação do capital nos
mercados financeiros mundiais, consistindo em importante traço que da globalização
contemporânea. Como a capital não reconhece fronteiras, as empresas fazem o
mesmo, motivando seus contínuos investimentos pela especulação financeira
internacional propiciada por um ambiente caracterizado pela desregulamentação –
ou pela regulamentação diversificada, não centrada apenas nos Estados onde estão
sediadas as empresas, mas em pluralismo jurídico internacional.
Assim, em princípio a globalização dá nome ao “projeto de construção de um
espaço homogêneo de valorização, de unificação das normas de competitividade e
de rentabilidade em escala planetária”, dizendo de um “capitalismo mundial
integrado” (MATTELART, 2005, p.90). Acontece que o termo logo trespassa suas
fronteiras tipicamente econômicas, propagando-se em diversas dimensões da
sociedade. Essa expansão, acompanhada pelo surgimento de um regulamento
jurídico diferenciado e pluralista com a finalidade de propiciar o mercado livre com
base na ideologia neoliberal, igualmente denuncia o fato de que a globalização,
primeiramente, repousa em uma economia de cunho global marcada pela
hegemonia de uma determinada visão econômica. Como expõe Boaventura de
Sousa Santos, ainda que se admita “que existe uma economia-mundo desde o
século XVI, é inegável que os processos de globalização se intensificaram
enormemente nas últimas décadas” (1997, p.289), pois em que se reconheça a
importância da economia para a globalização mesmo em uma leitura interpretativa
que procure situá-la em um distante período histórico, deve-se também evidenciar
que o sentido e o alcance desse fenômeno não teriam as repercussões atuais sem a
combinação de avançadas tecnologias da telecomunicação e transportes com a
ideologia neoliberal do livre-mercado e o papel das empresas transnacionais.
70
Diferenciando-se de anteriores períodos em que houve alguma integração
econômica mundial, a globalização contemporânea também se caracteriza pela sua
multidimensionalidade. Otfried Höffe aponta que explicar a globalização “em termos
de mercados de economia e de finanças”, trata-se de um reducionismo, uma vez
que mesmo a globalização econômica traz causas não-econômicas, incidindo na
“liberalização do mercado mundial” (2002, p.554) por meio de mecanismos jurídicos
diferenciados. Se a globalização corresponde ao “mundo visto como um conjunto
único de atividades interconectadas que não são estorvadas pelas fronteiras locais”
(HOBSBAWM, 2007, p.10), torna-se nítido que seus efeitos abrangem “aspectos
políticos (o que normalmente se chama de planetarização), aspectos culturais (o que
se chama normalmente de mundialização) e aspectos econômicos (o que se chama,
normalmente, de globalização em sentido estrito)” (BEDIN, 2001, p.328), levando-se
em conta que os aspectos sociais se encontram correlacionados de forma reflexa
com os demais21.
Nesse sentido, centrando-se na dimensão cultural, a “mundialização lida
com mentalidades, hábitos e padrões; com estilos de comportamento, usos e
costumes e com modos de vida, criando denominadores comuns nas preferências
de consumo das mais diversas índoles” (DREIFUSS, 1996, p.136). Se a “aldeia
global” sugere a formação de uma “comunidade mundial, concretizada com as
realizações e as possibilidades de comunicação, informação e fabulação abertas
pela eletrônica” (IANNI, 2001, p.16), verifica-se um “horizonte em que se cria e
generaliza a cultura da mundialização, como produto e condição dessa mesma
mundialização” (IANNI, 2001, p125). Há “um processo de conexão entre culturas,
pessoas e locais que tem modificado o cotidiano dos indivíduos” (LUCAS, 2008,
p.316), frisando-se que o fundamental da mundialização está para o fato de que ela
trabalha com “a massificação e homogeneização cultural” (DREIFUSS, 1996, p.138),
21
Destaca-se que as classificações da globalização, da mundialização e da planetarização aqui
expostas, não se pretendem exaustivas quanto às descrições dos fenômenos e nem mesmo
constituem uma unanimidade dentre os autores que estudam o fenômeno. A opção feita pela
restrição do fenômeno a tais categorias, serve aos objetivos desse trabalho com o intuito de abordar
a multidimensionalidade da globalização contemporânea a partir de um enfoque panorâmico,
passando, assim, principalmente pelos aspectos econômicos, culturais, políticos e sociais, consoante
já explicitado. Por motivos estruturais, o presente capítulo trata primordialmente das dimensões da
globalização e da mundialização, considerando-se que a dimensão da planetarização, fundamental
aos objetivos do estudo, atravessa tanto este quanto o próximo capítulo.
71
ditando padrões de consumo comuns em todo planeta, potencializados pelas
tecnologias da informação e dos transportes.
Enquanto possibilidade de massificação e homogeneização cultural a partir
da padronização do consumo, a mundialização possui sua constituição atrelada aos
“instrumentos-conhecimento (programas e aplicativos)” e aos “serviços-sistema,
baseados na indústria da informação” (DREIFUSS, 1996, p.141). Como expõe Jorge
Beinstein, em um ambiente onde “as imagens dos monitores passam a ser a
realidade dominante, onde as transações imateriais, basicamente monetárias, se
expandem sem cessar” (2001, p.41), as “imagens de máquinas” são substituídas por
“máquinas de imagens” (ANDERSON, 1999, p.105), como a televisão, o computador
e a internet, havendo a imposição de um “novo universo intangível (...) ao velho
mundo ‘moderno’ com suas máquinas, cidades superpovoadas e guerras sociais”
(BEINSTEIN, 2001, p.41).
Globalizando-se a mídia a partir das grandes empresas de comunicação,
esta traduz “as imagens da realidade e as visões do mundo de blocos de poder,
composições de classes e grupos sociais que detêm meios e modos de organizar,
influenciar, induzir ou dinamizar as estruturas” (IANNI, 2001, p.132) que levam à
formação de certa padronização do consumo mundial. É nítida a passagem atual “da
produção de artigos empacotados para o empacotamento de informações”
(MCLUHAN apud IANNI, 2001, p.16). Se antes havia a preponderância das
mercadorias materiais no fluxo econômico mundial, agora há a preponderância das
mercadorias imateriais, caracterizadas por pacotes diversificados de idéias,
entretenimentos e informações
Considerando-se que o que importa nesse novo cenário é a imaterialidade, a
qual se manifesta tanto nas telecomunicações quanto nas transações efetuadas pelo
mercado de finanças global, há uma ênfase nas transações em razão das novas
tecnologias da comunicação, sendo que mesmo “as agências de publicidade se
rebatizam como agências de consultoria em comunicação” (MATTELART, 2005,
p.92). Tudo isso aponta para um “estilo de vida global”, no qual a interiorização de
determinado universo simbólico elaborado principalmente pelos Estados Unidos
após a Segunda Guerra Mundial, tanto por meio de anúncios publicitários, filmes ou
72
programas de televisão, promove o nascimento de um mercado de consumo global
com padrões e costumes semelhantes.
Mas reconhecendo a disparidade de interesses entre o global e o local, entre
particularidade e universalismo, os teóricos da administração acabaram por criar um
novo termo. Esse corresponde à “glocalização” e designa táticas empresariais de
articulação em diferentes contextos com diferentes universos simbólicos, todas
apontando para a sedimentação de uma sociedade consumista global, ainda que por
vezes com o emprego de meios persuasivos diferenciados para diferentes públicos.
Essas particularidades não impedem o fato de que podem “haver mais similaridades
entre grupos que vivem em alguns bairros de Milão, Paris, São Paulo, Nova York,
que entre um habitante de Manhattan e outro do Bronx” (MATTELART, 2005, p.97),
pois embora o marketing caminhe em rumos diversos, a intenção de desenvolver o
consumismo com relação a determinados produtos e marcas repousa em um
mesmo argumento instituidor de uma sociedade identificada pelo consumo.
A aproximação de culturas outrora distantes também promove diferentes
articulações identitárias em uma sociedade globalizada. Na constatação de Eloise
da Silveira Petter Damázio, “intercâmbios culturais transitam em diferentes espaços,
desde os campos da informação até as migrações e lutas das minorias”, conduzindo
a uma série de questionamentos antes inexistentes “relacionados aos ‘outros’ e às
diferenças” (DAMÁZIO, 2008, p.64). Se por um lado há a tentativa de
homogeneização e massificação cultural a partir de uma apologia do consumo
espraiada pelos meios de comunicação, por outro ocorre a transformação, a
hibridização e mesmo o desaparecimento de determinadas identidades culturais em
virtude da sua aproximação e interpenetração propiciadas pela sua convivência em
uma sociedade globalizada. Em razão desses efeitos, “os confrontamentos com as
realidades vindas de fora” (LUCAS, 2008, p.323) suscitam a exposição de diferenças
culturais que em outras épocas não ganhavam visibilidade. Ainda que a diversidade
cultural não possa ser entendida como um fenômeno novo, vez que característica da
espécie humana, a singularidade da aproximação de diferentes formas de
experienciar a existência, relacionadas a contornos identitários específicos, trata-se
de
uma
constante
da
contemporaneidade.
Estabelecimentos
identitários
considerados basilares para a formação de uma determinada identidade cultural,
73
chocam-se em um mundo de rápidas mudanças, alterando noções de pertencimento
e comunidade.
Como as identidades implicam a convivência em um grupo no qual sejam
reconhecidas, formando laços de pertencimento entre os indivíduos, o contato
contemporâneo com diversas culturas expostas pela sua diferença altera a noção de
pertencimento. Considerando que poucos são os sujeitos expostos a apenas uma
comunidade de idéias e princípios, as identidades, tecidas originalmente “a partir do
compartilhamento e do cuidado mútuo” (BAUMAN, 2003, p.134), visando a
afirmação de comunidades de interesses e responsabilidades, restam abalroadas na
atualidade. Se “o Estado, a família, a religião, a raça, o gênero, se revelam cada vez
mais frágeis e, no seu lugar, novas formas de convívio social são projetadas como
fontes de pertencimento que possibilitam a elaboração da identidade” (LUCAS,
2008, p.320), vê-se que as identidades tradicionais, aparentemente mais sólidas,
traduzidas como fenômenos de pertença tidos como naturais, são afetadas pelos
intercâmbios culturais nascidos na globalização.
Mesmo que a noção generalista de mundialização esteja concatenada com a
sociedade de consumo surgida de intenções massificadoras do mercado, pode-se
dizer, em conjunto com François de Bernard, que “existem muitas ‘mundializações’
não-industriais e não proveitosas” (2003, p.64), as quais propiciam intercâmbios
culturais não necessariamente ligados à cultura de massa protagonizada pelo
consumo.
Motivadas
pela
reconfiguração
identitária
evidente
no
cenário
contemporâneo, as culturas, engendradas em uma dinâmica interna que as define e
em um movimento externo que as diferencia de demais noções de pertencimento
comunitário, evidenciam “uma variedade infinita de processos em andamento que
compartilham um desejo comum para descobrir, trocar e compartilhar, (...) os quais
não submetem-se aos cremáticos e à privatização do mundo que a globalização
econômica dá nascimento” (BERNARD, 2003, p.68).
As noções de pertencimento ao Estado-Nação a partir do vínculo de
nacionalidade, o qual subsume a noção de cidadania, são afetadas por tais
intercâmbios culturais. A identificação do nacional como aquele indivíduo
pertencente à determinada Nação, esta tida, em sentido estrito, como um espaço
74
político dotado de organização soberana interna e externa por meio do aparato
jurídico oferecido pelo Estado e pelo reconhecimento dos demais Estados mediante
o pertencimento à sociedade internacional, sofre fortes influências dos processos
inerentes à globalização, já que a identidade nacional indiscutivelmente é envolvida
pelos sintomas dos fluidos movimentos identitários contemporâneos, característicos
de uma sociedade movimentada pela intensa oferta de consumo em suas diferentes
manifestações, bem como pela aproximação
de
culturas antes distantes
geograficamente e agora aproximadas pelas novas tecnologias que alteram as
noções de espaço e de tempo.
Em uma sociedade desse tipo, igualmente se deve pontuar que a
desigualdade com relação ao poder de consumo faz com que as pessoas,
graduadas no escalonamento social por meio do seu poder de compra, possam ser
mais próximas quanto mais distantes. Dessa forma, “a globalização da ideologia
consumista oculta o facto de que o único consumo que essa ideologia torna possível
é o consumo de si própria”, já que “nem o desenvolvimento desigual do capitalismo,
nem os limites do eco-sistema planetário permitem a generalização a toda
população mundial dos padrões de consumo que são típicos dos países centrais”
(SANTOS, 1997, p.313). É perceptível que apesar da mundialização estar para a
possibilidade de padronização dos usos e costumes globais a partir de determinados
padrões de consumo, os quais não seriam possíveis sem uma determinada estrutura
econômica que detêm suporte midiático para propagar seus interesses pelo globo, o
que traduz os efeitos da globalização vista a partir de um reduzido cunho
econômico, sempre haverá nivelações na propagação do consumo pela razão
principal da disparidade econômica existente entre populações de diferentes partes
do globo. As benesses da globalização são distribuídas de diferentes formas em
diferentes partes do planeta.
Como tal processo revela diferentes graus e intensidades variadas do
fenômeno da globalização, igualmente denuncia alguns dos seus mais contundentes
paradoxos, já que a globalização tanto
[...] divide como une; divide enquanto une – e as causas da divisão são
idênticas às que promovem a uniformidade do globo. Junto com as
dimensões planetárias dos negócios, das finanças, do comércio e do fluxo
75
de informação, é colocado em movimento um processo “localizador”, de
fixação no espaço. Conjuntamente, os dois processos intimamente
relacionados diferenciam nitidamente as condições existenciais de
populações inteiras e de vários seguimentos de cada população. O que
para alguns parece globalização, para outros significa localização; o que
para alguns é sinalização de liberdade, para muitos outros é um destino
indesejado e cruel (BAUMAN, 1999, p.8).
A lógica globalizante, calcada na liberalização global dos movimentos de
capital, na transparência e na flexibilidade, idéias estas que beneficiam os
operadores do mercado, pois se a transparência está para “um mundo sem
segredos e sem barreiras para os operadores de mercado” (BAUMAN, 2000, p.33),
a flexibilidade está para o sentido de que nada importa além dos resultados
econômicos previstos pela liberdade de ação destes operadores, tem como “mais
profundo impacto sociopsicológico (...)” a precarização da “posição daqueles que
são afetados” por ela com a intenção de “mantê-la precária” (BAUMAN, 2000, p.36).
Pela aceleração contínua dos processos de integração inerentes à globalização,
nota-se, conforme Carolina da Silva Barboza Lima, que existem dois grandes grupos
de indivíduos: “aqueles que participam de um processo global, ainda que
minimamente, e aqueles que apenas sofrem suas influências, apesar de cada vez
mais confinados em um local” (2010, p.54).
Mesmo que haja indivíduos que podem circular livremente pelo globo em
razão das suas extensas reservas financeiras, essa mobilidade propiciada pela
globalização, “em vez de homogeneizar a condição humana (...) tende a polarizá-la”
(BAUMAN, 1999, p.25), já que se para uns poucos a mesma é fator de libertação,
para outros é aprisionamento local. Vive-se em “uma sociedade em que a identidade
é preservada em função do capitalismo” (LIMA, 2010, p.55) e onde a identificação se
dá pelo consumo insaciável, o qual, pela sua necessidade constante, torna
impossível qualquer satisfação.
Isso condiz com a posição defendida pelos críticos da globalização, para os
quais a palpável polarização da distribuição da riqueza, a turbulência persistente dos
mercados financeiros caracterizados por operações especulativas isentas de
controle, “a ‘ocidentalização’ dos estilos de vida e dos modelos de consumo que
destrói o pluralismo das culturas e dos universos simbólicos” (ZOLO, 2010, p.23),
constituem exemplos nítidos de que a globalização consiste mais em uma tentativa
76
de universalizar a ideologia neoliberal do que uma efetiva integração econômica,
cultural, social e política do planeta. Para Pierre Bourdieu, “a globalização é a forma
mais completa do imperialismo, aquela que consiste na tentativa de uma
determinada sociedade em universalizar a própria particularidade, instituindo-a
tacitamente como modelo universal” (apud ZOLO, 2010, p.19).
Bourdieu sustenta que o próprio conceito de globalização, por ser descritivo
e prescritivo, trata-se de um “pseudoconceito”, já que se por um lado descreve uma
realidade verificada, por outro prescreve uma realidade por vir, pretendendo “dar
credibilidade à idéia de que a globalização é um efeito necessário das leis da técnica
ou da economia e não do êxito das escolhas políticas das grandes potências
industriais” (ZOLO, 2010, p.20). Luciano Gallino, por sua vez, entende a
globalização apenas como “a aceleração e a intensificação do processo de formação
de uma economia mundial que se está configurando como um sistema único, cujo
funcionamento se dá em tempo real” (apud ZOLO, 2010, p.18), excluindo do seu
conceito qualquer caráter político e econômico, por exemplo.
O que é comum nos críticos da globalização, é a estigmatização do
fenômeno como algo irreversível e inevitável, unicamente assentado na ideologia
neoliberal que, com a globalização vista como única via, torna-se hegemônica. O
que os críticos da globalização contestam é o que Ulrich Beck chama de globalismo,
diferenciando-o de globalidade ou globalização. A globalidade ou globalização se
relaciona com o reconhecimento de que o isolamento de espaços e grupos na
contemporaneidade se torna fictício, traduzindo uma diversidade de processos “em
cujo andamento os Estados nacionais vêem sua soberania, sua identidade, suas
redes de comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem a
interferência de atores transnacionais” (BECK, 1999, p.30). Mas enquanto essa
globalidade ou globalização não diz da formação de uma única sociedade
condicionada pelos mesmos pressupostos, mas de uma sociedade mundializada
onde existe diversidade sem unidade, o globalismo
[...] designa a concepção de que o mercado mundial bane ou substitui, ele
mesmo, a ação política; trata-se, portanto, do império do mercado mundial,
da ideologia do neoliberalismo. O procedimento é monocasual, restrito ao
aspecto econômico, e reduz a pluridimensionalidade da globalização a uma
única dimensão – a econômica – que, por sua vez, ainda é pensada de
77
forma linear e deixa todas as outras dimensões – relativas à ecologia, à
cultura, à política e à sociedade civil – sob o domínio subordinador do
mercado mundial (BECK, 1999, p.29).
Dessa concepção crítica da globalização, surgem os movimentos
altermundialistas, os quais apresentam possibilidades de construção de outros
modelos de desenvolvimento em um contexto de globalização, contrapondo-se à
ideologia neoliberal dominante. Dentre tais movimentos, o Fórum Social Mundial
(FSM)22 é aquele que detém maior abrangência nos últimos anos, mesmo que, como
aduz Gustave Massiah, seja preciso dizer que o altermundialismo “em seus
diferentes significados, é portador de uma nova esperança nascida da recusa da
fatalidade” (2009, p.22), de modo que não pode ser resumido ao FSM ao se
contabilizar que a historicidade do movimento altermundialista se dá em três eixos.
Primeiramente, propaga-se na direção da descolonização, com a intenção de
modificar as representações mundiais entre norte e sul do planeta, no intuito de
construir um projeto mundial comum. Em segundo lugar, apóia as lutas operárias,
sendo que “desse ponto de vista (...) está comprometido com a mudança de rumo a
um movimento social e pela cidadania mundial” (MASSIAH, 2009, p.22). Por último,
compreende as reivindicações por democracia tidas a partir das décadas de 1960 e
1970,
na
contestação
da
propagação
segurança/militaristas/disciplinares/paranóicas”
de
“ideologias
(MASSIAH,
e
doutrinas
2009,
de
p.22),
principalmente após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) em 198923.
Não sonegando o caráter verídico de vários dos apontamentos dos críticos
da globalização, deve-se reiterar que o fenômeno não apresenta apenas uma face.
Partindo da economia global, suas influências se expandem em todas as direções
22
“O FSM é um dos pilares do movimento global que há cerca de dez anos atrás começou a
questionar a globalização neoliberal” (SANTOS, 2005, p.9). Propondo uma globalização alternativa ou
alternativas de globalização frente ao modelo considerado dominante, o FSM centra suas discussões
nos eixos da discriminação, da exclusão e da opressão, relevando-se que essas discussões e as
alternativas apontadas englobam “desde micro-iniciativas levadas a cabo por grupos marginalizados
do Sul global, procurando reconquistar algum controle das suas vidas e bens, até propostas para
coordenação económica e jurídica de âmbito internacional destinadas a garantir o respeito por
padrões básicos de trabalho decente e de protecção ambiental, novas formas de controle do capital
financeiro global, bem como tentativas de construção de economias regionais baseadas em princípios
de cooperação e solidariedade” (SANTOS, 2006, p. 114).
23
Isso também possibilitou a reconfiguração da situação política mundial antes dividida em dois
blocos prefigurados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, como será tratado no próximo
capítulo
78
da vida coletiva e individual. É certo que a ideologia neoliberal promove assimetrias
econômicas, sociais e políticas diversas, o que valida muito do aporte crítico trazido
pelo movimento altermundialista. Mas também é correto afirmar que inúmeros
pontos positivos surgem do desenvolvimento resultante da globalização, embora
suas assimetrias sejam gritantes. Por conta da profusão de novas tecnologias nos
setores da biologia, da informação e da comunicação, em razão da diferenciação e
da especialização dos mercados, da livre movimentação e da expansão do comércio
mundial, a globalização trouxe oportunidades indiscutíveis. Lugares como “a China,
a Índia e a América Meridional” (ZOLO, 2010, p.32), transformaram-se em pólos de
desenvolvimento mundial. Milhões de pessoas tiveram suas condições de vida
melhoradas, diminuindo a taxa de mortalidade infantil e a desnutrição. A divisão do
trabalho e a igualdade de condições da mulher em relação ao homem também
alcançaram níveis jamais vistos na história.
Pode-se, diante do exposto, concluir com Santos na referência de que
existem alguns fatores primordiais a caracterizar a globalização contemporânea,
como “a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do
planeta e a existência de um motor único na história, representado pela mais-valia
globalizada” (2008, p.24). Enquanto a unicidade da técnica gira em torno da
“possibilidade de existir uma finança universal, principal responsável pela imposição
a todo globo de uma mais-valia mundial”24 (SANTOS, 2008, p.27), o que diz
principalmente das tecnologias da informação que movimentam o mercado
financeiro mundial, a convergência dos momentos aponta a instantaneidade da
informação a circular pelo globo, o motor único da história fala de uma
sistematização unificada de técnicas instalada “sobre um planeta informado”
(SANTOS, 2008, p.29), o que propicia a globalidade de determinadas ações, e a
24
“Havia, com o imperialismo, diversos motores, cada qual com sua força e alcance próprios: o motor
francês, o motor inglês, o motor alemão, o motor português, o belga, espanhol etc., que era todos
motores do capitalismo, mas empurravam as máquinas e os homens segundo ritmos diferentes,
modalidades diferentes, combinações diferentes. Hoje haveria um motor único que é, exatamente, a
mencionada mais-valia universal. Esta tornou-se possível porque a partir de agora a produção se dá
à escala mundial, por intermédio de empresas mundiais que competem entre si segundo uma
concorrência extremamente feroz, como jamais existiu. As que resistem e sobrevivem são aquelas
que obtêm a mais-valia maior, permitindo-se, assim, continuar a proceder e a competir. Esse motor
único se tornou possível porque nos encontramos em um novo patamar da internacionalização, com
uma verdadeira mundialização do produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do consumo, da
informação” (SANTOS, 2008, pp.29-30).
79
cognoscibilidade do planeta traduz o profundo desenvolvimento do conhecimento
técnico-científico e sua respectiva aplicação na sociedade, tem-se um quadro
explicativo que traz um panorama razoável quanto ao fenômeno da globalização
contemporânea.
Talvez o traço mais significativo repouse na chamada “mais-valia mundial”, a
qual, referindo-se à intensa internacionalização do mercado mundial em escala
jamais registrada, é consequência da integração técnico-científica percebida nos
dias atuais, incidindo em escala global e tendo como força propulsora a dimensão
econômica da globalização, matizada pela perseguição do lucro em um patamar
planetário e integrado. Uma visão economicista do fenômeno, porém, reduz sua
complexidade a apenas uma dimensão, desconsiderando sua notável interpretação
nas esferas social, política e cultural. É verdade que a economia impulsionou a
globalização, mas se trata de argumento falacioso aquele que pretende reduzir sua
dinâmica somente à lógica de mercado.
2.2 Globalização e sociedade de risco
Percebe-se que a globalização traz consigo situações polivalentes que
demandam uma abordagem multidimensional no sentido de abarcar, ainda que de
forma panorâmica, suas diversas nivelações no âmbito mundial. Dessa maneira, a
tese levantada por Beck acerca da sociedade de risco afigura-se importante para
uma análise da sociedade contemporânea em suas múltiplas camadas e faces.
Mesmo que o diagnóstico feito a partir da sociedade de risco demande
preliminarmente um trato que se relaciona com as atuais problemáticas ambientais,
nota-se que suas linhas ultrapassam esse ponto. Se a sociedade de risco é
composta tanto por possibilidades de tragédias quanto por oportunidades resultantes
do conturbado cenário atual, a própria noção de que a globalização aponta
caminhos que efetivamente levam ao desenvolvimento humano, ao passo que
igualmente traça rumos que apenas direcionam a humanidade à sua pauperização
principalmente em razão das desigualdades surgidas com o fenômeno, configura-se
como
uma
situação
ambivalente,
redimensionamento mundial.
típica
da
multidimensionalidade
desse
80
Sendo assim, Beck explica que “a sociedade moderna se tornou uma
sociedade de risco à medida que se ocupa, cada vez mais, em debater, prevenir e
administrar os riscos que ela mesma produziu” (2009, p.1). Essa ocupação com a
antecipação do desastre faz com que alguns setores da sociedade tirem proveito da
situação, massificando o consumo de produtos que visam evitar o desastre que o
risco anuncia. Para alguns, há o interesse da massificação do risco: ela customiza
lucro e maior possibilidade de manipulação de uma sociedade intermitentemente
situada no medo – ou na antecipação do desastre que gera constante temor, o que é
notadamente potencializado pelas tecnologias inerentes às telecomunicações25.
Nessa realidade que tanto está para um cenário local quanto para um
cenário global, é que a sociedade de risco é composta de três fatores fundamentais:
a des-localização, a incalculabilidade e a não-compensabilidade. A des-localização
de riscos não calculáveis está, por sua vez, para três níveis: espacial, temporal e
social. Com relação ao plano espacial, nota-se que os riscos não respeitam qualquer
fronteira, a exemplo das mudanças climáticas que afetam a população mundial. No
que condiz com o plano temporal, este aponta o reconhecimento de que “a
antecipação das catástrofes futuras não pode mais ser baseada em experiências
passadas” (BECK, 2009, p.3). O risco enquanto probabilidade baseada no passado
não mais funciona. A incerteza e a incalculabilidade da abrangência desse risco, o
qual pode ter um longo período de latência, como ocorre com o lixo nuclear,
denotam a ocorrência do inesperado concernente à possibilidade da catástrofe.
Quanto ao plano social, a recente crise financeira global é um bom indicador disso:
sua complexidade e amplitude geraram efeitos em cadeia cujas consequências não
são plenamente mensuráveis.
25
Um exemplo recente e real dessa estratégia pôde ser visto na calamidade causada em 2005 pelo
Furacão Katrina em Nova Orleans (EUA), a qual Naomi Klein (2008) não considera um desastre
natural, vez que envolveu uma clara omissão do Estado. Após a catástrofe, uma rede de associações
aportou em Nova Orleans para converter o sistema educacional público vigente em escolas privadas
e licenciadas com ajuda financeira do governo de George W. Bush. O desastre igualmente atraiu um
conjunto de empresas especializadas, como os bombeiros Blackwater, empresa militar privada que
apareceu em Nova Orleans pronta para substituir a polícia, e a Helpjet, empresa que oferece serviços
que proporcionam um plano de fuga rápido e luxuoso em caso de furacão.
81
A incalculabilidade que compõe a sociedade de risco, aliás, está diretamente
relacionada com os fatores econômicos, já que nem mesmo a economia, com
sofisticadas construções teóricas, é confiável em suas previsões, admitindo-se que
toda ciência econômica traz consigo um grau elevado de não-conhecimento – ou
seja: as experiências passadas não dão conta das possibilidades futuras. Por conta
da não-compensabilidade dos riscos, o clamor social de segurança e controle
institucionalizados por parte do Estado é suscitado, o qual, manipulando um
mecanismo imantado de racionalidade e histeria, teria de dar conta dessa situação.
Mas se a própria situação detém um grau elevado de não-conhecimento,
[...] o limite entre a racionalidade e a histeria torna-se obscuro. Dado o
direito investido neles para evitarem perigos, os políticos, em particular,
podem facilmente ser forçados a proclamar uma segurança que não podem
honrar – porque os custos políticos da omissão são muito mais elevados do
que os custos do exagero. No futuro, conseqüentemente, não será fácil, no
contexto de promessas de segurança do Estado e a fome por catástrofes
dos meios de comunicação de massa, limitar e impedir ativamente um jogo
de poder diabólico com a histeria do não-conhecimento (BECK, 2009, p.4).
Ainda que a sociedade de risco conte com a propagação do medo que
consiste na antecipação do desastre por meio da mídia, essa mesma sociedade traz
consigo a possibilidade do chamado “momento cosmopolita”, a qual reside na
percepção da ambivalência do risco. Ou seja: se por um lado o risco antecipa a
tragédia, por outro traz oportunidades. Essas oportunidades não estão para aquela
parcela de indivíduos que se aproveitam do medo tornado paranóia para obter lucros
absurdos. Contrariamente, essas oportunidades estão para a percepção de que se o
risco não respeita mais fronteiras, caracterizado pela des-localização, pela
incalculabilidade e pela não-compensabilidade, esse mesmo risco deve induzir uma
percepção cosmopolita do próprio risco.
Desse modo,
[...] o momento cosmopolita da sociedade de risco significa a conditio
humana da irreversível não-exclusão do estrangeiro distante. Os riscos
globais destroem os limites nacionais e confundem o nativo ao estrangeiro.
O outro distante está se transformando no outro inclusivo – não através da
mobilidade, mas através do risco. A vida cotidiana está se tornando
cosmopolita: os seres humanos devem encontrar o significado da vida nas
trocas com os outros e não mais no encontro com o mesmo. Estamos todos
presos num espaço global compartilhado por ameaças – sem saída. Isto
82
pode inspirar respostas altamente conflituosas, às quais igualmente
pertencem a renacionalização, a xenofobia, etc (BECK, 2009, p.5).
Ao mesmo tempo em que traz o medo manufaturado pela mídia que
movimenta bilhões ao redor do globo, o risco traz a característica de consistir não
apenas em um momento de temor global e consequente inércia, mas em um
momento de esperança marcado pela interdependência entre global e local. Essa
esperança
cosmopolita,
conforme
Beck,
“abre
nossos
olhos
para
as
responsabilidades incontroláveis, para algo que acontece conosco, sucede conosco,
mas ao mesmo tempo nos estimula a um novo começo que transcenda fronteiras”
(2009, p.8).
A contemporaneidade, então, perpassada pela globalização, traduzindo um
cenário que configura a chamada sociedade de risco, desponta um novo momento
histórico para a humanidade, encabeçado pelos evidentes avanços técnicocientíficos
dos
dois
últimos
séculos.
Esse
contexto,
polivalente
pois
multidimensional, afeta estruturações clássicas da modernidade, como o EstadoNação e a cidadania. Importante assim uma abordagem dos reflexos da
globalização para o Estado-Nação, especialmente no que tange a soberania em
suas dimensões interna e externa, bem como da condição da cidadania,
classicamente configurada a partir da nacionalidade e pela noção de pertencimento
à Nação, mediante as peculiaridades do fenômeno.
2.3 Estado-Nação e globalização
O Estado-Nação nasceu da passagem da Idade Média para a Idade
Moderna, marcado por uma tentativa de estabelecer um poder único frente à
fragmentação medieval. Esse poder consistiu no enraizamento do conceito de
soberania, o qual, em seu aspecto histórico-teórico, estabeleceu as bases de uma
nova formatação mundial, inaugurando, em 1648, com a Paz de Vestfália, a
sociedade internacional moderna26. Não há dúvidas de que a soberania foi eficaz
26
A sociedade internacional moderna, embora já tratada de forma panorâmica no primeiro capítulo,
será objeto específico do primeiro tópico do próximo capítulo, apresentada de maneira
contrapontística à sociedade internacional contemporânea, exposição esta que consiste em opção
metodológica para melhor compreensão da temática.
83
para o desenvolvimento primeiramente da Europa Ocidental e posteriormente de
todo o planeta condicionado por suas influências. Igualmente não há imprecisão em
afirmar que a conjunção de povo, território e poder juridicamente organizado,
elementos estes aglutinados pela soberania, trouxe inigualáveis consequências para
o panorama político estabelecido após Vestfália.
Mas é interessante referir que o crescente desenvolvimento capitalista na
passagem da Idade Média para a Idade Moderna também modelou as formatações
estatais subseqüentes, as quais iniciam com o Estado Absolutista, passam pelo
Estado Liberal e resultam no Estado Social. Se o capitalismo, como afirma
Alexandre Coutinho Pagliarini, “foi, desde o início, uma estrutura econômica que
nunca teve a intenção de respeitar fronteiras (2007, p.34), é inevitável que um modo
de produção baseado nessa lógica traga efeitos para o Estado-Nação, em particular
para a soberania tida tanto em sua perspectiva interna quanto externa.
O Estado Absolutista, centrado na figura do rei, caracterizado por laços de
favorecimento fundados principalmente na consangüinidade, determinou a primeira
forma estatal moderna. A intensa prática comercial européia, porém, somada aos
avanços científicos e culturais característicos do Renascimento, passou a contestar
a sedimentação de uma estrutura de poder calcada em favores trocados entre o rei,
a Igreja Católica e a nobreza, o que, com a Revolução Francesa de 1789, veio a
redundar no Estado Liberal.
Para o estabelecimento do Estado Liberal, as contribuições das Revoluções
Americana e Inglesa, respectivamente de 1689 e 1776, trouxeram várias avanços,
notadamente no que diz respeito aos direitos civis e políticos. Mas foi a Revolução
Francesa, calcada na proteção da propriedade privada, na extinção da
hereditariedade do poder político e na garantia de liberdades aos cidadãos que
culminou no Estado Liberal. Como o Estado Absolutista impedia o avanço das
práticas mercantilistas características de um período ainda marcado pelas grandes
navegações e pela nascente Revolução Industrial, é sintomático o fato de o Estado
Liberal primar pela não-intervenção econômica, restringindo-se às suas funções
fundamentais – como a garantia da ordem, por exemplo – para dar espaço ao
desenvolvimento capitalista.
84
Essa
situação
não-intervencionista
resultou
na
intensificação
das
desigualdades sociais, formando um cenário paradoxal que, nas décadas de 1920 e
1930, foi inexoravelmente abalado pelo colapso capitalista. A mínima intervenção
estatal deu lugar a um Estado de perfil intervencionista. Inaugurou-se o Estado
Social, disposto a concretizar a justiça social por meio do intercâmbio concreto entre
direitos civis, políticos e sociais, buscando uma igualdade não alcançada pelo
Estado Liberal. Não abrindo mão das premissas econômicas liberais, o Estado
Social intensificou a proteção dos direitos individuais e sociais, propiciando uma
convivência de esferas jurídicas antes consideradas inconciliáveis diante da
supremacia econômica liberal em suas claras influências políticas.
O que se nota é que a soberania esteve presente tanto no Estado
Absolutista quanto no Estado Liberal e Social. O monarca absoluto foi o seu titular
primeiro, estabelecendo a base territorial do Estado e da população nela inserida.
Posteriormente, com o Estado Liberal, a soberania passou a coexistir com uma
maior liberdade individual, política e econômica dos cidadãos, fundando essas
liberdades a partir de um primado jurídico-político restrito aos limites do próprio
Estado. Já com o Estado Social, a mera afirmação de que à concretização dos
direitos cidadãos era necessária uma intervenção estatal, diz da importância da
soberania para o seu estabelecimento. Mesmo que claramente trespassado pelos
influxos capitalistas, o Estado-Nação manteve, no decorrer do seu desenvolvimento,
a soberania como conceito chave para sua própria caracterização.
A qualidade soberana do Estado, entretanto, tem sido posta em xeque pelos
diversificados reflexos da multidimensionalidade da globalização, especialmente
pela dimensão econômica do fenômeno, de onde se percebem as somatizações
capitalistas neoliberais para a estruturação do Estado-Nação. Ainda que não se
negue seu importante papel em um cotidiano que cada vez mais entrelaça global e
local em um único espaço mundial, a convivência com vários atores internacionais
também leva a um necessário e básico mapeamento da condição da soberania
frente
à
globalização
contemporânea,
entendendo-se
a
expressão
“ator
internacional”, consoante Giovanni Olsson, no limite de um conceito que não abarca
apenas a tradicional figuração do Estado, “mas também a organização de âmbito
internacional e a empresa transnacional, assim como, com alguma controvérsia,
85
redes, coalizões, grupos e comunidades internacionais, e mesmo excepcionalmente
o indivíduo” (2007, p.285). Como é a soberania o elemento de síntese dos demais
caracteres fundamentais do Estado-Nação, os reflexos da globalização para o
diagnóstico da situação do Estado na atualidade podem ser vistos com relação a
ela, já que condiz com um somatório de todas as funções inerentes ao Estado
Moderno.
No âmbito da soberania interna dos países desenvolvidos, é possível dizer
que três tendências convergiram para afetar a estruturação do Estado-Nação,
somando “a expansão global das grandes empresas” (BEINSTEIN, 2001, p.68) ao
gradual endividamento público dos governos, tornando-os dependentes dos
mercados financeiros. Da mesma forma, “o desemprego, o empobrecimento e a
concentração de renda e suas seqüelas em termos de marginalidade urbana,
predomínio do individualismo e outros fatores que deterioraram seriamente”
(BEINSTEIN, 2001, p.69) o Estado Social, afetaram os laços entre a sociedade civil
e o Estado, com efetiva pressão nas classes médias e baixas. Disso se pode
constatar que o Estado passou por uma perda de legitimidade tanto ao nível
econômico quanto ao nível de ente autorizado a regular jurídica e politicamente a
sociedade, redundando em um gradativo distanciamento entre a esfera pública e
privada. Para isso, o apelo ao livre mercado, incidindo em desregulamentações
financeiras e comerciais, assim como as privatizações de empresas públicas, foram
fatores determinantes para essa legitimidade perdida entre 1980 e 1990.
Já nos países em desenvolvimento, onde o modelo do Estado Social ainda
se mostrava e se mostra incipiente, o impacto da globalização também foi enorme,
ocasionando um aumento da pobreza combinada com “uma avalanche de
privatizações que desnacionalizaram a maior parte das empresas estatais”
(BEINSTEIN, 2001, p.69). A desregulamentação dos mercados igualmente afetou
tais regiões do planeta, fazendo com que países que antes detinham um mínimo
controle da juridicidade do setor econômico, perdessem esse papel em razão da
necessidade de cumprimento de diversas exigências internacionais, o que se
comprova pela política neoliberal adotada por vários Estados latino-americanos a
partir de 1980, muitas vezes seguindo exigências de órgãos financeiros
internacionais, a exemplo do Banco Mundial e do FMI, sem falar nos países
86
desenvolvidos – os quais geralmente detêm supremacia decisória em tais
organismos27.
Há uma assimetria de poder nas relações internacionais, implicando
reverberações tanto na perspectiva interna quanto externa da soberania, vez ser
impossível separá-las de maneira estanque em um mundo globalizado. Essa
assimetria provém da propulsão às desigualdades características de uma economia
capitalista, o que novamente diz da importante penetração dessa sistemática no
cerne estrutural do Estado, como claramente expõe Joseph Stiglitz:
Os países ricos forçaram as nações pobres a eliminar as barreiras
comerciais, mas eles próprios mantiveram as suas, impedindo que os
países em desenvolvimento exportassem seus produtos agrícolas,
privando-os, assim, da renda tão desesperadamente necessária obtida por
meio das exportações (apud SENE, 2004, p.111).
Mesmo que não se possa falar de modo taxativo de uma “crise” do EstadoNação, pode-se afirmar que no decorrer do século XX e especialmente no início do
século XXI, esse engenhoso aparato sócio-político passou por inúmeras
remodelações. Portador de uma avançada maquinaria jurídica e burocrática, o
Estado Moderno ampliou as bases provindas das grandes revoluções que
propiciaram seu próprio desenvolvimento. Mas a partir de 1980 “os aparatos
públicos começaram a perder o dinamismo da mesma forma que o conjunto do
pacote civilizacional que integravam” (BEINSTEIN, 2001, p.76).
Essa perda, segundo José Eduardo Faria, reduziu a capacidade do Estado
“regular a sociedade civil nacional por meio de seus instrumentos jurídicos
tradicionais, dada a crescente redução de seu poder de intervenção, controle,
direção e indução” (apud BEDIN, 2001, p.349). O esvaziamento da soberania
compreende fenômeno específico da contemporaneidade, dada a incapacidade do
Estado em assegurar uma regulação social efetiva, mostrando-se “impotente diante
27
A realização do chamado Consenso de Washington em 1989, estabeleceu parâmetros neoliberais
aos países em desenvolvimento. Reunindo-se o governo norte-americano com representantes do
FMI, do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foram traçadas
recomendações para o emprego do ideário neoliberal nesses países, como a redução da abrangência
estatal e a abertura da economia, medidas estas que possibilitaram sua inserção definitiva na
globalização.
87
da multiplicação das fontes materiais de Direito e sem condições de deter a diluição
normativa pelo advento de um efetivo pluralismo jurídico” (FARIA, 1995, p.111).
Assim, “a soberania se dilui em uma complexa rede de interdependências em que
tudo fica condicionado e tratado por forças incontroláveis de um mercado global”
(JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p.84), de modo que a alegada “desregulamentação”
do mercado, por exemplo, soa como “excesso de regulamentação”, promovendo a
ocorrência de um pluralismo jurídico global que atinge diretamente a soberania
estatal.
Dada a concentração de capital nos países desenvolvidos, a relação de
subserviência dos países em desenvolvimento em relação a diversos organismos
internacionais bem como aos países ricos, o que redunda em relações parasitárias
de uns em face de outros, potencializadas pela especulação inerente ao mercado
financeiro global, a impotência do Estado quanto às demandas sociais se mostra
clara. Como a globalização consiste em um fenômeno que distribui riquezas
desigualmente em diversas partes do globo e a diferentes populações, a
concentração geográfica empresarial conectada à economia mundial, a qual, apesar
de global, detém grande parte do seu potencial produtivo nos países desenvolvidos,
ensejou uma crescente distância entre as camadas populacionais ricas e pobres
tanto nestes países quanto nos países em desenvolvimento. Havendo um potencial
de produção global sem precedentes, o desequilíbrio entre as demandas e a
capacidade de produção foi fator primordial para o surgimento de tais desigualdades
que se manifestam nacional e internacionalmente28.
Se por um lado a produção global dá conta das necessidades mundiais, por
outro a má distribuição dessa produção sustenta a desigualdade entre indivíduos e
países. “A tendência à acentuação da desigualdade atua no sentido do aumento dos
meios de influência dos Estados dos países desenvolvidos, ao passo que
enfraquece os meios de resistência dos países em desenvolvimento” (SENE, 2004,
28
“A riqueza média aumenta, mas a relação de renda entre os 20% mais ricos e os 20¨mais pobres
passou de 30 para 1 em 1960 para 78 para 1 em 1999, e em mais de oitenta países a renda per
capita é inferior ao nível em que se encontrava há dez anos. As necessidades fundamentais dos
homens são globalmente atendidas pelas produções correspondentes, mas oitocentos milhões de
indivíduos em todo mundo permanecem em estado de subnutrição, e um bilhão e trezentos milhões
vivem com menos de um dólar por dia” (PASSET, 2003, p.67-68).
88
p.112), de forma que são diversos os posicionamentos diante dos processos de
globalização em suas múltiplas esferas. Todo esse cenário desmantelou variados
mecanismos de controle estatal, articulando uma dinâmica mundial que sem dúvida
aponta para uma sociedade internacional contemporânea a superar a sociedade
internacional moderna de matriz vestfaliana.
A soberania, portanto, é afetada em sua coexistência com a globalização.
Isso é comprovado quando se percebe que “a soberania só tem sido aventada
nestes tempos de globalização em virtude de favores axiológicos que tentam
justificar, desde cessões parciais de soberania até a formação de verdadeiros
conglomerados macroeconômicos desprovidos de fronteiras” (PAGLIARINI, 2007,
p.36). A emergência do direito comunitário, designando um conjunto de regras
composto por tratados, diretivas, comunicados e demais atos normativos caros à
organismos supranacionais, de modo a fixar diretrizes que visam uma ação conjunta
de vários Estados-membros de organizações supranacionais, aponta justamente
para esse quadro. “Os acordos internacionais, que criam as organizações estatais,
instituem uma nova ordem jurídica internacional, em função da qual os Estadosmembros restringem o exercício de seu poder soberano aos limites traçados pelo
instrumento” (PIRES, 2010, p.34). Como a soberania constitui um “feixe de
competências que o Estado possui e que lhe é outorgado pela ordem jurídica
internacional” (MELLO, 2000, p.365), sua diluição em virtude de fatores econômicos,
políticos e jurídicos, resultando em complexas redes de interdependência que
afetam as dimensões interna e externa da sua existência, exprimem seu
esvaziamento e relativização na ordem internacional contemporânea até mesmo em
relação aos blocos de integração regional29, distintos por assimetrias sistemáticas
29
Quanto aos processos de integração regional, é de se dizer que os mesmos correspondem a níveis
que perpassam a economia, a política e o direito, não havendo um conceito unívoco que apreenda o
fenômeno. “Dispõe-se apenas de um conjunto de aportes teóricos que permitem caracterizar a
integração como um processo em marcha, de crescente interdependência, originado de distintas e
diferentes unidades constitutivas, criando um novo sistema inter-relacionado e em formação, cujo
exemplo mais avançado é a União Européia” (OLIVEIRA, 2009, p.47). Contudo, pode-se analisar tais
processos a partir da seguinte tipologia básica, a qual divide os graus de desenvolvimento de
integração:
“- Zona de Livre Comércio (ZLC): área de livre circulação de mercadorias, sem restrições
quantitativas e sem imposição alfandegária. Todavia, cada um dos participantes pode manter
relações comerciais com terceiros países de acordo com seus interesses;
- União Aduaneira (UA): além das características acima, acrescenta-se a existência de uma tarifa
aduaneira comum;
89
quanto à cessão de parcelas de soberania de países desenvolvidos em relação a
países em desenvolvimento.
Embora existam mecanismos diversos nos blocos regionais que visam a
superação dessas desigualdades, é inegável que elas persistem em uma
sistemática capitalista neoliberal, ocasionando a premência de determinados
Estados-membros
em
relação
aos
demais.
A
autonomia
legislativa,
conseqüentemente, desloca-se para organismos supranacionais partindo de
determinados regimentos comuns, fazendo com que haja uma porosidade quanto à
soberania no interior dos Estados participantes dos blocos, limitando sua
abrangência a questões não tratadas por meio das normas que os vinculam em
situações regionais.
Vê-se nitidamente que essa realidade é impulsionada pela globalização,
gerando a necessidade de determinadas coalizões entre Estados para que estes se
fortaleçam em um ambiente de intensa competitividade. Desse modo é que se têm
“a integração crescente de países ou regiões em blocos econômicos, inclinada a
assegurar um espaço financeiro-comercial próprio, um mercado regional protegido,
objetivando, num segundo momento, também o ingresso no mercado mundial”
(OLIVEIRA, 2002, p.480), o qual, perpassado pela concorrência de empresas
transnacionais, demanda esse tipo de articulação para que os Estados possam
reivindicar seu papel no cenário contemporâneo.
Adicionando-se a estes fatores, o aumento da criminalidade e da corrupção
tanto nos governos de países desenvolvidos quanto em desenvolvimento é palpável
nas últimas décadas, o que promove um descrédito do Estado em relação à
sociedade civil. O que interessa notar é que há uma “coincidência histórica entre o
aumento exponencial da corrupção estatal e a aplicação de estratégias neoliberais”
- Mercado Comum: a livre circulação de mercadorias também abrange os demais fatores de
produção, exigindo a adoção de políticas comuns a fim de evitar diferenças no interior do mercado
que possam provocar desigualdades. Essa etapa pressupõe a uniformização – ou, pelo menos, a
harmonização – da legislação dos países membros;
- União Econômica: representa a fusão dos mercados nacionais, o que implica a igualdade de
condições econômicas, juntamente com as liberdades de mercado;
- União Econômico-monetária: implica a criação de uma moeda única, ou pelo menos de câmbios
fixos e convertibilidade obrigatória das moedas dos países membros” (AMARAL, 2007, pp.94-95).
90
(BEINSTEIN, 2001, p.81), o que foi propiciado, em alguns países pelas reformas
propugnadas pelo Banco Mundial e pelo FMI, centradas em privatizações de
empresas estatais e seguidas de desproteção econômica. Surgiram assim grupos
privados, locais e globais, com alta concentração de renda, depredando a teia
produtiva dos Estados a partir da grande influência de questões privadas no
interesse público. Se as empresas contemporâneas buscam constantes estratégias
para passar ao largo das normas estatais, reflexo disso pode ser encontrado nessas
políticas econômicas neoliberais. Desobstruindo vias legalmente constituídas com a
finalidade de prejudicar o ingresso de interesses privados no próprio Estado, o
neoliberalismo contribuiu, por meio da corrupção crescida em sua lógica, com o
desmantelamento de grandes estruturas provindas de nascentes Estados Sociais,
de maneira que seu desenvolvimento foi atravancado.
Quanto à criminalidade, fenômeno convergente com a retirada do Estado de
zonas antes ocupadas, também existe uma relação da sua abrangência mundial
com a globalização. Percebe-se que
[...] a “decomposição cultural” de grandes setores sociais, que inclui o
declínio de crenças coletivas igualitárias, solidárias, de identidades
nacionais, não substituídas por fenômenos superadores, mas por diversas
formas de amoralidade e egoísmo dissociador, pelo culto do “vencedor”
paralelo ao desprezo pelo “perdedor” derivados da ideologia neoliberal
(BEINSTEIN, 2001, p.83).
– contribuiu com a crescente insegurança característica dos centros
urbanos contemporâneos. A expansão de organizações criminosas globais se
distingue de modo claro daqueles grupos existentes antes de 1980. O Estado por
vezes é atravessado pela influência do narcotráfico, criando uma trama de trocas de
poder totalmente à margem da lei, mas que, por marca da ineficácia do próprio
Estado, entranha-se em suas estruturas, igualmente favorecendo a fragilização da
soberania em razão da perdida legitimidade estatal. Nos últimos anos, somando-se
a tais evidências, o terrorismo internacional também ganhou espaço, dando origem a
estruturas de poder alheias ao controle estatal tanto na esfera nacional quanto
internacional. Logo, “a desordem mundial é real, assim como a perspectiva de outro
século de conflitos armados e de calamidades humanas” (HOBSBAWM, 2007, p.4647), para o que a derrocada das estruturas básicas da sociedade internacional
91
moderna centrada na soberania do Estado-Nação constitui elemento fundamental
diante da globalização.
Dessas estimativas panorâmicas, aparentemente deriva a afirmação de que
o Estado Moderno não mais detém espaço, motivo pelo qual alguns autores
advogam pela sua completa extinção dados os influxos multidimensionais da
globalização. Nesse sentido, embora a multipolaridade de forças políticas seja
evidente, o Estado-Nação ainda desempenha um papel importante e fundamental na
atualidade. Conforme expõe Raimundo Batista dos Santos Junior, “mesmo com esse
movimento de repasse ou conquista de poder infra-estrutural para atores nãoestatais, só o Estado-nação é soberano em assuntos internos e externos, pois a
soberania é um atributo exclusivo do Estado territorial” (2007, p.79). Isso não relega
para um segundo plano o reconhecimento de que certas questões extrapolam os
limites estatais – como a ecologia, a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas, os
conflitos étnicos ou o terrorismo internacional –, mas prediz que houve uma divisão
do trato desses problemas com os Estados por meio de organizações internacionais
especializadas e demais atores que circulam nesse espaço. “Desse modo, o Estadonação, como agente soberano, não desaparece na nova ordem mundial” (SANTOS
JUNIOR, 2007, p.80).
É evidente que a soberania, como justificativa secular do poder político,
trazendo caracteres especificamente modernos em sua constituição no bojo do
modelo vestfaliano, é afetada por essa nova realidade. Mas ainda que determinadas
questões exijam esforços globais para a sua resolução, isso não extingue a
soberania estatal do cenário internacional, até porque, embora vários atores
internacionais demonstrem pretensões de ultrapassar o poder dos Estados, nenhum
deles até o momento foi capaz de fazê-lo. Se “a eficácia interna do Estado reside no
modo como negocia e perde o poder de império interno a favor de outras
organizações sociais” (SPENGLER, 2005, p.158), não há dúvidas de que seu papel
enquanto entidade soberana restou acidentado com a globalização em virtude de
um pluralismo jurídico incorporado ao próprio Estado por força de influências
paraestatais que de uma ou outra maneira promovem mudanças em seus rumos.
Afinal, mesmo ao promulgar leis, “os Estados nacionais acabam sendo obrigados a
levar em conta o contexto econômico-financeiro internacional, para saber o que
92
podem regular e quais de suas normas serão efetivamente respeitadas (nesse novo
contexto mundial)” (FARIA apud BEDIN, 2001, p.349). Porém, isso ainda não
justifica um abrupto desaparecimento do Estado-Nação, até porque inexiste
atualmente uma estrutura supranacional que possa comportar suas necessárias
funções no âmbito de seu respectivo território.
Que o Estado Moderno passa por reformulações e já não constitui o único
centro de poder na sociedade internacional, é fato. Mas entre a afirmação do seu fim
e essa afirmação existe uma grande diferença, até porque o que se nota não é
exatamente uma extinção da soberania, mas a reconfiguração da soberania estatal
em formatações que incidem em um compartilhamento da mesma. “Apesar da
difusão do discurso neoliberal atrelado à globalização, que prega o fim do Estado,
ele continua tendo um papel fundamental no gerenciamento das questões
econômicas, sociais, culturais, etc.” (SENE, 2004, p.116), de modo que a ele
geralmente cabe a criação de condições para sua inserção na economia globalizada
– o que é comprovado pelo advento dos blocos regionais. Resulta problemático é o
atravessamento do Estado pela ideologia neoliberal, o que desestabiliza sua
soberania tanto no âmbito interno quanto externo30, trazendo prejudiciais sintomas à
engenharia sócio-política do Estado-Nação em suas variadas configurações.
Torna-se nítido que o capitalismo sempre permeou as questões estatais,
possibilitando o seu desenvolvimento no decorrer da história, pois “enquanto modo
de produção e processo civilizatório, cria e recria o Estado-nação, assim como o
princípio da soberania que define sua essência” (IANNI, 2001, p.41). Como a
globalização pode ser tida como um novo passo no desenrolar do capitalismo,
caracterizada pelo neoliberalismo, é inevitável que ela traga novos desafios ao
Estado-Nação, o que, contudo, ainda não demonstra um diagnóstico plausível
quanto ao seu desaparecimento. Em uma sociedade de risco, onde local e global se
encontram diretamente relacionados, fatalmente haverá questões que ultrapassam a
jurisdição dos Estados, motivo pelo qual se justifica a proliferação de variados atores
internacionais. Mesmo assim, o Estado continua sendo um local privilegiado para a
30
A relativização da soberania do Estado-Nação também é afetada pela universalidade dos direitos
humanos bem como pelos diversos atores internacionais surgidos na sociedade internacional
contemporânea, assunto que será objeto do próximo capítulo.
93
possibilidade de consecução de direitos, vez que é dele que continuam partindo as
necessárias mudanças para imensas camadas populacionais espalhadas pelo globo
no que concerne aos direitos civis, políticos e sociais.
É inegável assim que a cidadania também é afetada pela globalização, tanto
em relação ao seu status de pertencimento jurídico-político a determinado Estado,
quanto no que condiz com a caracterização desse pertencimento por meio da
identificação com a Nação. Quando problemas globais afetam a territorialidade do
Estado Moderno, igualmente isso pode ser verificado, de maneira que o
condicionamento da cidadania à nacionalidade, levando à equivalência dos termos,
pode ser visto como uma situação problemática, sendo importante traçar um cenário
básico quanto à sua condição na globalização.
2.4 Cidadania e globalização
O contexto histórico-político da cidadania se desenvolveu de forma lenta
com o correr dos séculos. Marcado pelas Revoluções Inglesa, Americana e
Francesa, matizado pelos conflitos surgidos da Revolução Industrial, pode-se afirmar
que apenas no século XX a concretização dos direitos civis, políticos e sociais
encontrou resguardo suficiente por parte de um número significativo de países. As
transformações do Estado, desde seu formato Absolutista até sua vinculação Social,
contribuíram de forma óbvia para esse desenvolvimento, considerando-se que o
regime capitalista auxiliou para a sua afirmação em escala global, mesclando uma
burocracia centralizada com determinado regime econômico característico da Idade
Moderna.
Além das esferas de direitos que, correlacionadas e devidamente
concretizadas, possibilitam a emergência da justiça social, o condicionamento da
cidadania à nacionalidade foi passo importante para seu estabelecimento. O
princípio da nacionalidade, embora surgido em meio a um cenário imbuído de
matrizes ideológicas, foi fundamental para esse processo. Se tradicionalmente
apenas são cidadãos aqueles que são nacionais de determinado país, seja pela
sistemática do jus solis ou do jus sanguinis, verifica-se perfeitamente a influência
desse princípio no delineamento da cidadania, apesar de não poder se negar as
94
demais formas para sua aquisição. O que fica claro é que há uma interpenetração
dos elementos fundamentais do Estado-Nação para a caracterização da cidadania,
de modo que o poder juridicamente organizado vincula certa população que habita
um território, detendo este soberania interna e externa e assim enunciando a própria
cidadania.
O vínculo jurídico-político dos indivíduos em relação a um Estado-Nação
difere cidadãos de estrangeiros, sendo que os últimos seriam “os indivíduos livres de
outros Estados” (DAL RI JÚNIOR, 2003, p.49). Tendo por base Bodin, é possível
configurar “a cidadania como o fato do indivíduo pertencer a uma determinada
esfera jurídica”, onde essa relação de pertença corresponde a “uma estável
submissão do indivíduo à autoridade do Estado que a atribui” (DAL RI JÚNIOR,
2003,
p.48).
A
nacionalidade
advém
de
uma
comunidade
de
pertença
territorialmente localizada nas fronteiras do Estado-Nação. A homogeneidade
cultural do espaço possibilitou uma aceleração do “processo de aproximação entre
comunidade política e comunidade de cultura, uma aproximação que permitiu a
convergência entre Estado e nação e a constituição das identidades nacionais”
(LUCAS, 2010, p.103). Levando-se em conta que o Estado corresponde a um
vínculo jurídico-político e a Nação corresponde a um vínculo da ordem cultural, a
identidade relacionada à cidadania provém dessa intersecção, para a qual a
nacionalidade que diferencia os cidadãos em face dos estrangeiros foi basilar.
Percebe-se que a soberania foi determinante para a manifestação da
cidadania na modernidade, pois é somente “a partir do momento em que os
indivíduos se sujeitam ao Estado, fazendo parte desse grande mecanismo” (DAL RI
JÚNIOR, 2003, p.53), que passam a ser reconhecidos como cidadãos. Esse
reconhecimento, por sua vez, implica que todos aqueles “que se encontram dentro
das fronteiras de um Estado (...), estão sob sua jurisdição e são obrigados a
obedecer suas leis. Membros (ou cidadãos) são obrigados a obedecê-las em virtude
da sua qualidade de membros; é a sua lei” (MORRIS, 2005, p.71). Isso muito
diferencia a cidadania moderna em relação a outras formatações de pertença
jurídico-política pré-modernas, fazendo com que a existência do cidadão seja
condicionada à emergência do Estado-Nação na modernidade.
95
Quando o “Estado não tem mais o monopólio das regras, pois há regras
internacionais que deve partilhar com a comunidade internacional” (VIEIRA, 2001,
p.237), o que provoca o seu “enfraquecimento (...) principalmente à sua função de
elaborar e decidir políticas, bem como à sua capacidade autônoma de elaborar
projetos políticos nacionais” (VIEIRA, 2001, p.237), é inevitável que a cidadania
também seja afetada por essa nova conjuntura internacional. A problemática da
cidadania diante da globalização passa igualmente pela legitimidade defasada do
Estado-Nação perante seus membros. Mesmo as noções características da
cidadania enquanto diferenciadora dos nacionais e dos estrangeiros, apresentam
contornos diversos nesse contexto. Dessa maneira,
[...] o problema maior que hoje o Estado enfrenta – o da sua legitimidade
governativa – é inseparável da crise da sua legitimidade na criação e
imposição de critérios de inclusão/exclusão, os quais se aplicam não só
entre os próprios cidadãos, mas também e primordialmente entre estes e os
que não desfrutam do estatuto da cidadania (CARVALHAIS, 2004, p.111).
O que possibilita essa fragilização quanto à legitimidade governativa do
Estado são as novas instâncias de regulação internacional, a intensidade da
influência econômica da globalização bem como a descentralização normativa que
esse cenário provoca. Como o poder do Estado é dividido com múltiplos órgãos,
instituições e demais entidades que criam novos padrões de comportamento e ação
política planetária, notadamente esses fatores implicam em reflexos para a
cidadania.
Ao se ter um espaço onde as relações interestatais são permeadas por uma
assimetria correspondente ao seu poder político e econômico, algumas decisões
terão maior força que outras. Isso se acentua a partir do momento em que se tem
uma trama de mecanismos de decisões formais e informais relacionados à economia
globalizada que influenciam a existência dos Estados. A profusão de foros,
instâncias e organismos econômicos internacionais confirma essa realidade, de
forma que “o efeito que esta catarata de decisões supranacionais tem sobre a
soberania estatal e, conseqüentemente, sobre os direitos de cidadania, resulta
devastador” (JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p.85). Mostra-se aí “a fragilidade do
Estado e a dispersão do poder dos governantes, resultando na abertura do espaço
96
público estatal a outros atores, perdendo assim, a unidade estatal, seu outrora papel
potencial e de protagonista privilegiado” (OLIVEIRA, 2002, p.524).
O desmantelamento da capacidade regulatória dos Estados que não detém
prevalência de mando no panorama internacional, o que se reflete nacionalmente,
faz com que estes países tenham capacidade limitada para intervir em decisões
supranacionais, o que por vezes é reforçado pela concessão de empréstimos
financeiros que são subordinados à adoção de determinadas políticas públicas por
parte dos Estados. Como atualmente “não é possível conceber uma política
financeira à margem das regras da economia internacional”, as opções dos Estados
se estruturam em um âmbito restrito, considerando-se que o impacto dessas
restrições será “maior nos países semiperiféricos do que nos estados centrais, e
também muito maior nos países periféricos do que em todos os outros países do
mundo” (CARVALHAIS, 2004, p.115). Inevitavelmente, ocorre uma “fragmentação
da cidadania cujos direitos de participação e decisão ficam formalmente incólumes,
mas faticamente limitados e reduzidos a mera expressão da vontade eleitoral”
(JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p.84). São afetados ainda os direitos relacionados ao
Estado Social, provocando uma “erosão profunda do conteúdo da cidadania (...)
cerceada em benefício da governabilidade global do sistema, o que leva à redução
da cidadania a sua dimensão estritamente cívico-política” (JULIOS-CAMPUZANO,
2009, p.84).
O impacto dessas mudanças é extremo, reafirmando a lógica neoliberal da
globalização quanto à distribuição desigual de riquezas a diferentes parcelas da
população mundial. Quando o Estado não mais consegue controlar suas políticas,
levado a cortes orçamentários e a redução da proteção social dos cidadãos em
razão de decisões supranacionais formais e informais, vê-se mais uma vez que “a
economia em rápida globalização e cada vez mais extraterritorial produz
sabidamente diferenças sempre maiores de riqueza e de renda entre os setores
abastados e depauperados da população mundial em cada sociedade” (BAUMAN,
2000, p.177). A legitimidade dos Estados, especialmente daqueles que não detém
certa participação efetiva no campo de decisões internacionais, decai juntamente
com a sua participação na proteção da cidadania. O cidadão que deveria ter seus
direitos civis, políticos e sociais resguardados, é atingido no seio do próprio Estado
97
em razão da irresistibilidade dos influxos provenientes da globalização no que
pertine às novas instâncias de regulação internacional.
Da mesma forma que essa descentralização normativa afeta a cidadania, a
intensa influência econômica do mercado global, protagonizado por empresas
transnacionais, igualmente a atinge. Como a mobilidade dessas corporações está
relacionada aos interesses dos seus acionistas, os quais promovem investimentos
onde a produção é geralmente barateada pela força de trabalho abundante, o mero
deslocamento de uma dessas empresas é capaz de compor uma onda de
desempregos sem que os Estados possam dar conta da demanda. Para que isso
não ocorra, os Estados acabam por se adaptar “às exigências do mercado global
[para] entrar no circuito da competitividade econômica, cujas regras são ditadas por
instâncias de poder difusas cuja legitimidade não é outra que a (...) da concentração
de capital e recursos produtivos” (JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p.89). Em
decorrência disso, “à medida que se impõe o nexo das grandes empresas, instala-se
a semente da ingovernabilidade”, onde “os institutos encarregados de cuidar do
interesse geral são enfraquecidos, (...) produzindo as precondições da fragmentação
e da desordem” (SANTOS, 2008, pp.68-69).
Há uma separação do poder e da política, a qual, conforme Bauman (1999),
dá-se o nome de globalização. Se a modernidade foi sedimentada a partir do termo
“universalização”, a atualidade é calcada no termo “globalização” porque se refere
apenas àquilo que acontece à humanidade e não necessariamente àquilo que a
humanidade precisa, deve ou pretende fazer – indicando uma tendência
aparentemente fatalista e incontornável do fenômeno. Como o controle local é
subsumido a controles globais, “as nações-estados individuais lançadas num
ambiente globalizado têm que jogar o jogo segundo as suas regras e arriscar-se,
caso ignorem as regras, a um severo troco, ou, na melhor das hipóteses, à total
ineficácia dos seus empreendimentos” (BAUMAN, 2000, p.193). A soberania estatal
é compartilhada, partida em múltiplos círculos de decisão, pois mesmo que a
globalização
não
apague
totalmente
a
presença
dos
Estados
na
contemporaneidade, seu papel é tanto “complementado por movimentos sociais e
organizações não-governamentais transnacionais e organizações transnacionais”
(SANTOS, 1997, p.320), quanto por empresas de alcance global que podem
98
barganhar favorecimentos por parte dos Estados na medida das relações de poder
assimétricas que estes mantêm com os demais países.
Dada a separação do poder em relação à política, o primeiro fica adstrito à
esfera econômica, enquanto o segundo, ainda que tramado em tendências globais,
trancafia-se na particularidade de cada Estado e na sua possibilidade de
participação política efetiva no cenário internacional, o que é medido pelo poder das
suas decisões em relação aos demais atores coexistentes nesse espaço. Estes
outros atores, particularmente marcados pelas forças provenientes das empresas
transnacionais e do mercado financeiro global, fazem com que os Estados não
detenham resistência suficiente às exigências decorrentes dos investimentos que
podem sobrevir dessas fontes, sendo que na sua ausência haveria o deslocamento
de capital para regiões mais rentáveis, dispersando o empresariado capaz de
investimentos maciços e ocasionando a desvalorização da moeda nacional31. Dessa
forma, “pode-se facilmente intuir que das inacessíveis e incontroláveis estruturas do
poder das corporações transnacionais se adotam multidões de acordos que limitam
faticamente a capacidade de participação dos cidadãos dos países afetados”
(JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p.88). Por vezes, em virtude dos movimentos da
economia global e do caráter anônimo da profusão de interesses nela diluída, os
Estados nem mesmo tem com quem negociar, discutir ou buscar medidas
alternativas em relação às decisões dessas grandes empresas, o que claramente
“desafia a soberania nacional e põe em perigo a autonomia do Estado-nação”
(BEDIN, 2001, p.319).
Não se pode negar que as competências governativas dos Estados,
especialmente daqueles que não detém participação decisória efetiva no panorama
internacional, ficam condicionadas por diversos programas de intervenção
econômica do Banco Mundial ou a projetos financeiros do FMI, por exemplo. Do
mesmo
31
modo,
as
pressões
das
corporações
transnacionais
promovem
Consoante “cálculos de René Passat, as transações financeiras intercambiais puramente
especulativas alcançam o volume diário de U$$ 1,3 bilhão – cinqüenta vezes mais que o volume de
trocas comerciais e quase o mesmo que a soma das reservas de todos os ‘bancos centrais’ do
mundo, que é de U$$ 1,5 bilhão. (...) Nenhum Estado pode portanto resistir por mais de alguns dias
às pressões especulativas do mercado” (BAUMAN, 1999, p.74).
99
reestruturações em políticas econômicas públicas, realocando recursos a setores
que nem sempre irão beneficiar os cidadãos, quadro este que afeta diretamente o
direito produzido pelos Estados tanto por meio de decisões provindas de
materialidades
formais
de
regramentos
internacionais,
quanto
por
lobbies
internacionais nascidos da informalidade da especulação financeira global cara à
sistemática pós-Bretton Woods. Comprova-se assim o deficitário padrão governativo
dos Estados na contemporaneidade, afetados por uma série de fatores que se
refletem na cidadania ao restringir o potencial de efetiva legitimidade do EstadoNação no plano político, social e econômico.
Conforme já explicado, as formatações sócio-políticas resultantes no Estado
Moderno surgem a partir do século XV em seu feitio Absolutista, caracterizando-se
como uma “forma de organização centralizada e despersonalizada do poder político,
com capacidade de criar o seu próprio sistema de controle dos comportamentos
socialmente conseqüentes” (CARVALHAIS, 2004, p. 25). Da mesma forma, a
cidadania aparece como “instrumento a que a sociedade e o Estado reconhecem
legitimidade e capacidade de participação na esfera das decisões políticas”
(CARVALHAIS, 2004, p. 20), estando ligada tanto a essa centralização do poder
político caracterizador do Estado quanto ao modo de produção capitalista, o qual
veio a se consagrar com o Estado Liberal.
As razões para a disseminação mundial do Estado Moderno são
encontradas na sua capacidade de suprir as exigências do capitalismo assim como
na necessidade de legitimação política da estrutura de governo que sustenta o
próprio Estado, substituindo a fragmentação do poder medieval. A agregação da
população ao Estado, por sua vez, garantiu o pagamento de tributos, o que
desencadeou a expansão do capitalismo. Ao contrário do que se poderia pressupor,
a relação tributária não se mostrou despótica, mas acabou por revelar “uma relação
fundada na idéia de participação e de consentimento democráticos, bem como de
soberania popular” (CARVALHAIS, 2004, p. 27), dando-se assim a legitimação do
Estado-Nação.
Por outro lado, “a emergência dos estados-nações dependeu de duas
condições fundamentais: o desenvolvimento do governo centralizado moderno e da
100
ascensão do nacionalismo” (CARVALHAIS, 2004, p. 46). Seguindo essa lógica,
mostra-se claro que a centralização da política, da justiça e da administração em
uma só entidade deu um lastro mais consistente à necessidade de organização
capitalista. Para legitimar tal controle, seria necessário o estabelecimento de um
sentimento nacional que unificasse também o propósito dos indivíduos envolvidos, o
que resultou no princípio da nacionalidade.
A promoção de um sentimento de nacionalismo exigiu que o Estado
estabelecesse uma série de direitos legitimados pela soberania popular, a exemplo
do monopólio da produção do direito. Se o Poder Legislativo passou a ditar a
legalidade da cidadania e o Poder Judiciário passou a assegurar sua integridade, a
noção de pertencimento a uma Nação trabalhou no sentido de construir uma ordem
simbólica para legitimar o Estado – consagrando a circularidade existente entre a
cidadania, o Estado e a Nação a partir da nacionalidade.
Com o advento do Estado Social, este aparece como um ente regulador e
corretor de imperfeições eventualmente criadas pela ação livre do mercado. Se por
um lado há a aceitação das ações desse mercado, por outro o Estado se
responsabiliza na correção de seus possíveis efeitos maléficos na sociedade,
garantindo, além da segurança contra a violência e a desordem, a regulação do
trabalho e a proteção contra riscos sociais. Ocorreu dessa maneira uma crescente
responsabilização do Estado para com as classes que foram sendo incluídas no
círculo político, posicionadas como credoras de direitos.
Acontece que o processo de integração protagonizado pelo Estado se deu
sem qualquer planejamento, não consistindo uma política auto-sustentável. Frente à
insustentabilidade do sistema, a forma encontrada para o Estado lidar com a
situação foi a flexibilização desses direitos sociais de modo a diminuir a importância
política dos grupos que por eles demandavam, sendo que uma das maneiras de
implementar essa flexibilização consistiu na extrema burocratização para a aplicação
desses direitos, dificultando sua concretização na sociedade.
A globalização, nesse sentido, apenas agravou essa situação social que já
apontava
para
um
colapso
iminente.
Com
o
surgimento
das
empresas
101
transnacionais, por exemplo, questões que antes estavam sob o alcance do Estado,
como o controle de dispensas em massa, transcenderam a regularização nacional,
modificando-se a lógica nacionalista. Se antes “mais emprego era sinônimo de maior
crescimento econômico e, conseqüentemente, de maior bem-estar para todos, (...) o
capitalismo global veio desmantelar esta relação” (CARVALHAIS, 2004, p.86), pois o
crescimento econômico não se tornou compatível com a redução do desemprego,
mas com a redução do número de empregos existentes.
A resposta trazida pela globalização diante dessa crise veio imbuída do
ideário neoliberal, propagando “idéia do Estado como ente inerentemente opressivo,
ineficiente e predador, pelo que o seu enfraquecimento é pré-condição para o
fortalecimento da sociedade civil” (CARVALHAIS, 2004, p. 88). Assim, o
neoliberalismo propôs a reinclusão social dos cidadãos excluídos e a manutenção
social dos cidadãos incluídos para justificar sua demanda por um Estado
enfraquecido. Quanto à reinclusão dos cidadãos excluídos, esta apareceu
consignada a uma natureza individualista e capitalista que sugere que a exclusão
social e a pobreza são responsabilidade dos próprios excluídos, exigindo que estes
construam seu caminho para a inclusão. Já a manutenção da inclusão social dos
cidadãos incluídos sugere que seja repassada “para a Comunidade e para o
mercado a responsabilidade da criação em conjunto dos mecanismos privados que
garantam um sistema de segurança e de proteção social” (CARVALHAIS, 2004, p.
91), defendendo uma fragilização do âmbito governativo do Estado.
Há que se concordar assim com Philippe Manière: “o capitalismo [...] está
por provocar uma inesperada reviravolta: o retorno do cidadão. Pelo mercado” (apud
PASSET, 2003, p.31). A lógica neoliberal favorece a afirmação do cidadão enquanto
consumidor, estabelecendo a relação de consumo como condição de possibilidade
para a cidadania. O chamado “darwinismo social marcadamente individualista”
(BEINSTEIN, 2001, p.83), penetra em todas as esferas da sociedade, resultando em
problemáticas não encontradas com tamanha abrangência em outras épocas.
Se o indivíduo é hoje o pior inimigo do cidadão, e se a individualização
significa problema para a cidadania e para as políticas baseadas na
cidadania, é porque são as preocupações e os interesses dos indivíduos
qua indivíduos preenchem o espaço público, pretendendo ser seus únicos
102
ocupantes legítimos e expulsando todo o resto do discurso público
(BAUMAN, 2008, p.68).
Se a política democrática pode ser entendida como uma tentativa de autolimitação da liberdade dos cidadãos de forma a “liberar os indivíduos para capacitálos a traçar, individual e coletivamente, seus próprios limites individuais e coletivos”,
o individualismo remanescente da vinculação do sentido de “cidadão” ao significado
de “consumidor”, desfavorece a afirmação da cidadania em sua herança histórica
humanista, não concedendo “lugar para a cidadania fora do consumismo”
(BAUMAN, 2000, p.12).
Como “sob o ponto de vista mundial, a cidadania é uma propriedade
desigualmente distribuída e o principal estratificador das chances de vida dos
habitantes do mundo globalizado contemporâneo” (SORJ, 2004, p.23), seu
arraigamento em uma concepção estritamente mercadológica prejudica suas reais
possibilidades de consecução, o que é acarretado pela desigualdade das condições
de consumo entre diversas parcelas da população mundial. No interior dos Estados
também surgem zonas de “não-cidadania” habitadas por grupos economicamente
desfavorecidos, prejudicando a afirmação da individualidade, uma vez que esta,
colonizada pelo potencial de compra, trata-se de uma faculdade distribuída
precariamente.
É visível que esse também é um efeito da “transferência do controle sobre
fatores econômicos cruciais de instituições representativas do governo para o jogo
livre das forças do mercado” (BAUMAN, 2000, p.27), resultando em um diagnóstico
inseparável da porosidade da soberania na contemporaneidade. A igualdade da
distribuição dos direitos de cidadania em uma significação marcada por uma
sociedade identificada com o consumo, torna-se complexa, o que é potencializado
pelo individualismo gerado pela prefiguração da figura do “consumidor” como
condicionante ao patamar do “cidadão”.
Há uma polarização que novamente indica a separação de poder e política
inerente à globalização, de modo que a participação política do cidadão somente é
possível a partir do momento em que este detém poder econômico suficiente para
desempenhar seu papel de consumidor na sociedade. Esse cenário aparenta ser um
103
reflexo da assimetria existente na efetiva possibilidade de participação dos países
nas relações interestatais, onde aqueles que são detentores de maior potencialidade
econômica subsumem os demais aos seus interesses, todos embasados em uma
lógica nitidamente economicista de matriz neoliberal.
Esse traço característico da mundialização vista como a disseminação global
de um mercado consumidor, igualmente afeta a identificação do cidadão à Nação.
Trata-se de uma sintomática que não é causada por um único agente, mas em
conjunto com as possibilidades de diálogo de diversas culturas no âmbito da
multidimensionalidade da globalização, gerando uma profusão de demandas
identitárias que por sua vez podem incorrer tanto em hibridizações, aproximações,
desaparecimentos e afastamentos. O surgimento dessas demandas ocorre ao
mesmo tempo em que a diferença entre as culturas se torna nítida, já que sua
coexistência no espaço mundial, além de implicar suas próprias existências,
relaciona-se com uma necessidade de convivência em um panorama de constante
interpenetração do global com o local e vice-versa.
Considerando-se que a cidadania moderna se dá na medida em que há uma
“identidade construída sobre uma comunidade histórico-cultural” (SORJ, 2004, p.22),
as noções de pertencimento a essa comunidade sofrem o impacto da globalização.
Alejandro Serrano Caldera afirma que “a identidade sempre refere-se à cultura (...)
como conjunto de reflexões e de ações, de criações e de tradições, de formas e
possibilidades, de realidades e perspectivas, de uma comunidade humana
determinada” (2003, p.352). Contrapondo-se, “a crise é a ruptura dos referentes
habituais, de uma sociedade e de uma época, das idéias, sobretudo das crenças e
valores que constituem a finalidade última à qual a pessoa e a coletividade aspiram”
(CALDERA, 2003, p.353). Pode-se assim afirmar que a tradicional identificação do
cidadão com a Nação, ainda que se admita a notável imprecisão da conceituação do
termo, encontra-se em “crise” no que diz respeito ao vínculo cultural e comunitário
que suscita.
Erodindo os laços de pertença medieval, o Estado Moderno construiu uma
“identidade de natureza categórica, objetiva, caracterizada pelo compartilhamento de
determinados atributos por um dado agrupamento” (LUCAS, 2010, p.104). Além de
104
consistir em um território onde há o encontro político, o Estado passou a ser um
local de encontro identitário, legitimando sua atuação tanto por meio de um aparato
jurídico definido, quanto através de uma demarcação imaginária que diferencia
aqueles que pertencem à Nação daqueles que não pertencem. Houve a
possibilidade de diminuição “das complexidades internas, dos choques culturais, das
batalhas territoriais” (LUCAS, 2010, p.98), de maneira que a própria defesa das
fronteiras do Estado-Nação corresponde a uma marca material e imaterial de
diferenciação daqueles que pertencem àquele lugar em relação aos demais.
Em resposta à fragmentação medieval, a cidadania nacional contribuiu para
a sedimentação do Estado-Nação e para a propagação do modo de produção
capitalista, reunindo uma diversidade de culturas que eventualmente poderiam
demonstrar atrito na unidade do monopólio estatal, o que de forma alguma se deu
sem a negação de direitos a minorias e sem a repressão de povos tidos como
“inferiores”, denotando também a vocação expansionista do Estado Moderno na
conquista de outros territórios e a reivindicação do nacionalismo como ideologia
xenófoba na busca de uma “pureza racial” na particularidade das fronteiras estatais.
O Estado passou a ser o único local onde alguém pode constituir uma identidade e a
única via para o acesso aos direitos, caracterizando assim a cidadania.
No cerne do Estado-Nação, os princípios de comunidade e indivíduo
“embasam as duas idéias fundadoras da cidadania moderna: a soberania do povo e
a igualdade dos cidadãos perante a lei” (SORJ, 2004, p.25). Quando essa soberania
popular é afetada pela ineficácia governativa dos Estados e quando a igualdade dos
cidadãos deixa de se estabelecer em razão do direito, mas pela tentativa de
homogeneização consumista propagada pela mundialização de determinados usos
e costumes, o que promove o surgimento de uma desigualdade crônica entre os
cidadãos e aqueles que são destituídos do atributo da cidadania pelo fato de não
deterem a alcunha de “consumidores”, a identificação entre cidadão e Nação sofre
um forte abalo.
Esse movimento é acompanhado pela extrapolação de fronteiras inerente à
globalização, fazendo com que os limites territoriais do Estado não mais sejam uma
condição para o estabelecimento de uma identidade. Paradoxalmente, essa última
105
característica faz com que alguns, dotados de uma capacidade econômica que
possibilita a fruição dos benefícios contemporâneos, possam circular livremente pelo
globo, enquanto outros, em estado de fragilidade financeira, fiquem presos ao local.
Vê-se novamente que pela lógica neoliberal a cidadania é distribuída de modo
desigual, propiciando a certos indivíduos, ao menos nas margens de uma
conceituação que vincula diretamente as figuras do “consumidor” e do “cidadão”, o
título efetivo de “cidadão global”.
Dessa maneira,
[...] o conjunto de semelhanças e de convergências de modos de vida, de
concepções e de representações que a globalização produz e impõe aos
seus diferentes atores é diretamente responsável pelo aparecimento de
reivindicações identitárias, sejam étnicas ou nacionalistas, como formas de
produzir e aguçar a diferença nesse mar de semelhanças (LUCAS, 2010,
p.107).
Posicionando expoentes a estas constatações, a extrapolação dos
problemas fronteiriços, restritos aos limites do Estado, característicos de uma
sociedade de risco, apontam para o esvaziamento não só da soberania, mas da
cidadania nacional diante da globalização. O Estado, como elemento jurídicopolítico, e a Nação, como elemento histórico-cultural, não mais produzem vínculos
sólidos de pertença em uma realidade de pluralidade cultural estatal e interestatal. A
complexidade dessas questões que rapidamente ganharam contornos globais ou
mundiais, vai de encontro às formatações histórico-teórica do Estado-Nação e
histórico-política da cidadania, o que, se não propugna o desaparecimento dessas
figuras, resulta em uma realocação incerta dos seus componentes nessa conturbada
contemporaneidade.
Nota-se que o desenvolvimento técnico trouxe inúmeras e novas fatorações
à sociedade. O Estado, antes centro das relações internacionais, passa a conviver
com vários atores internacionais em meio a um pluralismo jurídico global e ao
enfraquecimento da própria positividade do direito diante das multideterminadas e
multiconseqüentes problemáticas atuais. A cidadania, em choque com esses
desdobramentos, é afetada em todas as suas esferas, fazendo com que a
multidimensionalidade da globalização penetre os pormenores da vida humana. A
plurivalência dessa realidade a caracteriza
106
[...] como coisa nova. Como período, as suas variáveis características
instalam-se em toda parte e a tudo influenciam, direta ou indiretamente. Daí
a denominação de globalização. Como crise, as mesmas variáveis
construtoras do sistema estão continuamente chocando-se e exigindo novas
definições e novos arranjos (SANTOS, 2008, p.34).
Nesse terreno complexo, a sociedade internacional moderna dá espaço à
sociedade internacional contemporânea, a qual, configurando-se principalmente com
a criação das Nações Unidas em 1945 e a dissolução da União Soviética em 1989,
redunda em uma nova distribuição do poder nas relações internacionais
característica da planetarização da política. Da mesma forma, a emergência dos
direitos humanos como um tema global, tido como universal e extensível a todos os
seres humanos independente da sua nacionalidade e portanto da sua vinculação a
determinado Estado, demanda a necessidade de um tratamento diferenciado das
figuras da cidadania e do Estado-Nação, abrindo um leque de possibilidades que de
modo algum podem ser ignoradas.
107
3 PLANETARIZAÇÃO DA POLÍTICA E CIDADANIA PÓS-ESTATAL
Seguindo-se a estruturação proposta, o terceiro capítulo trata primeiramente
das principais diferenciações inerentes à sociedade internacional moderna em
relação à sociedade internacional contemporânea. Destaca-se que o Estado, antes
entidade absoluta das relações internacionais, convive no espaço mundial com
diversificados atores, o que traz à tona a configuração de uma sociedade
internacional marcada pela criação das Nações Unidas em 1945, pela desagregação
da União Soviética em 1989 e pela multidimensionalidade dos processos
globalizadores.
Em um segundo momento, a universalidade dos direitos humanos será
relacionada à necessidade da sua internacionalização para possibilidade real de
concretização, o que levará à averiguação das possibilidades da cidadania pósestatal em um contexto de planetarização política. Necessário ressaltar mais uma
vez que o objetivo da pesquisa consiste em tão-somente analisar quais são as reais
chances atuais de uma cidadania desvinculada do Estado, pautando-se, para tanto,
em um diagnóstico panorâmico do cenário internacional a fim de averiguar essas
possibilidades.
3.1 A sociedade internacional moderna
O desenvolvimento do Estado-Nação está intimamente ligado à emergência
da Idade Moderna. Na busca da superação política de uma realidade baseada na
supremacia do Sacro Império Romano-Germânico e na fragmentação do poder
feudal, se a modernidade se desenvolveu sob o primado da razão, por via reflexa
desenvolveu sua organização sócio-política por excelência a partir dessa
racionalidade, o que é denunciado pelo Renascimento que acompanhou o
surgimento do Estado Moderno. Uma “gradual substituição das relações de
produção feudal, a formação da instância estatal nacional-soberana e o imperativo
para uma visão norteadora dominada pela individualidade estão presentes naquele
momento de criatividade e ‘renascimento’ do espírito humano” (WOLKMER, 2008,
p.110). O Estado remanescente é adjetivado como “moderno” na medida em que
racionaliza sua operacionalidade jurídico-política centralizada pela soberania,
108
inaugurando uma nova etapa na distribuição do poder mundial cujo protagonista é o
Estado-Nação.
Ao longo dos séculos XV, XVI e XVII, lentamente se desenhou um panorama
que propiciou o nascimento dessa peculiar forma de organização social típica da
modernidade. Ainda que existam posicionamentos que verifiquem a ocorrência do
Estado desde outras épocas, a especialidade do Estado Moderno se distingue das
demais formas de organização social no sentido de que se estas eram baseadas em
um
poder
relativamente
descentralizado,
o
Estado
Moderno
reivindica
a
centralização do poder, configurando-se como centro de possibilidades de ações
jurídico-políticas organizadas.
Mesmo que não se queira evidenciar balizas precisas para a determinação
do momento no qual surgiu o Estado, até porque o mesmo foi fruto de um complexo
e multideterminado processo histórico, pode-se alegar que o acontecimento que
culminou na sua afirmação definitiva foi a Paz de Vestfália de 1648. Composta pelos
Tratados de Münster e Osnabruck, Vestfália pôs fim à Guerra dos Trinta Anos,
conflito armado que envolveu toda Europa e do qual erigiu a definição do Estado a
partir do clássico trinômio composto basicamente por população, território e
soberania.
O desdobramento dessa definição encontrou base teórica principal em
Maquiavel, Bodin e Hobbes. Enquanto Maquiavel tratou da especificidade da esfera
política, a qual seria a partir de então eminentemente secular, Bodin desenvolveu o
próprio conceito de soberania como atributo maior do Estado, restando à Hobbes a
investigação de uma justificativa para esse poder. A soberania, em suas
manifestações interna e externa, passou a ser uma atribuição especificamente
estatal, o que não nega algumas variações na sua configuração sócio-política
partida do transcorrer das modulações estatais Absolutista, Liberal e Social
adicionada às relações interestatais.
Segundo Liliana Lyra Jubilut, a dupla face da soberania pode ser assim
entendida:
109
[...] a face interna (...) trata da relação entre o Estado e seus cidadãos – na
medida em que aquele regulamenta as relações entre esses, dado que
delimita os poderes individuais e o poder a que cada cidadão deve
obedecer, ou seja, a autonomia, e (...) a face externa (...) trata da exclusão
de qualquer outro poder semelhante dentro de um determinado território,
isto é, da relação entre o Estado soberano e os demais Estados (...) (2010,
p.33).
O que se vê é que a delimitação da soberania nos âmbitos interno e externo
é fundamental para o estabelecimento de uma nova distribuição do poder em escala
mundial. O equacionamento dos limites da atuação estatal está diretamente ligado à
coexistência dos Estados. Definem-se esses limites com base em um território onde
determinado agrupamento humano é regido por uma organização jurídico-política
que vincula todos os membros que ali se encontram, dando ao Estado Moderno um
caráter jurisdicional adstrito às suas fronteiras. A soberania propicia uma
legitimidade para a emergente configuração política moderna alicerçada no EstadoNação. Como internamente os Estados são independentes e externamente
autônomos, reside aí o traço fundamental da sociedade internacional, segundo a
qual o foco das relações se encontra fundado na soberania dos Estados.
Das Conferências de Paz que marcaram Vestfália32, erigiu uma série de
princípios fundamentais que sedimentaram o Estado Moderno como ente político
soberano. Antes de consistirem em formulações compartimentalizadas, tais
princípios devem ser vistos em conjunto com a finalidade de estabelecer uma ordem
internacional ao mundo. Com a aceitação dos Estados no que diz respeito à sua
coexistência com várias entidades políticas independentes, autônomas e iguais
entre si – ou seja: outros Estados –, havendo também a necessidade do surgimento
de um direito que visasse uma regulação das suas relações, estatui-se esse modelo
internacional de sociedade onde, ao menos inicialmente, os Estados são os únicos a
possuir legitimidade na esfera das relações internacionais.
32
Conjugadas à Vestfália, o Tratado de Utrecht, de 1713, a “independência dos Estados Unidos da
América, em 1776, consolidada em 1783, com sua aceitação pela Inglaterra”, a “Revolução Francesa,
iniciada em 14 de julho de 1789”, a qual apagou “os últimos vestígios do período feudal” quando
pregou a igualdade civil e o respeito aos estrangeiros, o Congresso de Viena, de 1815, onde foi
consagrada “a liberdade de navegação nos rios internacionais” e a diplomacia passou “a se basear
na igualdade entre os Estados”, proibindo-se também o tráfico de escravos (DEL’OLMO, 2006, pp.89), consistiram em fatorações fundamentais para a afirmação histórica da sociedade internacional
moderna. Seguidas pelas unificações italiana e germânica, respectivamente de 1861 e 1871,
constituem acontecimentos que somente vieram a respaldar as conquistas de Vestfália.
110
Assim é que o princípio da soberania dos Estados trouxe consigo o
reconhecimento da igualdade entre os Estados e por consequência a sua liberdade
religiosa. Com a intenção de se reduzir os conflitos, houve a institucionalização das
conferências de cúpula e da diplomacia, a aceitação do princípio da integridade
territorial e o surgimento do direito internacional público, para o qual “o Estado era
visto como um ente soberano, soberbo, o único sujeito capaz de criar direitos e gerar
obrigações no âmbito internacional”, de modo que seria “detentor de um poder
supremo [e] ilimitado” (AMARAL, 2007, p.14). Quando os Estados se declaram
soberanos, “não reconhecem nenhuma autoridade acima deles” (DUPUY, 1993,
p.5), passando a soberania a ser “a derradeira fonte de autoridade e poder político
dentro de um domínio” (MORRIS, 2005, p.257). Pode-se falar do surgimento do
direito internacional público no momento em que essa soberania dos Estados é
declarada, de forma que a existência de regras mínimas para regular suas relações
em um cenário que propugna a igualdade entre os Estados, é fundamental para a
conjuntura de pretensões tida a partir de Vestfália.
Quando Bodin afirma que a soberania é um poder absoluto e perpétuo,
dotado de exclusividade sobre todos os demais, sendo seguido por Hobbes na sua
justificativa do poder estatal com a intenção de propiciar a civilidade – referindo que
sem o Estado há anarquia e com o Estado há unidade –, a configuração externa da
soberania ganha contornos histórico-teóricos33 bem definidos, delineando a
33
A proposta do presente capítulo no âmbito da diferenciação entre a sociedade internacional
moderna e a sociedade internacional contemporânea, é no sentido de demonstrar as especificidades
de cada uma, tencionando a formulação das suas diferenciações básicas. Por conta disso, não será
dada ênfase ao trato teórico que respaldou o surgimento de uma e outra configuração social, bem
como não serão abordados os paradigmas políticos que sustentam suas conformações, salvo
algumas referências explicativas. Entretanto, é preciso referir que antes de Vestfália, argumentos
centrais da sociedade internacional moderna foram gestados principalmente em razão da chegada
dos europeus à América. Apesar de Francisco Suarez, Alberico Gentili e Hugo Grotius serem tidos
como fundadores da teorização relativa à sociedade internacional, foram precedidos pelo espanhol
Francisco de Vitoria. No século XVI, Vitoria contestou os argumentos legitimadores da conquista, a
exemplo do direito de descobrimento (ius inventionis) e da idéia de que o domínio espanhol se
sustentava pelo postulado da universalidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Ao contrário,
Vitoria enraizou sua proposta em três eixos: “a) a configuração da ordem mundial como sociedade
natural de Estados soberanos; b) a teorização de uma série de direitos naturais dos povos e dos
Estados; c) a reformulação da doutrina cristã da ‘guerra justa’, redefinida como sanção jurídica às
iniuriae (ofensas) sofridas” (FERRAJOLI, 2007, p.7). A primeira proposição de Vitoria é importante no
sentido de que propugna a coexistência de Estados soberanos, independentes e livres. Esses
Estados, em sua organização interna, estariam regulados pelo direito criado por eles mesmos, ao
passo que externamente obedeceriam às regras do direito das gentes (ius gentium), o qual, de
origem romana, consoante José Reinaldo de Lima Lopes, caracteriza-se por “instituições encontradas
111
sociedade internacional moderna “como uma estrutura política anárquica, no sentido
da inexistência de um sistema de governo sobre as unidades estaduais, em que
prevalece os interesses nacionais e a luta pelo poder, sendo cada unidade política
igualmente soberana como todas as demais” (BEDIN, 2001, p.22). Se os Estados
não reconhecem outras normas que não aquelas provenientes deles mesmos, “o
Estado é ao mesmo tempo a fonte do Direito Internacional e o seu sujeito” (DUPUY,
1993, p.13), sustentando-se a ordem internacional em um precário teor relacional
dependente unicamente da vontade dos Estados. “Por conseguinte, a guerra é uma
solução normal e, longe de ser proscrita como um crime, encontra-se regulamentada
no seu exercício” (DUPUY, 1993, p.13), o que, como observa Raymond Aron, dá-se
pela “ausência de uma instância superior que detenha o monopólio da violência
em grandes linhas em vários ou todos os povos” (2008, p.36). De base jusnaturalista fincada na
premissa da existência de uma moralidade universal que vincularia todos os Estados às suas regras,
o direito das gentes serviria como freio ao desenfreado expansionismo estatal, igualmente obrigando
os Estados à obediência de certas regras para sua coexistência. Esse direito das gentes, como regra
universal que afetaria todos os povos, ao passo que afirma a soberania externa dos Estados, cria
condições mínimas para sua convivência, o que diz do segundo argumento de Vitoria. O conceito de
“guerra justa” ou da “licitude da guerra”, entretanto, é o fator fundamental que emancipa o Estado
Moderno em sua qualidade soberana. Como os Estados estão submetidos ao direito das gentes e
inexiste qualquer poder que possa freá-los, o direito de reparação sustenta a própria efetividade do
direito internacional ao afirmar a supremacia estatal. Ao deslegitimar “o antigo flagelo das guerras
civis”, a necessidade e a licitude da guerra “torna-se o traço mais significativo e inconfundível da
nascente soberania externa dos Estados” (FERRAJOLI, 2007, p.13), pois mesmo que haja a
permissão do conflito, existem determinadas regras de direito que devem ser obedecidas, como a
proibição de massacres, saques, vilipêndio a mulheres e crianças e o emprego de uma violência
restrita aos campos de batalha, de forma que não afete a totalidade da população. As concepções de
Vitoria, posteriormente desenvolvidas por Suarez, Gentili e Grotius, legitimam a conquista européia
no sentido de que também afirmam um direito de anunciar e pregar o Evangelho (ius praedicandi et
annuntidandi Evangelium), bem como a chamada “correção fraterna” ou “censura fraternal” (correctio
fraterna), possibilitando a imposição de um ideário eurocêntrico aos povos ameríndios. Paralelo a
isso, o direito de viajar (ius peregrinandi), o direito de permanecer (ius degendi), o direito do comércio
(ius commercii), o direito de ocupação (ius occupationis) e o direito de migrar (ius migrandi), este
último autorizando ao colonizador a aquisição de cidadania nas terras recém descobertas pela
Europa, permitem evidenciar que as formulações de Vitoria trazem um caráter nitidamente ideológico
ao legitimar o colonialismo a partir de práticas desiguais de direitos pretensamente universais. Mesmo
assim, a idéia de uma sociedade de Estados soberanos e iguais sustentada por premissas
jusnaturalistas somada à noção de “guerra justa” como forma de criar uma espécie de justiça entre os
Estados fundada no direito das gentes, é fundamental à afirmação externa da soberania estatal. A
importância de Vestfália no contexto da imperatividade da soberania externa reside no fato de que a
partir dela houve um processo de absolutização e secularização dessa qualidade, de maneira que o
próprio direito das gentes, visto por Vitoria com bases jusnaturais, será abordado por Grotius como
um compêndio de regras nascido do consenso entre os Estados, de onde se pode afirmar que se
Vitoria foi o fundador do direito internacional público, Grotius foi seu sistematizador. Seguindo essa
linha, Ricardo Zouch, Samuel Pufendorf, Cornélio van Bynkershoek, Christian Wolff, Emerich de
Vattel e Georges-Frederic Von Martens, igualmente são autores que contribuíram para o
desenvolvimento da disciplina, o qual se dá em paralelo ao estabelecimento da sociedade
internacional. Mesmo que um aprofundamento no âmbito do direito internacional público não seja
condigno com os objetivos desse estudo, essas referências servem como norte básico para a própria
delimitação da sociedade internacional moderna e suas especificidades em relação à sociedade
internacional contemporânea.
112
legítima” (1986, p.382) como ocorre no interior dos Estados, aparecendo o direito
internacional público como limite às divergentes vontades estatais.
Sendo que o ambiente internacional é marcado pela anarquia, visto que as
relações entre os “Estados não são regulamentadas por um poder comum”
(BOBBIO, 1997, p.77), enquanto o reflexo interno da soberania possibilita o
monopólio do poder, seu reflexo externo diz da descentralização do poder, já que
inexiste qualquer instituição central ou mesmo um conjunto de instituições aptas a
desempenhar funções governamentais. Enquanto a política ordinária – entendida
como política nacional – pressupõe a existência de um sistema jurídico centralizado,
a política internacional parte do reconhecimento da descentralização e da
fragmentação da política entre os Estados. Constata-se que no cenário internacional
predomina a luta pelo poder, em “que os Estados não admitem arbítrio, tribunal, ou
lei superior à sua vontade”, devendo “sua existência e segurança a si próprios e a
seus aliados” (ARON, 1986, p. 189).34
Disso se percebe que a sociedade internacional moderna é “universal (...),
paritária (...), interestatal (...), aberta (..) [e] descentralizada” (DEL’OLMO, 2006,
pp.3-4), de onde se extrai que a onipresença da soberania e a descentralização
política apresentam o espaço anárquico existente nas relações internacionais. Essa
anarquia, porém, não é absoluta, pois se fosse nem mínimas regras existiriam.
34
Consequentemente, não se pode falar em uma comunidade internacional, mas apenas em uma
sociedade internacional. Como demonstra Esther Barbé, “as formas sociais comunitárias seriam
aquelas de caráter orgânico, baseadas numa ‘vontade essencial’, que converte os indivíduos em
‘células de uma entidade social com fins supra-individuais”, enquanto a sociedade se basearia
“somente na ‘vontade arbitrária, em relações mecânicas, garantindo a independência e personalidade
de seus membros, e estando, em definitiva, condicionada pelos interesses destes e não por uma
finalidade coletiva” (apud BEDIN, 2001, pp.184-185). Se o termo “comunidade” implica “uma forma de
vida em que não há dominação, existe uma cumplicidade, a agregação entre os membros é
espontânea e a convivência se torna harmônica e participativa” (DEL’OLMO, 2006, p.2), de modo
algum se pode empregar essa designação para se referir ao sistema internacional de Estados.
Embora existam posicionamentos contemporâneos que a empregam em razão da crescente
interdependência gerada pelos multidimensionais efeitos da globalização, a heterogeneidade desse
cenário reduz as possibilidades de emprego do termo. Ainda no que diz respeito à caracterização das
relações havidas entre os Estados, é de se questionar se mais adequado não seria designá-las como
relações interestatais ao invés de relações internacionais. O termo “internacionais” remete à Nação,
ao passo que o termo “interestatais” remete ao Estado, de modo que a lógica levaria ao emprego do
segundo em descrédito do primeiro. Ocorre que mesmo havendo essa “melhor adequação da
expressão ‘relações interestatais’, na atualidade, não é mais possível mudar-se a terminologia: a
expressão relações internacionais está consagrada e é consensualmente utilizada” (BEDIN, 2001,
p.178), designando as relações que ocorrem entre os Estados. Assim é que o emprego da expressão
“relações internacionais” é correlata à “relações interestatais” nos limites desse trabalho.
113
Emprega-se o termo “anarquia” para propor que inexiste qualquer poder que possa
se sobrepor à soberania estatal. Com essa adjetivação, não se nega que no campo
dos assuntos internacionais, como expõe Martin Wight, existe cooperação e conflito,
“um sistema diplomático e o direito internacional e instituições internacionais que
complicam ou modificam o andamento da política de poder” (1985, p. 85), de
maneira que falar em uma anarquia completa é impossível, assim como não se pode
falar de um absolutismo soberano no sentido estrito expresso por Bodin. Há, de
outro modo, “uma ordem de coordenação, e não de subordinação, como ocorre no
direito interno” (AMARAL, 2007, p.13), contrapondo-se a centralização da
imperatividade da ordem nacional à descentralização da coordenação internacional.
Como os Estados não reconhecem qualquer entidade acima da sua
qualidade soberana, há uma supremacia da política de poder interestatal no sentido
de que as relações internacionais são regidas pela suspeita permanente existente
entre os Estados. Para a configuração dessa peculiar espécie política, deve ser
levado em conta primeiramente o poder político, entendido em suas duas formas
específicas vinculadas à diplomacia e à guerra, de onde se percebe a capacidade
que tem determinado Estado de impor sua vontade aos demais. Correlativamente, a
potência de um Estado se vincula à sua capacidade de aplicação da força em
circunstâncias específicas, onde conjunturas militares, políticas e econômicas irão
traçar seu papel nas relações com outros Estados.
Consoante Bedin (2001), essa potência advinda do poder político se
planifica em relação a um ou demais Estados, visando manter, ampliar ou
demonstrar o poder que o Estado possui. Segundo Hans Morgenthau, três tipos de
políticas remanescem: a política de defesa, a política de imperialismo e a política de
prestígio. Quanto à primeira, diz da defesa do status quo estatal tendendo à
conservação do poder e ao emprego de meios que possibilitem a inexistência da
diminuição da influência de determinado Estado em relação aos demais. Já a
segunda trata de intenções imperialistas no sentido de que o Estado visa a aquisição
de maior representatividade nas relações internacionais, tendendo a políticas que
propiciem alterações favoráveis ao status quo estatal na distribuição mundial de
poderes. A terceira se relaciona a uma política externa ostensiva, de modo que
possa demonstrar aos demais Estados o poder do país que a possui, servindo como
114
um meio que possibilita a aplicabilidade das políticas de defesa e imperialista.
Independente de qual seja a política adotada, ela sempre visará o poder do Estado
quanto a sua manutenção, ampliação ou demonstração.
Desse quadro é que surge a necessidade de um sistema de equilíbrio de
poder entre os Estados, sendo que nenhuma potência pode ser tal que coloque em
risco a igualdade dos membros. Esse sistema de equilíbrio de poder, o qual compõe
o núcleo fundamental da sociedade internacional moderna, constitui “o principal
instrumento utilizado (...) para tentar frear o poder e para tentar propiciar um cenário
de paz e de estabilidade entre os diversos Estados modernos” (BEDIN, 2001, p.194)
Com a intenção de possibilitar uma distribuição minimamente equitativa do poder,
freando sua excessiva expansão e propiciando o surgimento de um cenário onde
impera a paz, o sistema de equilíbrio de poder funciona com base em três
imperativos: garantia da independência e da sobrevivência dos Estados,
manutenção do sistema do qual o Estado é membro e impedimentos à dominação
desse sistema por quaisquer dos seus integrantes.35
35
Na observação de Barry Barnes, “o poder é uma categoria que se faz sentir por seus efeitos, assim
como ‘gravidade e eletricidade’” (apud OLSSON, 2007, p.46). Isso leva ao reconhecimento de que “o
estudo do poder, ao longo do tempo, tem transitado entre um debate contraposto entre a sua questão
empírica e a sua questão normativa”: como questão empírica, o poder é visto como “uma realidade a
ser enfrentada”; como questão normativa, pretende-se saber “como o poder pode ser regulado”
(OLSSON, 2007, p.48-49). Fazendo-se sentir por seus efeitos, é palpável que no âmbito da
sociedade internacional moderna a dimensão empírica sobreponha a dimensão normativa. Trata-se
de uma sociedade relacional e não de uma sociedade institucional, no sentido de que a coordenação
irrompe a subordinação. Se no plano interno o poder soberano do Estado é freado pelo direito, dando
espaço à afirmação do próprio Estado de Direito, no plano externo esse poder soberano somente tem
a possibilidade de ser freado mediante a relação com outros poderes soberanos. Surgem, a fim de
propiciar uma mínima igualdade entre os membros do sistema, medidas que possibilitem um
equilíbrio na distribuição do poder, de maneira que nenhum Estado possa dominar o sistema e assim
o extinguir, dado o fato de que essa dominação anularia a paridade entre os membros da sociedade.
Assim é que mesmo se reconhecendo a prevalência da dimensão empírica sobre a dimensão
normativa na distribuição de poder internacional, a normatividade dessas relações, ainda que
baseada grande parte em princípios que necessitam da aquiescência dos Estados para sua
efetivação, é tão importante quanto a dimensão empírica, embora detenha a possibilidade de se
traduzir em um precário equilíbrio que apenas sustenta uma coexistência básica entre os membros
da sociedade internacional. Daí é que se pode dizer que apesar da anarquia não ser absoluta nas
relações interestatais, a normatividade igualmente não é, configurando-se a sociedade internacional
moderna como uma teia de relações sustentada por posicionamentos advindos do poder dos seus
membros no sistema. É preciso igualmente referir que o poder, consoante Peter Morris,
compreendido como “um conceito disposicional, não é uma coisa (um recurso ou veículo) nem um
evento (um exercício do poder); é uma capacidade” (apud OLSSON, 2007, p.71). Mostrando-se o
poder através dos seus efeitos como uma determinada capacidade para atingir certos resultados em
um dado sistema social, vê-se também que essa capacidade é subsumida pela posição do agente
nesse sistema bem como pelos meios que dispõe para atingir os resultados almejados. Necessário
relevar, porém, que apenas dispor de meios para atingir resultados não caracteriza o poder, sendo
115
Para que esse sistema de equilíbrio de poder funcione, é necessário que os
Estados observem os seguintes princípios gerais:
a) os Estados participantes podem aumentar os seus poderes e as suas
capacidades, mas devem aceitar a responsabilidade de negociar as suas
divergências em vez de as combaterem;
b) uma vez que o aumento de poderes e das capacidades é o primeiro
motivo da política internacional, os Estados devem estar prontos a lutar, se
necessário, mais do que a renunciar ao maior desenvolvimento desses dois
fatores;
c) havendo guerra, os Estados devem estar preparados para terminar o
combate, mais do que dispostos a destruir os fundamentos do sistema de
equilíbrio de poder, eliminando um dos participantes;
d) cada participante, no sistema, deve contestar qualquer tendência para o
predomínio de qualquer Estado ou coligação, impedindo o domínio de um
dos lados da balança;
e) visto que o sistema é construído com base no poder dos Estados, os
participantes devem contrariar qualquer tendência na direção da construção
de uma organização supranacional ou de organizações que alterem o
estatuto soberano dos Estados participantes do sistema;
f) após a finalização de uma guerra, cada participante deve consentir que os
países derrotados restaurem as suas posições no sistema e encorajem
agentes menores a obterem o estatuto de participantes plenos do sistema.
Todos os Estados maiores devem ser tratados como participantes
igualmente aceitos no sistema (BEDIN, 2001, pp.198-199).
Com o intento de efetivar tais princípios, a sociedade internacional moderna
conta ainda com três instituições fundamentais: a diplomacia, as alianças e a guerra.
Essas instituições servem à construção de uma comunicação interestatal que
observe os princípios de equilíbrio de poder que permitem um equacionamento da
sua distribuição entre os Estados. A diplomacia36, nesse contexto, revela-se como o
que o modo de emprego dessa disposição é que o evidencia, de onde provém sua característica
disposicional. Na sociedade internacional moderna, há uma igualdade formal na distribuição de poder
convivendo com uma desigualdade material que denuncia a capacidade de certos membros – e
portanto seu poder. Disso decorrem as assimetrias típicas dessa sociedade, surgindo igualmente, em
razão da prevalência do caráter empírico sobre o caráter normativo, a precariedade da sua ordem –
que direciona o emprego do termo “anárquica” para designá-la.
36
A representação diplomática, consolidada segundo os parâmetros atuais em Vestfália, concretizase em função do direito de legação, o qual “consiste no estabelecimento de relações diplomáticas e o
envio das missões pertinentes, mediante o consentimento dos países envolvidos” (DEL’OLMO, 2006,
p.171), demonstrando que “a forma mais segura de exercício da soberania é a manutenção efetiva,
por intermédio dos seus próprios agentes e em pé de igualdade, de relações diplomáticas e
consulares com outros Estados soberanos” (AMARAL, 2007, p.65). O aperfeiçoamento e a
regulamentação formal da diplomacia foram atingidos com a Convenção de Viena sobre Relações
Diplomáticas e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1961, ambas criadas e
aprovadas pelas Nações Unidas. Segundo Gustavo Bregalda Neves, os agentes diplomáticos são “as
pessoas que, nomeadas pelo chefe de Estado, são responsáveis pela representação do próprio
Estado em território estrangeiro, perante o governo” (2010, p.64). Consultando Vicente Marotta
Rangel, verifica-se que o artigo 3° da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas estabelece
as seguintes funções inerentes à diplomacia: “a) representar o Estado acreditante perante o Estado
116
mais importante instrumento relacionado à política internacional, já que através de
um conjunto de técnicas e processos historicamente definidos detém a intenção da
manutenção de uma relação pacífica entre os Estados. As alianças37, por outro lado,
permitem que os Estados se posicionem de forma mais favorável na distribuição do
poder, fortalecendo-se em caso de guerra, estabelecendo vínculos comerciais que
propiciem crescimento econômico mútuo, assim como ampliando cooperações
científicas e tecnológicas que tragam benefícios aos seus membros.
acreditado; b) proteger no Estado acreditado os interesses do Estado acreditante e de seus
nacionais, dentro dos limites permitidos pelo direito internacional; c) negociar com o Governo do
Estado acreditado; d) inteirar-se por todos os meios lícitos das condições existentes e da evolução
dos acontecimentos no Estado acreditado e informar a esse respeito o Governo do Estado
acreditante; e) promover relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, culturais e
científicas entre o Estado acreditante e o Estado acreditado” (2002, pp.256-257). A “tarefa desses
agentes é essencialmente relacional: representação, negociação (...), informação [e] protecção dos
nacionais” (DUPUY, 1993, p.45). Os cônsules, por sua vez, “não estão encarregados de representar
o Estado, mas simplesmente de facilitar a estada dos seus nacionais no estrangeiro” (DUPUY, 1993,
p.46). Os agentes consulares “são funcionários públicos dos Estados enviados para proteção de seus
interesses e também de seus nacionais, com funções pelo Poder Executivo” (NEVES, 2010, p.68).
Dividem-se os cônsules em duas espécies: os honorários ou electi, “eleitos entre os nacionais do
Estado em que servirão”, e os de carreira ou missi, “eleitos entre os nacionais do próprio Estado, para
proteção de seus nacionais e dos seus interesses em outros Estados” (NEVES, 2010, p.69). O artigo
5° da Convenção de Viena sobre Relações Consulares enumera várias funções aos cônsules, todas
consignadas à proteção dos interesses estatais, relevando-se, porém, que a categoria fundamental
aqui tratada diz respeito às atribuições da diplomacia.
37
Com relação às alianças, “não se pode esquecer que os Estados adotam, apenas em situações
excepcionais, posturas isolacionistas e auto-suficientes no interior da sociedade internacional
moderna. Por isso, o estabelecimento de alianças é uma forma de o Estado buscar integrar-se no
sistema internacional e melhor posicionar-se no jogo político estabelecido pelo sistema de equilíbrio
de poder, com o objetivo de garantir a segurança do Estado e de promover seus interesses em
relação aos demais participantes da sociedade internacional moderna” (BEDIN, 2001, p.206). “Ao sair
das transformações que se seguiram à revolução e às campanhas napoliónicas, [a Europa] assistiu à
constituição de alianças, destinadas não tanto a provocar guerras, mas a evitá-las e a permitir um
desenvolvimento do comércio entre as nações” (DUPUY, 1993, p.15).
117
A guerra38, como terceira e última principal instituição da sociedade
internacional moderna, relaciona-se à política de poder na medida em que implica na
imposição do interesse de um Estado em relação a outro com o intento de submetêlo à sua vontade soberana. Trata-se de um recurso extremo e tão importante quanto
a diplomacia e as alianças, uma vez que influencia na distribuição de poder das
partes envolvidas, de onde se vê que as relações internacionais na sociedade
internacional moderna são nitidamente relações de poder advindas do reflexo
externo da soberania estatal.
Dessa maneira é que a sociedade internacional moderna apresenta sete
padrões constitutivos principais:
a) é uma sociedade universal, porque abrange todas as entidades políticas
soberanas do globo terrestre;
b) é uma sociedade aberta, pois toda nova entidade política reconhecida
como soberana passa a fazer parte, imediata e automaticamente, de sua
organização;
c) é uma sociedade igualitária, visto que todos os seus membros possuem
os mesmos direitos e obrigações, já que todos se constituem como
entidades soberanas;
d) é uma sociedade sem poder supranacional, onde cada membro da
sociedade é árbitro legítimo de suas próprias convicções;
e) é uma sociedade descentralizada, pois o poder é exercido de forma
dispersa pelos vários participantes da sociedade;
f) é uma sociedade que não estabeleceu o monopólio da coação física
legítima e nem órgãos centralizados para exercer as funções derivadas
desse eventual monopólio;
g) é uma sociedade que possui uma moral e um direito muito específicos,
diferentes de todas as disposições éticas e jurídicas de cada uma das
38
Consoante Hee Moon Jo, a guerra pode ser definida como um “conflito armado entre os sujeitos de
Direito Internacional com a intenção clara de submeter o outro à sua vontade” (apud NEVES, 2010,
p.113). Desentendimentos entre Estados soberanos “podem conduzir essas tensões até o conflito
armado”, sendo “a guerra um processo com efeitos jurídicos, justificados pela carência institucional
da sociedade relacional” (DUPUY, 1993, p.82). A guerra começa com a declaração formal de uma
das partes envolvidas e termina com um tratado de paz, o qual põe fim à beligerância e restaura as
relações diplomáticas entre os Estados. Isso ocorre porque a “guerra põe fim a todas as relações
pacíficas entre os litigantes, como diplomáticas, consulares e comerciais, cessando as normas do
Direito Internacional comum, aplicando-se entre eles as diretrizes do direito da guerra”, relevando-se
que “os nacionais do Estado inimigo residentes no país devem ter os seus interesses protegidos por
terceiro Estado, alheio ao conflito” (DEL’OLMO, 2006, p.194). O direito de guerra encontra alguns
precedentes históricos na Declaração de Paris, de 1856, na Convenção de Genebra, de 1864, na
Declaração de São Petesburgo, de 1868, na Declaração de Bruxelas, de 1874 e nas Convenções de
Haia, de 1899 e 1907. Atualmente, a legalidade da guerra apenas se revela em duas hipóteses:
“legítima defesa real contra agressão armada e luta pela autodeterminação de um povo contra a
dominação colonial” (NEVES, 2010, p.113). Ainda com relação à guerra, é possível a existência da
neutralidade, a qual corresponde à isenção do Estado que não empresta “auxílio a qualquer das
partes em confronto armado”, sendo que o Estado neutro detém direito quanto a “inviolabilidade de
seu território e a liberdade de relações comerciais com todos os Estados, envolvidos ou não em
conflitos bélicos” (DEL’OLMO, 2006, pp.194-195).
118
entidades políticas que participam da sociedade (BEDIN, 2001, pp.185186).
Nota-se diante disso que se a universalidade da sociedade internacional
moderna está para uma igualdade dos seus membros, a interestatalidade está para
uma descentralização política aberta pelo reconhecimento de entidades soberanas
na sua composição, o que implica na necessidade da existência de um direito
próprio – o direito internacional público – para a regulação das atividades dos
agentes envolvidos. Como os Estados são detentores de potencial utilização da
violência, é necessário um ramo específico e bem delimitado do direito para dar
conta do seu completo avesso caracterizado pelo uso indiscriminado da força. O
aumento do comércio transnacional levou à necessidade de uma paz regulada pelo
direito para que o próprio comércio tivesse possibilidade de existência, residindo aí a
intenção de submeter as relações internacionais ao domínio imparcial da lei. Mas
como as relações tipicamente estadocêntricas da sociedade internacional moderna
se dão na forma de políticas de poder, o sistema de equilíbrio de poder também é
fundamental no sentido de “racionalizar as relações políticas e diminuir as incertezas
das relações entre os diversos Estados modernos” (BEDIN, 2001, p.196). Mesmo
que esse sistema possua um elevado grau de incerteza quanto aos seus cálculos de
força, um alto grau de irrealidade no sentido de que os juízos de poder e força
podem estar equivocados, e uma nítida insuficiência ao estabelecer uma ordem que
freia o poder pelo poder, somente podendo ser corrigida por meio da efetividade de
normas jurídicas internacionais – de onde provém a importância do direito
internacional público, por exemplo –, constitui fator nuclear que caracteriza a
sociedade internacional moderna, segundo Dupuy (1993), como uma sociedade
relacional e não institucional dada a ausência de qualquer entidade capaz de
sobrepor o soberano interesse dos Estados.39
39
Importante referir que a sociedade internacional moderna é pautada pelo paradigma do realismo
político, para o qual motivações de poder e segurança tanto econômica quanto militar direcionam as
intenções do Estado. Para a configuração desse paradigma, as contribuições de Maquiavel e Hobbes
foram essenciais, considerando-se que se o primeiro extirpou da política a moralidade em razão da
especificidade da sua esfera, o segundo disse da existência de um estado de natureza quando da
ausência do Estado. O paradigma do realismo político parte de uma concepção estadocêntrica,
afirmando as relações interestatais como uma incessante busca pelo poder através do uso da força
ao assumir a sociedade internacional moderna como uma estrutura conflitiva e anárquica, ainda que
confiante na racionalidade dos agentes envolvidos. Trata-se de um paradigma no qual se distingue “a
luta dos Estados em favor da conquista e da manutenção do poder, devendo utilizar a guerra para
atingir seus objetivos e interesses. Operando por essa forma hegemônica e decisiva o paradigma
119
3.2 A sociedade internacional contemporânea
A crescente complexidade do cenário internacional aos poucos transformou
o Estado não no único ator, mas em mais um ator no panorama das relações
internacionais,
possibilitando
o
nascimento
da
sociedade
internacional
contemporânea. De uma concepção estadocêntrica pautada pela manifestação
externa da soberania estatal, onde impera um trato relacional dos agentes
envolvidos e a ocorrência de uma paz negativa, garantida por um sistema de
equilíbrio de poderes que coloca os Estados diante de uma iminente possibilidade
de conflitos, passou-se a uma concepção multicêntrica, na qual o Estado, ainda que
não destituído de importância, convive com variados atores que influenciam sua
existência. Apesar de o século XIX já contar com alguns relevantes atores
internacionais, foi no transcorrer do século XX e no início do século XXI que esses
atores ganharam importância significativa no ambiente internacional.
Paralelo à emergência desses novos atores, o período de 1919 a 1939,
entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial40, foi marcado pela tentativa de
estadocêntrico [conduz] e [orienta] o caminho das unidades estatais e de suas políticas de poder pela
força, acumulando esse tipo de conhecimento ao desenvolvimento e interpretação das relações
internacionais” (OLIVEIRA, 2003, p.61). Assim é que segundo Morgenthau, a relacional sociedade
internacional moderna apresenta seis princípios fundamentais conectados às distribuições de poder
entre os Estados: “a) a política, como toda sociedade, obedece a leis objetivas, que são frutos da
natureza humana. Por isso, para qualquer melhoramento da sociedade, é necessário entender-se
previamente as leis que governam a vida desta sociedade, não dependendo de um ato de vontade; b)
o interesse dos estados no sistema internacional é sempre definido em termos de poder, o que
possibilita a compreensão da política internacional como uma esfera autônoma de ação e de
compreensão dos fenômenos humanos; c) o conceito de interesse definido como poder é uma
categoria objetiva de validade universal, a qual define-se como o objeto fundamental – um dos
elementos constantes ao longo da história – da teoria política internacional ou da teoria das relações
internacionais; d) os princípios morais universais não podem ser aplicados aos atos dos Estados em
sua formulação abstrata e universal, senão que devem ser filtrados e analisados a partir das
circunstâncias de tempo e lugar; e) as aspirações morais de uma nação em particular não podem ser
identificadas com os preceitos morais que governam o universo; f) existe uma autonomia da esfera
política, ou seja, a esfera política possui uma especificidade própria que não permite que seja
subordinada, apesar de não ignorar a existência e a relevância de outros parâmetros importantes, a
outros critérios distintos do político” (apud BEDIN, 2001, pp.252-253).
40
O período compreendido no espaço de 1919 a 1939, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
é caracterizado por Bedin (2001) como um tempo no qual houve a predominância do paradigma do
idealismo político. De matriz kantiana, o paradigma prega a necessidade de uma paz positiva entre os
Estados, configurada não apenas pela deposição das armas para garantir um pequeno interregno
pacífico, como ocorre com a paz negativa do realismo político. Conforme essa corrente de
pensamento, os Estados perdem relevância em favor dos indivíduos, visto que as relações
internacionais se dariam na forma de “elos transnacionais (...) que unem indivíduos de nacionalidades
diferentes” mediante “a necessidade de as condutas internacionais serem dirigidas por normas
morais, as quais buscam substituir o sistema de Estados por uma comunidade cosmopolita”
120
institucionalização de organizações internacionais41 voltadas à garantia da
segurança coletiva mediada pela pacífica resolução de conflitos entre os Estados.
Com o fim da Primeira Guerra Mundial firmado pelo Tratado de Paz de Versalhes de
1919, houve a adoção, em 28 de junho do mesmo ano, do projeto que criou a
Sociedade das Nações (SDN)42. Segundo Ricardo Antônio Silva Seitenfus, a SDN
tratou-se de “uma associação intergovernamental, de caráter permanente, de
alcance geral e com vocação universal, baseada nos princípios da segurança
coletiva e da igualdade entre Estados soberanos” (2008, p.105). O Pacto da
Sociedade das Nações, que constituiu a primeira parte da Paz de Versalhes, logo
em seu preâmbulo fala das condições necessárias à manutenção da paz e da
segurança coletiva entre os Estados:
[...] aceitar certas obrigações de não recorrer à guerra, manter abertamente
relações internacionais fundadas sobre a justiça e a honra, observar
(OLIVEIRA, 2003, p.52). Os idealistas acreditam na possibilidade de realizar “aqui e agora uma
ordem política, moral e racional, derivada de princípios abstratos e universalmente aceitos”,
sustentando que “a razão pela qual a ordem social não chega a estar à altura dos padrões racionais
reside na falta de conhecimento ou de compreensão, na fragilidade das instituições sociais ou na
perversão de certos indivíduos isolados. Por isso os idealistas confiam na educação, na reforma e no
uso apenas ocasional da força para remediar estes defeitos” (MORGENTHAU apud BEDIN, 2001,
p.222). Esses ideais irão se refletir na criação de organizações internacionais que durante esse
período buscaram essa abrangência geral e universal preconizada pelo idealismo político.
41
“Organização internacional é uma associação voluntária de sujeitos de direito internacional,
constituída por ato internacional e disciplinada nas relações entre as partes por normas de direito
internacional, que se realiza em um ente de aspecto estável, que possui um ordenamento jurídico
interno próprio e é dotado de órgãos e institutos próprios, por meio dos quais realiza as finalidades
comuns de seus membros mediante funções particulares e o exercício dos poderes que lhe foram
conferidos” (MELLO, 2004, p.601). As organizações internacionais possuem “personalidade jurídica
própria, independente da dos Estados-membros, podendo ser sujeito tanto no ordenamento interno
dos Estados como na esfera internacional, nos quais podem reivindicar direitos e contrair obrigações”
(DEL’OLMO, 2006, p.106), caracterizando-se, portanto, como sujeitos de direito internacional. Tendo
como requisitos um número mínimo de três Estados com direito a voto e com contribuição para o seu
orçamento, as organizações internacionais igualmente necessitam de uma estrutura formal com
funcionários de diferentes nacionalidades, considerando sua independência na escolha desses
funcionários na intenção de um objetivo internacional. Detém as características de não possuir
território ou população assim como não possuir soberania, já que suas atribuições se circunscrevem
nos limites de competência funcional inscritos na sua carta constitutiva. Possuem personalidade
internacional independente da de seus membros, com direito de cooperar com outras organizaç~eos
internacionais e respondendo ativa e passivamente pelas consequências das suas ações nas
relações internacionais. Outro ponto a ser destacado é que as organizações internacionais e seus
agentes possuem imunidade no desempenho das suas funções.
42
As expressões “Sociedade das Nações” e “Liga das Nações” são oficiais e empregadas como
sinônimos. “No entanto, possuem conotações distintas, pois a primeira fornece a idéia de
relacionamento harmonioso e igualitário, enquanto a segunda acentua o aspecto contratual,
objetivando lutar contra alguém ou contra algo” (SEITENFUS, 2008, p.105). Aparecendo já em 1907
quando da segunda conferência de paz de Haia, a expressão “Sociedade das Nações” traduzia
desde então uma expectativa de resolução pacífica de conflitos internacionais em virtude de uma
maior interdependência verificada entre os Estados.
121
rigorosamente as prescrições do direito internacional, reconhecidas
doravante como norma efetiva de procedimento dos governos, fazer reinar a
justiça e respeitar rigorosamente todas as obrigações dos tratados nas
relações mútuas dos povos organizados (...) (RANGEL, 2002, p.21).
Como o “alcance geral” da SDN está para a amplitude de suas
competências e a “vocação universal” diz da possibilidade de participação de todos
os Estados, a intenção da sua criação principiava por um órgão “que tudo
abrangesse, e que solucionasse pacífica e democraticamente os problemas antes
que se descontrolassem, de preferência em negociação pública” (HOBSBAWM,
1995, p.41). Levando-se em conta que até mesmo a diplomacia restara
comprometida pela Primeira Guerra Mundial, sua fundação ocorreu com a finalidade
de trabalhar pela manutenção da paz preservando a autonomia dos Estados, o que
aponta para sua determinística condição de garantir a segurança coletiva dos
Estados-membros da organização. “Se nenhuma fronteira fosse violada, se
nenhuma agressão territorial fosse cometida, nenhuma soberania interna de um
Estado prejudicada ou ameaçada, seria possível dizer que a Liga das Nações se
abstém de suas obrigações legais” (BAUMAN, 2010, p.116). Considerando que um
excesso de autonomia dos Estados poderia conduzir a um rule of force, onde a força
se sobrepõe ao direito, fazia-se necessário um rule of law – isto é: a existência de
um direito que regulasse efetiva e institucionalmente as relações internacionais dada
a precariedade do sistema de equilíbrio de poder – para que outra guerra fosse ao
menos adiada.
Conforme Stefano Mannoni, a SDN remonta às aspirações de Kant contidas
na obra À Paz Perpétua de 1795, onde o filósofo “imagina uma realista sociedade de
Estados soberanos e independentes ligados por um pacto voluntário” (2006, p.588),
visando a substituição de uma soberania clássica “por um critério/princípio jurídico
de responsabilidade entre as comunidades” (LUCAS, 2009, p.63). Essa tendência,
na explicação de Max Huber, surge do próprio Estado de Direito, na medida em que
este “faz parecer como juridicamente unidos os titulares da autoridade pública ao
menos nas relações formais” (apud MANNONI, 2006, p.595), favorecendo a
subordinação ao direito não apenas no interior do Estado, mas nas relações dos
Estados entre si. Se o poder jurídico-político parte da soberania ao mesmo tempo
em que, no âmbito interno, subsume sua abrangência aos seus próprios limites,
122
possibilitando a existência do Estado de Direito, essa mesma independência levou
ao “rule of law, um princípio geral de civilização” (HUBER apud MANNONI, 2006,
p.595), o qual se encontra no centro das intenções que levaram à SDN. Em outras
palavras, o Estado de Direito é a condição de possibilidade para a existência do
direito internacional público, já que somente das suas auto-limitações é que provém
a manifestação da sua vontade no sistema internacional, onde a soberania se torna
limitada a partir do momento em que se auto-regula, restringindo os limites da sua
própria atuação.
Mesmo que as propostas tenham sido as melhores possíveis, a
estruturação básica da SDN já prenunciava sua queda. Foram excluídos de
participação os países derrotados na Primeira Guerra Mundial, sendo composta
pelos “membros originários que firmaram o Pacto”, por “membros convidados que se
mantiveram neutros durante a guerra” e por membros “admitidos posteriormente em
razão de um voto positivo de dois terços da Assembléia” (SEITENFUS, 2008,
p.109)43. Além disso, embora tenha sido “proposta pelo Presidente Woodrow Wilson
dos Estados Unidos, paradoxalmente esse país (...) não chegou a fazer parte”
(DEL’OLMO, 2006, p.107) da SDN, o que “privou-a de qualquer significado real”
(HOBSBAWM, 1995, p.42), colocando em xeque seu “alcance geral” e sua “vocação
universal” já abalados pela exclusão dos países derrotados na guerra. Somando-se
esse fato, Agenor Pereira de Trindade aponta que na “adoção do sistema de
decisões por unanimidade, pelo Conselho e pela Assembléia, para os assuntos
considerados importantes” (apud DEL’OLMO, 2006, p.108), encontra-se a maior
razão para o seu fracasso. Isso veio a ser comprovado com sua extinção formal em
1946, mesmo que desde 1939, com a irrupção da Segunda Guerra Mundial, já não
viesse atuando. Mas da extinção da SDN e dos “escombros de um mundo
devastado” (SETEINFUS, 2008, p.126) pela Segunda Guerra Mundial, surgiram as
43
Ressalte-se que para os objetivos desse estudo, a descrição do modelo estrutural de organizações
internacionais como a SDN e as Nações Unidas não se faz necessária. Trata-se, conforme já
aduzido, de explicitar as diferenças básicas entre a sociedade internacional moderna e a sociedade
internacional contemporânea, para o que tais organizações são essenciais na definição de diferentes
conjunturas.
123
Nações Unidas em uma nova tentativa de institucionalização da paz mediante a
criação de uma organização internacional44.
A Carta das Nações Unidas, aprovada por cinqüenta e um Estados45
reunidos em São Francisco (EUA) em 25 de junho de 1945, entrou em vigor em 24
de outubro do mesmo ano. Como primeira assembléia internacional da história
moderna que não transcorreu sob o domínio exclusivo dos Estados europeus,
resultado da articulação de vários países por meio de tratados que a precederam –
como a Declaração Interaliada e a Carta do Atlântico, de 1941, a Conferência de
Washington, de 1942, as Conferências de Moscou, de Cairo e de Teerã, de 1943, as
Conferências de Bretton Woods e Dumbarton Oaks, de 1944, e a Conferência de
Yalta, de 1945 –, a constituição da ONU representou “um marco na trajetória do
surgimento e do reconhecimento de novos atores internacionais, pois é uma das
primeiras estruturas organizacionais que se consolidou e se revelou politicamente
relevante” (BEDIN, 2001, p.270). Conjuntamente com a Sociedade das Nações,
consiste em uma das primeiras organizações internacionais que buscou a comunhão
de interesses de todos os povos do planeta, sendo mais uma tentativa de
institucionalização da paz em meio à relacional sociedade internacional moderna.
Um dos aspectos mais positivos das Nações Unidas é que ao contrário da sua
antecessora, a Sociedade das Nações, ela “continuou existindo por toda a segunda
44
Para prosseguir, é importante referir que as organizações internacionais podem ser classificadas
em dois delineamentos gerais e de propósitos distintos: “as organizações que perseguem objetivos
políticos e (...) as organizações que objetivam a cooperação técnica. As primeiras enfrentam
questões essencialmente conflituosas, e as segundas trabalham com assuntos vinculados à
cooperação funcional” (SEITENFUS, 2008, p.45). Quanto às organizações de natureza política, estas
“podem pretender congregar a totalidade do mundo, como, por exemplo, a Liga das Nações ou a
ONU, ou somente parte deste, caso da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da União
Africana (UA)” (SEITENFUS, 2008, p.45). De qualquer modo, seu objetivo primordial “é a manutenção
da paz e da segurança internacionais de alcance universal ou regional” (SEITENFUS, 2008, p.45).
Quanto às organizações de natureza técnica, “denominadas também de organizações
especializadas, descartam, em princípio, a interferência em assuntos de natureza política e
restringem-se unicamente a aproximar posições e tomar iniciativas conjuntas em áreas específicas”
(SEITENFUS, 2008, p.46). É o caso da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
45
Os Estados signatários da Carta foram os seguintes: “África do Sul, Arábia Saudita, Argentina,
Austrália, Bélgica, Bielorússia, Bolívia, Brasil, Canadá, Tchecoslováquia, Chile, China, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Egito, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Etiópia, Filipinas,
França, Grécia, Guatemala, Haiti, Holanda, Honduras, Índia, Irã, Iraque, Iugoslávia, Líbano, Libéria,
Luxemburgo, México, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia,
República Dominicana, Reino Unido, Síria, Turquia, Ucrânia, URSS, Uruguai e Venezuela”
(SEITENFUS, 2008, p.127).
124
metade do século XX e na verdade se tornou um clube cuja filiação, cada vez mais,
mostrava
que
um
Estado
fora
formalmente
aceito
como
soberano
internacionalmente” (HOBSBAWM, 1995, p.419).
Em seu artigo primeiro, a Carta da ONU estabelece os propósitos da
organização:
1.
Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar
coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os
atos de agressão ou qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos
e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a
um ajuste ou solução de controvérsias ou situações que possam levar a
uma perturbação da paz;
2.
Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no
respeito ao princípio de igualdade de direito e de autodeterminação dos
povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz
universal;
3.
Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para
promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e
4.
Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a
consecução desses objetivos comuns (RANGEL, 2002, pp.36-37).
O artigo segundo da Carta, por sua vez, estabelece sete princípios a serem
observados pelos Estados-membros:
(1) igualdade soberana dos membros; (2) boa-fé no cumprimento das
obrigações internacionais; (3) solução de conflitos por meios pacíficos; (4)
abstenção da ameaça e da força contra a integridade territorial; (5)
assistência à ONU em qualquer ação; (6) obrigação dos Estados não
membros da ONU de cumprir os princípios da ONU; (7) não-intervenção em
assuntos que sejam, essencialmente, da competência interna dos Estados
(AMARAL, 2007, p.37).
A criação da ONU consistiu em reflexo direto da Segunda Guerra Mundial e
do insucesso da SDN, a qual foi absorvida pela organização. Motivada também pela
acentuada interdependência entre os Estados, pela multiplicação de organismos de
alcance internacional, como “associações, grupos de pressão (igrejas, sociedades
de capitais, sindicatos), partidos políticos, empresas transnacionais” (DUPUY, 1993,
p.21) e pela repartição do poder e dos pólos políticos representados pela perda de
força da Europa, pela nascente bipolarização do mundo entre Estados Unidos e
União Soviética, bem como pelo advento de certos Estados, como a China, que
125
cada vez mais ganhavam representatividade no cenário internacional, sua fundação
demonstrou a crise mundial existente no pós-guerra. Por outro lado, com uma
abrangência majorada em relação à SDN e dotada de pretensões gerais e
universalistas para a garantia da paz mundial com a resolução pacífica de conflitos,
a ONU representou o reconhecimento de que os Estados já não eram os únicos
atores das relações internacionais ou os únicos sujeitos de direito internacional.
Não se pode esquecer que a ONU começou “a tomar forma no mundo dos
Estados soberanos” (DUPUY, 1993, p.29). Mesmo que sua tentativa de
institucionalização da paz na intenção da criação de um organismo que se
sobrepusesse aos Estados seja verdadeira, pode-se referir que existe uma “falta de
homogeneidade política dos agrupamentos universais que atinge as próprias
concepções da organização”, o que é ressaltado pelo reconhecimento de que, “no
plano jurídico, os Estados membros não transferem senão uma margem modesta de
competência para a organização” (DUPUY, 1993, p.166). Mas se for considerado
que na sociedade internacional moderna regulada pelo sistema de equilíbrio de
poder e por uma precária ordem jurídica, os Estados agem com o fim específico de
“evitar a formação de um poder universal” (SANTOS JUNIOR, 2007, p.75), já que o
conceito de soberania está “intrinsecamente ligado à idéia de território e à guerra”
(SANTOS JUNIOR, 2007, p.95), a ONU representa um marco histórico para o
surgimento de novos atores reconhecidos no cenário internacional na forma de
organizações internacionais. Deu-se assim o início da configuração da sociedade
internacional contemporânea, onde a concepção estadocêntrica gradativamente
passa a dar lugar a uma nova formatação política mundial.
“A simples necessidade de coordenação global multiplicou as organizações
internacionais” (HOBSBAWM, 1995, p.419) nas décadas subseqüentes. Como
assinala David Held, em “meados da década de 1980, havia 365 organizações
intergovernamentais e nada menos que 4615 não governamentais, ou seja, acima
de duas vezes mais que no início da década de 1970” (apud HOBSBAWM, 1995,
p.419). Com relação às organizações não-governamentais (ONGs)46, deve-se
46
Como na esfera da sociedade internacional contemporânea as organizações de cidadãos que
detém abrangência internacional é que merecem destaque, Seteinfus (2008) diferencia as ONGs
126
afirmar que também integram o grupo de novos atores da sociedade internacional
contemporânea. Apesar de Olsson (2007) inventariar o Estado e as organizações
internacionais como os principais atores desse cenário, enumerando as ONGs e as
empresas transnacionais à qualidade de atores emergentes, é importante ter em
mente que esses agentes convivem em um único espaço global, onde interesses
econômicos, políticos, sociais e culturais coexistem na multidimensionalidade da
globalização contemporânea.
É nítido que o “cenário internacional contemporâneo apresenta profundas
modificações quando comparado com os séculos precedentes” (SEITENFUS, 2008,
p.345). Os Estados, que até o início do século XX eram os únicos atores nas
relações
internacionais,
sem
negar
a
influência
de
algumas
empresas
transnacionais, convivem hoje com variados agentes. Após a Segunda Guerra
Mundial, houve uma “complexa transformação da sociedade internacional de
sistema estatocêntrico em uma sociedade global de sistema multicêntrico”
(OLIVEIRA, 2003, p.81). A importância das organizações de cidadãos, nesse
sentido, demonstra-se primeiramente quando se constata que elas “tiveram
participação ativa na ONU desde sua fundação em 1945”, abrindo uma “perspectiva
na Carta da ONU para um status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social
tradicionais das Organizações Não-Governamentais de Alcance Transnacional (ONGCAT).
Ressaltando-se a importância da diferenciação, optou-se pelo emprego do designativo ONGs para os
objetivos desse trabalho. É preciso igualmente aduzir que ao contrário das organizações
internacionais, as ONGs não detêm personalidade jurídica internacional, não podendo ser
consideradas como sujeitos de direito internacional. Embora os antecedentes históricos da ONGs
remontem a “meados do século XIX, com a criação da Cruz Vermelha e outras federações” (VIEIRA,
2001, p.115), sua importância e seu papel na sociedade internacional foi consolidado no transcorrer
do século XX, podendo assim ser conceituadas como “organizações privadas, movidas por algum
vínculo de solidariedade transnacional, sem fins lucrativos” (SEITENFUS, 2008, p.347), “com suas
atividades voltadas para questões de interesse público, na promoção e defesa de valores morais,
religiosos ou culturais” (DEL’OLMO, 2006, p.119). Além disso, são caracterizadas pelo princípio
associativo, tratando da reunião de cidadãos com um objetivo comum não-lucrativo, pela
independência em relação ao poder público, embora seja corriqueira a parceria com organizações
internacionais e com Estados, pela comunhão de princípios e valores, onde os membros participam
da sua estrutura de forma voluntária, e pelo alcance transnacional das suas atividades, do que
decorre a prevalência do trato de ONGs de amplo alcance no âmbito da sociedade internacional
contemporânea. As ONGs também podem ser classificadas como organismos de harmonização e
organismos de intervenção. Enquanto as primeiras são marcadas “pela continuidade e permanência
na busca de posições comuns entre os parceiros”, preocupando-se com a coordenação de políticas
transnacionais, as segundas carregam o traço da “necessidade de responder a desafios concretos e
imediatos” (SETEINFUS, 2008, p.353). Por isso é que se os organismos de harmonização
comumente correspondem à cooperação entre sindicatos ou organizações esportivas, os organismos
de intervenção estão para a defesa dos direitos humanos, do meio ambiente ou da assistência
humanitária.
127
(ECOSOC), embora não houvessem obtido status no ECOSOC” (VIEIRA, 2001,
p.115)47. Secundariamente, conforme Luciano José Trindade, vê-se sua significativa
ação internacional em razão da “sua habilidade operacional em situações de
emergência, [da] sua inserção social e [da sua] capacidade de mobilização
midiática” (2010, p.129), respondendo a necessidades de cooperação internacional
que propiciaram sua disseminação nas últimas décadas.
As ONGs também se mostram como importantes atores internacionais na
medida em que os Estados são incapazes de atender certas demandas sociais, já
que “apresentam, diante da inércia da maquina estatal, a vantagem de uma enorme
flexibilidade e criatividade” (SORJ, 2004, p.79). Perdendo parte da sua autonomia
em função de uma economia globalizada, os Estados passam a partilhar “poderes –
inclusive papéis políticos, sociais e de segurança, no âmago da soberania – com as
empresas, organizações internacionais e grupos de cidadãos conhecidos como
ONGS” (VIEIRA, 2001, p.208). Percebe-se que as ONGs, atuando de maneira
independente ou em parceira com os Estados, as organizações internacionais e as
empresas transnacionais – mesmo que isso por vezes redunde em uma cooptação
dessas entidades por interesses exclusivamente econômicos, o que resulta em
várias críticas quanto ao seu desempenho na contemporaneidade48 –, traduzem
“papéis específicos e de grande importância (...) ao criar redes de legitimidade e
canais de comunicação pela Terra, instrumentalizando a opinião pública mundial” ao
envolver uma heterogeneidade na sua abordagem que vai da “defesa do meio
ambiente e da saúde humana” à “promoção da paz mundial e outros temas
correlatos” (OLSSON, 2003, p.556). Em razão dessa rede de propósitos, relações e
atividades das ONGs, as quais surgem na maioria das vezes em espaços sóciopolíticos nos quais os Estados não detêm efetividade, pode-se referir que sua
47
O próprio ECOSOC, em parecer datado de 27 de fevereiro de 1950, conceitua as ONGs como
“qualquer organização internacional que não é criada por via de acordo internacional” (apud
SEITENFUS, 2008, p.348), sendo por esse motivo designadas como organização não-governamental
internacional – entendo-se ainda que um “acordo internacional” derivaria unicamente da expressão da
vontade dos Estados, podendo resultar em uma organização internacional.
48
“A idéia simplista defendida por muitos de que o Estado é contra a democracia e, por conseguinte,
quanto mais poderes foram atribuídos à sociedade civil mais rapidamente os problemas da
Humanidade serão solucionados, deve ser analisada com cautela. O ativismo das ONGCAT torna-as
fenômenos importantes do sistema internacional. Todavia a facilidade para criar uma ONGCAT e a
falta de transparência de sua administração – sobretudo o fato de drenar recursos públicos nacionais
ou das organizações internacionais – deve servir de alerta sobre seus verdadeiros propósitos”
(SEITENFUS, 2008, p.360).
128
presença é expressiva na atualidade. As ONGs podem mesmo facilitar a relação dos
variados agentes internacionais, representando o fundamento utópico de uma futura
e possível “sociedade civil global”, a qual tem seu lastro na nova configuração
política mundial da sociedade internacional contemporânea.
Ao lado dos Estados, das organizações internacionais e das ONGs, as
empresas transnacionais49 igualmente configuram atores de grande importância no
cenário internacional. Como agentes diretamente relacionados à globalização, essas
empresas se caracterizam como entidades privadas que visam lucro, ao contrário
das organizações internacionais e das ONGs. Segundo Ana Lucia Guedes, em
princípio as empresas transnacionais não possuem motivações políticas nos
Estados onde operam, “mas como o acesso [a esses Estados] foi garantido pelo
grupo dominante [em determinado momento], as suas operações tendem a apoiar,
ou ao menos não prejudicar, a posição desse grupo” (2003, p.576). Disso se extrai a
interpenetração das esferas política e econômica, onde essas empresas,
normalmente provenientes de países economicamente mais desenvolvidos, “tendem
a transmitir novos estilos de vida, idéias, tecnologias e valores culturais e políticos
que desafiam a cultura tradicional da sociedade local” (GUEDES, 2003, p.576).
As empresas transnacionais, embora com alguma representatividade desde
o século XIX, adquirem o status de atores internacionais em meados do século XX,
em especial após o fim da Segunda Guerra Mundial, período no qual efetivamente
se universalizaram favorecidas pelo GATT e pelo papel cada vez mais
preponderante dos Estados Unidos. Podendo ser descritas como entidades que
visam
fins
econômicos
racionalização
mediante
instrumental
do
a
seu
maximização
aparato
dos
lucros
operacional,
através
centralizando
da
e
hierarquizando sua administração de forma que suas ações sejam integradas e
49
Os traços históricos e as características básicas das empresas transnacionais, bem como questões
correspondentes à terminologia adequada para designá-las, foram abordados no segundo capítulo,
de forma que aqui serão relevados outros pontos que as colocam na posição de novos atores da
sociedade internacional contemporânea, o que em parte já se fez. É conveniente também referir que
como algumas empresas transnacionais, em virtude da sua abrangência global, possuem um
potencial econômico e político equivalente ou superior ao de muitos Estados, há uma tentativa de
considerá-las como detentoras de personalidade jurídica de direito internacional. Entretanto, na
explicação de Fernando M. Mariño Menéndez, não existe uma jurisdição comum para empresas
desse tipo, “mas ‘jurisdições paralelas de vários Estados’, tendo cada um deles ‘jurisdição sobre a
sociedade do grupo vinculada à sua ordem jurídica’” (apud DEL’OLMO, 2006, p.123).
129
uniformes em suas diversas ramificações globais50, as empresas transnacionais são
agentes de “um sistema de atividades econômicas para as quais os territórios e
fronteiras de Estados não constituem o esquema operatório básico” (HOBSBAWM,
1995, p.272). Como tais empresas não são vinculadas “a algum interesse nacional
específico na sua administração”, tampouco considerando “alguma restrição
territorial de atuação”, estão, “literalmente, ‘acima’ e ‘além’ de qualquer recorte
geográfico nas suas atividades” (OLSSON, 2007, p.323), obedecendo apenas às
conveniências sócio-políticas que possam lhes possibilitar uma maior lucratividade.
Conforme Rogério Dupas, “as 10 maiores empresas globais, General
Motors, Wal-Mart, Exxon Mobil, Ford, DaimlerChrysler, Mtsui, Mitsubishi, Toyota,
General Eletric e Itochu venderam 1,4 trilhão de dólares em 1999”, o que
corresponde a “cerca de 80% do PIB conjunto do Brasil, México, Argentina, Chile,
Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela” (apud SANTOS JUNIOR, 2007, p.132). Isso
claramente dá a essas entidades um poder de barganha com os Estados que pode
implicar na adoção de políticas públicas que negligenciam interesses da população
em favor dessas empresas, o que ocorre especialmente em países em
desenvolvimento, cuja dependência financeira e tecnológica é característica. No
dizer de Cristina Soreanu Pecequilo, essa situação gera inúmeras disputas entre os
Estados que oferecem atrativos para essas empresas – como “isenção ou
diminuição de impostos, baixo custo de energia, água ou transportes, leis mais
favoráveis à remessa de lucros [e] menos constrangimentos ambientais” (2004,
p.78) – na confiança de que maiores investimentos no país diminuiriam os níveis de
desemprego e acentuariam o fomento do mercado nacional.
Contudo, Joana Stelzer alerta que se a curto prazo as empresas
transnacionais “podem trazer empregos e divisas para o país hospedeiro, torna-se
extremamente
duvidoso
que,
a
longo
prazo,
possam
proporcionar
real
desenvolvimento para estas nações” (1999, p.111). A formação de “oligopólios que
reduzem a competição e a livre concorrência” (BEDIN, 2001, p.318) e a
concentração de capital nos países desenvolvidos, somadas à “relativização da
autonomia política e da estabilidade econômica” (TRINDADE, 2010, p.128) dos
50
O que não desconsidera o fenômeno da “glocalização” abordado no segundo capítulo.
130
Estados, reforçando “condições de vulnerabilidade preexistentes, tornando estes
países mais dependentes do capital e dos produtos estrangeiros” (PECEQUILO,
2004, p.80), compactuam para a conclusão de que a atividade dessas empresas
está repleta de pontos negativos.
Mesmo que se reconheça que a atuação dessas entidades igualmente
traduz fatores positivos, favorecendo relações pacíficas entre os Estados e
rompendo “barreiras nacionais, impedindo o seu isolamento ideológico e territorial”
(TRINDADE, 2010, p.128), além de alavancar o desenvolvimento tecnológico, devese ter cautela em qualquer análise, pois a consolidação dessas empresas se
relaciona também com a mundialização dos usos e costumes característicos de uma
sociedade identificada com o consumo, o que invariavelmente se reflete em
assimetrias sócio-econômicas tanto no âmbito nacional quanto internacional,
levando à degradação identitária e ao esfacelamento de culturas seculares agora
próximas pela compressão do espaço e do tempo consignada à globalização devido
ao protagonismo das tecnologias da informação na caracterização de quaisquer das
dimensões do fenômeno. À parte isso, a dinamicidade das corporações
transnacionais aponta para seu importante papel na atualidade, afetando a produção
normativa formal dos Estados e criando “um panorama plural de produção jurídica
do qual, de uma ou outra forma, as normas e acordos das corporações
transnacionais condicionam a margem de governabilidade dos Estados” (JULIOSCAMPUZANO, 2009, p.88).
Deve-se também evidenciar que na qualidade de uma sociedade
multicêntrica, na sociedade internacional contemporânea coexistem ainda blocos de
integração regional, dos quais a União Européia é o exemplo mais premente,
indivíduos e grupos privados intraestatais que influenciam sua configuração e
interdependência51. Mas é preciso atentar que em conjunto à fundação da ONU em
51
Com o surgimento de novos atores internacionais aliado “ao crescimento do comércio exterior, do
fluxo de capitais e intensa mobilidade de bens, serviços, pessoas e informações, as relações
internacionais contemporâneas estão marcadas pela diversificação dos centros de poder e os
fenômenos tornam-se cada vez mais complexos, interdependentes, globalizados e não
necessariamente vinculados a um Estado” (TRINDADE, 2010, p.132). Esse cenário demandou a
construção de um paradigma político que abrangesse essa interdependência e essa complexidade,
para o qual “o sistema internacional envolvido em múltiplas e novas estruturas de cooperação,
representadas pela constituição recente de diversificadas organizações internacionais, fornece uma
131
1945, o colapso da URSS em 1989, definitivamente consagrado em 1991,
compreende
um
dos
marcos
constitutivos
da
sociedade
internacional
contemporânea. A competição entre Estados Unidos e União Soviética que
caracterizou o regime de bipolaridade política inerente à Guerra Fria, “dava lugar
agora a uma nova afirmação da diversidade política mundial, estimulada pelos ideais
vitoriosos da liberdade democrática e da autodeterminação” (MARVIN, 2002, p.662).
Apesar de haver a crença de que a partir de 1989 a guerra deixaria “de ser um
instrumento viável de política” (PECEQUILO, 2004, p.174), gerando um clima de
otimismo pelo encerramento pacífico da Guerra Fria, o que se presenciou foi um
acirramento das “tensões políticas dentro e entre os Estados, até então amenizadas
pela rivalidade das superpotências” (MARVIN, 2002, p.664), onde afloraram lutas
por reconhecimento e independência de minorias étnicas e religiosas provindas
principalmente da Europa Central e Oriental e dos países remanescentes da antiga
URSS, os quais passaram a exigir uma posição internacional antes condicionada
pela bipolaridade política.
transformação profunda às relações internacionais, cada vez mais marcadas pelo fenômeno da
interdependência, comunidades de interesses, exigências dos desafios da integração dos blocos
econômicos em busca de um mercado regional protegido, consequências abrangentes da
globalização da economia e da competitividade das corporações transnacionais no movimento da
rena do controle total do mercado mundial” (OLIVEIRA, 1999, p.54). Assim é que “a base para a
análise da interdependência é tentar compreender a sociedade internacional na sua feição
contemporânea, na qual as tecnologias de telecomunicação e informática (telemática) proporcionam
inúmeras conexões e interações entre atores de níveis e naturezas variadas, configurando-a como
uma realidade singularmente complexa (...)” (OLSSON, 2007, p.255). Disso decorrem “relações que
possuem, como agenda, uma multiplicidade de temas, que não estão hierarquizados clara e
solidamente” (BEDIN, 2001, p.327), fazendo com que a diferenciação entre temas internos e externos
seja bastante tênue dada a interpenetração de interesses dos variados atores internacionais. O uso
da força militar igualmente se torna irrelevante para a solução de “muitos problemas internacionais,
em especial os decorrentes de desacordo sobre questões econômicas e questões comuns (...) como
os problemas do meio ambiente” (BEDIN, 2001, p.327). Dessa forma, aumentam as tentativas de
constituição de regras jurídicas que sirvam como referencias comportamentais aos atores
internacionais, caracterizando o paradigma da interdependência “pelo aumento dos custos da guerra
(com a sua eliminação como mecanismo de política), pela porosidade das fronteiras internas aos
fluxos externos, pela interdependência econômica, pela rapidez e intensidade dos fluxos de
informação, pela disseminação da democracia, pela homogeneidade de culturas e sociedade e, em
longo prazo, pelo estabelecimento de uma sociedade internacional governada globalmente e
supranacional” (PECEQUILO, 2004, p.154). Disso se percebe as diferenças do paradigma da
interdependência em relação aos paradigmas do realismo e do idealismo político, embora se note
que a interdependência, ao menos enquanto projeção futura e no que condiz com seus objetivos
últimos, encontre alguns paralelos com o idealismo político. De qualquer maneira, o que é claro é que
a elaboração dessa visão teórica da realidade internacional atual está estreitamente vinculada às
noções de globalização e sociedade internacional contemporânea.
132
Um sistema mundial de Estados que até 1945, com o fim da Segunda
Guerra Mundial, detinha uma face multipolar, e até 1989, com o fim da Guerra Fria,
tinha o feitio de ordem bipolar, suscitando equilíbrios de poder diversificados mas
ainda caracterizados pelo sistema da sociedade internacional moderna, passou a se
determinar de maneira diferenciada, pois se por um lado a multipolaridade dos
Estados voltava a se afirmar, por outro era afetada pela multiplicação de atores
internacionais e temas globais que indicavam a necessidade de novas soluções de
alcance mundial. Como o sistema bipolar da Guerra Fria “apresenta como
característica dominante a rigidez da política de equilíbrio praticada por dois atores
potenciais, uma vez que não se registra uma terceira potência capaz de
contrabalançar tal equilíbrio”, e o sistema multipolar reside na prevalência
hegemônica de vários Estados, “ocorrendo longos períodos de paz ou de guerras”
(OLIVEIRA, 1999, p.37), onde nenhum ator internacional pode se sobrepor aos
interesses dos Estados, vê-se que o indicativo de uma nova multipolaridade
contemporânea carrega contornos diversos daqueles típicos da sociedade
internacional moderna.
Ainda que se possa afirmar que a criação da ONU em 1945 seja o marco
fundamental indicativo de traços de uma nova ordem mundial, apontando para uma
tentativa de fundação de uma paz institucionalizada e garantida por um organismo
internacional de abrangência geral e universal, o que demandou a abdicação por
parte dos Estados de uma pequena parcela da sua soberania acompanhada de uma
tratativa explícita na composição de um ambiente comprometido com a manutenção
da paz e a resolução de conflitos sem a utilização da beligerância, foi no pós-Guerra
Fria que essa autonomia estatal passou a ser diretamente afetada pela passagem
de
um
determinístico
estadocentrismo
a
um
inegável
multicentrismo
contemporâneo.52
52
É certo que ao se estabelecer uma distinção entre essas configurações sociais, não se nega
totalmente a primeira (sociedade internacional moderna) para se afirmar absolutamente a última
(sociedade internacional contemporânea), isto porque as instituições fundamentais da primeira
permanecem vigentes na última – até porque negar a primeira significaria extinguir os pressupostos
que levaram ao aparecimento da última. De outro modo, o que se propõe é uma diferenciação com
base na relação entre os atores e no aparecimento de novos atores no cenário internacional, o que
dá margem a uma distribuição contemporânea de poder diversa daquela inerente à sociedade
internacional moderna. Essa distribuição, que não pode ser afirmada no sentido institucional de forma
imperativa, dado que o caráter relacional permanece, abrange a totalidade da atuação dos agentes
envolvidos, residindo nessa abrangência o caráter significativo da distinção proposta mediante o
133
Emergiram daí, impulsionados pela crescente interdependência global, os
Estados Unidos, a China e a União Européia como principais agentes de
homogeneização política e econômica, os quais, igualmente dependentes da relação
com demais atores internacionais para configuração da sua importância mundial,
possibilitaram o surgimento de uma nova ordem política onde impera uma paz
relativa atrelada ao multidimensionalismo da globalização. Isso condiz com o fato
expresso por Demétrio Magnoli ao referir que no pós-Guerra Fria o fundamento
clássico de que as relações internacionais se dariam unicamente entre os Estados
passou por uma remodelação, acentuando “a tendência de incorporação de atores
não-governamentais às relações internacionais” (2006, p.189). Surge então uma
necessária
coexistência
de
Estados,
organizações
internacionais,
blocos
regionalistas (como atores públicos), ONGs, empresas transnacionais e indivíduos
(como
atores
privados),
havendo
uma
expressiva
mudança
que
leva
à
caracterização da sociedade internacional contemporânea como diversa da
sociedade internacional moderna por algumas razões básicas:
[...] relações sociais tornaram-se mais complexas e entrecruzadas em
múltiplas configurações (como diversos resultados de processos de
diferenciação social sofisticados, por exemplo), novas variáveis foram
adicionadas a este cenário (como a globalização, dentre outras), novos
atores foram trazidos ao palco (como organizações não-governamentais e
corporações transnacionais) e velhos atores passaram a desempenhar
novos papéis (como os Estados, por exemplo). Em acréscimo a isso, os
meios simbólicos de dominação estão se expressando por intermédio dos
notáveis avanços das comunicações e da tecnologia em geral (OLSSON,
2007, p.162).
Na explicação de Jorge Miranda ao tentar definir o cenário atual,
primeiramente se deve referir que o direito internacional consagrado pela Paz de
Vestfália aos poucos se universalizou, sendo aplicável a todos os países
principalmente após a derrocada da URSS. Em conjunção a isso, multiplicaram-se
os blocos de integração regional e a multilateralização das relações internacionais
preconizadas por uma tentativa de institucionalização da sua organização, o que se
deve “ao aparecimento de organizações e entidades de vários tipos (...) capazes de
vontade e de dinamismo próprios” (MIRANDA, 2007, p.20). Além disso, esse direito
esgotamento de um sistema de equilíbrio de poder que pressupunha os Estados como únicos atores
internacionais.
134
internacional passou a se caracterizar pela sua funcionalização no sentido de não
apenas regular as relações entre os Estados, mas também “predispor condições
para a satisfação de necessidades colectivas, gerais ou sectoriais, comuns aos
diversos povos” (MIRANDA, 2007, p.21), levando a uma humanização das
demandas por direito e a uma objetivação codificadora das suas possibilidades, o
que se reflete na criação de organizações internacionais e na profusão de tratados
internacionais
nas
últimas
décadas.
Somando-se
a
esses
fatores,
a
jurisdicionalização do direito internacional, embora não obrigatória, deu-se em um
ambiente de busca por uma “integração sistemática do Direito Internacional e do
Direito Interno” (MIRANDA, 2007, p.26), onde a socialização dos atores
internacionais,
dado
o
“protagonismo
crescente
das
organizações
não
governamentais” (MIRANDA, 2007, p.27), o que foi facilitado pela maior circulação
de pessoas e informações pelo globo, leva a uma recente tentativa de
democratização universal de certos direitos.
Por isso é que a alegada universalidade dos direitos humanos igualmente
perpassa essa nova configuração da sociedade internacional contemporânea. Do
reconhecimento clássico de que apenas o Estado detém o monopólio da criação e
aplicação de direitos, passou-se a uma concepção mais abrangente, para qual,
independentemente da nacionalidade (e portanto da cidadania) do indivíduo, existem
algumas prerrogativas básicas que acompanham o ser humano e devem ser
respeitadas em todos os tempos e lugares, o que constitui o cerne do discurso
inerente aos direitos humanos. Aparentemente isso poderia suscitar o surgimento de
uma cidadania desvinculada do Estado, desligando-se do vínculo jurídico-político
que liga o cidadão a determinada entidade soberana, o que seria facilitado pelo
multicentrismo da sociedade internacional contemporânea e pelo surgimento de
questões que abrangem a totalidade da população do planeta. Essa universalidade
dos
direitos
humanos,
entretanto,
esbarra
na
sua
necessidade
de
internacionalização para concreto direcionamento das suas pretensões, ao que se
adiciona a eficácia mínima do direito em certas regiões do mundo e o extremado
poder das forças econômicas da globalização, as quais tanto dividem quanto unem,
modelando em um extremo a figura do “cidadão global”, que é assim em virtude da
sua capacidade econômica elevada, e em outro milhões de pessoas que não detém
mínimas condições de sobrevivência.
135
3.3 A universalidade dos direitos humanos
Ao comentar a proposta de H. Bedau, Ernst Tugendhat estabelece uma
diferenciação comparativa entre três modelos de sociedade. A primeira seria uma
sociedade regida apenas por obrigações, na qual de modo algum se falaria
explicitamente em direitos. A segunda seria uma sociedade na qual já existe o
reconhecimento de certos direitos, os quais, concedidos pela ordem jurídica, “estão
vinculados a peculiaridades e papéis específicos das pessoas em questão” (2007,
p.343). Já a terceira não levaria em conta as peculiaridades dos envolvidos ou
mesmo os papéis desempenhados por eles na sociedade, alegando que as pessoas
“teriam determinados direitos simplesmente enquanto são seres humanos”
(TUGENDHAT, 2007, p.343).
Mediante uma aproximação conceitual, pode-se situar o Estado Absolutista
em relação ao primeiro modelo de sociedade exposto por Bedau. Como os vínculos
de pertencimento se davam por meio de uma tradição hierarquizada, as obrigações
sobrepunham os direitos no sentido de que quaisquer defesas da pessoa frente ao
poder dominante eram barradas pelo próprio poder, dando origem a um cenário
onde predomina o dever em relação ao direito. Por outro lado, o segundo modelo de
sociedade parece estar tanto para o Estado Liberal quanto para o Estado Social,
referindo os direitos civis e políticos seguidos pelos direitos sociais advindos de uma
nova configuração estatal. O que fica claro nessas correlações, é o fato de que
especialmente quanto ao Estado Liberal e Social, o que resulta no reconhecimento
de certos direitos é a peculiaridade das condições pessoais que dão ao indivíduo a
possibilidade de ter direitos. Nitidamente essa peculiaridade se encontra no
condicionamento da cidadania pela nacionalidade, onde a legítima luta pelo direito,
característica do seu desenvolvimento histórico-político, dá-se na circunscrição de
certo território e em relação a determinada população efetivamente considerada
cidadã pela sua vinculação jurídico-política ao Estado soberano.
Diante disso, parece difícil conceber uma sociedade ao feitio do terceiro
modelo de Bedau. Na modernidade, o direito se confunde com o Estado ao ponto de
somente o direito que provém do Estado ser considerado “direito”. Óbvio que essa
concepção amalgamada na sociedade internacional moderna sofreu mudanças com
136
a passagem para a sociedade internacional contemporânea. Mas também é
premente reconhecer que essas mudanças não chegaram a afetar concretamente o
estatuto básico da cidadania, embora alguns exemplos supranacionais correlatos
sobretudo à União Européia possam ser vislumbrados. Os direitos, enfim,
permanecem como patrimônio daqueles que detém laços de pertencimento com o
Estado-Nação, onde o papel de cidadão dá ao indivíduo a proteção do direito
estatal. Mas um direito que desconsidere o papel e leve em conta apenas o
indivíduo, não passando pelo filtro da sua posição em determinada sociedade, é
algo absolutamente novo, provindo daí a importância dos direitos humanos na
contemporaneidade.
Apesar de ser verdade, como afirma João Ricardo W. Dorneles, que
somente após a Segunda Guerra Mundial “a questão dos direitos humanos passou
do tratamento nacional, através da ordem constitucional, para a esfera internacional,
incorporando todos os povos” (2004, p.178), os antecedentes históricos dos direitos
humanos remontam basicamente “ao quadro das importantes conquistas (...)
proporcionadas pelas revoluções liberais do século 18” (LUCAS, 2010, p.37),
destacando-se o Bill of Rights (1689) na Inglaterra, a Declaração de Independência
(1776) seguida Constituição Federal (1787) nos Estados Unidos, e a Declaração
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) na França53. Ainda que se
reconheça a relevância de demais antecedentes que possam vir a ser levantados,
esses fatores correspondem ao núcleo fundamental dos direitos humanos na sua
construção histórico-política moderna, demarcando-os em sua dimensão jurídica e
institucional.
É de se ressaltar, contudo, que o marco para a afirmação da universalidade
dos direitos humanos se deu com a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
“adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas a 10.12.1948” (RANGEL, 2002,
p.656)54. Denotando a emergência “de um consenso ético-global mínimo” (BEDIN,
1999, p.141), a Declaração inaugura a concepção contemporânea dos direitos
53
A importância dessas declarações de direitos relacionadas às configurações estatais
remanescentes remetem à abordagem feita no primeiro capítulo.
54
“Dos então 58 Estados membros da ONU, 48 votaram a favor, nenhum contra, 8 se abstiveram e 2
estavam ausentes na ocasião” (RANGEL, 2002, p.656).
137
humanos, a qual, segundo Flávia Piovesan, é “marcada pela universalidade e
indivisibilidade destes direitos” (2007, p.88). Se a universalidade “clama pela
extensão universal dos direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa
é o requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como
um ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade”, a
indivisibilidade se traduz no reconhecimento de que “a garantia dos direitos civis e
políticos é a condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e
culturais e vice-versa” (PIOVESAN, 2007, p.88). O que se vê, na explicação de
Rogério Gesta Leal, é que a Declaração “estabelece uma mediação do discurso
liberal da cidadania com o discurso social, alinhando tanto os direitos civis e
políticos, como direitos sociais, econômicos e culturais” (1997, p.86), os quais
passam a compor uma unidade interdependente, inter-relacionada e indivisível ao
conjugar diversas esferas de direitos pela aproximação de preceitos morais, éticos e
jurídicos sob o princípio da dignidade da pessoa humana55.
55
Percebe-se essa unicidade dos direitos humanos quando se nota que se os artigos II a XXI da
Declaração tratam dos direitos civis e políticos, os artigos XXII a XXVIII tratam dos direitos
econômicos, sociais e culturais, todos conectados pelo princípio da dignidade da pessoa humana
tratado no Preâmbulo e no artigo 1°. Com relação aos direitos econômicos, salienta-se que os
mesmos geralmente são postos ao lado dos direitos sociais já expostos em linhas gerais no primeiro
capítulo, exprimindo, nas palavras de João Martins Bertaso, a obrigação do Estado de intervir
socialmente no sentido de colocar “à disposição da sociedade os meios materiais de implementação
das condições fáticas para o efetivo exercício da cidadania e para minimizar a desigualdade social,
efetivando os direitos sociais e econômicos como educação, saúde, segurança [e] seguridade social,
a fim de viabilizar o bem-estar (...) individual e coletivo” (2002, p.421). Quanto aos direitos culturais,
um marco pode ser encontrado na criação da UNESCO em 1945, posteriormente respaldada pela
Declaração de 1948. Em 2001, por conta da 31ª Conferência Geral da UNESCO, foi adotada a
Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, a qual, logo em seu primeiro artigo, “eleva a
diversidade cultural à posição de ‘patrimônio comum da humanidade’ e também a considera tão vital
‘para o gênero humano quanto a biodiversidade na ordem dos seres vivos’” (MATTELART, 2005,
p.139). Quanto à criação de um mecanismo jurídico de proteção da diversidade cultural, sua gênese
teve origem na Conferência Geral da UNESCO de 2003. Nessa Conferência se decidiu elaborar,
“tendo em vista o ano de 2005, uma ‘Convenção Internacional para a Preservação da Identidade
Cultural’” (MATTELART, 2005, p.139). Posteriormente, em 2004, a Conferência mudou “o título do
projeto para ‘Convenção sobre a Proteção da Diversidade dos Conteúdos Culturais e das Expressões
artísticas’” (MATTELART, 2005, p.139). O propósito da Convenção seria conferir força de lei à
Declaração da 31ª Conferência Geral da UNESCO de 2001, assegurando “o direito dos indivíduos e
dos grupos a criar, difundir e ter acesso aos bens e serviços culturais, zelando para evitar que a
proteção à diversidade não se faça às expensas da abertura às outras culturas” (MATTELART, 2005,
p.141). De maneira fundamental, trata-se de “reconhecer a todo governo o direito de, ‘em seu
território, tomar qualquer medida legislativa, regulamentar ou financeira para proteger e promover a
diversidade das expressões culturais, particularmente quando elas se encontram em perigo ou em
situação vulnerável’, e de minimizar o desequilíbrio das trocas internacionais, reservando um
tratamento particular às nações desfavorecidas” (MATTELART, 2005, p.142). Reflexo da importância
desses direitos pode também ser encontrado no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ambos de 1966.
138
Conforme Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade da pessoa humana consiste na
“qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando (...) um complexo de direitos e deveres fundamentais” que
assegura a toda pessoa a proteção contra qualquer ato degradante, além de
propiciar condições existenciais básicas e “promover sua participação ativa e coresponsável nos destinos da própria existência em comunhão com os demais seres
humanos” (2008, p.63). Assim é que, consoante Antônio Junqueira de Azevedo, o
conceito de dignidade da pessoa humana ultrapassa o plano normativo em direção
ao plano axiológico “porque a dignidade é valor – a dignidade é a expressão do valor
da pessoa humana. Todo o ‘valor’ é a projeção de um bem para além; no caso, a
pessoa humana é o bem e a dignidade, o seu valor, isto é, a sua projeção” (2002,
p.12). Consequentemente, a dignidade da pessoa humana, sendo um princípio e um
valor, dá coerência e unicidade aos direitos como atributos fundamentais do
indivíduo, constituindo, além de “um princípio básico de orientação ético-política das
Constituições”, um primado “usualmente presente no Direito Internacional,
integrando cláusulas de Cartas, Tratados, Pactos e Convenções internacionais”,
servindo também como “princípio diretivo da jurisprudência dos Tribunais
Superiores” (CORRÊA, 2010, p.34). No dizer de Maria Garcia, “a dignidade da
pessoa humana corresponde à compreensão do ser humano na sua integridade
física
e
psíquica,
como
autodeterminação
consciente,
garantida
moral
e
juridicamente” (2004, p.211)56.
56
Segundo Adolfo Sánchez Vázquez, não se pode confundir ética e moral, isto porque é a ética que
se “depara com uma experiência histórico-social no terreno da moral, ou seja, com uma série de
práticas morais já em vigor e, partindo delas, procura determinar a essência da moral, sua origem, as
condições objetivas e subjetivas do ato moral, as fontes da avaliação moral, a natureza e a função
dos juízos morais, os critérios de justificação destes juízos e o princípio que rege a mudança e a
sucessão de diferentes sistemas morais” (2003, p.22). Deve-se ter em mente que a moral é o objeto
da ética na medida em que a “ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em
sociedade” (VÁZQUEZ, 2003, p.23), relevando-se que a ética “não é a moral e, portanto, não pode
ser reduzida a um conjunto de normas e prescrições”, tendo-se em vista que “sua missão é explicar a
moral efetiva” (VÁZQUEZ, 2003, p.24) e deter a possibilidade influir na própria moral. A
interpenetração de moral, ética e direito, nesse sentido, fica clara quando se percebe a articulação
dos direitos humanos em torno do princípio da dignidade da pessoa humana, entendendo-se que
princípios, conforme Miguel Reale, consistem em “verdades ou juízos fundamentais, que servem de
alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos
relativos a cada porção da realidade” (1986, p.60). Assim é que o princípio da dignidade da pessoa
humana compõe o núcleo dos direitos humanos, garantindo a logicidade e a harmonia dos seus
preceitos.
139
Da abrangência inerente ao princípio da dignidade da pessoa humana em
torno do qual transitam os direitos humanos, existem três posições teóricas básicas
que visam explicar a existência e o fundamento desses direitos: a teoria
jusnaturalista, a teoria positivista e a teoria moralista. Nas palavras de José Carlos
Gobbis Pagliuca, a teoria jusnaturalista refere que os “direitos humanos são
inerentes ao ser humano e, por isso, nascem com a própria humanidade”,
guardando uma “origem natural, universal e para alguns até divina” (2010, p.18),
transcendendo o campo meramente normativo. Inscrevem-se os direitos humanos,
como elucida Nestor Sampaio Penteado Filho, “em uma ordem suprema, universal,
imutável, não se tratando de obra humana” (2010, p.19). Já a teoria positivista fala
que os direitos humanos “são apenas aqueles que a lei cria e prevê consoante a
vontade política do legislador, ficando, pois, escoltados apenas sob a legislação
respectiva” (PAGLIUCA, 2010, p.18), consistindo em uma criação normativa que
circunscreve esses direitos como “aqueles reconhecidos pela legislação positiva”
(PENTEADO FILHO, 2010, p.19). A teoria moralista, por sua vez, defende “que o
fundamento dos direitos humanos encontra-se na consciência moral do povo”
(PENTEADO FILHO, 2010, p.19), da qual o principal defensor é Chaïm Perelman.57
Conclui-se assim que não existe apenas um fundamento dos direitos
humanos, mas vários fundamentos possíveis, de maneira que essa busca dos
fundamentos deve ser “acompanhada pelo estudo das condições, dos meios e das
situações nas quais este ou aquele direito pode ser realizado” (BOBBIO, 1992,
p.24). Por isso é que, à parte a divergência teórica existente, parece válido, na
posição de Alexandre de Moraes, reconhecer que
[...] as teorias se completam, devendo coexistir, pois somente a partir da
formação de uma consciência social (teoria de Perelman), baseada
principalmente em valores fixados na crença de uma ordem superior,
universal e imutável (teoria jusnaturalista), é que o legislador ou os tribunais
encontram substrato político e social para reconhecerem a existência de
57
Existe também uma diferenciação técnica entre “direitos do homem”, “direitos humanos” e “direitos
fundamentais”, embora tais expressões normalmente sejam empregadas como equivalentes, onde os
“direitos do homem” corresponderiam basicamente às teorias jusnaturalista e moralista. Já os “direitos
fundamentais” seriam aqueles reconhecidos pela ordem jurídica de determinado Estado, enquanto os
“direitos humanos” estariam para aqueles direitos expostos em Tratados e Declarações
internacionais.
140
determinados direitos humanos fundamentais como
ordenamento jurídico (teoria positivista) (1997, p.35).
integrantes
do
Disso se depreende que a possibilidade de um conceito dos direitos
humanos se funde à própria conceituação do princípio da dignidade da pessoa
humana, o qual se mostra dinâmico em função das vicissitudes históricas nas quais
se apresenta, de modo que qualquer tentativa de conceituação tem de levar em
consideração a história e a realidade empírica dos povos, “motivo por que esta
categoria é efetivamente variável, principalmente em razão das demandas sociais e
dos interesses corporativos, das lutas de classe, das transformações técnicas, e
assim por diante” (LEAL, 1997, p.55).
Constata-se isso quando se nota que a Declaração de 1948 deu margem ao
surgimento dos direitos de solidariedade, os quais, segundo Bonavides, não são
destinados “à proteção dos interesses de um indivíduo, grupo ou de um determinado
Estado. Têm por destinatário o gênero humano mesmo num momento expressivo de
sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta” (apud
BEDIN, 1999, p.133). “Por isso, não são ‘direitos contra o Estado’, direitos de
‘participar do Estado’, ou direitos ‘por meio do Estado’, mas sim direitos ‘sobre o
Estado’” (BEDIN, 1999, p.133), não se confundido com os direitos civis, políticos e
sociais, já que compreendem uma geração de direitos que qualifica o ser humano no
âmbito internacional, advindo dessa concepção “o direito ao desenvolvimento, ao
meio ambiente sadio, à paz e à autodeterminação dos povos” (BEDIN, 1999, p.134).
Se os direitos civis e políticos podem ser identificados com uma primazia da
liberdade e os direitos sociais com uma preponderância da igualdade, os direitos de
solidariedade, direcionados “ao patrimônio comum da humanidade, constituindo-se
em interesses difusos e coletivos, que transcendem o indivíduo ou grupos de
indivíduos” (PENTEADO FILHO, 2010, p.26), representam a identificação com uma
noção de fraternidade – isso para traçar um paralelo com o lema da Revolução
Francesa e enfatizar o alcance desses direitos na esfera nacional e internacional.
No apontamento de Alindo Butzke, Giuliano Zienbowicz e Jacson Roberto
Cervi, a tutela desses direitos demonstra “toda uma transformação do Estado e de
suas relações com a sociedade civil, provocando uma mudança dos instrumentos
jurídicos originalmente concebidos (...) somente para a tutela dos direitos
141
interindividuais” (2006, p.164). Isso denuncia uma mudança significativa que enfatiza
o interesse coletivo e sinaliza “para a necessidade de superação – não no sentido de
negação, mas de ir além numa síntese superior – da estrutura tradicional do Estado
moderno, em especial de seu conceito de soberania e/ou âmbito de validade
territorial” (BEDIN, 1999, p.134). Como os direitos civis, políticos e sociais se voltam
acentuadamente para a esfera jurisdicional restrita ao Estado, os direitos de
solidariedade afetam a própria soberania estatal ao compor um aparato jurídico que
transcende o indivíduo para alcançar a coletividade mediante o preceito da
fraternidade, compreendendo “direitos sobre o Estado”. Tais direitos basicamente
abordam “o direito de viver num ambiente não poluído” (BOBBIO, 1992, p.6)58,
trazendo desdobramentos no campo da engenharia genética e da manipulação do
patrimônio genético, do que novamente se verifica a dinamicidade inerente aos
direitos humanos a partir da sua universalidade e indivisibilidade, a qual conjuga os
valores da liberdade e da igualdade mediante o entendimento de que um direito não
sobrepõe o outro, mas interage com os outros direitos de forma interdependente e
inter-relacionada59.
Daí é que tendo por base a orientação de Bobbio (1992), pode-se aduzir a
existência de no mínimo quatro gerações de direitos: direitos civis (primeira
geração), direitos políticos (segunda geração), direitos econômicos e sociais
(terceira geração) e direitos de solidariedade (quarta geração). Disso se extrai que a
partir da segunda metade do século XX, houve “um significativo avanço na
enunciação dos direitos de cidadania, deixando-se de referenciá-los exclusivamente
ao ser humano isoladamente considerado”, assumindo os direitos humanos uma
58
Essa problemática se insere nas disposições relativas aos direitos humanos na medida em que,
conforme Eliane Elisa de Souza e Azevêdo, “após o nascimento, a parte mais nobre do projeto
genético ainda está em execução, isto é, o sistema nervoso central. Até os três anos de idade, a
ausência de nutrição adequada continua pondo o projeto genético em risco; isto é, pondo em risco a
saúde da criança para toda a sua vida. Muito mais que fruto de um determinismo genético, a espécie
humana é fruto do determinismo ambiental. O ambiente é superior ao biológico. Não existem genes
que assegurem o crescimento e o desenvolvimento na ausência de ambiente adequado” (2002,
pp.71-72).
59
Essa conjugação é encontrada na Resolução n° 32/130 da Assembléia Geral das Nações Unidas,
sendo respaldada pela Conferência de Viena sobre Direitos Humanos de 1993. Essa Conferência
também é importante no sentido de que “endossou o conteúdo da Declaração Universal da ONU de
1948, reafirmando o universalismo dos direitos humanos e introduzindo novos princípios, quais
sejam: indivisibilidade (direitos humanos não se sucedem, mas se cumulam em dimensões);
interdependência (os direitos políticos e os direitos sociais devem reforçar-se mutuamente); interrelacionalidade (interatividade entre direitos humanos e os sistemas internacionais de proteção)”
(PENTEADO FILHO, 2010, p.22).
142
dimensão coletiva, “tendo em vista que sua efetiva aplicação não pode mais
dispensar o sentido da solidariedade, da reciprocidade e da cooperação de todos os
grupos sociais” (CORRÊA, 2010, pp.440-441). Surge dessa concatenação de
direitos exposta pela Declaração de 1948 a universalidade dos direitos humanos, a
qual, extensível a todas as pessoas independente de sua vinculação cidadã,
conforme Mireille Delmas-Marty, “implica (...) num compartilhar de sentidos e mesmo
num enriquecimento de sentidos pela troca de culturas” (2003, p.19). A Declaração
“sugere a harmonização dos sistemas de direito, na medida em que as diferenças
são admitidas (donde um certo relativismo), mas com a condição de serem
compatíveis com os princípios fundadores comuns (o que preserva a harmonia do
conjunto, donde o universalismo)” (DELMAS-MARTY, 2003, p.20).
Embora a Declaração carregue a pretensão da universalidade dos direitos
humanos, muitos são os entraves para que essa universalidade se concretize. À
laicidade estatal se opõem os fundamentalismos religiosos, ao direito ao
desenvolvimento se elevam inúmeras assimetrias existentes entre os Estados, à
proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais, colidem as forças provenientes
da multidimensionalidade da globalização contemporânea, ao necessário respeito à
diversidade, afloram as intolerâncias, à preservação dos direitos e liberdades
públicas, volta-se o combate ao terrorismo internacional, e ao universalismo da
Declaração, surgem os defensores do relativismo cultural.
Especificamente quanto ao debate entre universalistas e relativistas, é
preciso referir que os primeiros sustentam que “os direitos humanos decorrem da
dignidade humana (...) enquanto valor intrínseco à condição humana” que levaria a
um “mínimo ético irredutível” (PIOVESAN, 2007, p.91). Já os relativistas propõem
que “a noção de direitos está estritamente relacionada ao sistema político,
econômico, cultural, social e moral vigente em determinada sociedade” (PIOVESAN,
2007, p.91), de modo que a pluralidade de culturas produz seus próprios valores e
não concede espaço à existência de um valor universal. Christoph Eberhard,
entretanto, ao buscar uma superação da discordância entre universalistas e
relativistas, aduz que se “a posição universalista, ao invés de fortalecer a
universalidade dos direitos humanos, acaba por enfraquecê-la, eliminando, por
intermédio da exclusão, seu alicerce mais fundamental: os diferentes povos do
143
mundo” (2004, p.164), a posição relativista, ao absolutizar as diferenças, esquece a
possibilidade da existência de um horizonte humano comum, já que nega o diálogo
ao defender que o particularismo de valores, concepções e visões de mundo de uma
determinada cultura não pode ser questionado ou mesmo complementado por outra
cultura. Nesse sentido, Eberhard aposta em um diálogo intercultural para a
concretização dos direitos humanos, o qual não refutaria sua universalidade e nem
adotaria uma postura completamente relativista, procurando, de outra forma, pontos
de encontro entre culturas diversas que poderiam apontar para emersão efetiva dos
direitos humanos mediante o que Herrera Flores chama de “universalismo de
confluência” (apud PIOVESAN, 2007, p.92).
À parte esse embate e a tentativa da sua resolução, a Conferência de Viena
sobre Direitos Humanos de 1993, ao consagrar a indivisibilidade, a interdependência
e a inter-relacionalidade dos direitos humanos, igualmente reafirmou sua
universalidade já expressa na Declaração de 1948. Essa Conferência detém singular
importância no cenário internacional “pois dela participaram mais de 170 países, os
quais, após longa discussão, aprovaram, sem qualquer voto em contrário, a
Declaração e o Programa de Ação de Viena” (BEDIN, 1999, p.141). Isso suscitou a
emergência de instrumentos legais que reforçassem o acompanhamento e a
fiscalização do cumprimento e do respeito aos direitos humanos em âmbito mundial,
vindo a respaldar a sua já corrente internacionalização, a qual detém antecedentes
históricos no Direito Humanitário ou Direito Internacional da Guerra, na fundação da
SDN e na criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ambas de 1919,
provenientes do Tratado de Versalhes.
Segundo Piovesan (1997), o Direito Humanitário ou Direito Internacional de
Guerra constitui o componente de direitos humanos da lei da guerra, compondo “a
reunião de postulados, normas e condutas, jurídicas ou não, empreendidas pelos
seres humanos buscando a diminuição dos danos provocados pela guerra”
(DEL’OLMO, 2006, p.281). Os fundamentos do Direito Humanitário se encontram no
Direito de Genebra, referindo-se às Convenções ocorridas em 1949, e no Direito de
Haia, remetendo à Convenção de 1899 e aos demais Protocolos e Convenções
posteriores que a revisaram. Quanto ao Direito de Genebra, seus traços básicos
destinam-se “à proteção das vítimas de conflitos armados, quais sejam, os feridos,
144
enfermos, prisioneiros de guerra, náufragos, população civil e os militares que
estejam fora de combate ou sejam não-combatentes” (DEL’OLMO, 2006, p.282). Já
o Direito de Haia propugna que a beligerância não deve sonegar o aspecto
humanitário, visando também um engajamento contínuo pelo desarmamento no
sentido de limitar ou frear a fabricação de armas. Essas características são
importantes para a internacionalização ainda que precária dos direitos humanos,
visto que apontam limites à autonomia e à liberdade dos Estados mesmo na
hipótese de conflito armado.
Quanto à SDN, a promoção da cooperação, da paz e da segurança
internacional, condenando agressões externas contra a integridade territorial e
defendendo a independência política dos Estados-membros, redefine a noção de
soberania absoluta dos Estados, incorporando em seu conceito compromissos e
obrigações de abrangência internacional no que diz respeito aos direitos humanos, a
exemplo de previsões genéricas condizentes com o comprometimento dos países
em assegurar condições justas e dignas de trabalho para homens, mulheres e
crianças60. Já OIT, com o objetivo de implementar melhorias “das condições de
trabalho e dos padrões de vida (...) pela promoção da estabilidade econômica e
social”, visando “o estabelecimento de uma paz duradoura através da implantação
da
justiça
social”
(DEL’OLMO,
2006,
p.114),
representa
um
marco
na
internacionalização dos direitos humanos principalmente após sua 26ª Conferência
realizada na Filadélfia (EUA) em 1944. Dessa Conferência, que resultou na
Declaração da Filadélfia, a busca do pleno emprego, “o aumento do nível de vida, a
formação
profissional
dos
trabalhadores,
a
remuneração
digna
com
o
estabelecimento de um piso salarial mínimo, a possibilidade de negociar
coletivamente contratos de trabalho” (SEITENFUS, 2008, p.230), dentre outras
disposições, compreendem tratativas que tendem à consignação de um padrão justo
e digno das relações trabalhistas.
60
A alínea “a” do artigo 23 do Pacto da Sociedade das Nações, referindo-se aos Estados-membros
que a compõem, atesta o seguinte: “Esforçar-se-ão por assegurar e manter condições de trabalho
equitativas e humanas para o homem, a mulher e a criança nos seus próprios territórios, bem como
em todos os países aos quais se estendam suas relações de comércio e de indústria e, para este fim,
fundarão e manterão as necessárias organizações internacionais” (RANGEL, 2002, p.32).
145
O que se percebe é que esses institutos rompem com o conceito tradicional
que concebia o direito internacional apenas como a lei do sistema internacional de
Estados, já que os Estados seriam os únicos sujeitos de direito nesse âmbito.
Rompem também com a noção de soberania absoluta na medida em que admitem
intervenções no plano nacional em prol da proteção dos direitos humanos. Emerge
então a idéia de que o indivíduo é sujeito de direito internacional, começando a se
consolidar a capacidade processual internacional dos indivíduos na esteira da
concepção de que os direitos humanos não mais se limitam à jurisdição exclusiva
dos
Estados,
constituindo-se
em
matéria
de
interesse
internacional,
desenvolvimento este que alcançou seu auge com a criação da ONU em 1945 e
com a Declaração de 194861. Aos poucos, no entendimento de Antônio Augusto
Cançado Trindade, passaram a ser consideradas “sujeitos de direito ‘todas as
criaturas humanas’, como membros da ‘sociedade universal’, sendo ‘inconcebível’
que o Estado venha a negar-lhes esta condição” (2002, p.6).
Acompanhando esse movimento, foram redigidas “convenções particulares
que estabelecem sistemas específicos de proteção dos direitos humanos com
órgãos especiais para supervisionar e controlar estas funções” (LEAL, 1997, p.91),
dando origem ao direito internacional dos direitos humanos. “Ao lado do sistema
normativo global, surgem os sistemas regionais de proteção, que buscam
internacionalizar os direitos humanos nos planos regionais, particularmente na
Europa, América e África” (PIOVESAN, 2007, p.89). Há a consolidação de uma
coexistência do sistema global expresso pela Carta da ONU de 1945 e pela
Declaração de 1948, com instrumentos relativos a sistemas regionais, os quais
integram o sistema europeu, africano e americano de proteção dos direitos
humanos62. A importância da internacionalização dos direitos humanos está para o
61
O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, instalado de 1945 à 1949 na cidade de Nuremberg,
na Alemanha, é também um marco significativo “para o direito internacional penal, principalmente no
que tange à inclusão do indivíduo como acusado, responsabilizando-o diretamente por seus atos
contra os direitos humanos” (PAGLIUCA, 2010, p.48). Tendo como missão julgar os crimes cometidos
durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas e seus partidários, o Tribunal foi criado pelo
Acordo de Londres, do qual foram signatários os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a União Soviética,
a França e demais aliados.
62
Com intuito exemplificativo, condizente com o elenco trazido por Pagliuca (2010), não se
pretendendo maiores especificidades quanto ao modo de funcionamento e à estruturação dos
sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, importa referir que o sistema europeu é
composto pela Corte Européia de Justiça (ou tribunal Europeu de Justiça) e a Corte Européia de
146
fato de que a Declaração não é um Tratado, sendo adotada pela Assembléia Geral
das Nações Unidas na forma de Resolução63, a qual não apresenta força de lei.
Dessa maneira, estabelece-se usualmente que a Declaração consiste na
interpretação autorizada da expressão “direitos humanos” contida na Carta da ONU,
buscando a universalidade do seu reconhecimento, o que levaria os Estadosmembros ao respeito e à observância dos direitos proclamados na Declaração.
Acontece que apesar de atualmente se ver uma contínua incorporação das
previsões da Declaração pelas Constituições nacionais, somada às decisões
proferidas pelas Cortes nacionais que referem a Declaração como fonte de direito,
bem como às freqüentes referências de Resoluções da ONU pela obrigação legal de
todos os Estados-membros quanto à obediência da Declaração, a proteção e
mesmo a afirmação da universalidade dos direitos humanos por meio da sua
internacionalização ainda é duvidosa. “Em geral, as ações dos órgãos existentes
têm apenas um caráter moral, chamando a atenção do Estado infrator e da
comunidade internacional para que cesse a violação, mesmo quando se trata dos
casos mais dramáticos e flagrantes” (DORNELLES, 2004, p.180). O choque dos
mecanismos de controle dos direitos humanos com a soberania estatal faz com que
a Declaração, “sessenta anos depois, ainda [careça] de suporte institucional regular,
estabelecido” (BAUMAN, 2010, p.117). Como refere Márcia Mieko Morikawa, “uma
coisa é afirmar e valorizar a dignidade do ser humano como bem jurídico a ser
assegurado mundialmente (universalização dos direitos humanos); outra coisa é a
garantia concreta e efetivação dos direitos humanos (internacionalização)” (2010,
p.277).64
Direitos Humanos. O sistema africano, por sua vez, compõe-se pela Comissão Africana de Proteção
dos Direitos Humanos e pelo Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos. Já o sistema
americano é basicamente dividido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Existe ainda o sistema do extremo oriente, de onde se
destacam a Associação de Nações do Sudeste Asiático e a Associação Sul-Asiática para a
Cooperação Regional. Quanto ao sistema global vinculado à ONU, destacam-se a Corte Internacional
de Justiça (ou Tribunal Internacional de Justiça) e o Tribunal Internacional ou Corte Penal
Internacional.
63
Resolução n° 217 A-III de 10 de dezembro de 1948.
64
“As recentes crises humanitárias, no Haiti, no Sudão, na Libéria, no Iraque, no Afeganistão, entre
outras, são significativas da necessidade de atuação das agências internacionais de direito
humanitário. Outros casos, mais antigos, como a intervenção nos Balcãs com o objetivo de evitar
práticas de ‘limpeza étnica’ contra a população albanesa do Kosovo, e a intervenção de forças
internacionais no Timor-Leste são exemplos significativos de ações internacionais que se
fundamentam na manutenção da ordem internacional com a garantia dos direitos humanos. Não
147
Novamente se nota que a ausência de um efetivo poder superior àquele dos
Estados prejudica a concretização desses direitos, já que o conceito “irrestrito de
soberania nacional impede a ação efetiva dos organismos criados pela comunidade
internacional para a defesa dos direitos humanos” (DORNELLES, 2004, p.180).
Adicionando-se a isso, a afirmação do relativismo cultural, que desdiz das
possibilidades da formação de um consenso ético-jurídico global, e o argumento de
que o compatriota tem prioridade, crendo que somente os membros de um Estado
detêm obrigações para com os demais membros, fazem com que a ordem mundial
seja “semelhante a um estado de natureza hobbesiano, na qual cada Estado é
movido exclusivamente pelos seus próprios interesses” (BEDIN, 1999, p.142)65.
Percebe-se que os direitos humanos permanecem como uma propriedade
escassamente protegida, pois se “ao reconhecimento de direitos individuais deve
corresponder a capacidade processual de vindicá-los, nos planos tanto nacional
como internacional” (TRINDADE, 2002, p.6), a própria capacidade de pleitear por
esses direitos esbarra na ineficácia da sua internacionalização.
O artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 1969,
poderia, ao referir algumas normas imperativas de direito internacional relacionadas
ao jus cogens, resolver o problema da internacionalização dos direitos humanos. Por
norma imperativa de direito internacional, entende-se “uma norma aceita e
reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu conjunto, como
norma da qual nenhuma derrogação é permitida” (RANGEL, 2002, p.341). Segundo
significa, no entanto, que tais ações estejam absolutamente isentas da existência de interesses
políticos, econômicos e militares por parte dos Estados envolvidos. O caso da detenção, no Reino
Unido, do General Augusto Pinochet por iniciativa de um juiz espanhol, que requereu a sua
extradição para responder por crimes contra a humanidade, é outro exemplo de como no campo dos
direitos humanos passa a ser relativa a concepção da soberania absoluta dos Estados. É importante
notar, no entanto, como tais políticas podem ter sinais conservadores e antidemocráticos, como na
política externa norte-americana da era Bush” (DORNELLES, 2004, p.180).
65
A Declaração do Cairo sobre os Direitos Humanos do Islã de 1990 e a Carta Africana sobre Direitos
Humanos e dos Povos de 1981, igualmente constituem obstáculos à universalidade concreta dos
direitos humanos. Quanto à primeira, é baseada em três vetores fundamentais: “a) particularmente
religiosa, uma vez que toma emprestado o Islã como base; b) separa homens e mulheres, apesar de
formalmente lhes garantir os mesmos direitos; c) declara a humanidade como única, porém sob o
Islã, a única verdade” (PAGLIUCA, 2010, p.33). A segunda apresenta outras duas características
interessantes: “a) bem ajustada para os países do mesmo continente e empresta toda preocupação
não apenas com as pessoas, mas com os povos contra a influência estrangeira, notadamente
européia; b) rechaça a dominação por outros povos, fomenta a liberação dos povos colonizados e
prevê ajuda dos demais Estados a um Estado colonizado (difere ainda mais da Carta da ONU de
1945, porque se preocupa muito com o Estado)” (PAGLIUCA, 2010, p.34).
148
Salem Hikmat Nasser, o jus cogens compreende, dentre outras especificações, “a
proibição do genocídio66 (...), a proibição dos atos qualificados como crimes contra a
humanidade67 e (...) [a não violação dos] princípios fundamentais dos direitos
humanos e do direito ao meio ambiente” (2007, p.52). Consistindo, conforme
Tatyana Scheila Friedrich, em uma “expressão jurídica moderna da sociedade
internacional [que adota] um mínimo axiológico, presente em regras e políticas
conjugadas, (...) [como] elemento vital para sua própria sobrevivência” (apud
TRINDADE, 2010, p.203), o jus cogens pode fornecer aporte para um substancial
desenvolvimento da internacionalização dos direitos humanos.
Mas quando se nota que casos de “de tortura, de desaparecimento forçado,
de restrição às liberdades de opinião e de credo, de massacres e genocídios, de
‘limpezas étnicas’, de deslocamento forçado de populações, etc.” (DORNELLES,
2004, p.180), ainda são tratados de modo insuficiente pelos mecanismos
internacionais de proteção dos direitos humanos, deve-se reconhecer que o jus
cogens, mesmo que possa servir como respaldo à obrigatoriedade dos Estados
quanto à observância dos direitos humanos, permanece falho diante das exigências
contemporâneas. Vê-se que “seu conteúdo vai sendo estabelecido paulatinamente,
conforme os valores da comunidade internacional vão se consolidando e sendo
reconhecidos como superiores” (FRIEDRICH apud TRINDADE, 2010, p.204), o que
obviamente não traduz uma plena efetividade das suas disposições.
Além das políticas reticentes de numerosos estados, inúmeras dificuldades
permanecem ainda por resolver: a natureza das violações havidas contra os
direitos que, na sua maior parte, são direitos coletivos; a vontade de alargar
o direito de apresentar comunicações não apenas às vítimas, mas também
a “toda pessoa ou todo grupo de pessoas, toda entidade não governamental
e legalmente reconhecida”, enfim, as dificuldades ligadas aos autores das
violações, com freqüência cometidas em co-responsabilidade com os
estados, os organismos internacionais, as sociedades transnacionais e/ou
66
O artigo 2° da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de 1948,
assinala: “Na presente Convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos, cometidos
com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal
como: a) assassínio de membros do grupo; b) dano grave à integridade física ou mental do grupo; c)
submissão intencional do grupo a condições de existência que lhes ocasionem a destruição física
total ou parcial; d) medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e) transferência
forçada de menores do grupo para outro grupo” (RANGEL, 2002, pp.664-665).
67
“A categoria de crimes contra a humanidade surge com o Tribunal de Nuremberg e se encontra
hoje codificada pelo Estatuto de Roma que cria o Tribunal Penal Internacional (Decreto n. 4.388, de
25 de setembro de 2002). Os crimes assim qualificados são: genocídio, crimes contra a humanidade,
crimes de guerra e crimes de agressão (artigo 5°)” (NASSER, 2007, p.52).
149
terceiros estados que, com suas decisões, contribuem para essas violações
(DELMAS-MARTY, 2003, p.25).
É palpável assim que o sistema de valores e normas engendrado pelos
direitos humanos ainda não detém status de ordenamento jurídico efetivo. Para que
isso seja alcançado, é necessária uma intersecção empírico-normativa que passa
por um fulcro jurídico-político. Quanto aos direitos humanos, “não se trata de saber
quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, (...) mas
sim qual é o modo mais seguro de garanti-los, para impedir que, apesar das solenes
declarações, eles sejam continuamente violados” (BOBBIO, 1992, p.25). É verdade
que o início do século XXI trouxe um “processo de humanização do direito
internacional (...), que passa a se ocupar diretamente da realização de metas
superiores em benefício de todos os seres humanos” (TRINDADE, 2002, p.30). Mas
também é inegável que a herança vestfaliana obstrui a concretização eficaz dos
direitos humanos, à qual se somam as pressões exercidas pelas forças econômicas
globais que fragmentaram “ainda mais o elenco de atores no drama em curso da
‘política internacional’”, diminuindo “as chances de que a política pudesse estar à
altura das capacidades das finanças globais” (BAUMAN, 2010, p.119).
Quando “política se dilui diante da intensidade crescente e o arranque
irrefreável das forças expansivas do capitalismo, (...) gera uma sensação de
frustração e desânimo na cidadania, que provoca a deserção desta do espaço
público” (JULIOS-CAMPUZANO, 2009, p.97). Como nota Hersch Lauterpacht, ao se
“revelarem tendências em substituir a autoridade do direito internacional com um
difícil e precário equilíbrio de forças materiais, a missão dos tribunais nacionais ao
administrar e sustentar ao menos algumas porções de direito internacional” (apud
MANNONI, 2006, p.607) se mostra relevante, o que mais uma vez denota o
paradoxo
existente
entre
a
universalidade
dos
direitos
humanos
e
sua
internacionalização.
Reconhecendo-se que o caminho de Bedau ao falar de uma sociedade na
qual os indivíduos carregam direitos pelo mero fato de serem humanos implica na
afirmação de direitos universais, “é essencial que a instância que concede os
direitos seja idêntica àquela junto à qual eles podem ser cobrados” (TUGENDHAT,
2007, p.345). Se “os direitos humanos nascem como direitos naturais universais,
150
desenvolvem-se
como
direitos
positivos
particulares
(...),
para
finalmente
encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais” (BOBBIO apud
PIOVESAN, 2007, p.86), os mecanismos para a proteção desses direitos prejudicam
sua universalidade. Além disso, se a cooperação de vontades internacionais pode
gerar a existência de uma “vontade comum”, as assimetrias de poder no feitio dessa
“comunhão de vontades” dará importância para alguns atores em descrédito de
outros, mais uma vez se impondo à universalidade dos direitos humanos no âmbito
da sociedade internacional contemporânea.
Diante desses fatores, cumpre analisar as possibilidades de uma cidadania
pós-estatal perante a profusão de perspectivas notada na atualidade. Pode-se
aduzir, antes disso, que a universalidade dos direitos humanos poderia contribuir
para a afirmação de uma “cidadania global” que independeria do vínculo jurídicopolítico do cidadão com o Estado-Nação. Mas a precariedade com relação à
internacionalização desses direitos, como garantia da sua efetivação e concretude,
confronta-se com um cenário onde a economia interfere diretamente na esfera
política, costumeiramente a substituindo em uma sociedade identificada com o
consumo no contexto da globalização. Esses influxos delineiam um panorama onde
o papel dos Estados, ainda que em uma conjuntura de planetarização da política,
mostra-se importante para a manutenção da cidadania, o que, contudo, não destoa
das perspectivas de uma pós-estatalidade cidadã.
3.3 A (im)possibilidade da cidadania pós-estatal na atualidade
O Estado Moderno está assentado nos conceitos de “autoridade” e “poder”.
Entendendo-se que “autoridade é o direito de mandar e dirigir, de ser ouvido e
obedecido” e “poder é a força por meio da qual se obriga alguém a obedecer”
(AZAMBUJA, 2001, p.26), chega-se facilmente à noção de Estado de Direito. Tratase de uma concepção de Estado “que põe em primeiro plano a tutela dos ‘direitos do
homem’, (...) em particular o direito à vida e à segurança pessoal, à liberdade, à
propriedade privada, à autonomia de negociação [e] aos direitos políticos” (ZOLO,
2006, p.5), procurando, desde sua raiz iluminista, proteger “os cidadãos contra o
abuso de poder” (MARVIN, 2002, p.298). Disso resulta uma justificativa estatal que
encontra no direito seu princípio, em que o poder político é assegurado pelo
151
ordenamento jurídico e cria uma circularidade entre Estado e Direito. Isso garante ao
Estado um poder juridicamente organizado que abrange determinado povo, no qual
este, sob a jurisdição estatal do território, é submetido a uma ordem centralizada e
racionalmente estruturada, sujeitando-se ao direito emanado da autoridade estatal
que por sua vez detém o poder do monopólio do uso legítimo da força. Há um
condicionamento do poder do Estado à autoridade do direito, do que se vê que o
Estado independe dos seus governantes, implicando, conforme Morris (2005), na
sua transcendência e na sua continuidade no tempo e no espaço, surgindo também
sua organização política formal e centralizada seguida do compromisso de fidelidade
que cria o vínculo jurídico-político dos cidadãos em relação ao Estado.
Todo esse cenário assinala que modernamente, segundo Hannah Arendt, a
política é “tida como um meio para proteger o sustento da vida da sociedade e [a]
produtividade do desenvolvimento social livre” (2004, p.40). Dessa maneira, a
“política é um império dos meios” (ARENDT, 2004, p.82), evidenciando-se que as
relações entre cidadãos e Estado é que irão garantir a sobrevivência da organização
social moderna. Essas relações, tidas estritamente nos Estados, decorrem da
manifestação interna da soberania estatal, a qual aglutina seus elementos
fundamentais em um único conceito e cria instituições políticas legítimas à
continuidade estatal. Mas quando esses Estados se direcionam a outras entidades
soberanas, suas relações ocorrem nos moldes provenientes da herança vestfaliana,
dando origem ao direito internacional público e à concepção de que os Estados são
os únicos sujeitos de direito internacional.
Essa idéia matizou a configuração da sociedade internacional moderna
baseada no estadocentrismo, imperando um cunho relacional regulado por um
sistema de equilíbrio de poder que procura obstruir o expansionismo dos Estados
animado por sua qualidade soberana. Com a criação da ONU e demais
organizações internacionais de alcance global, com a profusão de ONGs e
empresas transnacionais que passaram a intervir na existência dos Estados, com a
derrocada da URSS e o estabelecimento de um novo multipolarismo acompanhado
da formação de blocos regionais que redimensionam espaços antes ocupados
unicamente pela estatalidade, um relativo isolamento político dos Estados deu
margem a uma crescente interdependência, emergindo a sociedade internacional
152
contemporânea. Caracterizada pelo multicentrismo que coloca todos esses agentes
em um diferenciado circuito de relações de poder, há uma transformação que afeta a
autoridade estatal, produzindo, consoante Mark W. Zacher, “uma ordem mundial
pós-vestfaliana, (...) na qual o Estado continua a ter importância mas apenas como
um dentre vários níveis de autoridade” (apud BEDIN, 2001, p.354).
Com
esse
deslocamento
dos
centros
de
poder,
evidencia-se
o
desdobramento da globalização em uma planetarização da política, a qual designa
“vínculos expressos na trama de organizações transnacionais e de instituições (...)
supranacionais, (...) parte de um novo tecido ‘político’ e de gestão, [dando] outro
significado à noção de pertencer, resignificando a multiplicidade de inserções sociais
e nacionais” (DREIFUSS, 1996, p.171). Os meios que visam o sustento da vida em
sociedade já não são os mesmos, atingindo certa institucionalização que modifica as
tramas do poder “pela ruptura das relações internacionais estadocentristas e pela
multiplicação dos fluxos e dos canais de comunicação e de integração entre os
diversos atores internacionais” (BEDIN, 2001, p.23). A soberania estatal é afetada
na sua bidimensionalidade, pois se por um lado passa a conviver com uma
insuficiência instrumental para regular as novas demandas sociais surgidas em um
contexto de globalização, por outro sofre com um pluralismo jurídico global que
coloca em questão tanto sua autoridade quanto seu poder, trazendo à tona uma
gama de sintomas que se não levam ao desaparecimento do Estado-Nação, situamno em uma conjuntura mundial antagônica em relação àquela presenciada na
sociedade internacional moderna.
É nítido que essa nova ordem não nega as conquistas da modernidade. A
racionalidade da organização estatal permanece, as liberdades civis e políticas são
majoradas com a proliferação de regimes democráticos, a dignidade humana, “que
afirma a integridade e o valor invioláveis da personalidade humana, (...) é a força
que hoje impulsiona a busca global por justiça social e pelos direitos humanos”
(MARVIN, 2002, p.674), reforçada pela Declaração de 1948 e por uma acentuada
tentativa de internacionalização dos meios de proteção desses direitos. Mas da
realidade atualmente vivenciada, onde a aproximação dos indivíduos é acelerada
pelo significativo desenvolvimento dos transportes e da tecnologia tidos a partir de
meados de 1980, também se põe em pauta a cidadania, a qual, “baseada na
153
nacionalidade, sempre excluiu os não-cidadãos dos direitos da cidadania,
constituindo fator de desigualdade em relação a estrangeiros” (VIEIRA, 2001, p.240).
Como afirma Luis Alberto Warat, as discussões relativas à cidadania igualmente
adquirem uma maior importância em razão da “quantidade de atos que, em nome de
uma idéia distorcida de cidadania, exercitam o preconceito contra o estrangeiro,
condenam as diferenças e impõem a exclusão social de um outro vivido como
ameaça” (apud LUCAS, 2010, p.129), o que é percebido claramente quando se
adiciona a isso a sociedade de risco exposta por Beck (2009).
Quando se nota que, no entendimento de Jean-Baptiste Duroselle, a “noção
de ‘estrangeiro’ é a única que permite colocar no mesmo conceito de ‘relações
internacionais’ as relações entre Estados, unidades políticas e indivíduos ou grupos
tidos não relacionados com o Estado” (2000, p.50), a relevância da cidadania para a
contemporaneidade toma contornos ainda maiores. Como as relações internacionais
se modificam em uma conjuntura afeita à planetarização da política na sociedade
internacional contemporânea, modifica-se do mesmo modo a percepção do
estrangeiro como aquele que, sendo diferente, “introduz o aleatório” (DUROSELLE,
2000, p.50) comumente identificado com base na etnia, no idioma, nas tradições, na
religião, nas leis, nos costumes e preponderantemente na nacionalidade, do que se
extrai o condicionamento da cidadania ao status nacional do indivíduo com respeito a
determinado Estado.
Nesse mesmo sentido, a modificação dos vínculos de pertença identitária
ocorrida pela mundialização da cultura, promovendo hibridizações, aproximações,
desaparecimentos e afastamentos culturais, faz com que o Estado, antes repositório
identitário que legitima sua ação através da Nação, incorra em uma pluralidade
cultural estatal e interestatal que não mais produz sólidas conexões de
pertencimento com e entre os cidadãos. À conformação histórico-teórica do EstadoNação e à construção histórico-política da cidadania somam-se enfim diversificadas
linhas e emergências contemporâneas. Consequentemente, se a globalização, a
mundialização e a planetarização são fatos, além de se impor um questionamento
relacionado à soberania do Estado-Nação bem como às relações identitárias que o
cidadão constrói com o Estado, ponto central para o estabelecimento da Nação,
impõe-se a pergunta acerca da possibilidade atual de uma cidadania pós-estatal.
154
Compreendendo-se que a cidadania “tem a ver fundamentalmente com a
participação na comunidade política na qual o cidadão é inserido pelo vínculo
jurídico”
(CORRÊA,
2010,
p.25),
essa
categoria
deve
ser
analisada
na
contemporaneidade principalmente em virtude da reconfiguração do papel do Estado
na sociedade internacional e da universalidade dos direitos humanos.
Quanto
ao
primeiro
fator,
demonstra-se
que
por
mais
que
a
multidimensionalidade da globalização afete a soberania estatal, “os Estados
individuais continuam sendo responsáveis pela primeira e fundamental garantia do
Direito” (HÖFFE, 2002, p.559). Ainda que haja uma dissolução do esquema interiorexterior da soberania que leva ao questionamento sobre “a impermeabilidade
normativa e o monopólio estatal das fontes do direito” (JULIOS-CAMPUZANO, 2009,
p.104), o jogo de poderes da dinâmica global impende ao raciocínio de que a tese
defensora do desaparecimento do Estado é equivocada pela sua precipitação. Ao se
notar que a desregulamentação dos mercados constitui em verdade um excesso de
regulamentações que redunda em um pluralismo jurídico global em decorrência do
multicentrismo da sociedade internacional, nota-se também que essa economia
globalizada não poderia existir sem a intervenção estatal, já que foi a própria
emergência do Estado-Nação que propiciou a expansão do capitalismo. Os
recorrentes momentos de crise pelos quais passa a economia global, como a
recente atribulação entre 2007 e 2009, necessitando de subsídios estatais para sua
manutenção, acusam claramente essa perspectiva.
Isso não exclui a admissão de que a incorporação de políticas neoliberais
aos Estados tenha possibilitado uma gradativa diminuição dos direitos sociais, por
exemplo, levando a uma minimização das suas atividades com práticas de
privatizações e abertura de mercados, do que provém uma fragilização da cidadania.
Também não sonega a existência de uma circunstância generalista na qual o
trabalho é “subordinado ao capital, o trabalhador à máquina ou computador, o
consumidor à mercadoria, o bem-estar à eficácia, a qualidade à quantidade [e] a
coletividade à lucratividade” (IANNI, 2002 p.220). Tanto é assim, que a
contemporânea proximidade das figuras do “cidadão” e do “consumidor” vai ao
encontro desse diagnóstico.
155
Mas o fato é que se os Estados até certo ponto se subordinam às forças do
mercado, as forças de mercado até certo ponto dependem dos Estados ao menos
originariamente, tendo-se em conta que os movimentos da globalização econômica
“começam com as decisões políticas sobre uma liberalização do mercado mundial”
(HÖFFE, 2002, p.554). Porém isso leva a visualizar que há uma inegável fuga das
atribuições estatais que passam a ser compartilhadas com demais atores
internacionais, indicando uma teia de poderes que aparentemente sobrevive sem a
existência do Estado. Mas o fato é que inexiste atualmente qualquer instituição que
possa vir a substituir o Estado em um futuro próximo, do que decorre a premissa
lógica de que a cidadania em sua vinculação estatal subsistirá por muito tempo.
Mesmo que entidades como as organizações internacionais tenham relevante papel,
suas estruturas e procedimentos não são “globais em sua natureza, porém
‘internacionais’ (mais precisamente, entre Estados)” (BAUMAN, 2010, p.118), o que
mais uma vez aponta para uma previsível continuidade do Estado e da cidadania a
ele correlata.
No que diz respeito à relação da cidadania com a universalidade dos
direitos humanos, é interessante abordar a posição de Morikawa (2010), sendo que
esta
circunscreve
a
cidadania
na
contemporaneidade
a
partir
do
seu
desenvolvimento histórico-político relacionado às respectivas conquistas de direitos
que delimitam a face dessa categoria. Primeiramente, contudo, é preciso referir que
no dizer de José Gomes Canotilho, “a nacionalidade pressupõe pertença [e] a
cidadania aponta para a participação” (apud MORIKAWA, 2010, p.270). Enquanto a
nacionalidade se direciona para uma relação identitária do indivíduo em relação à
Nação, a cidadania marca a participação desse indivíduo no Estado. A
nacionalidade é a atribuição de uma qualidade ao indivíduo e a cidadania é um
complexo de direitos que subordina o indivíduo ao Estado ao passo que o Estado a
ele se subordina para atingir sua legitimidade legal68. A cidadania então é um
68
Não se pode esquecer o artigo 15° da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “Todo homem
tem direito a uma nacionalidade” (RANGEL, 2002, p.659). Disso decorre que “são os cidadãos que
ostentam as prerrogativas da nacionalidade, podendo entender-se – por nacionalidade – o vínculo
legal que une um indivíduo a um Estado sob a égide de seu domicílio – jus soli – ou de seu
nascimento – jus sanguinis. Contudo, a vontade de conservar ou mudar a nacionalidade constitui um
direito do nacional, podendo renunciar a ela” (OLIVEIRA, 2002, p.489). Portanto, ainda que exista
certa dicotomia conceitual entre nacionalidade e cidadania, ela é resolvida pela subordinação da
Nação ao Estado característica da modernidade, da qual a seqüência é o princípio da
156
exercício atribuído pelo Estado no sentido de um “direito a ter direitos” que alude “o
acesso ao espaço público de convivência coletiva, no qual a igualdade em dignidade
e direitos precisa ser politicamente construída” (CORRÊA, 2010, p.25).
Dessa forma surge uma primeira geração da cidadania relacionada à
cidadania “binária originária”, para a qual a “existência” do indivíduo “no seio de uma
sociedade dependia (e ainda depende) de um vínculo jurídico (a nacionalidade
instrumental da cidadania), que o ligaria a essa realidade política (o Estado)
conferindo-lhe direitos e deveres” (MORIKAWA, 2010, pp.270-271). Trata-se do
reconhecimento de que a cidadania é o único instrumento que proporciona o acesso
aos direitos, traduzindo-se basicamente na proteção diplomática no âmbito
internacional. Sendo uma relação binária Estado-cidadão, articula-se no interior do
Estado mediante a ordem normativa nele estabelecida, condicionando o direito aos
direitos a essa circunferência ligada ao território e à autoridade estatal. Vislumbra-se
“o homem artificial hobbesiano (...) surgido em decorrência do pacto forjado pela
transferência das liberdades dos indivíduos em estado de natureza”, justificando-se
a cidadania pela “salvaguarda à vida desse cidadão através das instâncias legais”
(OLIVEIRA, 2002, p.490).
Com a compressão do espaço e do tempo características da globalização,
essa concepção tradicional da cidadania é afetada com “os processos imigratórios
voltados para o velho mundo e para os EUA, os conflitos étnicos, o imenso fluxo do
comércio internacional, as crises financeiras mundiais, etc.” (LUCAS, 2010, p.122).
Principalmente após a Guerra Fria e a profusão de um pluralismo cultural ao qual se
seguiu uma acentuada demanda reivindicatória de concepções de cidadania
diferenciadas “em função do pertencimento a grupos e comunidades particulares”
(VIEIRA apud MORIKAWA, 2010, p.269), viu-se o abalo desse entendimento. Gerida
pelas conquistas de direitos provindas das revoluções liberais do século XVIII e
traçada em função de uma sociedade internacional organizada pela Paz de
autodeterminação dos povos nutrido pelos primórdios do nacionalismo – não sendo demais reafirmar
que mesmo com a existência desse princípio, nem todo Estado irá corresponder a uma Nação e nem
toda Nação irá corresponder a um Estado. Optou-se assim pela utilização da terminologia “pósestatal” ao invés de “pós-nacional”, visto que uma possível pós-estatalidade cidadã carrega maior
rigor conceitual quanto ao vínculo jurídico-político da cidadania, além de afastar analises relativas à
identidade cultural que não constituem objeto de estudo desse trabalho, embora ocasionalmente
referidas de forma sucinta.
157
Vestfália, essa cidadania “binária originária” delimita o exercício de direitos ao papel
do cidadão, para o qual o instrumento de acesso a esses direitos é a nacionalidade,
pressupondo ser a cidadania “um estatuto comum a um grupo de indivíduos, que os
une e os igualiza perante o Estado e o seu Direito” (CARVALHAIS, 2004, p.118). O
nacionalismo provindo da Revolução Francesa de 1789 é um dos grandes
responsáveis pela disseminação dessa cidadania, remanescendo uma “forte
doutrina que rejeitava a dupla nacionalidade” (MORIKAWA, 2010, p.271) para
realçar o vínculo moral do cidadão à Nação francesa com a finalidade de garantir a
unidade política e nacional.
Mas com o crescente nascimento e posterior desenvolvimento dos blocos
regionais,
principiando
em
uma
integração
econômica
que
se
torna
progressivamente mais complexa e atinge “a livre circulação de fatores de produção,
capitais, coordenação de políticas macroeconômicas e a unificação das políticas
nacionais” (OLIVEIRA, 2009, p.59), abre-se uma segunda geração de cidadania: a
cidadania “binária comunitária” que é “adquirida [como] fruto de uma deliberação de
Estados para a criação desta cidadania comunitária, para além do nacional”
(MORIKAWA, 2010, p.272). O aspecto “binário” é mantido porque o exercício da
cidadania é dependente do seu Estado originário, construindo-se mediante um
imperativo que estabelece que o “Estado (comunidade política) a que pertence o
cidadão (nacionalidade) deve ser membro desse ‘grau superior’ de comunidade
política” (MORIKAWA, 2010, p.272). Deriva-se então a cidadania comunitária dos
blocos regionais, aparecendo a União Européia como a experiência mais avançada
até o momento.
Delimitada pelos Tratados de Maastricht, de 1992, e Amsterdam, de 1997, é
uma cidadania que assinala que os “nacionais dos Estados-membros desfrutam dos
direitos que lhes são atribuídos no interior de seus próprios Estados e mais aqueles
decorrentes dos Tratados da Comunidade nos territórios dos demais Estadosmembros” (OLIVEIRA, 2002, p.506). Possuindo a qualidade de cidadão de um
Estado-membro, o indivíduo passa a usufruir dos direitos estabelecidos pelos
Tratados do bloco. Dentre os diversos pontos abordados pelos Tratados, destaca-se
o direito de livre circulação e residência, o direito de participação política no lugar de
residência, a proteção do cidadão da União Européia em outros países, a
158
preservação dos direitos fundamentais por meio de Cortes próprias do bloco e a
defesa dos direitos dos cidadãos através de políticas comuns aos Estadosmembros.
É importante deixar claro que se a nacionalidade é perdida, perde-se os
direitos da cidadania européia, já que os direitos referentes a esta estão
inseparavelmente ligados à nacionalidade dos Estados-membros. Configura-se
assim uma cidadania que “não substitui a nacionalidade dos Estados-membros,
constituindo ‘uma segunda camada, por cima da cidadania nacional’” (MORIKAWA,
2010, p.273), visto que as próprias condições para a atribuição de nacionalidade nos
Estados-membros não são objeto da União Européia, mas dos Estados. Entretanto,
há um óbvio reflexo dessa realidade para a soberania: partindo-se do direito
comunitário se chega a uma cidadania supranacional que implica em uma soberania
compartilhada difusa da soberania clássica. Segundo Pagliarini ao comentar Jürgen
Habermas, isso seria benéfico na medida em que as conquistas do Estado-Nação
no que se refere às liberdades advindas do Estado Liberal e às garantias surgidas
com o Estado social, somente poderiam ser “repetidas e providas, no atual momento
de globalização econômica, pela supranacionalização política” (2007, p.39).
Mesmo que em termos de igualdade não se possa falar que a cidadania
comunitária proporciona um trato paritário entre os cidadãos dos Estados-membros
da União Européia, alguns efeitos positivos da supranacionalidade são observados,
“quer no sentido do afastamento do dogma do caráter único do vínculo de
nacionalidade, quer no do alargamento do conceito de cidadania que resulta da sua
referência a entidades outras que não o Estado” (RAMOS, 2002, p.297). De
qualquer forma, a cidadania européia mantém a noção de estrangeiro, apenas o
relegando a uma condição privilegiada, onde “goza nos Estados membros de
direitos em princípio reservados aos nacionais respectivos e que os exercerá em
condições idênticas às destes” (RAMOS, 2002, p.294). A inovação reside no fato de
que mesmo sem ser nacional de um Estado, o indivíduo pode, sem a aquisição da
respectiva cidadania, desfrutar de direitos primeiramente reservados apenas aos
nacionais.
159
Além das cidadanias “binária originária” e “binária comunitária”, Morikawa
aduz
uma
terceira
geração
relativa
à
cidadania
“binária
internacional”,
correspondendo a “uma cidadania que se impõe ao Estado, exigindo deste
conformidade (positiva e negativa) com a ideia de dignidade humana” (2010, p.274).
Fala-se aqui de uma “cidadania onusiana consagrada, principalmente, pela
Declaração dos Direitos do Homem da ONU e pelos dois Pactos Internacionais
(direitos civis e políticos/direitos econômicos, sociais e culturais)” (MORIKAWA,
2010, p.274). Como a cidadania comunitária, essa “cidadania onusiana” depende do
Estado para o seu exercício. Ainda que constitua um marco para a disseminação e
consequente tentativa de proteção do princípio da dignidade da pessoa humana,
não ultrapassa a binariedade das outras gerações, permanecendo “a cidadania – e
não a humanidade do sujeito – o critério mais importante para a atribuição e usufruto
de direitos, incluindo os direitos fundamentais, básicos e inalienáveis da Declaração
Universal” (CARVALHAIS, 2004, p.121). Há “a afirmação da cidadania como
pressuposto dos direitos humanos” (CORRÊA, 2006, p.220) e não a existência
humana como pressuposto para a titularidade de direitos. Isso remete à questão da
universalidade dos direitos humanos em face da sua internacionalização, relevando
que “no Ocidente os direitos humanos e os direitos de cidadania são principalmente
tutelados pelos Estados individuais” (HÖFFE, 2002, p.559), dada a insuficiência da
atuação das organizações internacionais que visam protegê-los.
Depreende-se que o Estado continua sendo o marco fundamental para a
garantia dos direitos humanos. Apesar de existirem instrumentos internacionais,
regionais e globais para a defesa desses direitos, o acesso a tais instrumentos por
parte dos cidadãos depende da ratificação estatal dos respectivos Tratados que os
criam e instruem. Percebe-se que a ausência de uma efetiva internacionalização
sobrepõe a universalidade dos direitos humanos quanto a necessidade da sua
concretização. À inexistência de instituições verdadeiramente globais e universais,
dobra-se o reconhecimento de que as instituições atualmente existentes para a
proteção e garantia dos direitos humanos são interestatais. Sem a assinatura e a
ratificação pelos Estados dos Tratados que estabelecem as possibilidades da
160
efetividade dos direitos humanos69, a universalidade desses direitos permanece mais
como um ideal a se atingir do que uma possibilidade concreta que possa ser
vislumbrada em curto prazo. Mesmo havendo “a defesa de um valor universal (a
dignidade humana) – (...) a sua efetivação (a capacidade de exercício da cidadania
onusiana) não deixa de ser ainda pelo ou através do Estado (...) e, por isso, uma
relação ainda binária entre cidadão/Estado” (MORIKAWA, 2010, p.276).
Pode-se então concluir que
[...] somos nacionais de algum Estado e a satisfação dos nossos direitos
humanos e liberdades fundamentais depende do grau de desenvolvimento
democrático, da capacidade econômica, do grau de responsabilidade
assumido pelo Estado em nível de direitos humanos, da maturidade em
termos cooperacionais que se encontra o Estado e da sua vontade política
(...) em cumprir com as obrigações assumidas (MORIKAWA, 2010, p.278).
Embora a multidimensionalidade da globalização contemporânea denote
uma expansão da proteção dos direitos civis, políticos e sociais, a cidadania
permanece como uma propriedade desigualmente distribuída e precariamente
protegida fora dos Estados. Se à universalidade dos direitos humanos se contrapõe
sua deficitária internacionalização, a própria existência de um baixo instrumental
jurídico que vise proteger os imigrantes no interior dos países, por exemplo, coloca
em questão a salvaguarda dos direitos humanos. “A simples permanência como
‘imigrantes’ é reveladora dessa insuficiência, pois significa que, entre outras falhas,
não têm acesso a direitos políticos plenos que lhes garantam a participação das
69
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos “adotado pela Assembléia-Geral das Nações
Unidas a 16.12.1966”, constituindo-se como “desdobramento dos artigos II a XXI da Declaração
Universal dos Direitos Humanos” (RANGEL, 2002, p.693), corrobora essa posição. Ao se observar,
por exemplo, a primeira parte do artigo 2° do Pacto, vê-se que o comprometimento com as
especificações estabelecidas depende da assinatura e ratificação dos Estados: “Os Estados-Partes
do presente Pacto comprometem-se a respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se achem em
seu território e que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra distinção”
(RANGEL, 2002, p.694). Além disso, a primeira parte do artigo 40 do Pacto estabelece um sistema de
relatórios a serem apresentados pelos Estados à ONU: “Os Estados-Partes do presente Pacto
comprometem-se a submeter relatórios sobre as medidas por eles adotadas pra tornar efetivos os
direitos reconhecidos no presente Pacto e sobre o progresso alcançado no gozo desses direitos”
(RANGEL, 2002, p.708). Há disposição idêntica também na primeira parte do artigo 16 do Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Assembléia-Geral das
Nações Unidas na mesma data do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos: “Os EstadosPartes do presente Pacto comprometem-se a apresentar, de acordo com as disposições da presente
parte do Pacto, relatórios sobre as medidas que tenham adotado e sobre o progresso realizado com o
objetivo de assegurar a observância dos direitos reconhecidos pelo Pacto” (RANGEL, 2002, p.687).
161
decisões democráticas da sociedade em que se inserem” (CARVALHAIS, 2004,
p.122).
Um ponto positivo e relativamente eficaz que encontra respaldo na
internacionalização dos direitos humanos é visto na “Convenção da ONU Relativa ao
Estatuto dos Refugiados, [de] 1951, [a qual] conceituou refugiado como a pessoa
que, temendo ser perseguida em seu país (...), dele se afasta e a ele evita retornar,
perdendo a proteção do mesmo Estado” (DEL’OLMO, 2006, p.268-269). Essa
perseguição pode se dar por motivos de raça, nacionalidade, religião, grupo social
ou político, fundando o direito internacional dos refugiados a partir de uma
universalidade da compreensão humana que permite aceitar determinado indivíduo
em uma sociedade, onde “passa a gozar de alguns direitos – não porque é cidadão,
mas porque é homem de dignidade, e nenhum homem de dignidade pode ser
enviado de volta para o lugar onde corre risco de perseguição e de vida”
(MORIKAWA, 2010, p.281). “Em alguns temas, como ensino primário, seguridade
social, prática religiosa, acesso aos tribunais e à assistência judiciária, os refugiados
devem ser equiparados aos nacionais” (DEL’OLMO, 2006, p.269). Contam inclusive
com um passaporte especial – o chamado Passaporte Nansen – que lhes permite o
refúgio em qualquer país. Há a ocorrência de um sistema que até certo ponto
permite a integração do estrangeiro em determinada sociedade mesmo que este não
detenha a respectiva nacionalidade, o que transcende em partes a concepção
clássica de cidadania baseada na binariedade Estado-cidadão.
Quando se trata, porém, dos chamados “deslocados internos”70, que
consistem naqueles indivíduos que são perseguidos no interior dos países e tem de
deixar suas residências habituais por vários motivos – como conflitos armados e
desagregações internas provenientes da violência associada ao nacionalismo e aos
fluxos de imigrantes –, a condição de “refugiado” não lhes pode ser atribuída, já que
para tanto é necessário que o sujeito ultrapasse fronteiras reconhecidas
internacionalmente e assim seja atingido pela Convenção. Como costumeiramente o
perseguidor é o próprio Estado, não existe garantia alguma em relação à cidadania
ou aos direitos humanos, pois mesmo que esses Estados não sejam os
70
Ou internally displaced persons (IDPs).
162
perseguidores, geralmente se encontram em tal situação de desestruturação,
motivada por tensões políticas, que não detém mínimas condições de garantir
quaisquer direitos às pessoas. São indivíduos que vêem suas “vidas condenadas à
infelicidade: não se é nem homem nem cidadão” (MORIKAWA, 2010, p.283).
Ao se posicionar esses fatores em conjunto com a disseminação da pobreza
inerente à globalização ligada ao ideário neoliberal, caracterizando uma divisão do
mundo que de leste-oeste passou a norte-sul após a Guerra Fria, vê-se que apesar
da garantia da cidadania e dos direitos humanos continuar a ser uma atribuição
estatal, a insuficiência do Estado para compor soluções a demandas cada vez mais
complexas obstrui possibilidades efetivas do direito a ter direitos. Uma das causas
desse fenômeno pode ser encontrada no contínuo processo de miniaturização das
atribuições estatais visto na atualidade.
Quando
os direitos sociais
perdem
relevância
em
razão de
um
assistencialismo que os sobrepõem, tornando os direitos políticos um mero adereço
formal que não implica na possibilidade de transformação do Estado pelos cidadãos,
o que resulta em uma defesa ferrenha de primados individualistas que não levam em
conta qualquer solidariedade que possa vir a existir tanto entre nacionais quanto
com relação a estrangeiros, aprofunda-se o fosso entre o público e o privado,
tornando o primeiro cada vez mais distante do último. Havendo uma excessiva
mercantilização da força de trabalho, ao que se somam ondas de privatização tanto
em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, a forte ligação da
cidadania com o Estado se dissolve em uma paradoxal condição que opõe a
universalidade dos direitos humanos a uma realidade nacional e internacional
repleta de desafios que não detêm a mínima perspectiva de solução em um futuro
próximo.
Esvaziando-se o espaço público agora direcionado por proposições
preponderantemente econômicas, a política, como meio que possibilita o
desenvolvimento social livre, torna irrelevante o futuro dada a instantaneidade e o
risco que matizam o presente. Como diagnosticou Kant no século XVIII, “todas
essas sociedades comerciais estão a ponto de ruína próxima”: “não dão nenhum
rendimento verdadeiro, mas somente imediato” (2008, p.41). Se no âmbito interno se
163
constrói
uma
“cidadania
negativa”,
reconhecida
formalmente
e
negada
materialmente, no âmbito externo há uma profusão de tentativas de internacionalizar
os direitos humanos que restam frustradas mediante a ineficácia das instituições
atualmente existentes.
Em uma sociedade identificada com o consumo, perpassada por uma
mundialização da cultura que em sua face negativa apenas o potencializa em razão
do desenvolvimento das tecnologias da informação, a polarização dos indivíduos
entre aqueles que detêm capacidade de compra e aqueles que não possuem
mínima dignidade em sua existência faz com que tanto a condição de ser humano
quanto a de cidadão seja negada a milhões de pessoas. Há indiscutivelmente um
impulso das condições contemporâneas para que o “cidadão do lugar” se torne
“cidadão do mundo”.
A verdade, porém, é que o “mundo” não tem como regular os lugares. Em
consequência, a expressão cidadão do mundo torna-se um voto, uma
promessa, uma possibilidade distante. Como os atores globais eficazes são,
em última análise, anti-homem e anticidadão, a possibilidade da existência
de um cidadão do mundo é condicionada pelas realidades nacionais. Na
verdade, o cidadão só o é (ou não o é) como cidadão de um país (SANTOS,
2008, p.113).
Deve-se reconhecer que inúmeros avanços na proteção da cidadania e
dos direitos humanos se deram nas últimas décadas: “os imperativos da igualdade e
da imparcialidade são, ao menos, reconhecidos globalmente, embora não sempre
também sejam praticados globalmente” (HÖFFE, 2002, p.563). O rule of force da
sociedade internacional moderna deu lugar ao rule of law da sociedade internacional
contemporânea, o qual, se ainda não é plenamente efetivo dados os intensos
distúrbios ocorridos em várias partes do globo e a ineficaz institucionalização dos
direitos humanos, adquire força com o crescente respaldo do jus cogens como
obrigação internacional.
É verdade que indivíduos que são “simultaneamente ingleses, britânicos,
europeus, e têm algum senso abrangente de cidadania global, podem encarar uma
de suas identidades como prioritária” (GIDDENS, 1999, p.142) sem negar outras, o
que se traduz em um senso de pertencimento global que futuramente pode se
transformar no “momento cosmopolita” de Beck (2009) e resultar em uma conjuntura
164
apta à cidadania pós-estatal. Muito embora haja essa possibilidade claramente
inerente à ambivalência da sociedade de risco, “as assimetrias econômicas,
tecnológicas e de desenvolvimento entre os diversos Estados e as respectivas
sociedades nacionais produzem uma estratificação nacional e global marcada por
contrastes” (TRINDADE, 2010, p.257). De um lado a miséria crescente, de outro a
produtividade progressiva. Numa ponta o desenvolvimento tecnológico e econômico
dos países do norte, em outra o subdesenvolvimento dos países do sul. Na
dianteira, um mercado mundial voltado a um acentuado consumismo ao qual se
opõe uma desigualdade na distribuição de renda que conduz à pobreza extrema.
Trata-se de admitir, enfim, que “a despeito de todo progresso, a maior parte da
humanidade ainda continua na miséria” (MARVIN, 2002, p.670).
Diante dessa inegável realidade, parece conveniente o pensamento de Ernst
Bloch para graduar basicamente as linhas de possibilidade contemporânea de uma
cidadania pós-estatal. Insurgindo-se ao que considera um totalitarismo temático que
permeia a filosofia ocidental através dos conceitos de “Tudo” e de “Nada”, Bloch
conclui que “o possível é o mais incerto, o mais ignorado conceito da filosofia
ocidental”, sendo que, no entanto, “só o possível permite revelar a riqueza
inesgotável do mundo” (apud SANTOS, 2005, p. 30). Derivam-se então os conceitos
de “Não” e “Ainda-Não” em contraponto ao “Tudo” e ao “Nada”. Se “o Não é a falta
de e a expressão da vontade de superar essa falta”, por isso se distingue da pura
negação expressada pelo “Nada”, já que “dizer não é dizer sim a algo diferente”
(SANTOS, 2005, p. 30). Dessa forma, “o Ainda-Não é o modo como o futuro se
inscreve no presente”, consistindo em uma categoria complexa porque “exprime o
que existe apenas como simples tendência, um movimento que é latente no próprio
processo de manifestar” (SANTOS, 2005, p. 30). Assim é que o “Ainda-Não” não
consiste na indeterminação ou na infinitude do futuro, mas nas possibilidades
concretas que ainda não estão completamente determinadas pelo presente.
Se no plano subjetivo “o Ainda-Não é a consciência antecipatória”, no plano
objetivo “é, por um lado, capacidade (potência) e por outro, possibilidade
(potencialidade)” (apud SANTOS, 2005, p.31). O “Ainda-Não” coloca capacidade
para potência e possibilidade para potencialidade, onde a potencialidade, por conter
“um elemento de acaso, de perigo” (SANTOS, 2005, p. 31), está para três
165
momentos. O primeiro é a carência como manifestação da falta, que seria o domínio
do “Não”. O segundo é a tendência que por trazer consigo um processo e um
sentido, estaria para o domínio do “Ainda-Não”. Mas o elemento principal da
tripartição da potencialidade em carência, tendência e latência está para o seu
último componente, vez que a latência é o domínio do “Nada” e do “Tudo”, podendo
gerar tanto esperança quanto frustração, colocando-se à frente do próprio processo
conjugado no “Ainda-Não”.
É necessária, portanto, uma reflexão acerca de quais são os princípios que
devem acompanhar “o processo de ‘planetarização’ da cidadania, ampliando a
noção e estendendo os limites da inclusão na outorga dessa condição” (DREIFUSS,
1996, pp.338-339). Desse modo, pode-se dizer que todo e qualquer projeto para
uma cidadania pós-estatal tem de superar “a ambigüidade entre homem e cidadão: a
aproximação das Constituições (direitos fundamentais) ao sistema de proteção dos
direitos do homem (direitos humanos) (...) é fundamental” (MORIKAWA, 2010,
p.283). Também deve se desenvolver efetivamente uma “affectio societatis (...) ao
nível mundial (...), [a qual] significa que a construção de uma ‘cidadania global’ está
inteiramente relacionada com a responsabilidade pela cidadania do outro”
(MORIKAWA, 2010, p.284).
Não havendo o compartilhamento de responsabilidades políticas dos
indivíduos de determinada sociedade, ligando-os através das vicissitudes sociais
pelas quais são abordados no interior dessa sociedade, não há possibilidade para o
surgimento de um cenário propício à cidadania pós-estatal. Em outras palavras,
enquanto a cidadania, tida em suas múltiplas esferas que integradas se direcionam
a justiça social exposta por Carvalho (2002), não for uma propriedade devidamente
protegida nos Estados, vivenciada politicamente em um espaço que seja o ponto de
confluência entre o público e o privado, não haverá condição de possibilidade para o
nascimento de uma cidadania pós-estatal.
Para o estabelecimento dessa cidadania, uma simultaneidade de processos
que vão do local ao nacional, do nacional ao regional e deste ao global, conforme
José Maria Gómez, precisa se integrar “na formação do sentimento de
pertencimento e lealdade a outras comunidades políticas em fase de invenção
166
(regional, planetária)” (2000, p.138). Isso claramente demanda a construção de uma
noção profunda arraigada na necessidade de uma cultura de responsabilidades
mútuas que envolva Estado e cidadãos na perspectiva da emersão de “instituições
que reconheçam a humanidade do homem enquanto tal como fonte legitimadora dos
direitos humanos, independente das condições culturais ou nacionais de pertença”
(LUCAS, 2010, p.163). Disso se extrai a importância da universalização dos direitos
humanos, a qual, como a globalização, trata-se de um processo em curso com a
diferença de que “não tende à difusão de um modelo único, a partir de um ponto
único, mas, sobretudo, à emergência, em diversos pontos, de uma mesma vontade
de reconhecer os direitos comuns a todos os seres humanos (DELMAS-MARTY,
2003, p.19).
Isso é positivo pois demonstra a tendência a um universalismo jurídico
contemporâneo baseado nos direitos humanos, do qual um “Estado mundial único é
a idéia-limite” na busca de uma unidade que não contrarie “o positivismo jurídico,
com um retorno [ao] Direito natural revelado à razão, mas [seja o] desenvolvimento,
até o limite extremo, do positivismo jurídico, isto é, até a constituição de um direito
positivo universal” (BOBBIO, 1995, p.165) no sentido de ser válido, obrigatório e
efetivo para todos os povos. Claro que as dificuldades dessa tarefa são imensas,
trespassando aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais completamente
díspares em um contexto global. Mas ao menos as tentativas de mensuração do seu
ponto de partida existem, respaldadas em uma sociedade internacional multicêntrica
atravessada por fenômenos jamais vistos na história da civilização.
Conclui-se então que a planetarização da política ainda não é efetiva o
suficiente para dar à luz a uma cidadania pós-estatal. O anel de paradoxais
confluências que circunda o planeta não confere força a um “momento cosmopolita”
que possa abdicar do importante papel do Estado-Nação para o estabelecimento da
cidadania. As possibilidades da cidadania pós-estatal são reais e a universalidade
dos direitos humanos, mesmo que esbarre na sua precária internacionalização,
contribui para essa previsão. Mas um senso moral e ético universal, que possa se
traduzir em efetividade política na forma de instituições que independam ou
trabalhem em conjunto com os Estados para a construção de um espaço público
global, espelhando meios que possam garantir a vida em sociedade no âmbito
167
planetário, com respeito aos direitos civis, políticos e sociais amalgamados em uma
cidadania que surja a partir de uma affectio societatis mundial, unindo a humanidade
ao redor de um propósito solidário que ultrapasse fronteiras com alicerce nos direitos
humanos, consiste em um horizonte a se alcançar. Trata-se de um processo em
marcha, onde a simultaneidade de circunstâncias, muito mais do que sua sucessão,
dita a ocorrência de cenários de constante entrelaçamento do local e global.
Mas considerando que o ser humano está desde sempre inserido em um
contexto histórico-social ao qual é determinado e determinante, levando-se também
em conta que o modo como vive em sociedade precisa os valores e as aspirações
da sua época, apontando igualmente a tendência e a carência da sua organização
sócio-política, a polivalência das perspectivas atuais implica em múltiplos resultados
que no momento não podem ser analisados com precisão no seio das suas
potencialidades. Se, como diz Sartre, “a existência precede a essência” (2011, p.4),
a possibilidade contemporânea da cidadania pós-estatal está no domínio do “Aindanão”: como latência contida no binômio esperança/frustração, direciona-se para a
incerteza do amanhã.
168
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A exposição das dificuldades contemporâneas consistiu numa constante que
perpassou todo essa dissertação. Nutrida pelos expoentes desiguais de uma
globalização que se por um lado leva a civilização a um caminho tecnocientífico
nunca antes percorrido, por outro motiva uma profusão de assimetrias sociais entre
indivíduos e Estados. A consequência inexorável e por vezes negada, é que
instituições seculares passam por transformações que demandam análises
ponderadas quanto ao trânsito das possibilidades de um tempo nitidamente
transitivo. Importa mais a avaliação de perspectivas que detenham real e possível
consolidação do que uma crédula aposta que destoe dessa complexa faticidade
embasada pelo risco de uma sociedade plena de expectativas e carente de
resoluções às quais possam sobrevir resultados efetivos.
Há uma crise estrutural em curso que necessita de uma análise radical a fim
de que seus pressupostos de mudança sejam minimamente percebidos. Mesmo que
qualquer estudo contemporâneo incorra na debilidade de ser contemporâneo ao
passo que estuda o contemporâneo, indícios podem ser tramados em meio à rede
de incertezas que palpita dia após dia. O certo é que o cenário global não pode ser
considerado de uma forma única ou a partir de um único local. Apesar de existirem
tendências
que
estão
para
uma
massificação
cultural
de
limites
ainda
desconhecidos, existe uma comunidade de diferenças plenamente palpável no
mundo contemporâneo.
Mas essa comunidade de diferenças muitas vezes gera um diálogo cujo
alfabeto é desconhecido daqueles que tentam entendê-lo. Desconhecimento que
está para o reconhecimento de que os fatores postos em jogo, embora há muito
169
conhecidos, são resignificados de modo completamente diverso de épocas
anteriores, suscitando configurações novas de antigos conceitos em razão do
desenfreado movimento do sistema no qual estão inclusos. O maior problema é que
a comunhão da diferença não leva à comunhão das identidades. O fato de um grupo
de indivíduos sofrer sintomas similares não quer dizer que a dor que os assola seja
a mesma, do que se expõe o caráter desigual da marcha globalizadora.
Parece nítido assim que o Estado e a cidadania passam por uma grande
reconfiguração. Isso não implica no desaparecimento tanto de um quanto de outro,
mas em uma realocação das suas funções no âmbito nacional e internacional.
Principalmente em razão da dimensão econômica da globalização, vê-se que a
sintomática verificada na esfera estatal interfere diretamente na cidadania tida como
o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado. Ainda que abordagens que
primem pela análise culturalista da nacionalidade também sejam pertinentes, já que
é inevitável que a mundialização dos usos e costumes promova ressonâncias
diversas
na
centralidade
da
Nação,
um
diagnóstico
da
cidadania
na
contemporaneidade tido pelo foco do direito a ter direitos importa na medida em que
o esvaziamento da qualidade soberana do Estado aparenta ser mais claro que a
dissolução dos laços de pertença identitários.
A planetarização da política também confere uma formatação diversa da
sociedade internacional contemporânea em relação à sociedade internacional
moderna. Se antes o Estado era o único ator internacional, agora convive com
múltiplos centros de poder que redundam em uma coexistência que pode resultar
conflitiva com a defesa da cidadania. A tentativa de estabelecimento de instituições
planetárias se mostra como um lance positivo no dinâmico jogo das relações
internacionais. Mas se percebe que a pessoa humana ainda depende do Estado
para que seja detentora de direitos, embora algumas pistas que abrangem a
dignidade do homem como fator único para a concessão e proteção de direitos
também sejam perceptíveis.
Isso acontece porque a alegada universalidade dos direitos humanos
esbarra na necessidade do seu reconhecimento por parte dos Estados para que sua
efetividade não se transforme em letra morta. Apesar de existirem instituições
170
internacionais com vocação planetária que se dediquem à sua concretização, o fato
de haver o necessário corroborar dos Estados para com os direitos humanos diz da
realidade de que estes atualmente detêm possibilidade de concretização a partir da
sua
internacionalização.
Palpável
em
grande
parte
do
Ocidente,
essa
internacionalização colide, por exemplo, com diversas culturas do Oriente que não
trazem a tradição dos direitos humanos em sua conjuntura histórico-política, o que
tem suscitado inúmeros debates acerca da fundamentação desses direitos no
sentido de propiciar sua universalização. Esses debates são importantíssimos para
um futuro universalismo cuja idéia-limite é a emersão de um Estado Mundial que não
negue completamente a soberania dos Estados, mas se proponha a estabelecer
parâmetros de resolução conjuntos que abranjam o global sem destoar do local.
Diante de todo percurso realizado pela pesquisa, porém, fica nítido que o cenário
contemporâneo denuncia que tal universalismo está longe de se concretizar.
Enquanto os Estados não conseguirem efetivar os direitos de cidadania em
seus territórios, não será possível falar em uma cidadania que rompa com as
fronteiras estatais e seja concedida pela simples constatação da especialidade
humana. Quando se nota lucidamente a paisagem recorrente não apenas nos
países em desenvolvimento, mas também nos países desenvolvidos, de tempos em
tempos afetados por intensas crises financeiras que varrem populações com ondas
de desemprego e miséria, percebe-se que a cidadania, em suas dimensões civis,
políticas e sociais, encontra-se em processo de contínua conquista, não podendo
ser vislumbrada como uma realidade dada e concreta para milhões de indivíduos
espalhados pelo planeta. Ao se abordar os direitos de solidariedade, que envolvem
preponderantemente questões emblemáticas para a preservação ambiental, a
degradação do ecossistema global anda de mãos dadas com a inefetividade jurídica
dos seus pressupostos.
A desigualdade de distribuição de riquezas inerente à globalização
igualmente contribui para esse fato. Numa ponta existem aqueles que se beneficiam
do crescente desenvolvimento humano especialmente nos campos da tecnologia e
dos transportes, figurando como verdadeiros “cidadãos globais” por desfrutarem de
vantagens econômicas mediante a aproximação das figuras do “consumidor” e do
“cidadão”. Noutra habitam milhões de indivíduos que sobrevivem com mínimas
171
reservas financeiras, as quais podem não ser capazes de assegurar quaisquer
expectativas de sobrevivência. Mesmo que o Estado-Nação, matizado pelo conceito
de soberania que na passagem da Idade Média para a Idade Moderna foi
fundamental para o surgimento de um regime jurídico-político que redundou na
sociedade internacional moderna, encontre-se fragilizado pelo pluralismo jurídico
global e pelos influxos financeiros transnacionais que não respeitam seus limites, ele
ainda consiste em uma importante ou senão na única base para o desenvolvimento
da cidadania na atualidade.
Longe de sonegar a necessidade e a relevância da busca da fundamentação
dos direitos humanos, abarcando suas diversificadas linhas com a pretensão de
garantir sua universalidade, deve-se referir que discussões acerca da efetividade de
tais direitos também são consistentes em uma época atravessada por intensas
desigualdades sociais não apenas entre países desenvolvidos e países em
desenvolvimento, mas também entre populações no seio dos próprios países.
Forma-se um mercado de consumidores globais e igualmente se forma uma legião
de pessoas impossibilitadas de fruir as benesses desse consumo, encontrando-se
tais indivíduos à margem de uma sociedade que procura discutir as razões dos seus
problemas a partir de fundamentos exclusivamente financeiros. Mas o fato que
transcende essas considerações, é que mesmo se admitindo o esvaziamento da
soberania do Estado, também se deve admitir que ele permanece como um
importante catalizador de interesses em torno do qual orbitam e dependem os
demais atores que circulam pelo globo.
Ocorre que esse papel desempenhado pelo Estado-Nação, trespassado por
discursos nitidamente neoliberais que podem desestruturar seus institutos na busca
do
estabelecimento
de
políticas
que
o
tornem
praticamente
inoperante
particularmente no campo dos direitos sociais, não raro é estigmatizado pela sua
posição subalterna na sociedade internacional. Obrigados por circunstâncias
inverídicas ou inertes por lobbies sem face, os Estados geralmente demonstram
uma aquiescência servil quanto a deliberações provenientes de organismos
internacionais controlados por grandes potências, sem falar nas empresas que
constroem relações parasitárias no interior dos países em desenvolvimento, o que
172
destrói a possibilidade de efetivação da justiça social e faz com que a cidadania seja
uma propriedade desigualmente distribuída nacional e internacionalmente.
Embora a universalidade dos direitos humanos seja um importante passo
para o futuro estabelecimento de uma cidadania pós-estatal, a necessidade da sua
internacionalização para que existam possibilidades para sua concretização freia as
condições imprescindíveis para sua existência. O jus cogens, como norma
imperativa internacional, gradualmente vêm ganhando força na construção de um
discurso comum interestatal. Mas quando a construção desse discurso não depende
apenas dos Estados em virtude da diferenciada divisão de poderes inerente à
sociedade internacional contemporânea, a realização dos objetivos presentes nos
direitos humanos se torna mais distante, dissolvendo-se enormemente em uma
sociedade identificada pelo consumo.
O compartilhamento de responsabilidades é assim imprescindível para o
vislumbre de um horizonte pós-estatal para a cidadania. A questão de fundo
obviamente se conjuga com a necessidade de uma percepção que emaranhe global
e local em um único conjunto que envolva uma comunhão de riscos e perspectivas.
A prospecção das possibilidades desse projeto foi analisada no transcorrer do
trabalho, concluindo-se que a contemporaneidade ainda não detém subsídios
fáticos, jurídicos e políticos para dar espaço a uma cidadania pós-estatal, pois
embora a planetarização da política dê indícios de um panorama propício à emersão
dessa cidadania diferenciada, a avaliação desses indícios não demanda uma
possível mudança em um futuro próximo.
Mas se a organização social humana principiou em pequenas tribos de
caçadores e coletores que aos poucos se desenvolveram em direção ao complexo
sistema atual, é igualmente provável que esse sistema evolua no rumo de outro
ainda mais complexo, ou, em uma ponta pessimista do raciocínio, desintegre-se
novamente para o elixir celular daquelas tribos que deram origem à civilização
contemporânea. O caminho, contudo, é incerto e dependente das potencialidades
presentes nas tendências atuais. Para além do “Ainda-Não”, predomina a latência de
um “momento cosmopolita” que transcenda os atuais paradigmas histórico-políticos
da humanidade.
173
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, Newton de Menezes. Teoria política da soberania. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2001.
AMARAL, Renata Campetti. O direito internacional: público e privado. 3ª ed.
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007.
ANDERSON, Benedict. Introdução. In: GOPAL, Balakrishnan (org.). Um mapa da
questão nacional. Trad. de Vera Ribeiro. pp.07-22. Rio de Janeiro: Contraponto,
2000.
ANDERSON,
Perry.
As
origens
da
pós-modernidade.
Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.
Trad.
de
_____. Balanço do neoliberalismo. In: Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e
o Estado democrático. SADER, Emir; GENTILI, Pablo. (Orgs.) Trad. de Luis
Fernandes e Emir Sader. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. pp.09-23.
_____. História e lições do neoliberalismo. In: O outro Davos: mundialização
das resistências e lutas. HOUTART, François; POLET, François (Coord.) Trad. de
Mariclara Oliveira. São Paulo: Cortez, 2002. pp.16-30.
ARENDT, Hannah. O que é política? Trad. de Reinaldo Guarany. 5ª ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
ARISTÓTELES. Política. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2002.
ARON, Raymond. Paz e guerra entre as nações. 2ª ed. Trad. de Sérgio Bath.
Brasília: UnB, 1986.
ARGAN, Giulio Carlo. Clássico anticlássico: o Renascimento de Brunelleschi a
Bruegel. Trad. Lorenzo Mammi. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. 42ª ed. São Paulo: Globo, 2001.
174
AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da
pessoa humana. pp.11-26. In: Revista dos tribunais. vol.797. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2002.
AZEVÊDO, Eliane Elisa de Souza e. O direito de vir-a-ser após o nascimento.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000.
BALLARINO, Tito. Cidadania e nacionalidade. Trad. de Naiara Posenato. Rev. de
Arno Dal Ri Júnior. In: DAL RI JÚNIOR, Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de (org.).
Cidadania e nacionalidade: efeitos e perspectivas nacionais – regionais –
globais. pp.85-93. Ijuí: UNIJUÍ, 2002.
BARROS, Alberto Ribeiro de. A teoria da soberania de Jean Bodin. São Paulo:
Unimarco, 2001.
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Trad. de Marcus
Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
_____. Vidas desperdiçadas. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2005.
_____. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Trad. de Plínio
Dentzein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
_____. Em busca da política. Trad. de Marcus. Penchel. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2000.
_____. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Trad. de
José Gradel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
_____. Vida à crédito: conversas com Cilali Rovirosa-Madrazo. Trad. de
Alexandre Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo: resposta à
globalização. Trad. de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
____. “Momento cosmopolita” da sociedade de risco. Trad. de Germana Barata
e
Rodrigo
Cunha.
Disponível
em
http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=41&id=501.
Acessado em 07.10.2009.
BEDIN, Gilmar Antonio. A sociedade internacional e o século XXI: em busca da
construção de uma ordem judicial justa e solidária. Ijuí: UNIJUÍ, 2001.
_____. A Idade Média e o nascimento do Estado Moderno: aspectos históricos
e teóricos. Ijuí: UNIJUÍ, 2008.
_____. A sociedade global e suas possibilidades de realização. A sociedade
global e suas possibilidades de realização. In: DAL RI JÚNIOR, Arno; OLIVEIRA,
175
Odete Maria de (Org.). Relações Internacionais: interdependência e sociedade
global. Ijuí: UNIJUÍ, 2003. pp.505-536.
____. O desenvolvimento da cidadania moderna e o neoliberalismo. In: DAL RI
JÚNIOR, Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de (Org.). Cidadania e nacionalidade:
efeitos e perspectivas nacionais – regionais – globais. pp.435-462. Ijuí: UNIJUÍ,
2002.
_____. Estado, cidadania e globalização do mundo: algumas reflexões e
possíveis desdobramentos. In: OLIVEIRA, Odete Maria de (coord.). Relações
internacionais & globalização: grandes desafios. 2ª ed. Ijuí: UNIJUÍ, 1999.
pp.123-149.
BEINSTEIN, Jorge. Capitalismo senil: a grande crise da economia global. Trad.
de Ryta Vinagre. Rio de Janeiro: Record, 2001.
BERTASO, João Martins. A cidadania moderna: a leitura de uma transformação.
In: DAL RI JÚNIOR, Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de (org.). Cidadania e
nacionalidade: efeitos e perspectivas nacionais – regionais – globais. Ijuí:
UNIJUÍ, 2002. pp.405-433.
BERNARD, François de. Privatização ou divisão de diversidade e identidades
culturais? Trad. de Ruth Fonseca Silveira. In: SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade
e multiculturalismo. Ijuí: UNIJUÍ, 2003. pp.59-69.
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da
política. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 6ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
_____. A era dos direitos. 14ª ed. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Campus, 1992.
_____. Teoria do ordenamento jurídico. 6ª ed. Trad. de Maria Celeste C. J.
Santos. Rev. téc. de Cláudio De Cicco. Brasília: UNB, 1995.
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995.
_____. Ciência política. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
_____. Do Estado Liberal ao Estado Social. 3ª ed. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, 1972.
BOMBASSARO, Luiz Carlos. Como se produz o conhecimento. Petrópolis: Vozes,
1992.
BUTZKE, Alindo; ZIENBOWICZ, Giuliano; CERVI, Jacson Roberto. O direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Caxias do Sul: EDUCS, 2006.
BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao pensar. 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 1983.
BRUGGER, Walter. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Editora Herder, 1962.
176
CALDERA, Alejandro Serrano. A ética entre a mundialização e a identidade. Trad.
de Antônio Sidekum. In: SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade e multiculturalismo.
Ijuí: UNIJUÍ, 2003. pp.351-371.
CAMINO, Carmen. Direito individual do trabalho. 2ª ed. Porto Alegre: Síntese,
1999.
CARVALO, José Murilo de. Cidadania
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
no
Brasil:
o
longo
caminho.
CROSSMAN, R.H.S. Biografia do Estado Moderno. Trad. Evaldo Amaro Vieira.
São Paulo: Ciências Humanas, 1980.
CANCLINI, Nestor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da
globalização. Trad. Maurício Santana Dias. 6ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006.
CHEVALLIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas de Maquiavel a nossos
dias. Trad. de Lydia Cristina. Rio de Janeiro: Agir, 1999.
CARVALHAIS, Isabel Estrada. Os desafios da cidadania pós-nacional. Porto:
Edições Afrontamento, 2004.
CORRÊA, Darcísio. A construção da cidadania: reflexões histórico-políticas.
Ijuí: UNIJUÍ, 1999.
_____. Estado, cidadania e espaço público: as contradições da trajetória
humana. Ijuí: UNIJUÍ, 2010.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 22ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2001.
DAMÁZIO, Eloise da Silveira Petter. Multiculturalismo versus interculturalismo:
por uma proposta intercultural do direito. In: Desenvolvimento em questão:
revista do programa de pós-graduação em desenvolvimento/UNIJUÍ. ano.6.
n.12. Ijuí: UNIJUÍ, 2008. pp.63-86.
DAL RI JÚNIOR, Arno. Tradições do Pensamento às Teorias Internacionais:
Hugo Grotius, Thomas Hobbes e Immanuel Kant. In: DAL RI JÚNIOR, Arno;
OLIVEIRA, Odete Maria de (Org.). Relações Internacionais: interdependência e
sociedade global. pp.115-155. Ijuí: UNIJUÍ, 2003.
_____. Evolução histórica e fundamentos político-jurídicos da cidadania. In:
DAL RI JÚNIOR, Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de (Org.). Cidadania e
nacionalidade: efeitos e perspectivas nacionais – regionais – globais. pp.25-84.
Ijuí: UNIJUÍ, 2002.
DELMAS-MARTY, Mireille. Três desafios para o direito mundial. Trad. e posfácio
de Fauzi Hassan Choukr. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.
177
DEL’OLMO, Florisbal de Souza. Direito internacional privado: abordagens
fundamentais, legislação e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
_____. Curso de direito internacional público. 2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Forense, 2006.
DIAS, Maria da Graça dos Santo. Direito e pós-modernidade. In: Novos Estudos
Jurídicos. v.11. n.1. Itajaí: UNIVALI, 2006. pp.103-115.
DREIFUSS, René Armand. A época das perplexidades: mundialização,
globalização e planetarização: novos desafios. Petrópolis: Vozes, 1996.
DORNELLES, João Ricardo W. A internacionalização dos direitos humanos. In:
Revista da Faculdade de Direito de Campos. Ano IV, nº 4 e ano V, nº 5. Campos:
Faculdade de Direito de Campos, 2003-2004. pp.177-195.
DUPUY, René-Jean. O direito internacional. Coimbra: Livraria Almedina, 1993.
DUROSELLE, Jean-Baptiste. Todo império perecerá. Trad. de Ane Lize
Spaltemberg de S. Magalhães. Brasília: UNB: São Paulo: Imprensa Oficial do
Estado, 2000.
EBERHARD, Christoph. Direitos humanos e diálogo intercultural. Uma
perspectiva antropológica. In: BALDI, César Augusto (org.). Direitos humanos na
sociedade cosmopolita. Trad. de Roberto Carlos Costa. Rio de Janeiro: Renovar,
2004. pp.159-202.
FARIA, José Eduardo. Problemas e dilemas da reforma constitucional. In:
Revista Indicadores Econômicos. v.23 n.3. Fundação de Economia e Estatística:
Porto Alegre, 1995. pp.103-115.
FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do
Estando nacional. 2ª ed. Trad. Carlo Coccioli e Márcio Lauria Filho. Rev. de Karina
Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
FERNANDES, Luciana de Medeiros. Soberania & Processos de Integração: o
novo conceito de soberania em face da globalização. Curitiba: Juruá, 2002.
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 46ª ed. Trad. Galeano
de Freitas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.
GARCIA, Maria. Limites da ciência: dignidade da pessoa humana. A ética da
responsabilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole. Trad. de Maria Luiza X. de A. Borges.
6ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.
_____. A terceira via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da
social-democracia. Trad. de Maria Luiza X. de A. Borges. São Paulo: Record, 1999.
178
GUEDES, Ana Lucia. Globalização e interdependência: reconhecendo a
importância das relações entre os governos e as empresas transnacionais. In:
Relações internacionais: interdependência e sociedade global. OLIVEIRA,
Odete Maria de; DAL RI JÚNIOR, Arno (orgs.). Ijuí: UNIJUÍ, 2003. pp.565-598.
GÓMEZ, José María. Política e democracia em tempos de globalização.
Petrópolis: Vozes, 2000.
HERKENHOFF, João Baptista. Como funciona a cidadania. 2ª ed. Manaus: Valer,
2001.
HEIDEGGER, Martin. Ensaios e conferências. Trad. de Emmanuel Carneiro Leão,
Gilvan Fogel, Márcia Sá Cavalcante Schuback. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2006.
HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780. Programa, mito e
realidade. 3ª ed. Trad. de Maria Célia Paoli e Anna Maria Quirino. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2002.
_____. J. A Revolução Francesa. 7ª ed. Trad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e
Marcos Panchel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
_____. Globalização, democracia e terrorismo. Trad. de José Viegas. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.
_____. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2ª ed. 42ª reimpr. Trad.
de Marcos Santarrita. Rev. téc. De Maria Célia Paoli. São Paulo: Companhia das
Letras, 1995.
HÖFFE, Otfried. Visão república mundial – democracia na era da globalização.
Trad. Celso de Moraes Pinheiro. In: VERITAS – Revista Trimestral de Filosofia da
PUCRS. v.47. n.4. Porto Alegre: EDIPURS, dezembro de 2002. pp.553-566.
IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 9ª ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2001.
_____. A era do globalismo. 7ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
IHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. Trad. de Pietro Nassetti. São Paulo:
Martin Claret, 2003.
JELLINECK, Georg. Teoría general del Estado. Trad. Fernando de Los Rios.
Argentina: Albatros, 1974.
JOUVENEL, Bertrand de. As origens do Estado Moderno: uma história das
idéias políticas do séculos XIX. Trad. Mamede de Souza Freitas. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1978.
JUBILUT, Liliana Lyra. Não intervenção e legitimidade internacional. São Paulo:
Saraiva, 2010.
179
JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso de. Constitucionalismo em tempos de
globalização. Trad. de José Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
KARNAL, Leandro. Estados Unidos, liberdade e cidadania. In: PINSKY, Jaime;
BASSANEZI PINSKY, Carla (org.). História da cidadania. 2ª ed. pp.135-157. São
Paulo: Contexto, 2003.
KANT, Immanuel. À paz perpétua. Trad. de Marcos Zingano. Porto Alegre: L&PM,
2008.
KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre.
Trad. de Vania Cury. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2008.
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Trad. de Beatriz
Vianna Boeira e Nelson Boeira. Rev. de Alice Kyoto Miyashiro. 6ª ed. São Paulo:
Editora Perspectiva, 2001.
KONDER, Leandro. Idéias que romperam fronteiras. In: PINSKY, Jaime;
BASSANEZI PINSKY, Carla (org.). História da cidadania. 2ª ed. pp.171-189. São
Paulo: Contexto, 2003.
KRITSCH, Raquel. Rumo ao Estado Moderno: as raízes medievais de alguns de
seus elementos formadores. Revista de Sociologia e Política. Curitiba, n.23, pp.
103-114, nov. 2004.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Batista Machado. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
KINN, Valdir Graniel. O processo de instituição e justificação do Estado a partir
de Hobbes e Rousseau: uma leitura analítica/comparada. Ijuí: UNIJUÍ, 1998.
LASKI, Harold. Introdução à Política. Trad. Marcelle Soares Brandão. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1964.
LEAL, Rogério Gesta. Direitos humanos no Brasil: desafios à democracia. Porto
Alegre: Livraria do Advogado; Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1997.
LIMA, Carolina da Silva Barboza. Democracia e harmonização tributária num
mundo globalizado. In: Direito internacional: perspectivas contemporâneas.
GOMES, Fabio Luiz (Org.). São Paulo: Saraiva, 2010. pp.49-59.
LUCAS, Doglas Cesar. Os Direitos Humanos como limite à Soberania Estatal:
por uma Cultura Político-jurídica Global de Responsabilidades Comuns. In:
BEDIN, Gilmar Antonio (Org.). Estado de Direito, Jurisdição Universal e
Terrorismo. Ijuí: UNIJUÍ, 2009. pp.37-83.
_____. Direitos humanos e interculturalidade: um diálogo entre igualdade e
diferença. São Leopoldo: UNISINOS, 2008. (Tese de Doutorado em Direito.)
180
_____. Multiculturalismo e direitos humanos: sobre a insuficiência do debate
entre liberais e comunitaristas e a necessidade de uma postura intercultural.
In: LUCAS, Doglas Cesar; SPENGLER, Fabiana Marion. (Org.) Conflito, jurisdição
e direitos humanos: (des)apontamentos sobre um novo cenário social. Ijuí:
UNIJUÍ, 2008. pp.313-361.
_____. Direitos humanos e interculturalidade: um diálogo entre a igualdade e a
diferença. Ijuí: UNIJUÍ, 2010.
LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 3ª ed.
São Paulo: Atlas, 2008.
MAGNOLI, Demétrio. Relações internacionais: teoria e história. São Paulo:
Saraiva, 2004.
MARKY, Thomas. Curso elementar de Direito Romano. 8ª ed. São Paulo: Saraiva,
1995.
MARVIN, Perry. Civilização ocidental: uma introdução concisa. Trad. de
Waltensir Dutra e Silvana Vieira. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status. Trad. de Meton Porto
Gadelha. Introd. de Phillip C. Schmitter. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967.
MOREIRA, Marcílio Marques. O pensamento político de Maquiavel. In:
MAQUIAVEL. O Príncipe – comentado por Napoleão Bonaparte. Trad. de Pietro
Nasseti. pp.11-26. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
MORIKAWA, Márcia Mieko. Direitos do homem e cidadania: ser homem ou ser
cidadão? – os dois tempos de uma anunciada “cidadania global”. In: Direito
internacional: perspectivas contemporâneas. GOMES, Fabio Luiz (Org.). São
Paulo: Saraiva, 2010. pp.265-290.
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 1997.
MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. Atual. pelo Prof. Miguel Alfredo Malufe
Neto. 29ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
MANENT, Pierre. História intelectual do liberalismo: dez lições. Trad. de Vera
Ribeiro. Rio de Janeiro: Imago, 1990.
MANNONI, Stefano. Estado nacional de Direito e direito internacional. In:
COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (orgs.). O Estado de Direito: história, teoria, crítica.
Trad. de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. pp.585-610.
MARTINS NETO, João dos Passos. Introdução à Filosofia Política de Thomas
Hobbes. 2ª ed. Florianópolis: OAB/SC, 2006.
181
MASSIAH, Gustave. O altermundialismo e a crise da globalização. pp. 22-23. In:
Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 2 – n° 18 – janeiro de 2009. São Paulo:
Instituto Pólis, 2009.
MATTELART, Armand. Diversidade cultural e mundialização. Trad. de Marcos
Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2005.
MELLO, Celso de Albuquerque. Direito constitucional internacional. 2ª ed. rev.
Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
_____. Direito internacional público. 10ª ed. v.1. Rio de Janeiro: Renovar, 1994.
_____. Curso de direito internacional público. 15ª ed. v.1. Rio de Janeiro:
Renovar, 2004.
MIRANDA, Jorge. O direito internacional no início de um novo século. In: In:
Desafios do direito internacional no século XXI. GOMES, Eduardo; REIS,
Tarcísio (Orgs.). Ijuí: UNIJUÍ, 2007. pp.17-28.
MONCADA, Cabral de. Filosofia do Direito e do Estado. 2ª ed. v.2. Lisboa:
Coimbra, 1955.
MONDAINI, Marco. O respeito aos direitos dos indivíduos. In: PINSKY, Jaime;
BASSANEZI PINSKY, Carla (org.). História da cidadania. 2ª ed. pp.115-133. São
Paulo: Contexto, 2003.
MORRIS, Christopher W. Um ensaio sobre o Estado Moderno. Trad. de Sylmara
Beletti. São Paulo: Landy, 2005.
MÜLLER, Friedrich. Quem é o Povo? A questão fundamental da democracia.
Trad. Peter Naumann. São Paulo: Max Limonad, 1998.
NASSER, Salem Hikmat. Jus cogens: ainda esse desconhecido. In: Desafios do
direito internacional no século XXI. GOMES, Eduardo; REIS, Tarcísio (Orgs.). Ijuí:
UNIJUÍ, 2007. pp.45-74.
NEVES, Gustavo Bregalda. Direito internacional. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2010.
ODALIA, Nilo. A liberdade como meta coletiva. In: PINSKY, Jaime; BASSANEZI
PINSKY, Carla (org.). História da cidadania. 2ª ed. pp.159-169. São Paulo:
Contexto, 2003.
OLIVEIRA, Odete Maria de. Velhos e novos regionalismo: uma explosão de
acordos regionais e bilaterais no mundo. Ijuí: UNIJUÍ, 2009.
_____. A era da globalização e a emergente cidadania mundial. In: DAL RI
JÚNIOR, Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de. (Org.) Cidadania e nacionalidade:
efeitos e perspectivas: nacionais – regionais – globais. Ijuí: UNIJUÍ, 2002.
pp.463-544.
182
_____. Relações internacionais e o dilema de seus paradigmas: configurações
tradicionalistas e pluralistas. In: Relações internacionais: interdependência e
sociedade global. OLIVEIRA, Odete Maria de; DAL RI JÚNIOR, Arno (orgs.). Ijuí:
UNIJUÍ, 2003. pp.33-114.
_____. Relações internacionais: breves apontamentos e contextualização. In:
OLIVEIRA, Odete Maria de (coord.). Relações internacionais & globalização:
grandes desafios. 2ª ed. Ijuí: UNIJUÍ, 1999. pp.15-65.
OLSSON, Giovanni. Poder político e sociedade internacional contemporânea:
governança global com e sem governo e seus desafios e possibilidades. Ijuí:
UNIJUÍ, 2007.
_____. Globalização e atores internacionais: uma leitura da sociedade
internacional contemporânea. In: Relações internacionais: interdependência e
sociedade global. OLIVEIRA, Odete Maria de; DAL RI JÚNIOR, Arno (orgs.). Ijuí:
UNIJUÍ, 2003. pp.537-563.
PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Da superação do dogma da soberania. In:
Desafios do direito internacional no século XXI. GOMES, Eduardo; REIS,
Tarcísio (Orgs.). Ijuí: UNIJUÍ, 2007. pp.31-44.
PAGLIUCA, José Carlos Gobbis. Direitos humanos. São Paulo: Rideel, 2010.
PASSET, René. Elogio da globalização: por um contestador assumido. Trad. de
Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2003.
PECEQUILO, Cristina Soreanu. Introdução às relações internacionais: temas,
atores e visões. Petrópolis: Vozes, 2004.
PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Direito humanos. São Paulo: Saraiva, 2010.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos: desafios e perspectivas contemporâneas.
In: Desafios do direito internacional no século XXI. GOMES, Eduardo; REIS,
Tarcísio (Orgs.). Ijuí: UNIJUÍ, 2007. pp.85-103.
_____. Direitos humanos e direito constitucional internacional. São Paulo: Max
Limonad, 1997.
RAMOS, Rui Moura. Nacionalidade, plurinacionalidade e supranacionalidade na
União Européia e na comunidade dos países de língua portuguesa. In: DAL RI
JÚNIOR, Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de (org.). Cidadania e nacionalidade:
efeitos e perspectivas nacionais – regionais – globais. pp.279-298. Ijuí: UNIJUÍ,
2002.
RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais. 7ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002.
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 1986.
183
REZEK, José Francisco. Direito internacional público. 10ª ed. São Paulo: Saraiva,
2005.
ROSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social e outros escritos. Trad. e introdução
de Rolando Roque da Silva. São Paulo: Cultrix, 1989.
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Reflexões sobre a questão do liberalismo:
um argumento provisório. In: LAMOUNIER, Bolivar; WEFFORT, Francisco C.;
BENEVIDES, Maria Victoria (org.). Direito, cidadania e participação. pp.155-188.
São Paulo: T.A. Queiroz, 1981.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à
consciência universal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pósmodernidade. 3. ed. São Paulo: Cortez Editora, 1997.
_____. O Fórum Social Mundial: manual de uso. São Paulo: Cortez, 2005.
_____. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo:
Cortez, 2006.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais
na Constituição Federal de 1988. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Trad. de Rita Correia
Guedes.
Disponível
em
http://stoa.usp.br/alexccarneiro/files/1/4529/sartre_exitencialismo_humanismo.pdf. Acessado em 29.01.2011.
SENE, Eustáquio de. Globalização e espaço geográfico. 2ª ed. São Paulo:
Contexto, 2004.
SETEINFUS, Ricardo Antônio Silva. Manual das organizações internacionais. 5ª
ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
SPENGLER, Fabiana Marion. O conflito, o monopólio estatal de seu tratamento
e as novas possibilidades: a importância dos remédios ou remédios sem
importância? In: MARION SPENGLER, Fabiana; LUCAS, Doglas Cesar (Org.)
Conflito, jurisdição e direitos humanos: (des)apontamentos sobre um novo
cenário social. pp.21-60. Ijuí: UNIJUÍ, 2008.
STELZER, Joana. Relações internacionais e corporações transnacionais: um
estudo de interdependência à luz da globalização. In: OLIVEIRA, Odete Maria de
(coord.). Relações internacionais & globalização: grandes desafios. 2ª ed. Ijuí:
UNIJUÍ, 1999. pp.95-121.
SILVA, Ademir Alves da. A gestão da seguridade social brasileira: entre a
política pública e o mercado. São Paulo: Cortez, 2004.
184
SOUZA, Raquel. O Direito Grego Antigo. In: WOLKMER, Antonio Carlos (org.).
Fundamentos de História do Direito. 2ª ed. rev. e ampl. pp.54-94. Belo Horizonte:
Del Rey, 2001.
SPENGLER, Fabiana Marion. Crise funcional: morte ou transformação do
Estado? In: O Estado e suas Crises. MORAIS, José Luis Bolzan de (Org.). Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2005. pp. 125-167.
_____. O conflito, o monopólio estatal de seu tratamento e as novas
possibilidades: a importância dos remédios ou remédios sem importância? In:
MARION SPENGLER, Fabiana; LUCAS, Doglas Cesar (Org.) Conflito, jurisdição e
direitos humanos: (des)apontamentos sobre um novo cenário social. pp.21-60.
Ijuí: UNIJUÍ, 2008.
SORJ, Bernardo. A democracia inesperada: cidadania, direitos humanos e
desigualdade social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luiz Bolzan de. Ciência política e teoria geral
do Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova
crítica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
TRINDADE, Luciano José. À paz perpétua de Kant e a sociedade internacional
contemporânea. Ijuí: UNIJUÍ, 2010.
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A personalidade e capacidade jurídicas
do indivíduo como sujeito do direito internacional. In: ANNONI, Danielle (Org.).
Os novos conceitos do novo Direito Internacional: cidadania, democracia e
direitos humanos. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. pp. 01-31.
TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre ética. Trad. do grupo de doutorandos do curso
de pós-graduação em Filosofia da Universidade do Rio Grande do Sul. rev. e org. da
trad. de Ernildo Stein. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Trad. de João Dell’Anna. 24ª ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003.
VIEIRA, Lizst. Os argonautas da cidadania. Rio de Janeiro: Record, 2001.
_____. Cidadania e globalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.
WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e direito. 3ª ed. rev. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
_____. Síntese de uma história das idéias jurídicas: da antiguidade clássica à
modernidade. 2ª ed. rev. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.
WIGHT, Martin. A política de poder. Trad. Carlos Sergio Duarte. Brasília: UnB,
1985.
185
ZOLO, Danilo. Globalização: um mapa dos problemas. Trad. de Anderson
Vichinkeski Teixeira. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010.
_____. Teoria e crítica do Estado de Direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo
(orgs.). O Estado de Direito: história, teoria, crítica. Trad. de Carlos Alberto
Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. pp.3-94.