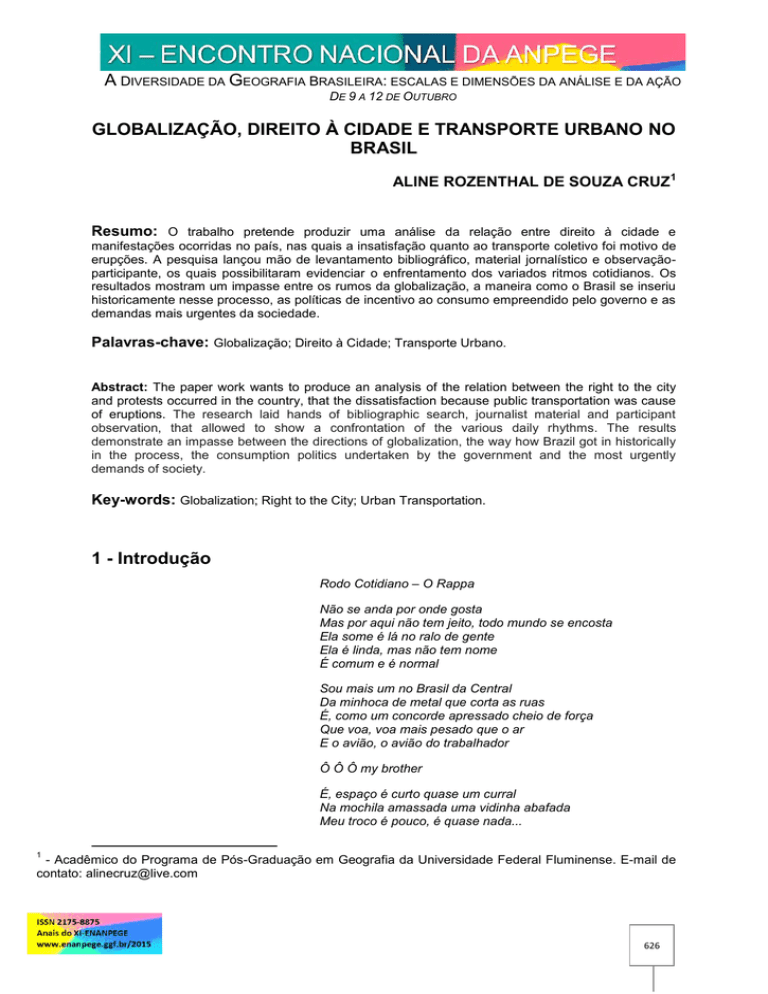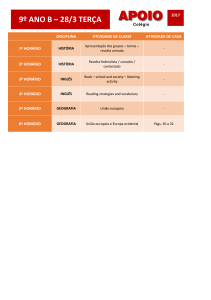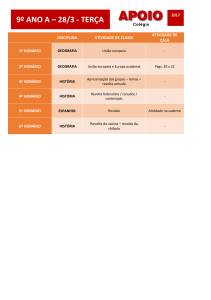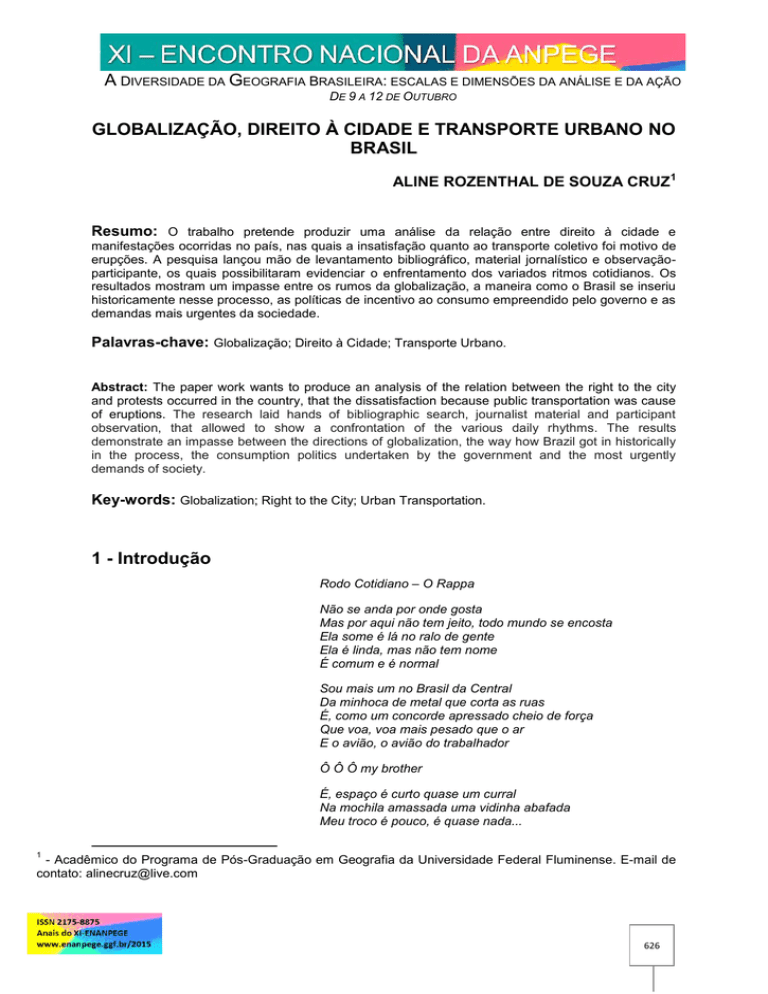
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
GLOBALIZAÇÃO, DIREITO À CIDADE E TRANSPORTE URBANO NO
BRASIL
ALINE ROZENTHAL DE SOUZA CRUZ1
Resumo: O trabalho pretende produzir uma análise da relação entre direito à cidade e
manifestações ocorridas no país, nas quais a insatisfação quanto ao transporte coletivo foi motivo de
erupções. A pesquisa lançou mão de levantamento bibliográfico, material jornalístico e observaçãoparticipante, os quais possibilitaram evidenciar o enfrentamento dos variados ritmos cotidianos. Os
resultados mostram um impasse entre os rumos da globalização, a maneira como o Brasil se inseriu
historicamente nesse processo, as políticas de incentivo ao consumo empreendido pelo governo e as
demandas mais urgentes da sociedade.
Palavras-chave: Globalização; Direito à Cidade; Transporte Urbano.
Abstract: The paper work wants to produce an analysis of the relation between the right to the city
and protests occurred in the country, that the dissatisfaction because public transportation was cause
of eruptions. The research laid hands of bibliographic search, journalist material and participant
observation, that allowed to show a confrontation of the various daily rhythms. The results
demonstrate an impasse between the directions of globalization, the way how Brazil got in historically
in the process, the consumption politics undertaken by the government and the most urgently
demands of society.
Key-words: Globalization; Right to the City; Urban Transportation.
1 - Introdução
Rodo Cotidiano – O Rappa
Não se anda por onde gosta
Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta
Ela some é lá no ralo de gente
Ela é linda, mas não tem nome
É comum e é normal
Sou mais um no Brasil da Central
Da minhoca de metal que corta as ruas
É, como um concorde apressado cheio de força
Que voa, voa mais pesado que o ar
E o avião, o avião do trabalhador
Ô Ô Ô my brother
É, espaço é curto quase um curral
Na mochila amassada uma vidinha abafada
Meu troco é pouco, é quase nada...
1
- Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense. E-mail de
contato: [email protected]
626
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Conforme os dizeres da canção e, segundo Ruy Moreira em sua obra, “O que
é Geografia?” (2009), o que confere clarividência a Geografia é o fato dela
fazer parte da vida humana, a partir do próprio fato de que todo dia fazemos
nosso percurso geográfico, de casa para o trabalho, do trabalho para a
escola, da escola para o trabalho, pondo a geografia na própria intimidade
das nossas condições de existência (MOREIRA, 2009, p.24).
Sendo assim, é no ambiente urbano, na cidade, o lugar onde, atualmente,
essas práticas são realizadas pelos homens. É entre as ruas e avenidas que fluem
as pessoas, objetos e ideias, os quais, ao se entrecruzarem, geram acontecimentos,
que de uma forma ou outra se materializam numa intricada rede com potencial
alcance global.
Entremeando e compondo as redes têm-se os transportes públicos urbanos.
Os constantes fluxos de ir e vir de pessoas, além de trazerem clarividência à ciência
geográfica, mostram também a importância destes no cotidiano das médias e
grandes cidades brasileiras. Pois, de certa forma, deixou-se de vivenciar a
urbanidade e passou-se somente a se circular na urbe. Os fluxos ganharam maior
relevância frente aos fixos, os quais, hodiernamente, podem ser considerados
entraves à reprodução do capital.
Essa nova faceta urbana pode ser creditada à dinâmica imposta pelo capital
financeiro, regido pelas multinacionais, as quais a partir do advento da globalização
tem ganhado peso frente às políticas estatais. Nesse contexto surge a importância
da produção e reprodução do espaço, como causa e resultado do processo de
acumulação do capital.
As contradições advindas desse ínterim (local x global) são essenciais para
compreensão da sociedade contemporânea, visto que tensões se mostram
inerentes, principalmente no que tange ao conflito capital-trabalho. O espaço,
consequentemente, acaba por adquirir como conteúdo essa característica desigual e
combinada. Ou seja, a configuração socioespacial gera lutas e busca por igualdade.
Desta maneira, pode-se dizer que o espaço geográfico “é a materialidade históricoconcreta do processo do trabalho” (MOREIRA, 2009).
627
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Assim, por estudar o âmbito urbano através de uma análise históricogeográfica dos movimentos sociais, que tiveram o transporte público como uma das
principais pautas de reivindicação, esse trabalho espera poder colaborar para a
compreensão de como o proletariado continua sendo explorado e expropriado
durante a utilização do transporte coletivo, pois parte do salário acaba por retornar
ao bolso do capitalista. Ou seja, o cotidiano de ir e vir do trabalhador é um exemplo
de resistência que deve ser mais bem abarcado pela Geografia, ademais porque
está incutido também na dinâmica do processo de acumulação por espoliação
(HARVEY, 2014).
Para tanto, este trabalho pretende partir daquela que é tida como a primeira
revolta essencialmente urbana no Brasil, ocorrida em fins do século XIX, até chegarse ao que pode ser considerado um dos grandes marcos da história política
brasileira, as manifestações de junho de 2013. Analisando-se esse processo
histórico de disputas e lutas pelo espaço urbano, nota-se o contraste socioespacial,
no qual diferentes grupos e interesses são obrigados a conviver e a dividir espaços,
apresentando tensões e conflitos (DUARTE, 2003).
2 - MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS E TRANSPORTE PÚBLICO:
UM HISTÓRICO DE LUTAS
Ao se analisar a intrínseca relação entre capital-trabalho-transporte,
sobremaneira através de uma retomada histórico-geográfica, fica evidente a
espoliação cotidiana do trabalhador nas cidades brasileiras, pois parte de sua
jornada de trabalho, disposição e salário são gastos nos deslocamentos citadinos.
Ademais, é recorrente na história do Brasil manifestações e revoltas devido à má
qualidade dos serviços de transporte público, bem como ao constante aumento de
suas tarifas, impulsionado, principalmente pelas constantes altas inflacionárias.
Sendo assim, começar-se-á da conhecida Revolta do Vintém ocorrida nos últimos
anos do Império, passando pela Revolta das Barcas em fins dos anos 50, dentre
outras, até chegar-se aos dias de hoje, quando se pretende fazer um exame mais
aprofundado do contexto.
628
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Sobre o Motim do Vintém esse artigo baseou-se, principalmente, no trabalho
de Ronaldo Pereira de Jesus (2006), intitulado “A Revolta do Vintém e a Crise da
Monarquia”, quem descreve de maneira detalhada o acontecimento.
Em fins do século XIX, a sede do poder monárquico se situava na então
capital do país, a cidade do Rio de Janeiro. Esse período foi marcado por forte
instabilidade política e econômica, o que acabou por gerar o primeiro grande
distúrbio urbano no país em prol da melhoria dos serviços públicos oferecidos,
principalmente no que concerne ao transporte por bondes.
Os protestos começaram em dezembro de 1879, quando a Coroa anunciou o
aumento do imposto, na ordem de um vintém sobre as tarifas dos bondes, os quais
eram responsáveis por transportar boa parte da população na época. Isso afetaria
diretamente o bolso dos usuários desse modal de transporte, em sua maioria,
trabalhadores assalariados.
O movimento, inicialmente pacífico, costumava reunir milhares de pessoas no
Campo de São Cristóvão para ouvir e apoiar o progressista José Lopes Trovão,
quem além de se tornar um dos principais líderes do movimento, defendia também,
a abolição da escravatura e o fim da monarquia. Embora, segundo relatos o
Imperador Dom Pedro II tenha se mostrado aberto ao diálogo, os republicanos
interessados em saírem fortalecidos do impasse político, econômico e social que se
travava na cidade, declinaram da proposta, influenciando boa parte dos
manifestantes.
No dia 1º de janeiro de 1880, data em que o imposto começaria a ser
cobrado, uma grande manifestação foi organizada no Largo do Paço, e mais uma
vez, o republicano Lopes Trovão proferiu um discurso pedindo que a população
resistisse pacificamente à cobrança. Entretanto, diversos grupos de manifestantes
começaram a tumultuar, seguindo por várias ruas do centro da cidade, as quais
eram percorridas por importantes linhas. Barricadas foram armadas e houve uma
grande depredação do patrimônio público. A revolta se cessou somente dias depois
com intervenção militar.
Com a pressão popular, o imposto acabou sendo revogado em setembro de
1880. Porém, os danos foram além da infraestrutura pública, o protesto ocasionou
um grande desgaste político à imagem do império, o qual cairia nove anos depois.
629
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
Agora, em se tratando da Revolta das Barcas, o presente trabalho se inspirou
sobremaneira no estudo de Edson Nunes (2000), intitulado “A Revolta das Barcas:
Populismo, violência e conflito político”, quem analisou de maneira aprofundada os
diversos interesses que estavam em jogo no episódio.
Em fins dos anos 50, o país estava sob o governo de Juscelino Kubistchek.
Um período de alta inflacionária, instabilidade política e intensas mudanças na
conjuntura espaço-territorial, principalmente por novos centros urbanizados estarem
surgindo e se concretizando, sendo a cidade de Brasília, o maior exemplo.
Em decorrência dessas transformações, tanto o Estado da Guanabara,
quanto a até então capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Niterói, se viram
relegadas a uma importância secundária em termos de investimentos financeiros e
temiam a perda de sua influência política e cultural em contextos mais amplos.
Ademais, as cidades do Rio de Janeiro e Niterói possuíam um vínculo forte de
relação, pois boa parte da população niteroiense ia diariamente a capital do país
para trabalhar. Sendo assim, o transporte pela Baía de Guanabara era na época
essencial, visto que a ponte Rio-Niterói foi inaugurada apenas nos anos 70.
Empresas consorciadas eram responsáveis por realizar a travessia desde
meados do século XIX. A partir de 1953, o transporte aquaviário passou a ser
administrado pela Frota Barreto S/A, pertencente ao Grupo Carreteiro. Entretanto,
sob a administração do Grupo, os atrasos e superlotação das barcas eram
constantes, e o preço da passagem cada vez mais elevado. Estes atos ocorriam a
despeito do recebimento de elevados subsídios advindos do governo federal.
Todavia, para a população, que a cada dia se tornava mais indignada, era visível o
enriquecimento da família Carreteiro através da exploração do transporte e o
descaso com seus funcionários que não recebiam seus salários em dia.
Em maio de 1959 esse conturbado cotidiano atingiu seu ápice quando
motivados por outras greves ocorrentes no cenário nacional, os marítimos entraram
em conflito com a família Carreteiro, exigindo seus direitos trabalhistas. Os
funcionários da empresa decidiram por decretar greve na noite do dia 22 de maio de
1959 e na manhã do dia 23, o caos se instalou sobre Niterói.
Os barcos disponibilizados pela Marinha para tentar amenizar o problema
foram insuficientes para o transporte de toda a população que cotidianamente se
630
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
destinava ao trabalho na capital nacional. Uma grande aglomeração começou a se
formar na estação Cantareira. Na tentativa de por ordem no local, os fuzileiros
navais usaram de truculência, gerando revolta nos trabalhadores que começaram a
atirar pedras. A resposta dos fuzileiros foi com tiros de metralhadora.
O tumulto tomou várias áreas centrais da cidade. Dentre os eventos
ocorridos, pode-se dar destaque: as barcas foram atacadas e depredadas, a
Estação Cantareira foi incendiada, a sede da empresa e a mansão da família
Carreteiro foram invadidas e seus bens destruídos. O saldo final desse episódio
foram três mortos, uma centena de feridos e a transferência do sistema de
transporte de passageiros na Baía de Guanabara para o Estado.
Entretanto, é a partir do ano de 2003 que as problemáticas em torno do
transporte público começam a ganhar maior destaque na sociedade brasileira. Foi
na cidade de Salvador, onde se principiaram os movimentos por melhorias no
transporte coletivo e o questionamento sobre os seus constantes reajustes. Esse
acontecimento ficou conhecido como Revolta do Buzu. No ano seguinte, 2004, foi a
vez de Florianópolis. Novamente, a população saiu às ruas para revogar o aumento
no preço das passagens e defender o passe livre estudantil. O episódio foi
denominado de Revolta das Catracas (MOVIMENTO PASSE LIVRE, 2013).
Se espelhando nesses levantes populares, diversas outras cidades do país
também saíram às ruas para lutar por uma reestruturação no sistema de transportes.
São elas: Vitória (2006), São Paulo (2010), Teresina (2011), Aracaju e Natal (2012)
e Porto Alegre e Goiânia (2013). Foi nesse contexto, que no ano de 2005, nasceu o
Movimento Passe Livre no V Fórum Social Mundial ocorrido em Porto Alegre. Esse
constitui uma das maiores instituições de luta pela Tarifa Zero no Brasil
(MOVIMENTO PASSE LIVRE, 2013).
Os conflitos descritos foram motivados pela má gestão e fiscalização do
transporte público, ou seja, são recorrentes na história das cidades brasileiras
acontecimentos envolvendo a insatisfação popular com o transporte coletivo. Esse
percurso no tempo e no espaço contribui para a compreensão das problemáticas
levantadas em junho de 2013, quando centenas de manifestações tomaram o país.
Essa repercussão permeia também um questionamento sobre o modelo de
cidade que tem se construído e consolidado no país. Uma urbe-negócio, regida pelo
631
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
capital, fragmentada, gentrificada (SMITH, 2007), segregada e desigual. Uma
cidade, onde não mais se habita apenas se circula, e a um custo alto.
Por fim, deve-se salientar um ponto que permeia todos os levantes: o
questionamento quanto ao modelo político
vigente.
Seja monarquista ou
republicano, totalitário ou democrático, todas as formas apresentam falhas e geram
insatisfação, principalmente porque, todos estão sujeitos a influencia do sistema
capitalista, que é de natureza desigual e procura visar o lucro. Hoje, sobretudo, com
os governos de tendências neoliberalistas, a crise entre o político, a política e os
políticos se torna ainda mais evidente (LIMA, 2011), e reflete-se no espaço, e
consequentemente, na crise de mobilidade.
3 - O TRANSPORTE PÚBLICO E AS JORNADAS DE JUNHO DE 2013
Nos últimos anos, o Brasil apresentou uma reorganização de seu capitalismo,
passando de um país de terceiro mundo para a vanguarda dos ditos “países em
desenvolvimento”. Segundo Ermínia Maricato (2011), essa mudança se deve ao
lugar que o Brasil ocupou durante o processo de globalização e as suas políticas
internas, as quais visavam, basicamente, um incentivo ao consumo. Porém, o mais
tocante desse processo foi o fato dele culminar no renascimento do ideário político
de seus habitantes, como se pôde notar nas centenas de manifestações ocorridas
no ano de 2013. Chegamos ao “ponto crítico” de nossa urbanidade (LEFEBVRE,
2006).
Um dos aspectos desses protestos pode ser entendido como um desejo por
cidades mais acessíveis. Parece simples, mas a complexidade envolvida é grande.
Ou seja, “o direito à cidade ou a inconformidade com a injustiça urbana não são
criações absolutas ou a-históricas, porém tudo leva a crer que são fontes perenes de
conflitos, ainda que estes apresentem mudanças com a dinâmica social”
(MARICATO, 2011, p. 87).
As cidades brasileiras, de modo geral, são marcadas pela valorização
diferencial de suas áreas, e com os transportes isso não é diferente. A organização
dos transportes segue a lógica de privilegiar o atendimento a áreas mais plenas em
632
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
termos de infraestrutura urbana, tornando ainda mais difícil a integração de certas
regiões e parcelas da população. Tal como Milton Santos aponta:
As carências em serviços alimentam a especulação pela valorização
diferencial das diversas frações do território urbano. A organização dos
transportes obedece a essa lógica e torna ainda mais pobres os que devem
viver longe dos centros, não apenas porque devem pagar caro seus
deslocamentos como porque os serviços e bens são mais dispendiosos nas
periferias. E isso, fortalece os centros em detrimento das periferias, num
verdadeiro círculo vicioso (SANTOS, 2009, p. 106).
A diferenciação de espaços pode ser explicada pela dinâmica de ação do
capital, processo que dificulta a equidade de direitos, e consequentemente a
cidadania. Assim, o mais correto é se falar em uma possibilidade de direito à cidade.
Ou seja, no Brasil, vive-se a cidade, mas não o urbano, pois o plano urbano, a
virtualidade, aquilo que é desejado pela sociedade real não se efetiva por completo,
se apresenta somente em potencial (LEFEBVRE, 2006). E é nesse descompasso
rítmico que jaz a atual crise de mobilidade urbana, uma vez que o tempo de ação do
capital na cidade e no urbano é distinto.
De acordo com José de Souza Martins (1997), o que temos assistido no Brasil
nos últimos anos é uma facilitação ao processo de reprodução do capital ao se
favorecer a circulação de bens e serviços. Assim, infere-se que, na verdade, o que
ocorreu não foi uma real diminuição das desigualdades socioambientais no país,
mas sim, uma mudança no caráter de atuação do capitalismo. Essa mudança,
marcada sobremaneira por uma diferenciação no modelo de consumo da população,
acaba por refletir-se no espaço urbano, resultando “no surgimento de novos padrões
de assentamento e distribuição da população e das atividades produtivas”, ou seja,
em novos padrões de urbanização (LIMONAD, 1999).
Constituem-se novas formas urbanas que apresentam caráter disperso, pois
se fundamentam, no Brasil, em um modelo “rodoviarista” americanizado, pautado
em favorecer a atuação do capitalismo financeiro. Assim, ressalta-se que a crise
urbana está diretamente relacionada à efetivação do sistema econômico, que muitas
vezes acaba recebendo apoio das políticas públicas. E, no caso específico da crise
da mobilidade ou da “imobilidade”, refletida em muitos congestionamentos nas
cidades brasileiras, isso se torna evidente quando são realizadas “intervenções na
633
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
ampliação física e modernização da gestão do sistema viário, em detrimento da
ampliação e modernização dos transportes coletivos” (ROLNIK e KLINTOWITZ,
2011, p.90).
Além dos motivos expostos, outro fator que nos últimos anos tem sido
determinante na configuração espacial das metrópoles, pois direciona boa parte dos
investimentos financeiros, é a crescente ocorrência de megaeventos internacionais
no Brasil. Esses atraem os olhares do mundo todo para o país.
Foi nesse cenário que teve palco a Copa das Confederações em diversos
estádios, ao mesmo tempo em que o povo saía às ruas para reivindicar seus
direitos. Diante disso, houve forte repressão policial sobre os manifestantes, e os
protestos que a princípio eram pacíficos, se tornaram “guerrilhas”. Ironicamente, a
história se repete, apesar de apresentar novos nuances: não há um único líder; as
opiniões não são mais emitidas em praças públicas, mas nas redes sociais.
Pode-se notar com as jornadas de junho a inauguração de um “novo” tempo
de ruptura: aproxima-se do futuro, maquia-se o presente e se esquece do passado.
Cria-se um horizonte de expectativas decrescentes (ARANTES, 2014), no qual é
função dos movimentos sociais, ao nutrir a esperança de mudança diante da
insatisfação, guiar para um caminho de maior justiça espacial.
Assim, o Movimento Passe Livre ganhou força e maior repercussão em nossa
sociedade, mas ainda encontra empecilhos econômicos e brechas legislativas que
dificultam a sua consolidação. Conforme o arquiteto e urbanista Jorge Wilheim
(2013) o artigo 6º da Constituição menciona o transporte público como um direito
fundamental de natureza social. E, salienta que a Lei Nacional de Mobilidade Urbana
(2012), embora apresente avanços, está carregada de generalidades incapazes de
responder à questão econômica central: “deve o direito à mobilidade significar a
gratuidade do transporte por parte de seus usuários? Deve o custo da operação ser
arcado por toda a população, através dos impostos e orçamento municipal, ou
apenas pelos usuários (com ou sem subsídio)?” (WILHEIM, 2013, p.21).
Essas perguntas são centrais na problemática relacionada ao transporte
público no país, pois parte da crise de mobilidade jaz também, sobre as
controversas parcerias público-privadas, as quais, de certa forma favorecem a
corrupção, como se pôde notar historicamente. O controle exercido por empresas
634
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
privadas, licenciadas pelo poder público, levou constantemente à irrupção de
revoltas tanto contra os preços cobrados quanto contra a qualidade oferecida pelos
serviços.
Partindo da análise desse complexo ínterim exposto, compreendem-se
melhor as causas das Jornadas de Junho, as quais ao ter como estopim o aumento
nas tarifas cobradas no transporte público passaram a questionar também, a forma
de se fazer e refazer a cidade. Colocaram em xeque a vicissitude da democracia e
cidadania brasileiras.
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção do espaço urbano está intrinsecamente conectada ao processo
de urbanização, pois ambos se constituem cotidianamente através da interação de
variados agentes com o espaço e vice-versa. Impera no Brasil o que Amélia Damiani
(2009) denominou de urbanização crítica. Segundo a autora, as cidades vivenciam
esse processo devido a três fatores estruturais: a crise do trabalho, contida na crise
do capital; a crise do habitar, quando o habitante deixa de ser sujeito, dando lugar ao
“negócio imobiliário”; e, a potência ideológica do ambiental, substituindo o “caos”
socioespacial, mesmo que a princípio possa parecer paradoxal. Em suma, pode-se
dizer que a urbanização crítica provoca a redução do espaço vivido sob a
prevalência do capital financeirizado. Esses e outros fatores podem ajudar a explicar
a atual crise capitalista do espaço, que ao mesmo tempo em que se nutre da
acumulação desigual e combinada se mostra como resultado desta dinâmica. Como
exemplos destacados dessa crise, têm-se as grandes metrópoles brasileiras, que
carregam consigo o desemprego, o déficit habitacional, a “i-mobilidade” em tempos
que demandam por velocidade.
Somente com a efetivação do direito à cidade e, além disso, com o
conhecimento da dinâmica da produção do espaço, será possível uma reconstituição
espaço-temporal, findando as fragmentações existentes no lugar. De acordo com
Henri Lefebvre, os custos sociais da negação do direito à cidade são mais elevados
do que os da realização desse direito. Entretanto, Lefebvre (2008) ressalva que
635
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
profundas modificações nas relações sociais de produção e um crescimento da
riqueza são necessários para que haja, na prática, o direito à cidade.
Um transporte público de qualidade pode ser o primeiro passo para se
construir cidades mais acessíveis. Ao se melhorar a locomoção intraurbana das
pessoas, a acessibilidade seria facilitada, e, consequentemente a população
usufruiria de serviços essenciais e se deslocaria para o emprego com maior
facilidade. Além disso, um eficiente sistema de transporte público favoreceria a
própria circulação do capital, uma vez que não se transporta somente passageiros,
mas sim mão-de-obra economicamente ativa.
A criação do bilhete único foi uma medida que melhorou a mobilidade em
algumas cidades brasileiras, pois possibilitou a população circular de maneira um
pouco mais econômica e eficiente, e independentemente do meio de transporte
público utilizado. Entretanto, ainda se está longe de um sistema de transporte ideal,
principalmente porque o custo permanece elevado para o usuário. A fim de se
alcançar um bom sistema de transporte é necessária a participação integrada de
suas diversas tipologias (metrô, trem, ônibus, bonde, motocicleta, bicicleta, pedestre
e automóvel). Uma eficiente integração sistêmica se dá, por exemplo, quando um
usuário de transporte público pode ir por trajeto curto de bicicleta até uma estação
de metrô, ou que um pedestre caminhe, sobre calçada perfeita, até um terminal ou
ponto de embarque de ônibus para completar sua viagem.
Assim, propõem-se a municipalização do sistema de transporte urbano, sendo
cobrada tarifa zero, administrado pela prefeitura e sustentado por impostos
municipais e subsídios privados. O transporte gratuito é uma possibilidade real
(GREGORI e ZILBOVICIUS, 2013).
6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DAMIANI, Amélia Luisa. Urbanização crítica e produção do espaço. São Paulo,
2009.
DUARTE, Ronaldo Goulart. A cidade que lugar é esse? Editora do Brasil. São Paulo,
2003.
636
A DIVERSIDADE DA GEOGRAFIA BRASILEIRA: ESCALAS E DIMENSÕES DA ANÁLISE E DA AÇÃO
DE 9 A 12 DE OUTUBRO
HARVEY, David. O novo Imperialismo. 8ª ed. Edições Loyola. São Paulo, 2014.
JESUS, Ronaldo Pereira de. A Revolta do Vintém e a crise na Monarquia. Revista
de História Social, nº12, 2006.
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 6ª ed. Editora Centauro. São Paulo, 2006.
LEFEBVRE, Henri. Espaço e política. Editora UFMG. Belo Horizonte, 2008.
LIMA, Ivaldo. “Da representação do poder ao poder da representação: uma
perspectiva geográfica”. OLIVEIRA, Márcio Piñon de; HAESBAERT, Rogério;
MOREIRA, Ruy (org.). Território, territórios: ensaio sobre o ordenamento territorial.
3ª ed. Rio de Janeiro, 2011.
LIMONAD, Ester. Reflexões sobre o Espaço, o Urbano e a Urbanização. Revista
GEOgraphia, Vol. 1, Nº 1, 1999.
GREGORI, Lúcio; ZILBOVICIOUS, Mauro. Tarifa do transporte: o que está por trás
dela? Publicado em: Site do Movimento Passe Livre, 2013. Disponível em:
http://saopaulo.mpl.org.br/2013/08/26/tarifa-do-transporte-o-que-esta-por-tras-delapor-lucio-gregori-e-mauro-zilbovicious/. Acessado em: 04/07/2015.
MARICATO, Ermínia. O impasse da política urbana no Brasil. Editora Vozes.
Petrópolis, 2011.
MARTINS, José de Souza Martins. Exclusão Social e a nova desigualdade. 3ed. São
Paulo: Paulo, 1997.
MOREIRA, Ruy. O que é Geografia? 2ed.São Paulo: Editora Brasiliense, 2009.
MOVIMENTO PASSE LIVRE – SÃO PAULO. “Não começou em Salvador, não vai
terminar em São Paulo”. Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que
tomaram as ruas do Brasil. Boitempo Editorial. São Paulo, 2013.
NUNES, Edson. A Revolta das Barcas: Populismo, violência e conflito político.
Garamond. Rio de Janeiro, 2000.
SMITH, Neil . Gentrificação, a fronteira e a reestruturação do espaço urbano.
GEOUSP: espaço e tempo, nº 21, 2007.
ROLNIK, Raquel; KLINTOWITZ, Danielle. (I)mobilidade na cidade de São Paulo.
Revista Estudos Avançados, 2011.
SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. 5ed. Edusp. São Paulo, 2009.
WILHEIM, Jorge. Mobilidade Urbana: um desafio paulistano. Revista Estudos
Avançados, 2013.
637