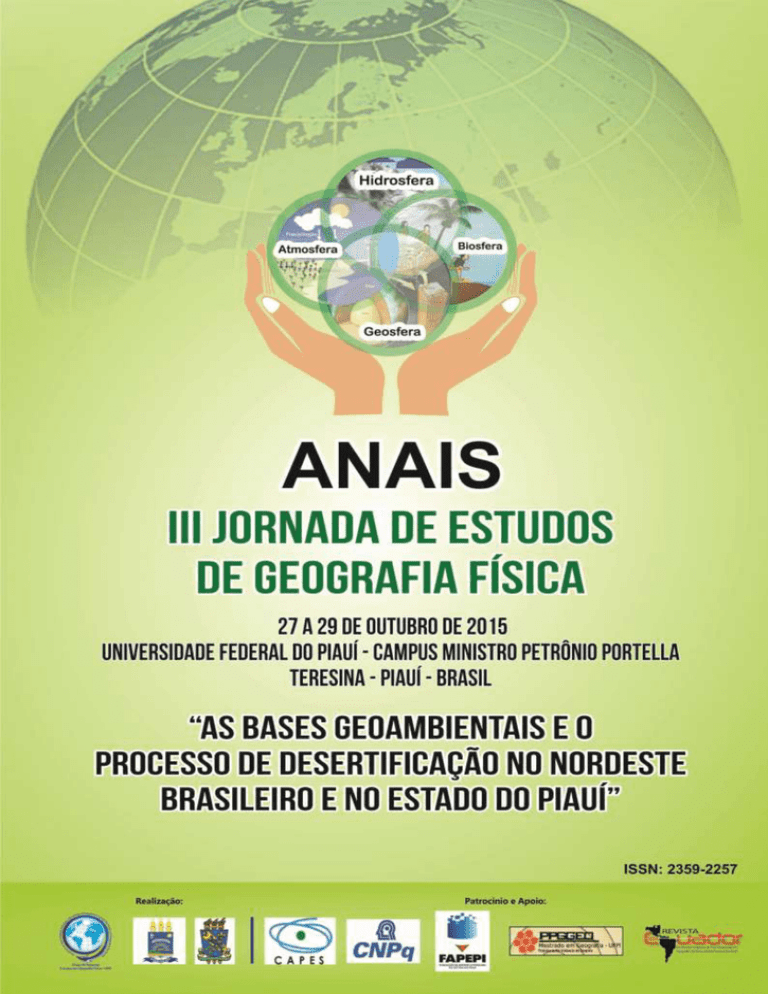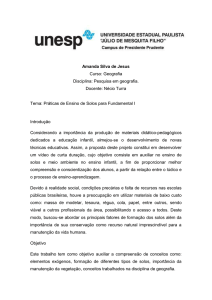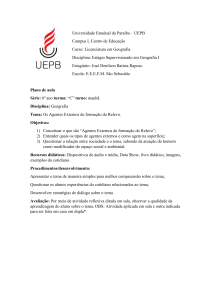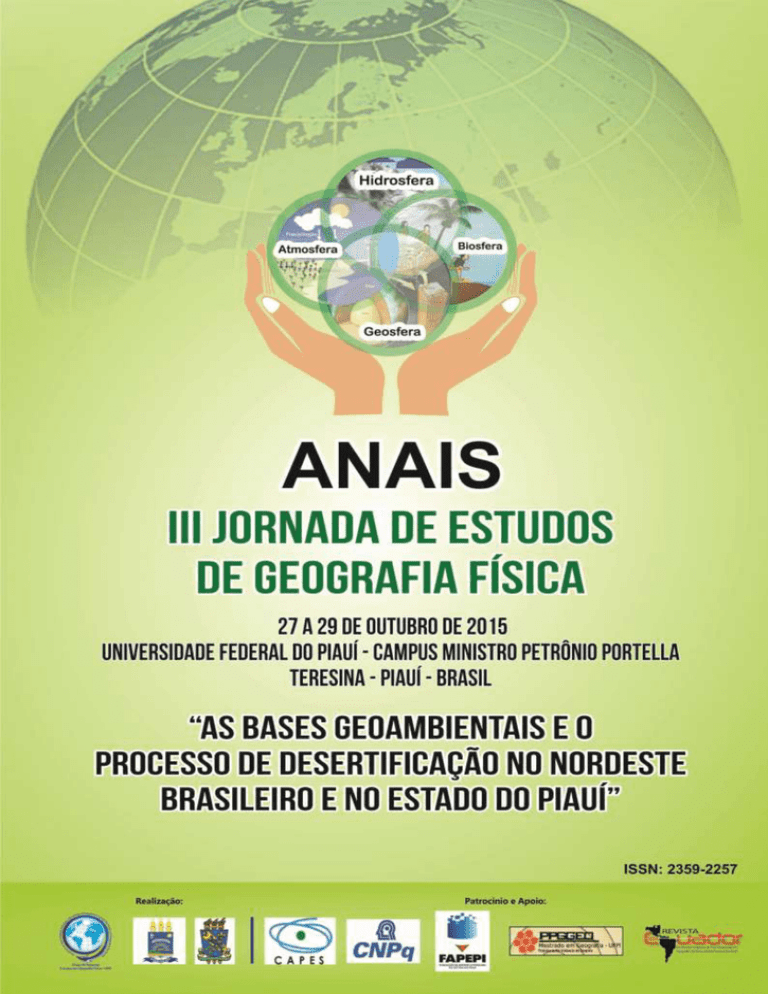
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
1
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PROF. DR. JOSÉ ARIMATÉIA DANTAS LOPES
REITOR
PROFª. DRª. NADIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA
VICE-REITOR
JOVITA MARIA TERTO MADEIRA NUNES
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROFª. DRª. MARIA DO SOCORRO LEAL LOPES
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
PROF. DR. HELDER NUNES DA CUNHA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROF. DR. PEDRO VILARINHO CASTELO BRANCO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
PROFª. DRª. JACQUELINE LIMA DOURADO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROF. DR. GUSTAVO SOUZA VALLADARES
COORDENADOR DO MESTRADO EM GEOGRAFIA
PROFª. DRª. CLÁUDIA MARIA SABÓIA DE AQUINO
SUB- COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
PROF. DR. RAIMUNDO LENILDE DE ARAÚJO
COORDENADOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
2
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
COORDENAÇÃO GERAL
PROFª. DRª. CLÁUDIA MARIA SABÓIA DE AQUINO
PROF. DR. EMANUEL LINDEMBERG SILVA ALBUQUERQUE – UFPI
PROF. MS. RENÊ PEDRO DE AQUINO – UESPI
COMITÊ CIENTÍFICO
PROFª. DRª. CLÁUDIA MARIA SABÓIA DE AQUINO – UFPI
PROF. DR. GUSTAVO SOUSA VALLADARES- UFPI
PROFª. DRª. BARTIRA ARAÚJO DA SILVA VIANA – UFPI
PROFª. DRª. ELIZABETH MARY DE CARVALHO BAPTISTA – UESPI
PROF. DR. EMANUEL LINDEMBERG SILVA ALBUQUERQUE – UFPI
PROF. DR. RAIMUNDO LENILDE DE ARAÚJO
PROFª. DRA. MARA LÚCIA JACINTO OLIVEIRA- BOLSISTA PNPD/PPGGEO/UFPI
PROF. MSC. RENÊ PEDRO DE AQUINO – UESPI
PROFª. DRA.MARIA VALDIRENE ARAÚJO ROCHA MORAES -UFPI
APOIO
DOCENTES E DISCENTES DO CURSO DE GEOGRAFIA DA
UFPI E DO PPGGEO/UFPI.
3
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
APRESENTAÇÃO
É notório que o planeta nos últimos 150 anos tem passado por significativas
transformações notadamente aquelas relacionadas à economia, que de modo geral
impulsiona transformações no ambiente.
Nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas do globo dentre os vários problemas
ambientais constatados destaca-se a desertificação, processo que resulta de variações
climáticas, aliada a atividades humanas.
O estado do Piauí inserido na região Nordeste do Brasil apresenta segundo
pesquisas realizadas 45,3% de seu território suscetível à desertificação, fato que
justifica a escolha desta temática na a III Jornada de Estudos em Geografia Física,
uma promoção do Grupo de Pesquisa em Geografia Física e do Mestrado Acadêmico
em Geografia da Universidade Federal do Piauí.
Durante os três dias do evento serão discutidos aspectos teóricos, metodológicas
e ainda técnicos relativos às diferentes questões pertinentes ao contexto geoambiental
Nordestino e Piauiense, procurando enfatizar as condições que podem favorecer os
processos de degradação notadamente a desertificação e ainda experiências exitosas de
recuperação de áreas degradadas.
Convidamos os pesquisadores, professores do ensino fundamental, médio e
superior, profissionais autônomos, técnicos e estudantes de Graduação e PósGraduação em Geografia e áreas afins do Estado do Piauí e de outras Instituições de
Ensino Superior a se fazerem presente no referido evento.
Sejam Bem Vindos!
PROFª. DRª. CLÁUDIA MARIA SABÓIA DE AQUINO
TERESINA OUTUBRO DE 2015.
4
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
SUMÁRIO
Eixo 1. Estudos em Geomorfologia/Pedologia
Pág.
1-7
A IMPERMEABILIZAÇÃO DOS SOLOS NAS ÁREAS URBANIZADAS
RUI PINTO DA SILVA JUNIOR
ESTIMATIVA DA ERODIBILIDADE DOS SOLOS EM ÁREA SUSCETÍVEL À 8 - 15
DESERTIFICAÇÃO: O CASO DOS MUNICIPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ E
JUAZEIRO DO PIAUÍ
FRANCÍLIO DE AMORIM DOS SANTOS
CLÁUDIA MARIA SABÓIA DE AQUINO
AS TENDÊNCIAS TEMÁTICAS E CONCEITUAIS DA GEOMORFOLOGIA
NO XVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA
FRANCISCO JONH LENNON TAVARES DA SILVA
KAROLINE VELOSO RIBEIRO
CLÁUDIA MARIA SABÓIA DE AQUINO
16-22
CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS EROSIVOS: UMA 23-29
ABORDAGEM TEÓRICA PRELIMINAR EM ÁREAS URBANAS EM TIMONMA
RAFAEL JOSÉ MARQUES
Eixo 2. Estudos em Climatologia/Bacias Hidrográficas
CIRCULAÇÃO GERAL DA ATMOSFERA:
ELEMENTOS FORMADORES
CAROLINE DA SILVA MATEUS
ANDRÉA MACIEL LIMA
JEFFERSON PAULO RIBEIRO SOARES
CARACTERIZAÇÃO
E
30-37
Eixo 3. SIG/Cartografia/Meio Ambiente/Planejamento Ambiental
CLASSIFICAÇÃO NÃO-SUPERVISIONADA EM IMAGENS RAPIDEYE DO
DELTA DO PARNAÍBA, PIAUÍ
JOÃO VICTOR ALVES AMORIM
GUSTAVO SOUZA VALLADARES
38-45
ANÁLISE TEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE
URUÇUÍ-PI
KÁTIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA;
MARIA DO ESPÍRITO SANTO ABREU DA ROCHA
46-52
5
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
SUSCETIBILIDADE AMBIENTAL À EROSÃO LAMINAR NO MUNICÍPIO DE
CANUDOS-BA
PHILIPE DAMASCENO PEDREIRA
NERIVALDO AFONSO SANTOS
ISRAEL DE OLIVEIRA JUNIOR
53-60
DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA OCUPAÇÃO DESORDENADA DO
CAMPO DE DUNAS NA COMUNIDADE IGUAPE/AQUIRAZ-CE.
RONEIDE DOS SANTOS SOUSA
PEDRO EDSON FACE MOURA
RAIANNY SARA FERREIRA DA SILVA
61-68
A PROBLEMÁTICA DA ÁGUA DO SEMIÁRIDO NORDESTINO BRASILEIRO
E AS POSSIVEIS SOLUÇÕES
ÁDNA DALILA DA SILVA VIANA
JEFFERSON PAULO RIBEIRO SOARES
69-82
Eixo 4. Ensino/Pesquisas em Geografia Física
GEOLOGIA APLICADA À GEOGRAFIA: REFLEXÃO SOBRE A INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA
ANDRÉA LOURDES MONTEIRO SCABELLO
MAICON HENRIQUE MARQUES BATISTA
83-90
A MAQUETE COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE GEOGRAFIA FÍSICA:
O CASO DA TURMA DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO
NIVALDO EM FLORIANO-PI.
DANIEL GOMES DE SOUSA
WANDERSON BENIGNO DOS SANTOS
CARLOS JARDEL ARAÚJO SOARES
91-97
6
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
A IMPERMEABILIZAÇÃO DOS SOLOS NAS ÁREAS URBANIZADAS
RUI PINTO DA SILVA JUNIOR
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
[email protected]
Resumo
O presente trabalho tem o intuito de mostrar como o processo de impermeabilização, em áreas de zona urbana,
tem se desenvolvido, causando grandes impactos e atuando nos solos destas áreas urbanizadas, resultando em
problemas para o meio ambiente e sociedade em geral. Esta impermeabilização dos solos, em áreas urbanas, vem
agravando problemas como os de alagamentos e mudanças na temperatura local, gerando problemas
socioeconômicos. O presente trabalho se propõe na análise da relação entre as chuvas e a impermeabilidade dos
solos, buscando explicar de forma mais clara, as influências do processo de impermeabilização dos solos, o qual
age de forma direta e indireta para as situações ocorridas, durante períodos chuvosos, em locais que vem
passando ou passou por um desenvolvimento de urbanização. Através de uma revisão bibliográfica e
observações realizadas, durante chuvas em locais de grande volume de impermeabilidade do solo, presentes na
cidade do Natal, vê-se que através do crescimento populacional, houve um significativo aumento de construções
civis, acompanhado de um planejamento deficitário de drenagem e péssimo saneamento, resultando em alto
número de alagamentos pela capital potiguar, até mesmo em casos de chuvas rápidas, além da contaminação das
águas dos rios e lagos, existentes nas áreas de recepção das águas escoadas, causando transtornos para os
moradores e visitantes do local.
Palavras-chave: Problemas, alagamentos, chuvas.
Abstract
This work aims to show how the waterproofing process in areas of urban area, has developed, causing great
impacts and acting in soils of these urbanized areas, resulting in problems for the environment and society at
large. This waterproofing of soils in urban areas is exacerbating problems such as flooding and of the changes in
local temperature, generating socio-economic problems. This paper aims at analyzing the relationship between
rainfall and the impermeability of soils, seeking to explain more clearly the influences of the soil sealing process,
which acts directly and indirectly to the occurred situation during rainy periods in places that has been
undergoing or has undergone an urbanization development. Through a literature review and observations made
during rains in places of large volumes of soil impermeability, present in the city of Natal, it is seen that through
population growth, there was a significant increase in civilian buildings, accompanied by a deficient planning
drainage and bad sanitation, resulting in high numbers of flooding by Natal, even in cases of rapid rainfall, as
well as contamination of waters of the rivers and lakes that exist in the reception areas of the drained water,
causing inconvenience to residents and visitors local.
Key-words: Problems, flooding, rains.
1
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
1. INTRODUÇÃO
A densa impermeabilização do solo é algo que vem ocorrendo com bastante
intensidade e frequência pelas cidades que se encontram em pleno desenvolvimento
urbano, isso ocorrendo em várias regiões do mundo. Porém, esta modificação nos solos
dos lugares, tem provocado efeitos de diferentes tipos e magnitudes, inclusive no ciclo
hidrológico de bacias hidrográficas. Estes efeitos ocorrem por consequência do maior
volume de escoamento que ocorre na superfície gerando mais enchentes, além de reduzir
a capacidade de evapotranspiração e escoamento subterrâneo, indo de encontro com o
maior número de sedimentos, resíduos sólidos, como também a poluição dos rios e
aquíferos. Esses problemas são reflexos da ação do homem na ocupação do espaço nas
áreas urbanas, devastando as áreas verdes, crescendo a especulação de imóveis,
impermeabilizando o solo, além do mau uso e ocupação fora de ordem deste.
A impermeabilização do solo se refere a uma cobertura fixa de uma superfície do solo,
utilizando materiais artificiais que diminuem a capacidade do solo de deixar os fluidos
passar por seus poros. Os materiais mais utilizados são o asfalto e o cimento. Então,
naturalmente, o solo sofre grande impacto da impermeabilização, acabando com a
utilidade de boa parte dele. A cidade do Natal já vem sofrendo com problemas resultantes
do aumento do volume de impermeabilização do seu solo. Assim, pequenas chuvas na
cidade já são motivo para grandes transtornos aos habitantes da capital potiguar.
Com uma média que se aproxima dos 1500 mm de precipitação ao ano, Natal se localiza
na faixa mais chuvosa do estado do Rio Grande do Norte, no Litoral Leste, como mostra a
figura 1.
2. IMPACTOS DA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS SOLOS
Os solos têm um papel importante na produção de alimentos e materiais renováveis,
também oferece habitats para a biodiversidade da superfície terrestre e subterrânea, filtra
a água para o abastecimento dos lençóis freáticos, pode ajudar na regulagem do
microclima em lugares muito urbanizados, além de ajudar na melhoria da beleza da
paisagem. Assim, com o processo de impermeabilização, o solo é bastante castigado e
perde muitas das suas funções. Os ecossistemas e os serviços de fornecimento
2
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
relacionados com a água podem ser prejudicados, devido às mudanças no estado do
ambiente das bacias hidrográficas, após grandes imposições nos recursos da água. O
poder de absorção da água pelo solo é muito reduzido, chegando até a absorção nenhuma
da água. Desta maneira, aumenta o risco de inundações, já que com uma infiltração menor
nos solos, a água da chuva, chega bem mais rápida aos rios, aumentando o volume
máximo da cauda.
Figura 1 – Faixas de médias pluviométricas anuais (mm) no estado do Rio Grande do
Norte
Fonte: EMPARN, (2015)
Nas cidades, a densa impermeabilidade dos solos, tende a gerar problemas para a rede
de esgotos, pois aumenta o movimento de escoamento da água e, assim, os sistemas ficam
sobrecarregados e inundam a superfície, ficando visíveis e bem comuns, as inundações e os
alagamentos. Estes que viraram rotina na vida da população de Natal, já que, até em chuvas
consideradas pequenas, os alagamentos tomam de conta de vários pontos da cidade mais
importante do Rio Grande do Norte. A situação se agrava quando chegam os meses mais
chuvosos em Natal. Geralmente, o período mais chuvoso na capital do RN é entre os meses de
março e agosto, como mostra a figura número 2, então, a população passa por situações
constrangedoras e complicadas, devido aos problemas que dificultam a mobilidade urbana e
causam percas de vários bens às famílias atingidas por estas ocorrências. O crescimento da
3
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
especulação imobiliária em Natal, através do mercado da construção civil, também contribuiu
para o aumento do número de alagamentos na cidade, pois, muitas vezes, são realizadas
construções no caminho da vazão e impossibilitam a continuidade do caminho percorrido pela
água, acumulando ali, á água que seria escoada até a base da vertente. A vertente que é de
suma importância nos estudos geomorfológicos do local, pois a forma que ela possui está
ligada diretamente com o fluxo e o escoamento. “... as vertentes resultam de processos
exógenos e endógenos, destacando os efeitos de denudação, por processo de intemperismo,
movimentação de massa e água de escoamento, ajustados à geometria do sistema fluvial.”
Casseti (1991). O que se vê em Natal é que as águas das chuvas, antes absorvidas pelo solo
arenoso, agora são escoadas pelas ruas com pavimentação e são acumuladas com o lixo em
regiões baixas e que não há uma drenagem para recebê-las. Porém, além da grande quantidade
de alagamentos, a cidade vem enfrentando o surgimento de ilhas de calor, convenientes da
substituição da vegetação por asfaltos, telhas e pedra que absorvem a energia solar e se
juntam ao calor gerado pelos sistemas de condicionadores de ar, gerando essas ilhas de
sensação térmica mais alta.
Figura 2 – Gráfico das médias de precipitação em Natal-RN, entre os anos de 1961 e
1990.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET
4
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
3. METODOLOGIA
Visa-se agregar esse trabalho para todos os interessados a compreender os impactos e a
forma de atuação do processo de impermeabilização dos solos, gerando, de forma simples
e objetiva, opiniões e buscas para abrandar os sinistros ocasionados pelo processo citado
anteriormente. Observou-se em uma parcela da Avenida Salgado Filho, Zona Sul de
Natal, a rapidez que se inicia o escoamento superficial, após o início de uma precipitação.
O que se viu foi que por não poder se infiltrar no solo, a água escoa rapidamente, levando
consigo, resíduos sólidos e prejudicando ainda mais o deficitário sistema de drenagem do
local. Então, depois da observação feita na parcela citada acima, através de observações
realizadas em alguns outros pontos de alagamento em Natal, como o mostrado na figura
3, buscamos alternativas que estejam dentro da realidade e sejam possibilidades ao
alcance do maior numero possível de interessados em diminuir os impactos gerados pela
chuva em locais com grande grau de impermeabilidade do solo. Desta maneira, através
de estudos bibliográficos e experiências observacionais na cidade do Natal, foram
desenvolvidas maneiras que podem contribuir para resultados satisfatórios que vão gerar
mais conforto e menos problemas socioeconômicos para as populações de locais atingidos
por transtornos gerados pela impermeabilização elevada dos solos.
Figura 3 – Ponto de alagamento em um dos acessos da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
Fonte: nominuto.com
5
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
4. RESULTADO
Para atenuar os impactos, foram pensadas e sugeridas ações partindo de “cima para
baixo”, começando, então, pelo uso dos “telhados verdes”, que atrasariam o percurso da
água até o solo, sendo retida boa parte da água pela vegetação localizada em cima das
casas, podendo gerar, também, evapotranspiração. Também é sugerida a utilização de
superfície permeável em lugares que o uso de materiais impermeáveis, como o cimento e
o asfalto são dispensáveis. Em um estacionamento, por exemplo, poderiam substituir o
uso do asfalto ou cimento por o solo natural e cobrir com algum material poroso e
aproveitar o solo permeável que estaria por baixo, facilitando a absorção das águas. Ficou
claro durante a observação que essas opções de atenuação do solo, não são opções de
completa proteção do solo, pois ainda requer a remoção de até 30 cm do solo superficial,
mas não causam um impacto muito grande como no caso da impermeabilização total, pois
existe uma certa medida para a substituição do solo.
Também ao redor da cidade podem ser plantadas árvores e uma numerosa quantidade
de arbusto, pois absorveriam partículas e poluentes do ar em boa quantidade. Em Natal,
por exemplo, o Parque das Dunas com sua ótima área verde, contribui para absorver
grande quantidade de água da chuva, ajuda a amenizar a temperatura local e serve como
um ótimo filtro e abastecimento do lençol freático da cidade.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
“[...] as formas de efetivação de ocupação da crosta terrestre pela sociedade podem ser
geradoras de impactos indesejáveis, com abrangência considerável sobre as formas de
relevo e mesmo sobre os processos geomorfológicos” Girão e Corrêa (2004). Em Natal,
devido ao crescimento desordenado da impermeabilização do solo e seu sistema de
drenagem de baixa qualidade, além de resíduos sólidos entupindo bueiros e o precário
saneamento, os alagamentos e os problemas de saúde vêm aumentando e se somando aos
demais transtornos.
Os alagamentos provocados pelas chuvas em Natal têm seus ápices no período
chuvoso da cidade, entre março e agosto, causando problemas sociais, econômicos e
ambientais. Fica evidente, neste período, o aumento de epidemias, consequentes do
envolvimento direto de água acumulada e lixo, estes que ficam em contato com os
moradores, entrando para as estatísticas da saúde pública do município.
6
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Casseti, V. Ambiente e apropriação do relevo. São Paulo: Contexto, 1991.
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). Disponível em:
<http://189.124.135.176/climaRN/Medias_anuais_RN.htm> Acesso em 25.set.2015.
Girão, O.; Corrêa, A. C. de B. A Contribuição da Geomorfologia Para o Planejamento da
Ocupação de Novas Áreas. Revista de Geografia. v. 21, n0 2, p. 36-58, 2004.
Instituto
Nacional
de
Meteorologia
(INMET).
Disponível
em:
<http://www.inmet.gov.br/html/clima/graficos/plotGraf.php?chklist=2%2C&capita=natal%2
C&peri=99%2C&per6190=99&precipitacao=2&natal=29&Enviar=Visualizar> Acesso em
25.set.2015.
Jordan, T.; Grotzinger, J. Para Entender a Terra. Porto Alegre: Bookman, 2013.
Nunes, F. G. Uso da técnica de fotogrametria digital na análise temporal da
impermeabilização do solo em bacias hidrográficas urbanas. Anais XV Simpósio
Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR. Curitiba, Paraná, p. 0791, 2011.
Torres, F. T. P.; Neto, R. M.; Menezes, S. de O. Introdução à Geomorfologia. São Paulo:
Cenage Learning, 2013.
7
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
ESTIMATIVA DA ERODIBILIDADE DOS SOLOS EM ÁREA SUSCETÍVEL À
DESERTIFICAÇÃO: O CASO DOS MUNICIPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ E
JUAZEIRO DO PIAUÍ
1
FRANCÍLIO DE AMORIM DOS SANTOS
CLÁUDIA MARIA SABÓIA DE AQUINO
1
Instituto Federal do Piauí / Campus Piripiri
[email protected]
2
Universidade Federal do Piauí / Campus Petrônio Portela
[email protected]
2
Resumo
Em Áreas Suscetíveis à Desertificação (ASD) a suscetibilidade climática e a vulnerabilidade pedológica
favorecem a realização de estudos a exemplo do aqui proposto que tem como objetivos identificar as associações
de solos e estimar sua erodibilidade (K) nos referidos municípios de Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí, ambos
inseridos em ambiente suscetível à desertificação. A identificação das associações de solos da área baseou-se em
trabalho de Jacomine (1983). Para estimativa do fator K tomou-se como base o grau de maturidade dos solos,
conforme recomenda Crepani (2001). Foram identificadas 17 associações de solos para os municípios estudados,
sendo as mesmas agrupadas nas seguintes ordens: Areais Quartzosas (Neossolos Quartzarênicos), Brunos NãoCálcicos (Luvissolos Crômicos), Latossolos Amarelos que são os mais expressivos na área, Plintossolos,
Podzólicos Vermelhos-Amarelos (Argissolos) e Solos Litólicos (Neossolos Litólicos). Os resultados permitiram
estimar que 40,5% (1.159,3 km2) da área apresenta Baixa Erodibilidade, representada pelos Latossolos, 13,3%
(380,7 km2) possui Moderada Erodibilidade, devido presença de Bruno não-Cálcicos e Podzólicos VermelhosAmarelos, enquanto 46,2% (1.322,4 km2) enquadra-se na classe Alta, correspondendo aos Neossolos
Quartzarênicos, Plintossolos e Neossolos Litólicos. Diante do exposto, faz-se necessário aliar estudos para
identificação da declividade do relevo, condicionantes climáticos, dados de precipitação, além da cobertura
vegetal, posto tais elementos terem influência direta na proteção do solo e no processo de erosão dos solos.
Palavras-chave: Área Suscetível à Desertificação, Método Indireto, Erodibilidade, Solos.
Abstract
In Susceptible Areas Desertification (ASD) climate sensitivity and pedological vulnerability favor conducting
studies like the proposed here that aims to identify the soil associations and estimate its erodibility (K) in those
municipalities of Castelo do Piauí and Juazeiro Piauí, both inserted into susceptible to desertification
environment. Identifying the area of soil associations it was based on work Jacomine (1983). To estimate the K
factor was taken as basis the degree of soil maturity, as recommended Crepani (2001). 17 soil associations were
identified for the studied cities, which are then grouped into the following orders: Areais Quartz
(Quartzipsamments), Brunos Non-calcic (chromic Luvisols), Yellow Latosols that are the most significant in the
area, Plinthosols, Podzolics Vermelhos-Yellow (Ultisols) and Soil Litólicos (Litholic Neosols). The results
allowed to estimate that 40.5% (1159.3 km 2) area features Low Erodibility, represented by Oxisols, 13.3%
(380.7 km2) has faced Erodibility due presence of Bruno non-calcic, and Podzolics Vermelhos- yellow, while
8
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
46.2% (1322.4 km2) is part of the Classy, corresponding to Quartzipsamments, Plinthosols and Litholic Neosols.
Given the above, it is necessary to combine studies for relief slope of identification, climatic conditions, rainfall
data, as well as vegetation cover, since such elements have direct influence on soil protection and soil erosion
process.
Key-words: Areas Susceptible to Desertification, Indirect Method, Erodibility, Soil.
1. INTRODUÇÃO
Em todo o mundo, a literatura pertinente, aponta a desertificação como um tipo de
degradação com causas resultantes da suscetibilidade climática, ações antrópicas e
vulnerabilidade pedológica. O referido fenômeno origina-se de desequilíbrio natural, pois a
retroalimentação negativa do(s) ecossistema(s) não é totalmente recompensada pela
retroalimentação positiva (NIMER, 1988). As Áreas Suscetíveis à Desertificação (ASD) são
aquelas com “[...] degradação do solo em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas”
(BRASIL, 1995, p.149).
Para Emeka (2013), a desertificação é um fenômeno antigo, que nos últimos anos tem
se acelerado pela expansão demográfica, resultando em problemas socioeconômicos em áreas
com alta fragilidade natural. O Nordeste do Brasil insere-se nesse contexto devido sua
diversidade de paisagens com condição de semiaridez, cursos d’água intermitentes e sazonais,
com baixo potencial de águas subterrâneas. Para Sales (2002), as perdas econômicas na região
Nordeste originadas da desertificação correspondem aproximadamente a US$ 100 milhões de
dólares anuais.
Dentre os municípios do semiárido do Nordeste do Brasil encontra-se Castelo do Piauí
e Juazeiro do Piauí (BRASIL, 2007). Objetivando ampliar os conhecimentos acerca da
vulnerabilidade
destes
municípios
a
degradação/desertificação
estimou-se
o
fator
erodibilidade (K) das associações de solos identificadas nos municípios em questão.
A erodiblidade do solo é um parâmetro da Equação Universal de Perdas de solo
Erodibilidade do solo. Para Lal (1988) corresponde ao efeito integrado de processos que
regulam a recepção da chuva e a resistência do solo para desagregação de partículas e o
transporte subseqüente. Esses processos são influenciados pelas propriedades do solo, a
exemplo da textura do solo, assim como da distribuição do tamanho das suas partículas, da
estabilidade estrutural, do conteúdo de matéria orgânica, da natureza dos minerais de argila e
constituintes químicos.
9
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Para Mannigel et al. (2002), os experimentos para avaliações do valor de K, conforme
normas estabelecidas pela equação universal de perda de solo, exigem vultuosos recursos
econômicos e longo período de tempo nas suas determinações. Logo, os estudos realizados
por Nôleto (2005), Melo (2008) e Pinheiro (2011) e o presente utilizaram-se de modelo de
predição, que apresenta comprovada adequação e confiabilidade.
Nôleto (2005), ao estudar as Terras Secas da Microrregião de Sobral/CE afirma que
31% da área em estudo apresenta alta erodibilidade. Em estudo na microbacia do riacho dos
Cavalos, Melo (2008) encontrou solos com erodibilidade média e alta em 59,3% (270,6 km2)
e 15,9% (72,7 km2), respectivamente. A alta erodibilidade representada identificada pelo autor
foi representada pelos Neossolos Litólicos. Pinheiro (2011), em estudo na bacia do Riacho
Feiticeiro, município de Jaguaribe (CE), apontou que 2,2% das associações de solos
(Neossolos Litólicos) da bacia apresentam solos com alta erodibilidade.
As conseqüências da desertificação são diversas e comprometem os recursos hídricos,
os solos, a cobertura vegetal e a qualidade de vida da população das áreas afetadas. Deste
modo é mister a demanda por estudos nos municípios de Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí,
apontados por Aquino e Oliveira (2012), como áreas suscetíveis à desertificação. Nesse
contexto, os objetivos do presente estudo foram: i) identificar as associações de solos dos
municípios de Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí, de acordo com Jacomine (1983); ii)
estimar, através de metodologia de Crepani et al. (2001), a erodibilidade das associações de
solos (K) nos referidos municípios.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Localização da área em estudo
Os municípios de Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí localizam-se no Território de
Desenvolvimento dos Carnaubais (AGM) (PIAUÍ, 2006). O primeiro município possui
2.237,08 km2 e sua sede localiza-se às Coordenadas Geográficas: 05º19’19”S e 41º33’10”O.
Juazeiro do Piauí, por sua vez, apresenta área de 838,49 km2 e sua sede municipal situa-se às
Coordenadas Geográficas de 05º10’19”S e 41º42’10”O (Figura 1) (AGUIAR e GOMES,
2004a; 2004b).
10
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
2.2 Metodologia
Visando estimar as classes de erodibilidade das associações de solos de Castelo do
Piauí e Juazeiro do Piauí utilizou-se a proposta metodológica de Crepani et al. (2001), que
considera como parâmetro o grau de maturidade do solo. Foram delimitadas as seguintes
classes de erodibilidade (Quadro 1), de acordo com o trabalho realizado por Crepani et al.
(2001), para as 06 ordens de solos representadas por 17 associações de solos encontradas em
Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí identificadas em Jacomine (1983), e especializadas na
Figura 2.
Figura 1 - Localização dos municípios de Castelo do Piauí e de Juazeiro do Piauí.
Fonte: CPRM (2006).
Quadro 1 - Ordens de solos da área em estudo e suas respectivas classes de
intervalos de Erodibilidade.
Ordens de solos
Classe atribuída
Latossolos Amarelos
Baixa
Bruno Não-Cálcico e Podzólicos Vermelho-Amarelo
Moderada
Areias Quartzosas, Plintossolos e Solos Litólicos
Alta
Fonte: Adaptado de Crepani et al. (2001)
11
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 2 - Esboço pedológico dos municípios de Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí.
Fonte: Jacomine (1983).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas com base em trabalho de Jacomine (1983) 17 associações de solos
(Figura 1), para os municípios de Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí. As mesmas foram
agrupadas em 6 ordens: Areais Quartzosas (Neossolos Quartzarênicos) que se distribuem
por 12,8% da área; Brunos Não-Cálcicos (Luvissolos) que ocupam 0,6% da área de estudo;
Latossolos, a mais expressiva ordem na área em estudo, estes abrangem 40,5% da área;
Plintossolos distribuem-se por 0,2% da área; Podzólicos Vermelhos-Amarelos (Argissolos)
ocupam 12,7% dos municípios; e os Solos Litólicos (Neossolos Litólicos) que correspondem
a segunda ordem de solos mais abrangente, distribuindo-se por 33,2% da área em estudo.
Considerando a maturidade dos solos proposta por Crepani (2001) pode-se constatar
que a Erodibilidade dos solos dos municípios de Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí (Figura
3), identificados em Jacomine (1983), nas diferentes classes variou da seguinte forma: em
12
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
40,5% (1.159,3 km2) da área a Erodibilidade pode ser caracterizada como baixa; em 46,2%
(1.322,4 km2) a erodibilidade é Alta e em 13,3% (380,7 km2) a erodibilidade é moderada.
Figura 3 - Erodibilidade dos solos dos municípios de Castelo do Piauí e Juazeiro do
Piauí.
Fonte: Jacomine (1983); Crepani et al. (2001).
O predomínio da classe alta de Erodibilidade dos solos nos municípios de Castelo do
Piauí e Juazeiro do Piauí deve-se a expressiva presença de Neossolos Litólicos, resultados
semelhante ao obtido por Melo (2008). Os baixos valores de Erodibilidade estão associados
aos Latossolos, solos de textura arenosa, tidos como profundos, maduros e de ocorrência em
áreas de relevo plano a suave ondulado. Segundo Lal (1988), a textura do solo constitui um
fator que influencia de modo significativo a erodibilidade, influenciando nos processos de
desagregação e transporte... As partículas de areia resistem ao transporte, conferindo aos solos
baixa suscetibilidade natural a erosão. Já os Neossolos Litólicos considerados solos jovens e
13
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
pouco desenvolvidos pedogeneticamente possuem alta suscetibilidade à erosão, devido
constituir-se por material mineral ou material orgânico pouco espesso, comum em relevo
movimentado.
4. CONCLUSÕES
Os problemas relacionados à degradação ambiental têm estado frequentemente na
pauta das discussões acadêmicas e ainda políticas. A desertificação um tipo de degradação
ambiental resulta de uma série de fatores dentre os quais destacamos o acelerado processo de
tecnificação do território, que tem favorecido o rápido processo de uso/ocupação das terras de
modo desordenado, sem que sejam levadas em consideração o regime climático e ainda a
fragilidade dos solos. Estes motivos nortearão a pesquisa que indicou que a área de estudo
apresenta 59,5% dos solos com erodibilidade variando de moderada a alta, ou seja,
aproximadamente 60% dos solos da área de estudo apresentam vulnerabilidade natural a
erosão hídrica de moderada a alta.
Considerando haver outros fatores que influenciam a erosão dos solos a exemplo da
tipologia do relevo, da erosividade da chuva, da cobertura vegetal, das formas de uso da terra
faz-se necessário uma analise integrada (aspectos físicos e socioeconômicos) destes para a
área de estudo com o propósito de compreender, cada vez melhor, os processos responsáveis
pela erosão, que afetam sobremaneira o armazenamento de água disponível as plantas, a
produtividade dos solos para fins agrícolas, enfim a qualidade de vida da população.
REFERÊNCIAS
Aguiar, R. B. de; Gomes, J. R. de C. (Org.). Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água
subterrânea, estado do Piauí: diagnóstico do município de Castelo do Piauí. – Fortaleza: CPRM Serviço Geológico do Brasil, 2004a.
__________. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado do Piauí:
diagnóstico do município de Juazeiro do Piauí. – Fortaleza: CPRM - Serviço Geológico do Brasil,
2004b.
Aquino, C. M. S. de; Oliveira, J. G. B. de. Estudos sobre desertificação no Piauí. Sapiência. TeresinaPI, jan/fev/mar, nº 30, ano VIII, 2012.
BRASIL. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992: Rio de
Janeiro). Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento: de acordo com
a Resolução nº 44/228 da Assembléia Geral da ONU, de 22-12-89, estabelece uma abordagem
14
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
equilibrada e integrada das questões relativas a meio ambiente e desenvolvimento: Agenda 21. –
Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1995.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Atlas das áreas susceptíveis à desertificação do Brasil.
Secretaria de Recursos Hídricos. Universidade Federal da Paraíba; Marcos Oliveira Santana (Org.).
Brasília: 2007.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos. Programa de Ação
Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca PAN-Brasil. Brasília:
MMA. 2004.
Crepani, E.; Medeiros, J. S.; Hernandez Filho, P.; Florenzano, T. G.; Duarte, V.; Barbosa, C. C. F.
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados ao Zoneamento Ecológico-Econômico e
ao Ordenamento Territorial. São José dos Campos: INPE, 2001. 124p.
Jacomine, P. K. T. Mapa exploratório-reconhecimento de solos do estado do Piauí. Convênio
EMBRAPA/SNLCS-SUDENE-DRN. 1983.
Lal, R. Erodibility and erosivity. In: LAL, R. et al. Soil erosion research methods. Washington: Soil
and Water Conservation Society, 1988. p. 141-160.
PIAUÍ. Gabinete do Governador. Palácio de Karnak. Projeto de Lei Complementar nº 004, de 14 de
fevereiro de 2006. Estabelece o Planejamento Participativo Territorial para o Desenvolvimento
Sustentável do estado do Piauí e dá outras providências.
Mannigel, A. R.; Carvalho, M. P.; Moreti, D.; Medeiros, L. R. Fator erodibilidade e tolerância de
perda dos solos do Estado de São Paulo. Acta Scientiarum, Maringá, v. 24, n. 5, p. 1335-1340, 2002.
Melo, E. T. Diagnóstico Físico Conservacionista da Microbacia do riacho dos Cavalos – Crateús
– Ceará. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Programa Regional de PósGraduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA). Fortaleza: 2008. 123 p.
Nimer, E. Desertificação: realidade ou mito? Revista Brasileira de Geografia. Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, ano 50, n. 1, p.7-39, jan./mar. Rio de Janeiro: IBGE, 1988.
Nôleto, T. M. S. de J. Suscetibilidade Geoambiental das Terras Secas da Microrregião de
Sobral/CE a desertificação. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) –
Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA).
Fortaleza: 2005. 145 p.
Pinheiro, R. A. B. Análise do processo de degradação/desertificação na bacia do Riacho
Feiticeiro, com base no DFC, município de Jaguaribe-Ceará. Dissertação (Mestrado em
Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e
Meio Ambiente (PRODEMA). Fortaleza - CE, 2011.
Sales, M. C. L. Evolução dos estudos de desertificação no Nordeste brasileiro. Revista GEOUSP,
Espaço e Tempo, São Paulo, n. 11, p.115-126, 2002.
15
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
AS TENDÊNCIAS TEMÁTICAS E CONCEITUAIS DA GEOMORFOLOGIA NO XVI
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA
FRANCISCO JONH LENNON TAVARES DA SILVA1
KAROLINE VELOSO RIBEIRO2
CLÁUDIA MARIA SABÓIA DE AQUINO3
1 Universidade Federal do Piauí – UFPI
[email protected]
2 Universidade Federal do Piauí – UFPI
[email protected]
3 Universidade Federal do Piauí – UFPI
[email protected]
Resumo
A fase atual dos estudos geomorfológicos é marcada por novos enfoques temáticos, os quais ensejam a
elaboração de perspectivas teóricas renovadas. De fato, as necessidades atuais da sociedade propiciam uma
vigilância reflexiva acerca dos modelos conceituais disponíveis, abrindo brechas para o desenvolvimento de
novas abordagens no âmbito da Geomorfologia. No contexto dos encontros de Geografia Física é flagrante o
redirecionamento dos temas e o desenvolvimento de tendências teóricas mais adequadas. Neste propósito, esta
pesquisa tem por objetivos: (a) discutir a importância e a aplicabilidade da Geomorfologia no amplo espectro
temático tratado pela Geografia Física e (b) analisar as temáticas desenvolvidas nos trabalhos publicados no XVI
Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada (SBGFA), identificando-se, ainda, as abordagens teóricometodológicas prevalecentes. Para a realização desta pesquisa, foi adotada a técnica de revisão de literatura,
consistindo no levantamento e leitura sistemática dos trabalhos publicados nos Anais do XVI SBGFA.
Constatou-se, em linhas gerais, uma forte tendência para os estudos de caráter ambiental, os quais buscam
ressaltar as relações sociedade/natureza. Ainda no âmbito das temáticas preferenciais, destacam-se: relevo e
dinâmica da paisagem, relevo e zoneamentos ambientais, relevo e riscos socioambientais, relevo e fragilidade
dos ambientes naturais, Geomorfologia antropogênica, relevo e ensino de Geografia Física e, por fim, relevo e
Geoconservação.
Palavras-chave: Abordagem geomorfológica, meio ambiente, relevo.
Abstract
The current moment of the geomorphological studies is marked by the development of new thematic approaches,
which cause receivership elaboration of renewed theoretical perspectives. Indeed, the current society’s interests
provide debate and reflection on the available conceptual models, opening gaps to the development of new
approaches within Geomorphology. In the context of Physical Geography meetings is striking the redirection
issues and develop appropriate theoretical tendencies. In this way, this research aims: (a) discuss the importance
and applicability of the Geomorphology of the broad thematic spectrum handled by Physical Geography and (b)
analyze the subjects developed in the work published in the XVI Brazilian Symposium of Applied Physical
Geography (SBGFA), identifying also the prevailing theoretical and methodological approaches. For this
research, we adopted the literature review technique, consisting of the survey and systematic reading of the
16
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
papers published in the XVI SBGFA/Annals. There was a strong tendency for environmental character studies,
which seek to highlight the relationship society/nature. Also as part of the preferred themes stand out: relief and
integrated study of the landscape, topography and environmental zoning, topography and environmental risks,
relief and fragility of the natural environment, relief and formation of soils, relief and Physical Geography
teaching, topography and Geoconservation, relief climate analysis, relief and Geodiversity/Etnogeomorfologia.
Key-words: Geomorphological approach, environment, relief.
1. INTRODUÇÃO
Desenvolvimentos teóricos, conceituais e metodológicos são inerentes à prática de todos
os setores do conhecimento científico. Isto fica evidenciado, por exemplo, ao se inspecionar a
evolução da Geografia enquanto ciência. Apenas nas últimas seis décadas, a ciência
geográfica conheceu pelo menos seis perspectivas analíticas (Geografia “Tradicional”,
Geografia “Teórico-Quantitativa”, Geografia “Humanista”, Geografia “Crítica”, Geografia
“Cultural” e Geografia “Socioambiental”), no bojo das quais jaz um núcleo epistemológico
particular, nem sempre compatível com os fundamentos teóricos das abordagens alternativas
(CHRISTOFOLETTI, 1976; JOHNSTON, 1986; MENDONÇA, 2001).
Ao se analisar o edifício teórico da Geografia Física e especificamente da Geomorfologia,
a situação não é muito diferente, visto que os nexos conceituais engendrados no seio da
Geografia repercutem nos direcionamentos conceituais e metodológicos daqueles subcampos
voltados para o estudo dos sistemas ambientais, de cujos postulados a análise geográfica
também se nutre. Neste sentido, a pluralidade teórico-metodológica também perfaz o
itinerário das disciplinas mais diretamente voltadas para o estudo da fenomenologia do meio
físico.
Nesta linha de raciocínio, a ciência geomorfológica, em especial, vem experimentando, já
desde os anos de 1970 e 1980, refinadas abordagens conceituais, abrindo-se para um espectro
temático mais abrangente. No âmbito dos seminários de Geografia Física, a maior
proximidade dos praticantes da abordagem geomorfológica junto aos geógrafos, geólogos,
pedólogos, biogeógrafos e climatologistas tem propiciado um rico intercâmbio de métodos,
conceitos e temas, impulsionando o amadurecimento epistemológico da Geomorfologia,
alargando, também, as possibilidades aplicativas desta ciência aos temas historicamente
vinculados à Geografia Física, a qual mantém a patente sobre o estudo da organização
espacial dos sistemas ambientais.
17
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Com este propósito, um excelente “laboratório” para se analisar e acompanhar de perto as
tendências teórico-temáticas da Geomorfologia são os Anais editados pelos eventos
científicos, os quais perfazem o cronograma anual dos geógrafos-pesquisadores do Brasil
inteiro, mobilizando tanto os já consagrados nomes da Geografia Física nacional (e
internacional!) como também os jovens estudantes, ainda em busca de identificação com um
campo disciplinar específico e, sobretudo, ávidos por modelos teóricos aos quais encaixar
suas pesquisas. Neste ínterim, esta pesquisa tem por foco os trabalhos publicados nos Anais
do XVI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada (SBGFA), realizado em
Teresina, Piauí, entre junho e julho de 2015, sondando especialmente aqueles trabalhos em
que a abordagem geomorfológica é sublinhada.
A partir destas colocações preliminares, os objetivos da pesquisa são: (a) discutir a
importância e a aplicabilidade da abordagem geomorfológica ao amplo espectro temático
tratado pela Geografia Física e (b) analisar as temáticas desenvolvidas nos trabalhos
publicados nos Anais do XVI SBGFA, identificando-se, ainda, as abordagens conceituais e
teórico-metodológicas prevalecentes.
2. IMPORTÂNCIA E APLICABILIDADE DA GEOMORFOLOGIA: ALGUNS
PRESSUPOSTOS
No cerne da ciência geográfica, a busca pela compreensão dos fenômenos e componentes
da natureza sempre passou pelo escopo de ação da Geomorfologia, a qual vem enveredando
por novos caminhos temáticos e experimentando contínuos avanços teóricos, conceituais e
metodológicos. De fato, a Geomorfologia, entendida como a ciência responsável pelo estudo
das formas de relevo e dos processos responsáveis pela sua elaboração, já conheceu diversas
abordagens teórico-metodológicas, cujas aplicabilidades têm sido cada vez mais ressaltadas,
em seus mais diversos prismas temáticos (CHRISTOFOLETTI, 2008).
Esta busca de inspiração junto à Geomorfologia pode ser constatada ao se analisar os
trabalhos publicados nos encontros científicos, no âmbito dos quais os estudos
geomorfológicos têm encontrado lugar cativo quando da delimitação dos eixos temáticos, até
porque a ciência geomorfológica tem representado o amálgama das pesquisas em Geografia
Física, na medida em que procura – subsidiada por outras ciências da Terra – compreender, de
forma integrada, a evolução espacial e temporal dos processos que atuam sobre o modelado
terrestre, tendo sempre em vista as intervenções humanas (GUERRA e MARÇAL, 2006).
18
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
3. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
Para a realização desta pesquisa, foi adotada a técnica de revisão de literatura, consistindo
no levantamento e leitura sistemática dos trabalhos publicados nos Anais do XVI SBGFA.
4. AS TENDÊNCIAS TEÓRICO-CONCEITUAIS E OS ENFOQUES TEMÁTICOS DA
GEOMORFOLOGIA NO XVI SBGFA: RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise do Quadro 1 permite inferir a ampla abertura temática do XVI SBGFA, o que
possibilitou um rico intercâmbio conceitual, teórico e metodológico entre os palestrantes e os
simposistas, através da comunicação/socialização dos temas e abordagens que permeiam as
pesquisas da Geografia Física hodierna.
Quadro 1 – Eixos temáticos e número de trabalhos publicados no XVI SBGFA (2015)
1. Dinâmica, potencialidades e vulnerabilidades do Nordeste brasileiro.
20
2. Análise climática- métodos e técnicas, impactos e riscos.
84
3. Cartografia e geotecnologias para fins de planejamento e gestão do
território.
67
4. Dinâmica da paisagem, recursos naturais e planejamento ambiental em
áreas rurais e urbanas.
105
5. Geomorfologia e solos: epistemologia, técnicas, processos dinâmicos e
mudanças na paisagem.
108
6. Bacias hidrográficas: métodos e técnicas de estudo, usos, ocupação e
conflitos no espaço geográfico.
119
7. Geografia física - ensino, pesquisa e extensão.
46
8. Biogeografia - propostas teóricas, metodológicas e técnicas para fins de
conservação ambiental.
21
9. Geoconservação, Geoturismo, Patrimônio geomorfológico e impactos
ambientais.
51
Fonte: Elaboração dos autores (adaptado de Anais/XVI SBGFA, 2015).
Ainda no âmbito dos eixos temáticos do evento, o Gráfico 1 apresenta o percentual dos
trabalhos nos quais a Geomorfologia emerge como o fio condutor das investigações.
19
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Gráfico 1 – Aplicabilidade percentual da Geomorfologia por eixo temático
Fonte: elaboração dos autores (adaptado de Anais/XVI SBGFA, 2015).
Para além dos dados quantificados, deve-se salientar que o papel “integrador” da
Geomorfologia é ressaltado nos eixos “Dinâmica da paisagem, recursos naturais e
planejamento ambiental em áreas rurais e urbanas” e “Bacias hidrográficas: métodos e
técnicas de estudo, usos, ocupação e conflitos no espaço geográfico”. Especialmente no
cerne deste segundo eixo, corroborou-se a tendência em se considerar a bacia hidrográfica
enquanto entidade espacial de análise e unidade geomorfológica básica. No conjunto destes
dois eixos, em que prevalecem os estudos multidisciplinares, houve de fato um maior diálogo
da ciência geomorfológica com as demais ciências/disciplinas focalizadas no estudo dos
sistemas ambientais – diálogo este que foi preferencialmente mediado pela abordagem
sistêmica.
Já no eixo “Geomorfologia e solos: epistemologia, técnicas, processos dinâmicos e
mudanças
na
paisagem”,
a
ciência
geomorfológica
é
apresentada
em
suas
especialidades/subcampos, cada qual com foco temático e métodos específicos. De fato, ao
contrário do que talvez fosse esperado, houve pouco diálogo entre a Geomorfologia e a
Pedologia, prevalecendo os estudos setorizados, em que ora prevalecem os temas
20
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
geomorfológicos ora se destacam as investigações pedológicas e seus temas específicos,
dentre os quais podem ser citados os trabalhos sobre as propriedades físico-químicas dos
solos e análise de sedimentos. Dentre os principais temas geomorfológicos, evidenciaram-se:
morfodinâmica fluvial, relevo e processos erosivos, estudo de vertentes, movimentos de
massa, processos morfogenéticos e diagenéticos, Geomorfologia urbana, subsidência de
terrenos cársticos, cartografia geomorfológica, relevo cuestiforme, Geomorfologia estrutural e
neotectônica.
Olhando em bloco para os demais eixos temáticos, prevaleceu a pluralidade teóricometodológica, sendo identificadas as seguintes abordagens: análise geoambiental, método
geossistêmico,
análise
geoecológica,
ensino
e
representação
espacial,
análise
ecodinâmica/ecogeográfica e perspectiva socioambiental. Marcaram presença também as
abordagens humanísticas e culturais, notadamente naqueles trabalhos em que o relevo é
trabalhado num viés cultural-simbólico, destacando-se os estudos de Etnogeomorfologia. Esta
tendência temático-conceitual é especialmente trabalhada no eixo “Geoconservação,
Geoturismo, Patrimônio geomorfológico e impactos ambientais”, que teve, inclusive, um
número interessante de trabalhos.
Dentre outros nexos temático-conceituais específicos, sobressaíram-se: relevo e
zoneamento ambiental, relevo e análise microclimática, relevo e vulnerabilidade/fragilidade
dos ambientes naturais, relevo e patrimônio geomorfológico /paisagístico, relevo e preservação
dos
recursos
hídricos,
relevo
e
potencialidades/limitações
ambientais,
relevo
e
formação/uso/cobertura dos solos, relevo e riscos/impactos socioambientais, relevo e
recuperação de áreas degradadas, relevo e ensino de Geografia Física e, por fim, relevo e
Geoconservação/Geodiversidade. Pela análise dos temas e das abordagens predominantes,
flagrou-se outra tendência: o direcionamento dos trabalhos para as questões ambientais. Na
verdade, a temática ambiental, tomada em seus diversos vieses analíticos, deu a tônica nesta
16ª edição do SBGFA.
Por fim, deve-se salientar que, ao lado das novidades conceituais e temáticas, verificou-se
um indisfarçável resgate de abordagens teóricas e de procedimentos metodológicos e técnicos
elaborados e aprimorados ainda nas décadas de 1950, 1960 e 1970, tais como a análise
morfométrica aplicada ao estudo de bacias hidrográficas, as versões clássica e moderna da
abordagem sistêmica, a elaboração e utilização da modelagem ambiental e o uso triunfante
das ferramentas do geoprocessamento. Enfim, no âmbito dos estudos geomorfológicos, o
21
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
leque temático aferido nos trabalhos publicados nos Anais do XVI SBGFA é amplo e as
abordagens conceituais são riquíssimas.
5. APONTAMENTOS FINAIS
Os geógrafos, sejam eles “físicos” ou “humanos”, estão sempre a buscar abordagens mais
aprimoradas para melhor operacionalizar as pesquisas acerca dos intricados mecanismos de
interação entre os sistemas ambientais e socioeconômicos. Ao se pôr reparo nos trabalhos
publicados nos Anais do XVI SBGFA, automaticamente evidenciou-se a pluralidade das
abordagens teóricas, metodológicas, conceituais e temáticas.
As impressões sobre o significado deste “ecletismo” teórico-conceitual para a Geografia
Física e para a Geomorfologia tomam pelo menos dois caminhos. Há aqueles que veem no
amplo leque temático, nas especificidades metodológicas e na virtual ausência de uma
abordagem teórico-metodológica consensualmente acolhida como unificadora um risco à
legitimidade científica destes dois campos investigativos. Existem, todavia, interpretações
mais otimistas. Focalizando especialmente a Geomorfologia, o acolhimento de novos métodos
e o reconhecimento de novos enfoques temáticos representa, para muitos, o rejuvenescimento
deste campo científico. Os seguidores desta linha interpretativa argumentam que as insistentes
tentativas de encaixar as investigações da Geomorfologia dentro de um único esquema
teórico-metodológico é tarefa das mais artificiais e infrutíferas.
Estudos vindouros e mais aprimorados, abarcando um número mais representativo de
eventos científicos e cobrindo um recorte temporal mais profundo, podem ajudar a lançar luz
sobre o significado epistemológico dessa diversidade temático-conceitual que atualmente
perfaz os estudos de Geografia Física e Geomorfologia no Brasil.
Referências
CHRISTOFOLETTI, A. As características da Nova Geografia. Geografia, Rio Claro, v. 1, n. 1, p. 3-33, 1976.
CHRISTOFOLETTI, A. Aplicabilidade do conhecimento geomorfológico nos projetos de planejamento. In:
GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. da (org.). Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 8. ed. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.
GUERRA, A. J. T.; MARÇAL, M. dos S. (org.). Geomorfologia ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2006.
JOHNSTON, R. J. Geografia e geógrafos: a geografia humana anglo-americana desde 1945. São Paulo:
DIFEL, 1986.
MENDONÇA, F. Geografia socioambiental. Terra Livre. AGB. São Paulo, n. 16, 2001, p. 113-132.
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, 16, 2015, Teresina, Piauí. Anais... UFPI,
2015. 1 CD-ROM.
22
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS PROCESSOS EROSIVOS: UMA ABORDAGEM
TEÓRICA PRELIMINAR EM ÁREAS URBANAS EM TIMON-MA
RAFAEL JOSÉ MARQUES
Graduado em Geografia - UESPI / Tecnologia Ambiental - IFPI; Técnico da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA - Timon-MA
[email protected]
Resumo
A erosão é resultado do impacto sobre as propriedades físicas do solo, e impacta o meio ambiente. Observa-se
uma inadequação do planejamento de uso do solo ao se deparar com o crescente número de habitações
implantadas em locais inadequados e sem elaboração do devido estudo de impacto ambiental. O objetivo deste
trabalho é apresentar de forma preliminar o tema acerca de conceitos de erosão e suas ocorrências em áreas
urbanas, e um balanço bibliográfico sobre o tema de degradação do solo, e suas relações com os processos
erosivos iniciais. Ações de degradada são aquelas quando a modificação ou remoção substancial da composição
ou estrutura do solo ou consequente esgotamento da fertilidade do solo por várias atividades humanas. Os
objetivos do trabalho baseou-se na busca conceitual dos processos erosivos e seus fatores constitutivos e em
outro que se preocupa com as consequências para a população. Como principais resultados tem-se que as erosões
ocorrem por uma combinação de fatores naturais e antrópicos, considerando-se ainda que as causas naturais
foram potencializadas pela ocupação urbana . As principais consequências relacionam-se a perdas de solo e a
prejuízos econômicos. Tendo como considerações finais uma análise prévia de ocorrência de processos erosivos
na área urbana, causado não só por ações naturas, mais também por ações humanas .
Palavras-chave: erosão, geomorfologia, meio ambiente.
Abstract
The erosion is the result of impact on the physical properties of the soil and affect the environment. There has
been an inadequacy of land use planning when faced with the growing number of housing implanted in
inappropriate places and without due preparation of the environmental impact study. The objective of this paper
is to present a preliminary way about the subject of erosion of concepts and their occurrence in urban areas, and
a bibliographical balance on the issue of land degradation, and their relationship with the initial erosion.
Degraded actions are those where modification or substantial removal of the composition or structure of the soil
and consequent depletion of soil fertility by various human activities. The objectives of the study was based on
the conceptual search of erosion and its constituent factors and others who care about the consequences for the
population. The main results we have that erosions occur by a combination of natural and anthropogenic factors,
considering also that natural causes were potentiated by urban occupation. The main consequences are related to
soil loss and economic losses. With the closing remarks prior analysis of the occurrence of erosion in urban
areas, caused not only by naturas shares plus also by human actions.
Keywords: erosion, geomorphology, Environment.
1. INTRODUÇÃO
O processo de ocupação da cidade de Timon-MA, situado na mesorregião Leste
maranhense, microrregião geográfica de Caxias, a 5º09’ de latitude sul e 42º83’ de longitude
oeste, a margem esquerda do Rio Parnaíba, caracterizou-se pela falta de planejamento, uso
indevido das terras e o consequente uso desordenado dos recursos naturais. A cobertura
vegetal representada por matas dos cocais e por caatinga e cerrado, cedeu espaço para o
23
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
crescimento urbano, muitas vezes causando degradação ambiental das terras de forma a não
ter o cuidado a conservação.
As questões relativas ao meio ambiente têm sido abordadas com relevância nas ultimas
décadas. A difusão de conhecimento por meios acadêmicos e pela mídia tem dado, à grande
parte da sociedade a informação que mostram as consequências da gestão de recursos naturais
que comprometam sua sustentabilidade. Tais consequências podem ser notadas por todos,
principalmente por meio das experiências do dia a dia.
Os municípios devem concentrar-se na elaboração de legislação específica, planos
diretores e planejamento de uso do solo, respeitando as peculiaridades do meio. A
necessidade de maior aprofundamento no conhecimento das leis que regem o funcionamento
do ambiente físico é fundamental ao estabelecimento de diagnósticos ambientais eficientes. O
poder público é determinante no direito ambiental. É necessária legislação específica e criação
de planos que atinjam a correção do problema, em uma política eficiente de prevenção. O
objetivo deste trabalho é a educação ambiental.
2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS – CONCEITOS DE EROSÃO
Segundo Bertoni e Lombardo Neto (1990, p. 68), a erosão é o processo de
desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo, causado pela água e pelo vento. De
acordo com Toy e Hadley (1987) apud Cunha (1997), a erosão dos solos é um processo
“normal” no desenvolvimento da paisagem, sendo responsável pela remoção do material de
superfície por meio do vento, do gelo ou da água. Sob tais condições, a erosão é considerada
um processo natural. No entanto, a erosão acelerada dos solos, isto é, aquela que ocorre em
intensidade superior à erosão “normal” é, usualmente, conseqüência dos resultados das
atividades humanas sob determinadas condições de clima, vegetação, solo e relevo (VILELA
FILHO, 2002).
A erosão é causada por forças ativas, como as características da chuva, pois, a água
pluvial exerce sua ação erosiva sobre o solo pelo impacto das gotas, que caem com velocidade
e energia variáveis, dependendo do seu diâmetro, e pelo escoamento da enxurrada, a qual tem
sua velocidade e volume variando segundo a declividade, o comprimento do declive do
terreno e a capacidade que tem o solo de absorver água; e por forças passivas, como a
resistência que exerce o solo à ação erosiva da água (determinada por diversas de suas
características ou propriedades físicas e químicas) e a densidade da cobertura vegetal
(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990, p. 45).
24
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Segundo Bertoni e Lombardo Neto (1990, p. 45), a chuva é um dos fatores de maior
importância para a erosão, sendo que sua intensidade, sua duração e a sua freqüência são as
propriedades mais importantes para o processo erosivo.
A erosão dos solos é um sério impacto causado pela ação humana sobre o meio
ambiente. Daí a necessidade de estudos e investimentos nessa área. A erosão dos solos é um
processo que ocorre em duas fases: uma que constitui a remoção de partículas, e outra que é o
transporte desse material, efetuado pelos agentes erosivos (CUNHA E GUERRA, 2007), com
destaque para a água.
Vários são os fatores que interferem sobre o processo erosivo: energia cinética das
chuvas, propriedade química e física do solo, comprimento, forma e declividade das encostas,
cobertura vegetal, uso e manejo do solo. O manejo errado leva a ocorrência de processos
erosivos acelerados, que por vezes são irreversíveis. Os resultados de pesquisas anteriores
apontados a seguir, permitiram identificar áreas problemáticas e reconhecer alguns fatores
contributivos para a ocorrência de erosões na área em estudo.
A descrição do relevo realizada por Lacerda (2005) delimitou no município de Anápolis
as seguintes unidades morfológicas: modelados de aplanamento, dissecação e acumulação.
Oliveira (2005) realizou detalhamento da proposta de Lacerda (2005), identificando as
rampas, dentro do modelado de aplanamento, as baixas vertentes, dentro do modelado de
dissecação e a planície fluvial, dentro do modelado de acumulação. As áreas de risco
geológico foram delimitadas por Lacerda et al (2005) considerando-se a ocorrência de
acidentes e a vulnerabilidade da população a estes acidentes.
3. METODOLOGIA
Este pesquisa é uma coletânea de artigos, entremeados com textos próprios visando
resumir a conceituação do tema erosão, e formas de diagnóstico, prognóstico e controle. A
realização desta pesquisa foi motivada pela observação alterações no solo na cidade de
Timon-MA, a partir da várias ações tanto naturais quanto humanas. Por isso, o objetivo O
objetivo deste trabalho é apresentar de forma preliminar o tema acerca de conceitos de erosão
e suas ocorrências em áreas urbanas, e um balanço bibliográfico sobre o tema de degradação
do solo, e suas relações com os processos erosivos iniciais. Ações de degradada são aquelas
quando a modificação ou remoção substancial da composição ou estrutura do solo ou
consequente esgotamento da fertilidade do solo por várias atividades humanas numa
perspectiva teórica e conceitual, acerca de impactos dos processos erosivos.
25
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Este trabalho foi realizado com base na pesquisa bibliográfica, configurando-se em um
estudo preliminar teórico e conceitual do assunto, no qual se buscou conhecer as referencias
da ação erosiva como um processo e os impactos ambientais dele decorrentes.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO - MEIO FÍSICO – RELEVO E SOLO
Como principais resultados tem-se que as erosões ocorrem por uma combinação de
fatores naturais e antrópicos, considerando-se ainda que as causas naturais foram
potencializadas pela ocupação urbana. Não podia ter resultados concretos sem a
caracterização geomorfológica e pedológica de Timon-MA que está desposto como um
levante breve em relevo e solos, tais como: o diagnóstico geomorfológico tem por
objetivo contribuir para a definição dos impactos que o empreendimento poderá trazer ao
relevo quando a sua implantação, isto é, através da indução de processos erosivos,
movimentos de massa, assoreamentos, cortes, aterros, desmonte de morros etc., bem como
elucidar os efeitos destes processos sobre o empreendimento. O município de Timon faz
parte da formação denominada superfície maranhense com formação de morros
testemunhos que corresponde a uma área aplainada durante ao ciclo velhas, dominada,
em parte, por testemunhos tabulares da superfície de cimeira. E a pedologia de Timon
está caracterizada e classificada pelas normas estabelecidas no Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos com as principais classes e foram identificadas foram as seguintes:
Latossolo Amarelo Álico e Distrófico; Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico e
Argissolo Vermelho-Amarelo concrecionário; Gleissolos, Neossolo Litólico Eutrófico;
Neossolo Quetzarênico Órtico, Plintossolos e Podzólicos (EMBRAPA, 2006).
Esta área foi definida como uso pelo fato de sua origem remeter a ação antrópica. As
fotografias e imagem a seguir de satélite demonstram a existência de erosões e estão
expostos e estão localizadas principalmente em regiões do limite urbanas da cidade e ao
longo da drenagem da bacia do Rio Parnaíba.
26
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 1 - Hipsometria e áreas de erosões em Timon-MA
Fonte: Marques, 2015.
Grande parte desses locais é de exposição temporária, pois ocorrem durante a
implantação de loteamentos ou de extração mineral de barro ou saibro/massará para uso em
atividade da construção civil, dessa forma estes locais foram ocupados e sem a devida
recuperação, contudo, considera-se que esta classe não poderia ser deixada de lado pois
contribuiu a época para o aumento da carga de sedimentos em cotas mas baixas da cidade e
para a formação de processos erosivos. Assim, é valido salientar que em geral as áreas que
apresentam solo exposto são propensas a processos erosivos (erosão pluvial e outras causadas
por ação humana), e estes processos podem implicar nas em degradação ambiental localizado
ao escoamento superficial.
5. CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS
As principais consequências relacionam-se a perdas de solo e a prejuízos econômicos,
tendo como considerações finais uma análise prévia de ocorrência de processos erosivos na
área urbana, causado não só por ações naturas, mais também por ações humanas.
Neste artigo, ao apresentar uma revisão bibliográfica da conceituação da erosão com
propostas de análise do processo e das formas erosivas, procurando contribuir para o estudo e
entendimento desse fenômeno, o qual, atualmente, tanto pela água (escoamento superficial)
como pela ações humanas, dois processos citados dantes de vários, da degradação dos solos.
27
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Os problemas de erosão, no Brasil, são resultantes da combinação de um rápido processo de
ocupação desordenado do território, solos frágeis e de um regime climático propício à sua
ocorrência de forma intensa. Esse motivo nos leva a crer ser necessário compreender, cada
vez melhor, os processos responsáveis pela erosão, reconhecendo que eles não são meramente
físicos, e socioeconômicos. Devido à natureza sistêmica do processo de erosão por voçoroca
ou ravinas e de suas implicações adversas do uso indevido do solo e ocupação das terras.
REFERÊNCIAS
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. São Paulo: Ícone, 1990.
BITTAR, O. Y. Avaliação da recuperação de áreas degradadas por mineração na região
metropolitana de São Paulo. 1997. 185p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Minas, São Paulo, SP.
BOTELHO, R.G.M. Planejamento ambiental em microbacias hidrográficas. In:
GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. A.; BOTELHO, R. G. M. (Org.) Erosão e conservação
dos solos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. p. 269-293.
CROUCH, R. J.; BLONG, R. J. Gully sidewall classification: methods and applications. Z.
Geomorph. N. F., Stuttgart, v. 33, p.291-305, 1989.
CUNHA, C. M. L. Quantificação e mapeamento das perdas de solo por erosão com base
na malha fundiária. Rio Claro: Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP, 1997.
DE PLOEY, J. The ambivalent effects of some factors of erosion. Mém. Inst. Géol. Univ.
Louvain, Louvain, v. 31, p.171-181, 1981.
DIAS, L. E. & GRIFFITH, J. J. Conceituação e caracterização de áreas degradadas. In:
Recuperação de Áreas Degradadas, Dias, L. E. & de Mello,J.W. SOBRADE/FINEP,
Viçosa, MG. p. 1-7, 1998.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos. 2. ed. Rio de Janeiro, Embrapa Solos / Centro
Nacional de Pesquisa de Solos, 2006. 306p.
EBISEMIJU, F. S. A morphometric approach to gully analysis. Z. Geomorph. N. F.,
Stuttgart, v. 33, p.307-322, 1989.
FACINCANI, E. M. Influência da estrutura e tectônica no desenvolvimento das
boçorocas da região de São Pedro, SP: proposta de reabilitação e aspectos jurídicoinstitucionais correlatos. 1995. 124 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Geociências e
Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro,1995.
GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B.
Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1995. p. 149-209.
28
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
______. O início do processo erosivo. In: GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R.
G. M. Erosão e conservação dos solos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
LACERDA, H. Mapeamento geomorfológico como subsídio ao controle preventivo da
erosão em Anápolis-GO. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE
ENGENHARIA, 11, 2005, Florianópolis. Anais... São Paulo: ABGE, disco compacto, 2005,
p. 679-692
______. et al. Formas de relevo, uso da terra, e riscos geológicos na área central de
Anápolis (GO). Plurais. Anápolis, n. 2, 2005.
LAL, R., HALL, G. F. & MILLER, F. P. Global Assessment of Soil degradation. I Basic
processes. In: Land Degradation & Rehabilitation, London, v. 1, n. 1, p. 51-69, jul/aug, 1989.
______. Erodibility and erosivity. In: LAL, R. et al. Soil erosion research methods.
Washington: Soil and Water Conservation Society, 1988. p. 141-160.
MARANHÃO. Companhia Maranhense de Pesquisa Mineral. Relatório de Compilação e
Análise da Bibliografia Geológica e dos Recursos Minerais do Maranhão. São Luís:
CODEMINAS, 1975. Vol. 2.
______. Indicadores Ambientais do Estado do Maranhão. São Luís: Instituto Maranhense de
Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC, 2009. 37p.
ROSS, J. L. S. Ecogeografia do Brasil, subsídios para o planejamento ambiental. Editora:
Oficina de textos, São Paulo, 2006, 208p.
TAVARES, A. C., VITTE, A. C. Erosão dos solos e assoreamento de represas: o caso de
Monte Aprazível (SP). Geografia, Rio Claro, v. 18, n. 1, p.51-95, 1993.
TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: IBGE, SUPREN, 1977.
VIEIRA, N. M. Os processos morfogenéticos atuantes nas boçorocas de Franca (SP,
Brasil). Notícia Geomorfológica, Campinas, SP, v. 15, n. 29, p. 3–52, 1975.
VILELA FILHO, L. R. Estimativa da perda de solos em uma bacia hidrográfica sob o
cultivo de frutíferas, no município de Valinhos (SP). 2002. 153 f. Trabalho de Conclusão
de Curso (Geografia) – Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, SP, 2002.
VITTE, A. C. Metodologia para cálculo de perdas de solo em bacias de drenagem.
Bol. Par. de Geoc., Curitiba, n. 45, p. 59-65, 1997.
29
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
CIRCULAÇÃO GERAL DA ATMOSFERA: CARACTERIZAÇÃO E
ELEMENTOS FORMADORES
CAROLINE DA SILVA MATEUS
Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Piauí – UFPI
[email protected]
ANDRÉA MACIEL LIMA
Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Piauí – UFPI
[email protected]
JEFFERSON PAULO RIBEIRO SOARES
Mestrando em Geografia pela Universidade Federal do Piauí – UFPI/PPGGEO
[email protected]
Resumo
O trabalho em questão visa analisar as características dos elementos formadores da dinâmica atmosférica, para
tanto tomou-se como base a obra Climatologia: noções básicas e climas do Brasil, de Francisco Mendonça de
2007, entre outros referenciais teóricos. Tal levantamento foi realizado com o fim de expor a relação homem e
natureza, levando em conta especialmente os aspectos atmosféricos da Terra, principalmente seu dinamismo, e
fatores determinantes dessa dinamicidade. Para que com isso, se possa compreender a existências e
comportamento dos centros de alta e baixa pressão da terra e sua influência nesse processo de circulação
atmosférica.
Palavras – Chaves: Atmosfera Terrestre; Dinâmica Atmosférica; Centros de ação.
Abstract
The work in question is to analyze the characteristics of forming elements of atmospheric dynamics, therefore
was taken as the base Climatology work: basics and climates of Brazil, Francisco Mendonça 2007, among other
theoretical frameworks. Such survey was conducted in order to expose the man and nature relationship, taking
into account especially the atmospheric features of the Earth, especially its dynamism, and determinants of this
dynamism. So with that, we can understand the existence and behavior of high and low pressure centers of the
earth and its influence in this atmospheric circulation process.
Key - Words: Earth atmosphere; Atmospheric dynamics; Action centers.
1. INTRODUÇÃO
A partir do momento em que o homem tomou consciência da interdependência entre
as condições climáticas e os outros elementos da natureza, quer sejam bióticos ou abióticos e
que a sua intervenção em um desses elementos pode desencadear uma transformação em todo
o sistema. Foi a partir dai que o ser humano passou a produzir e registrar o conhecimento
sobre os componentes da natureza com o intuito de subsidiar sua intervenção no meio natural
com o fim de suprir suas necessidades (MENDONÇA, 2007).
30
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Ainda, segundo MENDONÇA (2007), desvendar a dinâmica dos fenômenos naturais,
dentre eles o comportamento da atmosfera, foi necessário para que os grupos sociais
superassem a condição de meros sujeitos às intempéries naturais e atingissem não somente a
compreensão do funcionamento de alguns fenômenos, mas também a condição de utilitários e
de manipuladores dos mesmos em diferentes escalas. Sendo assim, o trabalho em questão
buscará apresentar algumas concepções do que seria a atmosfera terrestre, dando maior
enfoque ao seu dinamismo bem como, aos fatores que determinam esta dinamicidade.
Atendo-se a demonstrar e analisar, os centros de alta e baixa pressão existentes na terra e sua
influência nessa dinamicidade atmosférica.
Para aquisição dos dados presentes nesse artigo foram realizados levantamento
bibliográfico em livros, principalmente na obra Climatologia: noções básicas e climas do
Brasil, de Francisco Mendonça, datada do ano de 2007. Periódicos e/ou artigos que debatam
o tema em questão, além, de visitas à web sites que trabalhassem com a temática aqui
discutida.
2. ATMOSFERA TERRESTRE: CARACTERÍSTICAS GERAIS
Mantida pela ação gravitacional, a atmosfera terrestre é mais densa próxima à
superfície, tornando-se rarefeita com a altura. Até os primeiros 29 km, a atmosfera concentra
98% de sua massa total, o que torna muito difícil definir seu limite superior, pois a densidade
relativa aos 2% de moléculas vai decaindo muito lentamente (MENDONÇA, 2007).
A densidade do ar, assim como a composição gasosa da atmosfera não é a mesma no
decorrer de toda essa camada se modifica de acordo com a altura. Outra importante
característica da atmosfera é a variação da distribuição vertical de sua temperatura, dada pela
interação de seus componentes com a entrada de energia proveniente do Sol e a saída de
energia proveniente da Terra, o que possibilitou compartir a atmosfera em esferas
concêntricas com distintos comportamentos térmicos (MENDONÇA, 2007).
Dentro das separações da atmosfera terrestre, troposfera, estratosfera, mesosfera,
termofera e exosfera. Tem-se a troposfera, uma camada de extrema importância para o
homem, assim como para as ciências geográficas, que se voltam para o estudo dos diversos
tipos de clima existentes no mundo, bem como para o entendimento do comportamento e o
dinamismo desta mesma camada.
Segundo MENDONÇA, 2007 os fenômenos climáticos produzidos na troposfera resultam
dos processos de transferência, transformação e armazenamento de energia e matéria que
31
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
ocorrem no ambiente formado pela interface superfície-atmosfera e que corresponde ao SSA
– Sistema Superfície Atmosfera. Os processos de condução, convecção, advecção,
condensação e radiação desempenham importante papel no fluxo da energia do SSA, sendo os
responsáveis pelo aquecimento do ar na camada da Troposfera, e consequentemente, da
formação dos campos de pressão na Terra, que regulam a movimentação desta atmosfera, ou
seja, o dinamismo atmosférico.
3. CIRCULAÇÃO E DINÂMICA ATMOSFÉRICA, A INFLUÊNCIA DOS CAMPOS
DE PRESSÃO NESSA MOVIMENTAÇÃO AEROLÓGICA
O dinamismo atmosférico segundo Mendonça (2007), se expressa pela interação de
campos de pressão da Terra (Figura 2), que decorrem da direta repartição desigual de energia
solar no Sistema Superfície Atmosfera (SSA).
Figura 2: Circulação Geral da Atmosfera: Campos de alta pressão da terra (A), campos baixa
pressão da terra (B).
Fonte:http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php. Acesso em 19, de Junho, de 2015.
Os campos de pressão influenciam na intensidade de radiação solar na extensão do
planeta, e nas suas variações de temperaturas, no tempo e no espaço. A movimentação
atmosférica, tem como resultado do dinamismo, numa escala planetária, a formação das zonas
climáticas da Terra, e a formação dos diferentes tipos de clima.
32
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
A formação de células específicas dessa movimentação, associadas aos movimentos
atmosféricos verticais (ascendência e subsidência) e horizontais (advecção) na baixa
atmosfera, dão origem a células de circulação atmosférica de Hadley, sobre as baixas latitudes
de Ferrer, sobre as latitudes médias e de Walker, que influencia na circulação zonal e interfere
nos fenômenos de escalas meso e macroclimáticas.
Nunes (1998), diz que a escala de abordagem é um dos aspectos mais importantes das
ciências atmosféricas, definindo numa pesquisa não apenas a área e período de abrangência,
mas também as técnicas e os métodos a serem empregados em busca de seus objetivos. Sendo
assim, os estudos dos fenômenos relacionados com o comportamento da atmosfera são
orientados no sentido da compreensão de sua extensão e duração.
A definição da intensidade, frequência e, finalmente, de uma tipologia climática
dependerá, basicamente, da adequação da abordagem espaço-temporal com o conjunto de
técnicas analíticas empregadas no processo da pesquisa e comunicação dos seus resultados.
(RIBEIRO,1993). Levar em conta a variação no tempo e no espaço, de um dado fenômeno
atmosférico, ajudará no entendimento da dinâmica geral da atmosfera, e consequentemente na
compreensão dos tipos de clima no planeta.
Nessa combinação, tempo e espaço de atuação, se finca a formação das células
específicas de movimentação da atmosfera. Mendonça (2007), aborda que na altura da Zona
de Convergência Intertropical (ZCIT), duas células de Hadley se individualizam em cada
hemisfério. As de Ferrer, ao contrário, se associam às frentes polares, e se tornam mais
evidentes na situação de inverno de cada hemisfério devido à maior variação térmica
latitudinal observada nessa época do ano.
Além da célula de Hadley, há também as células de circulação que variam de acordo
com o comprimento. A mais importante é a circulação de Walker, que ocorre no Equador, no
Oceano Pacífico. Água Pacífico, Indonésia e a Austrália do norte são geralmente mais quente
do que o outro lado do oceano, na costa norte-americana, pois o ar tende a subir na área
australiana, criando uma depressão que induz uma corrente superficial de ar que vai da
América à Indonésia, transportando grandes quantidades de umidade, causando chuva na sua
subsidência. (RABAT,2011).
Quando ocorre uma variação nas condições do oceano pacífico, a circulação realizada
pela célula de Walker se modifica dando origem a dois importantes fenômenos climáticos o
El Niño e a La Niña. (Figura 7).
33
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 7: Representação do El Niño e da La Niña.
Fonte: http://cambioclimaticoenergia.blogspot.com.br/2011/12/la-circulacion-de-walker.html.
Acesso em 19, de Junho, de 2015.
Sobre o oceano Atlântico, observa-se a mesma circulação zonal, sendo que, a oeste, a
barreira montanhosa do Andes e a floresta Amazônica intensificam as ascendências
convectivas. E quando individualizada com menos clareza sobre o oceano índico associa-se
aos fluxos das monções e se interliga com a célula pacífica.
A variação sazonal da radiação solar sobre o Planeta influencia na distribuição das
áreas ciclonais e anti-ciclonais. O inverno é a estação, na qual se pode perceber de forma mais
literal a atuação dos anticiclones, pois estas se formam sobre as médias latitudes, em áreas
com climas mais frios e amenos na porção continental do planeta. Quando essa zona de alta
pressão se destaca em latitudes médias, em decorrência do prolongamento do seu setor
anticiclonico, ela recebe a denominação de dorsal anticiclônica.
34
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Em altitude os ventos originados nas áreas anticiclônicas, que correm dos Trópicos
para o Equador, nos dois hemisférios, no sentido leste para oeste, são denominados ventos
alísios. Estes, ao se formarem na porção continental, apresentam características de seca,
porém, em seu deslocamento sobre os oceanos tropicais, adquiri características de umidade. E
no seu encontro, nas zonas de baixas pressões equatoriais formam a Zona de Convergência
Intertropical – ZCIT. Também denominada, Segundo Mendonça, 2007, por Zona de Calma
Equatorial ou doldruns quando o encontro entre os alísios de NE e os de SE se dá entre 10º N
e S de latitude.
A ZCIT é uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre
(Figura 10), formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte
com os ventos alísios do hemisfério sul. De maneira simplista, pode-se dizer que a
convergência dos ventos faz com que o ar, quente e úmido ascenda, carregando umidade do
oceano para os altos níveis da atmosfera ocorrendo a formação das nuvens. Esta se destaca de
forma mais significativa sobre os Oceanos e por isso, a Temperatura da Superfície do MarTSM é um dos fatores determinantes na sua posição e intensidade. (FUCEME,2002).
Figura 10: Zona de convergência intertropical.
Fonte: http://meridianes.org/2012/04/12/la-zonedeconvergence-intertropicale/. Acesso em 06/2015.
A ZCIT acompanha o Equador Térmico (ET) em seus deslocamentos sazonais. O ET
corresponde à isoterma de máxima temperatura do globo, que, sobre os oceanos, acerca-se da
35
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
linha do equador, aprofundando-se sobre os continentes. Essa zona de convergências de ar se
configura como um divisor entre as circulações atmosféricas celulares que se localizam nas
proximidades do Equador as células norte ou sul de Hadley, se destacando como uma faixa
móvel, graças ao movimento aparente do sol no decorrer do ano. (MENDOÇA, 2007).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atmosfera terrestre é um corpo de composição diversificada, dada pelos diferentes
componentes que se agrupam e caracterizam. Assim como, pela influencia da energia
proveniente do sol e da terra, que também determinam o seu comportamento em relação à
superfície.
A influência da radiação solar na Terra e a sua consequente má distribuição sobre a
superfície, justifica a existências de diferentes campos de ações. Zonas que apresentam
percentuais de alta e baixa pressão, que determinam a movimentação dos sistemas
atmosféricos, de acordo com sua variação de pressão, ligadas principalmente ao padrão
diferencial de temperatura das baixas, médias e altas latitudes. Na movimentação do ar, das
áreas de médias latitudes para as de baixas latitudes, em direção à linha imaginária do
equador, tem-se a formação da ZCIT - Zona de Convergência Intertropical.
Essa interação da atmosfera global, dividida em macro, meso e microescala, ajudam a
compreender a circulação geral atmosférica, bem como demonstra, área de atuação dos
sistemas atmosféricos. Portanto, é de extrema importância o conhecimento do padrão geral de
circulação atmosférico, não somente para compreender como esse ocorre, mas também para o
entendimento dos diversos tipos de clima existentes no mundo, o motivo pelo qual ocorrem, e
até onde se localiza sua área de atuação.
REFERÊNCIAS:
MENDONÇA, Francisco; DANNI-OLIVEIRA, Inês Moresco. Noções Básicas e Clima do
Brasil. São Paulo : Oficina de Textos, 2007.
NUNES, Luci Hidalgo. A Escala nas Ciências Atmosféricas. Revista IG, São Paulo v.19, n.1,
71-73, jan/dez, 1998.
FUNCEME, Departamento de Metereologia. Sistemas Metereológicos Causadores de
Chuva na Região Nordeste do Brasil. Zona de Convergência Intertropical. Fortaleza, 2002.
RIBEIRO, Antonio Giacomini. As escalas do clima. Boletim de geografia teorética, v. 23,
p.288-294, 1993.
36
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
RABAT, S. Sánchez. Modelo de circulación em El plano horizontal y vertical. La
circulación de Walker. ITE – instituto de tecnologias educativas, 2011.
37
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
CLASSIFICAÇÃO NÃO-SUPERVISIONADA EM IMAGENS RAPIDEYE DO
DELTA DO PARNAÍBA, PIAUÍ
JOÃO VICTOR ALVES AMORIM1
GUSTAVO SOUZA VALLADARES2
1 Universidade Federal do Piauí – UFPI
[email protected]
2 Universidade Federal do Piauí – UFPI/CCG
[email protected]
Resumo
O objetivo do presente trabalho é destacar a importância do sensoriamento remoto aliado ao
Sistema de Informações Geográficas na classificação não-supervisionada em uma imagem
dos satélites RapidEye do Delta do Parnaíba, Piauí. A imagem, disponibilizada pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA), possui avanços consideráveis em suas especificações
técnicas, principalmente em se tratando das resoluções espacial, espectral e temporal. Através
do software ArcGIS 10.2, selecionou-se 20 classes para a classificação inicial, de modo a
diferenciar mais detalhadamente os elementos da imagem. O método de classificação
utilizado para a pesquisa consistiu na classificação automática não-supervisionada, na qual o
próprio computador, sem o auxílio usuário e com base em regras estatísticas, decide quais são
as classes a serem separadas e quais os “pixels” pertencentes a cada uma. Dentre os resultados
pode-se inferir que essa etapa de pré-processamento de dados configura uma elemento
essencial quando deseja-se trabalhar com mapeamentos diversos, como uso e cobertura e
avaliação do potencial agrícola das terras.
Palavras-chave: SIG. Sensoriamento Remoto. Litoral do Piauí.
Abstract
The objective of this study is to highlight the importance of remote sensing coupled with the
Geographic Information System in unsupervised classification on an image of the RapidEye
satellites, in Delta do Parnaiba, Piauí. The image, provided by the Ministry of Environment
(MMA), has considerable advances in their technical specifications, especially in the case of
spatial resolutions, spectral and temporal. Through ArcGIS 10.2 software, it was selected 20
classes for the initial classification, in order to differentiate more detail on the image. The
classification method used for the survey consisted of unsupervised automatic classification,
which the computer itself without the user aid and on the basis of statistical rules, decides
which classes to be separated and which "pixels" belonging to each one. Among the results it
can be inferred that this pre-data processing step sets an essential element when it is desired to
work with different mappings, such as use and coverage and evaluation of the agricultural
potential of the land.
Key-words: GIS. Remote sensing. Coast of Piauí.
38
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
1. INTRODUÇÃO
Com a crescente demanda pelo armazenamento, análise, manipulação e visualização de
dados sobre os recursos naturais, aliada à evolução dos computadores digitais, a partir da
década de sessenta, diversos logiciais foram desenvolvidos visando facilitar as tarefas
manuais, antes complexas e lentas, mas, sobretudo para abrir possibilidades de integração e
análise de dados espaciais e numéricos (CÂMARA E MEDEIROS, 1996).
Partindo disso, a fim de permitir a perfeita integração de dados derivados de sensores
remotos, de levantamentos dos recursos naturais e da evolução cartográfica, foram
desenvolvidos os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) (CÂMARA E MEDEIROS,
1996). Para Bonham-Carter (1994), o subsídio que essas ferramentas oferecem aos usuários,
facilita a produção e a manipulação de informações espaciais em pequenos períodos de
tempo, assim como baixos custos.
A utilização de técnicas de sensoriamento remoto para análise do meio físico permite o
planejamento e administração da ocupação de forma ordenada e racional, monitorar e avaliar
áreas de vegetação natural, entre outras. Para Florenzano (2002, p. 9) o sensoriamento remoto
é “a tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre,
através da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície”.
Nesse contexto, o presente trabalho objetiva destacar a importância do sensoriamento
remoto aliado ao Sistema de Informações Geográficas para definição de classes “pixel a
pixel” da área do Delta do Parnaíba, localizado na planície costeira do Estado do Piauí,
utilizando, para isso, classificação não-supervisionada e imagens do satélite RapidEye.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A planície costeira do estado do Piauí está localizada na porção norte do litoral piauiense
e no nordeste setentrional do Brasil. Apresenta uma linha de costa de 66 km no sentido LesteOeste, que vai desde a baía das Canárias (no Delta do Parnaíba), até o limite com Ceará, na
baía formada na foz dos rios Ubatuba e Timonha. No sentido sul-norte ela se localiza entre o
Grupo Barreiras e o Oceano Atlântico (BAPTISTA, 1975; FUNDAÇÃO CEPRO, 1996).
A zona costeira piauiense é uma área de grande potencial turístico que vem sendo alvo de
uma rápida ocupação desordenada, especulação imobiliária, agropecuária entre outros.
Incluídas nessas áreas encontram-se os municípios litorâneos de Parnaíba, Luís Correia,
Cajueiro da Praia e Ilha Grande de Santa Isabel (SOUSA, 2015). Para o presente trabalho, foi
realizado um recorte espacial da planície costeira do estado do Piauí, onde contemplou-se a
área que vai da ponta do Delta, no sentido do Rio Parnaíba até o encontro com o Rio Igaraçu,
39
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
e seguindo o curso deste até o oceano Atlântico (Figura 1). O recorte espacial abrange as áreas
urbanas de Ilha Grande de Santa Isabel e Parnaíba.
Figura 1 – Delta do Parnaíba, zona costeira do Piauí
Fonte: MMA, Imagem RapidEye (RGB 3-2-1), adaptado pelo autor.
Para a definição das classes de cobertura, levando-se em consideração os diversos
satélites que têm sido lançados, fez-se opção por uma imagem dos satélites RapidEye com
resolução espacial de 5 metros, já georreferenciada e sob o sistema de coordenadas WGS
1984 UTM Zone 24 Sul, disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). As
imagens RapidEye possuem avanços consideráveis em suas especificações técnicas,
principalmente em se tratando das resoluções espacial, espectral e temporal (FELIX et al.,
2009).
40
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Para a classificação foram necessários recortes de 4 cenas RapidEye. Florenzano (2008)
ressalta que, como os ambientes da superfície terrestre são dinâmicos, a data da imagem é
uma informação extremamente importante, pois a imagem é uma representação de uma parte
da superfície da Terra no momento da passagem do satélite, e sua escolha dependerá do tipo
de aplicação que se fará, bem como o objetivo, pois há períodos de cheias e secas durante o
ano. Nesse sentido, as cenas datam dos dias: 30 de Julho, 23 de Outubro e 02 de Dezembro
de 2012.
Foi selecionada a composição de bandas falsa cor RGB 4-5-3. Após esse procedimento, a
imagem foi vetorizada no software ArcGIS 10.2. Foi manuseada a ferramenta Spatial Analyst
Tools presente no ArcToolbox e aplicou-se a função Multivariate → Isso Cluster
Unsupervised Classification, onde selecionou-se 20 classes para a classificação inicial, de
modo a diferenciar mais detalhadamente os elementos da imagem. O método de classificação
utilizado para a pesquisa consistiu na classificação automática não-supervisionada, na qual o
próprio computador, sem o auxílio usuário e com base em regras estatísticas, decide quais são
as classes a serem separadas e quais os “pixels” pertencentes a cada uma (BERNARDI et al.,
2007). De acordo com Polizel (2011), o método de classificação pixel a pixel leva em
consideração a informação espectral de maneira isolada, pixel por pixel da imagem orbital,
atribuindo, portanto, cada pixel da imagem em uma classe temática diferente. Esse processo
acontece através da observação da resposta espectral do próprio pixel em relação dos seus
pixels vizinhos.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do procedimento automático de classificação da área do Delta, obteve-se quatro produtos,
um de cada cena da imagem orbital, que deram origem a 20 classes. A figura 2 ilustra a
amostra coletada pelo satélite RapidEye já na composição falsa cor (a) e classificação
automática realizada pelo software, sem ter sido revisada por interpretação visual e
reclassificada seguindo critérios espaciais num procedimento de especialização (b).
41
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 2 – Classificação automática não-supervisionada no Delta do Parnaíba-PI
(a) Composição falsa cor
(b) Classificação automática
RGB 4-5-3
não-supervisionada
Fonte: MMA, Imagem RapidEye, adaptado pelo autor.
Nota-se que o software atribui diferentes classes para a vegetação. Esse procedimento é
de fundamental importância quando deseja-se trabalhar com dinâmica de uso e cobertura das
terras, por exemplo. A utilização de técnicas de sensoriamento remoto para análise do uso e
cobertura do solo permite o planejamento e administração da ocupação de forma ordenada e
racional, monitorar e avaliar áreas de vegetação natural, entre outras.
Com as técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto aliadas com Sistema de
Informação Geográfica (SIG), aplicadas em mapeamentos do uso e cobertura do solo, além de
monitorar os possíveis impactos ambientais, pode-se acompanhar o desenvolvimento
socioeconômico de um local, tanto em escala municipal, regional e até mesmo global
(MONTEBELO et al, 2005). O mapeamento do uso e cobertura do solo é de grande
importância, visto que o uso de forma não planejada pode provocar degradação do meio
ambiente. Com este mapeamento facilita-se a detecção de áreas exploradas de forma
inadequada e, com sua localização precisa, promove-se a tomada de decisões pelos órgãos
competentes encarregados da fiscalização (LOPES, 2008).
É possível visualizar uma classificação de uso e cobertura da área de estudo no trabalho
de Sousa (2015), no qual são identificadas 12 classes para toda a faixa do litoral piauiense,
42
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
sendo estas: Área Urbana, Corpos Hídricos, Áreas Úmidas, Cordão Arenoso, Dunas Móveis,
Vegetação de Mangue, Pasto Limpo, Pasto Sujo, Solo Exposto, Vegetação de Várzea
associada a Carnaúbas, Vegetação arbustiva densa e Vegetação de caatinga aberta. No
entanto, para essa classificação a autora utilizou imagens dos satélites LANDSAT7-TM e
LANDSAT8-ETM e partiu do método de classificação automática supervisionada para
visualizar a dinâmica temporal de uso e cobertura.
Na figura 2 podemos visualizar também a classificação estabelecida para os corpos
arenosos ou dunas na área de estudo. Esta etapa do pré-processamento configura também uma
grande importância para os estudos de ambientes costeiros e planejamento ambiental.
Segundo Dourado e Silva (2005) dunas presentes no litoral brasileiro frequentemente se
movem causando diversos transtornos à população. Determinar a velocidade de migração de
dunas pode auxiliar no processo de ocupação do território, pois o monitoramento indica quais
as direções principais de deslocamento das dunas.
Essa técnica de geoprocessamento também fornece subsídios para a avaliação do
potencial agrícola do uso da terra. O uso indiscriminado das terras, sem levar em consideração
suas potencialidades e os graus de sensibilidade (fragilidade e/ou estabilidade) dos
agroecossistemas, é uma das principais causas da degradação dos solos, incremento de erosão
e perda de sua capacidade produtiva (PEREIRA, 2002). Nessa perspectiva, uso adequado das
terras, de acordo com a sua capacidade é o primeiro passo em direção à agricultura correta.
Para isso, deve-se utilizar cada parcela de terra de acordo com a sua capacidade de
sustentação e de produtividade econômica, de forma que os recursos naturais sejam colocados
à disposição do homem para seu melhor uso e benefício, procurando, ao mesmo tempo,
preservar estes recursos para gerações futuras.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho foi desenvolvido sob a perspectiva de uma compreensão da importância do
sensoriamento remoto e dos SIG para o mapeamento do meio físico sob algumas temáticas,
como uso e cobertura das terras, monitoramento de dunas e avaliação agrícola. E mostrou que
essas ferramentas são de extrema importância para o desenvolvimento do estudo que se
pretende fazer em determinada área. Para isso, utilizou-se a área do Delta do Parnaíba como
objeto de estudo para levantar essas informações.
A metodologia ilustrada nesse trabalho parte de uma etapa inicial estabelecida no plano
de trabalho do projeto “Uso e cobertura das terras no litoral piauiense”. Como ainda não
43
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
houveram idas a campo para checagem, a determinação do uso específico das áreas
identificadas não foi um objeto do presente trabalho.
REFERÊNCIAS
BAPTISTA, João Gabriel. Geografia Física do Piauí. 2. ed. COMDEPI, 1975.
BERNARDI, Henriqueta Veloso Ferreira; DZEDZEJ, Maíra; CARVALHO, Luis Marcelo
Tavares de. Classificação digital do uso do solo comparando os métodos “pixel a pixel” e
orientada ao objeto em imagem QuickBird. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
SENSORIAMENTO REMOTO, 13, Florianópolis, SC. In: Anais... Florianópolis, SC, 2007,
p.
5595-5602.
Disponível
em:
http://marte.dpi.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2006/11.16.02.01.41/doc/5595-5602.pdf>
Acesso em: 16 set. 2015.
BONHAM-CARTER, Graeme F. Geographic Information Systems for geoscientists:
Modelling
with
GIS.
Otawa:
Pergamon,
1994.
Disponível
em:
<
https://books.google.com.br/books?id=7OMiShJX0wAC&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false> Acesso em: 16 set. 2015.
CÂMARA, Gilberto; MEDEIROS, José Simeão de. Geoprocessamento para processos
ambientais.
São
José dos Campos:
INPE,
1996.
Disponível em:
<
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/cap10-aplicacoesambientais.pdf> Acesso em: 14
set. 2015.
DOURADO, Francisco de Assis; SILVA, Antônio Soares da. Monitoramento do avanço da
frente de dunas na região do Peró, Cabo Frio, Rio de Janeiro. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
SENSORIAMENTO REMOTO, 12, 2005, Goiânia. In: Anais..., 2005, p. 2957-2964.
Disponível
em:
<
http://marte.sid.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.21.21.39/doc/2957.pdf> Acesso em: 20
set. 2015.
FELIX, Iara Musse; KAZMIERCZAK, Marcos Leandro; ESPÍNDOLA, Giovana Mira de.
RapidEye: a nova geração de satélites de Observação da Terra. SIMPÓSIO BRASILEIRO
DE SENSORIAMENTO REMOTO, 14, Natal, RN. In: Anais... Natal, RN, 2009, p. 76197622. Disponível em: < marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.../7619-7622.pdf>
Acesso em: 14 set. 2015.
FLORENZANO, Tereza Gallotti (Org). Geomorfologia: conceitos e tecnologias atuais. São
Paulo: Oficina de Textos, 2008.
FLORENZANO, Teresa Gallotti. Imagens de satélite para estudos ambientais. São Paulo:
Oficina de textos, 2002.
FUNDAÇÃO CEPRO. Macrozoneamento Costeiro do Estado do Piaui: Relatório
Geoambiental e Socioeconômico. Teresina: [S.e], 1996.
LOPES, Luís Henrique Moreira. Uso e cobertura do solo no município de Tailândia-PA
utilizando o TM/LANDSAT e técnica de classificação não-supervisionada. ENGEVISTA,
44
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
v.10, n.2, p. 126-132, 2008. Disponível em: < www.uff.br/engevista/2_10Engevista5.pdf>
Acesso em: 14 set. 2015.
MONTEBELO, Letícia Ayres.; CASAGRANDE, Cátia Andersen; BALLESTER, Maria
Victória Ramos; VICTORIA, Reynaldo Luiz; CUTOLO, Ana Paula Antônio. Relação entre
uso e cobertura do solo e risco de erosão nas áreas de preservação permanente na bacia do
ribeirão dos Marins, Piracicaba-SP. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO
REMOTO, 12, 2005, Goiânia. In: Anais..., 2005. p. 3829-3836. Disponível em: <
http://marte.sid.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.19.17.22/doc/3829.pdf> Acesso em: 16
set. 2015.
PEREIRA, Lauro Charlet. Aptidão agrícola das terras e sensibilidade ambiental: proposta
metodológica. Tese de Doutorado/UNICAMP. São Paulo, Campinas. 2002. Disponível em: <
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000287800&fd=y> Acesso em:
20 set. 2015.
POLIZEL, Silvia Palotti. Aplicação de Técnicas de Geoprocessamento para avaliação da
Expansão Urbana no Município de Duque de Caxias (RJ) como Subsídio ao
Monitoramento de Dutos: Trecho da Faixa de Dutos Rio de Janeiro – Belo Horizonte. Rio
Claro,
SP,
2011.
Disponível
em:
<
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/120634/polizel_sp_tcc_rcla.pdf?sequence=
1> Acesso em: 14 set. 2015.
SOUSA, Roneide dos Santos. Planície Costeira do Estado do Piauí: mapeamento das
unidades de paisagem, uso e cobertura da terra e vulnerabilidade ambiental. 138f. (Mestrado
em Geografia – Programa de Pós Graduação em Geografia, Universidade Federal do Piauí),
Teresina, 2015.
45
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
ANÁLISE TEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE
URUÇUÍ-PI
1 KÁTIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
2 MARIA DO ESPÍRITO SANTO ABREU DA ROCHA
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI
([email protected])
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI
([email protected])
Resumo
Um dos processos mais importantes para a compreensão da dinâmica de uma cidade é fazer o
estudo de seu uso e ocupação, onde se possa analisar além do seu uso, quais são as
consequencias e alterações através dos anos. Atualmente, uma das grandes ferramentas para
esta análise é o uso de Sensoriamento Remoto aliado aos SIG’s (Sistema de Informação
Geográfica). Através de tais ferramentas pode se observar quais áreas foram desmatadas,
quais as dimensões, se foram usadas para habitação, se sofreram queimadas ou são usadas
para a agricultura, além de outros. O município de Uruçuí foi escolhido graças ao grande
avanço econômico e devido as mudanças sofridas em sua paisagem nos ultimos anos. A
análise temporal realizada visa compreender a velocidade e a intensidade com que essas
alterações ocorreram. O estudo abrange um período de 30 anos onde foram utilizadas imagens
dos satélites LandSat 5 e LandSat 8 e os sistemas de informação geográfica ArcGis e Qgis.
Com os mapas produzidos pôde se observar um avanço considerável da agricultura no
município, onde se vê em 1985 uma vegetação quase intacta comparada ao ano corrente de
2015. Sua conclusão não tem um carater definitivo, mas abre a discussão para quais serão as
consequencias dessa mudança de paisagem no decorrer dos próximos anos.
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, SIG, Uso do Solo.
Abstract. One of the most important processes for the understanding of the dynamics of a
city is the study about the use and occupation, where they can look beyond their use, but also
the consequences and changes over the years. Currently, a major tool for this analysis is the
use of remote sensing coupled with GIS (Geographic Information System). Through such
tools can be observed which areas have been cleared, the sizes, whether they were used for
housing, it suffered burned or are used for agriculture, among others. The municipality of
Uruçuí was chosen owing to the great economic advancement and because the changes
46
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
undergone in your landscape in recent years. The temporal analysis aims to understand the
speed and intensity with which these changes occurred. The study covers a period of 30 years
where are used images of Landsat 5 and Landsat satellites 8 and ArcGIS geographic
information systems and Qgis. With maps produced could observe a considerable
advancement of agriculture in the municipality where you see in 1985 an almost intact
vegetation compared to the year 2015. The conclusion does not have a definitive character,
but opens the discussion to what will be the consequences of this change landscape in the
coming years.
Key Words: Remote Sensing, GIS, Land Use
1. INTRODUÇÃO
A análise de ocupação do solo é uma parte do processo mais amplo do planejamento de
uma cidade. A análise é basicamente preocupada com a localização, intensidade e quantidade
de terra necessária e o desenvolvimento de várias funções de utilização de espaços da vida e
da cidade, tais como, indústria, negócio, vendas por atacado, habitação, recreação, educação e
atividades religiosas e culturais do povo.
Para tal análise, uma ferramenta que pode ser considerada fundamental é o uso de
Sensoriamento Remoto. Segundo MORAES (2002), o Sensoriamento Remoto pode ser
entendido como um conjunto de atividades que permite a obtenção de informações dos
objetos que compõem a superfície terrestre sem a necessidade de contato direto com os
mesmos. Estas atividades envolvem a detecção, aquisição e análise (interpretação e extração
de informações) da energia eletromagnética emitida ou refletida pelos objetos terrestres e
registradas por sensores remotos.
Com isso, a análise da vegetação e uso da terra pode ser considerado um dos elementoschave mais essenciais como as variações de vegetação e uso da terra de uma área para a outra
agir como um indicador da condição do terreno e permitindo assim a gestores e população
uma análise crítica do que está ocorrendo com a área.
Na apresentação deste, poderá ser possível acompanhar as transformações que vem
ocorrendo no município de Uruçui-PI nos últimos 30 anos. Transformações essas que tem
como seu maior agente, a expansão da agricultura.
47
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
2. METODOLOGIA DE TRABALHO
Com uma expansão agrícola notável nos últimos anos, a área escolhida para o estudo
foi o município de Uruçuí no sul do estado do Piauí, que está localizado na microrregião do
Alto Parnaíba Piauiense, com área de 8.542 Km2. A sede do município tem as coordenadas
geográficas de 070 13’ 46’’ de latitude sul e 440 33’22’’ de longitude oeste de Greenwich e
dista 453 Km de Teresina. Sua órbita se encontra em 220 e seus pontos são 65 e 66.
Figura 1. Mapa de localização da área de estudo.
Fonte: Autores, (2015)
Para a produção do mesmo foram utilizadas imagens em formato GeoTIFF provenientes
dos satélites Landsat 5 e Landsat 8 e os SIG’s ArcGis e Qgis, além da revisão bibliográfica.
Sobre a aquisição das imagens, elas foram adquiridas no catálogo de imagens do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, e são de um período de 30 anos, sempre no período
entre Julho e Agosto levando em consideração uma melhor visibilidade e ausência quase total
de nuvens. Para o período de 1985, 1995 e 2005 foram utilizadas as imagens do satélite
48
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Landsat 5 e com suas bandas espectrais 5, 4 e 3 para a composição RGB e a banda espectral 3
para melhor visualização de áreas de solo exposto (0,63-0,69 µm). Para a análise do ano de
2015 foram utilizadas imagens do Satélite Landsat 8 e suas bandas espectrais 4, 3 e 2, e para
melhor análise de áreas de solo exposto foram utilizadas imagens da banda espectral 4 (0,630
– 0,680 µm).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através das imagens de satélite do Landsat 5 de 1985, pode-se observar que a área de
uso agrícola do município de Uruçui correspondia a aproximadamente 473km² e sua cobertura
vegetal era preservada.
Figura 2. Delimitação da área agrícola no município em 1985.
Fonte: Autores, (2015)
Contudo, com o passar dos anos pode-se observar que esse terreno foi ocupado de
maneira “repentina”. Com as imagens dos anos posteriores em bandas específicas para análise
49
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
de vegetação e uso agrícola, observa-se que no intervalo temporal de 1995 para 2005 houve
um salto nas regiões ocupadas por atividades agrícolas. Atividades estas que ainda são mais
intensificadas no período temporal de 2005 até 2015.
Figura 3. Imagens do município em períodos distintos.
Fonte: Autores, (2015)
Quando se faz uma sobreposição da área de agricultura de 1985 na área atual do
município, é possível compreender a dimensão da expansão agrícola no município nos
últimos 30 anos.
50
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 4. Sobreposição de áreas agrícolas de 1985 em área atual.
Fonte: Autores, (2015)
4. CONCLUSÕES
Através das imagens analisadas em períodos distintos do município, pode-se obervar a
considerável expansão agrícola no município de Uruçui-PI. Entretanto, a despeito dos
avanços econômicos que essa expansão propicia, necessita-se de uma análise mais
aprofundada a respeito dos impactos na dinâmica da vegetação, clima e sistemas de drenagens
naturais na região.
Mudanças como essas tem que serem avaliadas de maneira crítica e precisa, pois
causam interferencias diretas na vida da população e do ecossistema ao qual o município está
inserido.
51
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
AGRADECIMENTOS
Venho por meio deste agradecer a imensa paciência e hospitalidade do pesquisador do
INPE, Msc. Paulo Roberto Martini em transmitir seus conhecimentos a quem quer que o
procure. Conhecer e entender o projeto PANAMAZÔNIA foi de imensa importância para a
produção deste.
REFERÊNCIAS
Moraes, Elisabete Caria; Fundamentos do Sensoriamento Remoto. São José dos Campos:
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2002.
Reddy, M. Anji; Remote Sensing and Geographical Information Systems. Hyderabad: BS
Publications, 2008.
Monitoramento
por
Satélite
Embrapa
Landsat.
Disponível
em:
<http://www.sat.cnpm.embrapa.br/conteudo/missao_landsat.php>. Acesso em: 11.ago.2015.
Mascarenhas, N. D. D.; Correia, V. R. M. Medidas de qualidade de estimadores de
proporções de classe dentro de um pixel de imagem de satélite. São José dos Campos:
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 1983.
Aguiar, Robério Bôto de. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água
subterrânea, estado do Piauí: diagnóstico do município de Uruçui. Fortaleza: CPRM Serviço Geológico do Brasil, 2004.
52
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
SUSCETIBILIDADE AMBIENTAL À EROSÃO LAMINAR NO
MUNICÍPIO DE CANUDOS-BA
PHILIPE DAMASCENO PEDREIRA ¹;
NERIVALDO AFONSO SANTOS ²;
ISRAEL DE OLIVEIRA JUNIOR ³
1 Graduando em Geografia, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e-mail:
[email protected].
2 Graduando em Geografia, UEFS, e-mail: [email protected].
3 Geógrafo, UEFS, e-mail: [email protected].
Resumo
Por meio deste estudo objetivou-se mapear a suscetibilidade ambiental à erosão laminar com a aplicação das
geotecnologias. A definição da escala geográfica decorreu em função da alta vulnerabilidade à desertificação e
da localização de inúmeras feições erosivas. No município de Canudos-BA domina o clima tropical semiárido e
existe um mosaico de paisagens, constituído por heterogeneidades de rochas, relevos, solos, feições vegetais do
bioma caatinga, onde desenvolvem a agropecuária. Para a definição da suscetibilidade ambiental à erosão foram
integrados planos de informações referentes à erodibilidade dos solos e declividade do relevo, a partir da
aplicação da lógica média ponderada em ambiente SIG. Atribui-se graus diferenciados de suscetibilidade às
diferentes classes dos planos de informações, que resultou em um mapa com 5 níveis de suscetibilidade: muito
fraca, fraca, média, forte e muito forte. A média suscetibilidade foi a mais destacável, em função da
concentração dos neossolos, distribuídos em declividades variantes de média a muito fraca. Nos declives
acentuados, onde encontram-se os neossolos, a modelagem resultou em um cenário de muito forte
suscetibilidade. Os resultados evidenciados neste estudo colaboram para denotar a alta vulnerabilidade à
desertificação do município de Canudos e para repensar o planejamento do uso das terras, em função de
configurar práticas sustentáveis em ambiente de natural fragilidade.
Palavras-Chave: Geotecnologias, Álgebra de mapas, Análise Ambiental.
Resumo
Through this study aimed to map the environmental susceptibility to sheet erosion with the application of
geotechnology. The definition of the geographic scale took place due to high vulnerability to desertification and
the location of numerous erosional features. In the city of Canudos-BA dominates the semi-arid tropical climate
and there is a mosaic of landscapes, consisting of heterogeneity of rocks, relief, soils, plant features the savanna
biome, where they develop agriculture. For the definition of environmental susceptibility to erosion were
integrated information plans relating to soil erodibility and slope relief from the application of the weighted
average logic in GIS environment. Attributed to different degrees of susceptibility to different classes of
information plans, which resulted in a map with 5 levels of susceptibility: very weak, weak, medium, strong and
very strong. The average susceptibility was the most notable, depending on the concentration of neossolos
53
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
distributed in average steepness variants very weak. On steep slopes, which are the neossolos, modeling resulted
in a scenario of very strong susceptibility. The results shown in this study work together to denote the high
vulnerability to desertification of Straws municipality and to rethink the planning of land use, due to set up
sustainable practices in natural fragile environment.
Key Words: Geotechnology, Map algebra, Environmental analysis.
1. INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais constituem um tema de interesse da sociedade contemporânea,
em razão dos efeitos que se materializam nas diferentes escalas em todo o planeta. Eles são
resultantes da racionalidade econômica (LEFF, 2008; PORTO-GONÇALVES, 2006) que
rege a relação sociedade e natureza no mundo ocidental capitalista, fundada na exploração dos
indivíduos da sociedade e de todos os demais elementos constituidores da natureza (MARX,
2007).
A erosão constitui um processo na dinâmica dos sistemas ambientais, importante para a
manutenção do equilíbrio e para esculpir os relevos terrestres, e atinge praticamente toda
superfície terrestre. Em decorrência das chuvas, ela ocorre intensamente na zona intertropical,
visto que os totais pluviométricos são bem mais elevados (GUERRA, 1999). No entanto, a
aceleração da erosão, em razão das atividades humanas, tem configurado cenários de
degradação ambiental, visíveis nas formas erosivas, na perda dos horizontes superficiais dos
solos, na diminuição da produtividade agrícola, na formação de bancos de areia nos leitos de
rios, entre outros, que convergem para configurar um dos piores problemas do semiárido
brasileiro, a desertificação.
O estado da Bahia possui 86,8% do território na área susceptível à desertificação,
totalizando 289 municípios. Os esforços em abordar a degradação das terras secas baianas
remontam à década de 1970, com estudos pontuais no norte do estado (AB’SABER, 1977;
VASCONCELOS SOBRINHO, 1971). O município de Canudos localiza-se no extremo norte
do estado da Bahia e possui alta vulnerabilidade à desertificação, por causa das pressões
humanas sobre os solos, com características arenosas e de profundidade rasa, em domínios
climáticos de baixa e concentrada pluviosidade (OLIVEIRA JUNIOR, 2014). Associadas a
essas questões encontram-se feições vegetais de porte arbóreo, de baixa densidade e setores
com desníveis topográficos, que contribuem para desencadear a degradação, resultante da
intensificação dos processos erosivos.
54
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Por meio deste trabalho, objetivou-se abordar os processos erosivos no município de
Canudos-BA, a partir da modelagem de suscetibilidade ambiental. Para tanto, buscou-se
mapear características do município e as áreas propensas à erosão, com a aplicação das
geotecnologias.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Canudos localiza-se no norte do estado da Bahia (Figura 1) e subdividese em duas províncias geológicas, a da Borborema, ao norte do vale do rio Vaza-Barris, e, ao
sul, a de São Francisco Norte, com histórico evolutivo desde o Arqueano ao Farenozóico
(SIG-BA, 2003). As superfícies de maior extensão são constituídas por rochas sedimentares,
formadas por arenitos, conglomerados, folhelhos, calcários e outras.
A geomorfologia insere-se em duas unidades morfoestruturais: i) bacia sedimentar
Recôncavo-Tucano, constituída por formas de dissecação e aplanamentos embutidos e
tabuleiros; ii) depressão periférica e interplanáltica, formada por pedimentos funcionais ou
retocados. As altitudes variam entre 321 m e 765 m. Extensas áreas compõem-se de baixas
declividades, onde ocorrem, intensamente, as atividades agropecuárias, e os maiores declives
constituem os relevos da bacia sedimentar Recôncavo-Tucano e formam o vale de rios, como
o do Vaza-Barris.
O município de Canudos possui as médias anuais de temperatura de 24,6º C,
precipitações pluviométricas em torno de 378,9 mm e evapotranspiração potencial de 1328,9
mm, com a predominância do clima árido, segundo classificação climática de Thornthwaite
(1955).
As chuvas são torrenciais, concentradas em poucos meses e há anos que elas
inexistem, decorrendo no fenômeno da seca. A rede de drenagem é constituída, sobretudo, por
rios intermitentes e efêmeros.
Os solos são rasos com características superficiais arenosas e/ou pedregosas, com a
distribuição intensa dos neossolos, de ampla fragilidade natural à erosão. Encontram-se,
também, argigissolos, cambissolos, latossolos, luvissolos, planossolos e vertissolos, nos quais
desenvolvem a agropecuária.
55
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 1 – Localização do município de Canudos – Bahia
Para a elaboração desse trabalho, seguiu-se a proposta metodológica de Salomão
(1999), afim de mapear e avaliar a suscetibilidade à erosão laminar no município de CanudosBahia. Numa primeira etapa, fez-se necessário uma revisão bibliográfica acerca das temáticas
envolvidas, como desertificação, erosão, modelagem ambiental, geotecnologias, análise
ambiental, paisagem, suscetibilidade. Posteriormente, foi realizado um levantamento de dados
cartográficos, para a elaboração de um SIG e análise e integração de planos de informações
ambientais.
Na configuração de um cenário ambiental de suscetibilidade à erosão laminar utilizouse os planos de informações sobre solos (SIG, 2003) e declividade do relevo, pela aplicação
da lógica média ponderada. Classificou-se os solos em relação ao fator erodibilidade
(WISHMEIER; SMITH, 1965), definidos em função da capacidade de o solo resistir a erosão
e de infiltração de água. A declividade foi extraída após interpolação do Modelo Digital de
Terreno (MDT) (NASA, 2003) pelo método krigagem, com alteração da resolução espacial
56
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
para 30m. A classificação da declividade pautou-se em Embrapa (1979), na qual varia de
plano a forte-montanhoso.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise da paisagem possibilita apreender a teia de relações elementares envolvidos
no processo de erosão. Diversos autores (GUERRA, 1999; LOBÃO, 2013; OLIVEIRA
JUNIOR, 2014; ROSS, 2005) evidenciam a importância de se estudar este fenômeno por
meio da integração de informações, como a da erodibilidade, erosividade, comprimento da
rampa e declividade do relevo, uso da terra. Para estabelecer a suscetibilidade ambiental à
erosão, integrou-se planos de informações sobre solos e declividade, devido indicações de
Salomão (1999).
Os pesos atribuídos as classes dos solos para a definição da suscetibilidade derivou da
interpretação do fator k, especificado na equação universal de perda dos solos (WISHMEIER;
SMITH, 1965). Este fator corresponde à erodibilidade do solo e é definida a partir da
estabilidade da estrutura pedológica e da capacidade de infiltração de água, pois os impactos
das gotas das chuvas na desagregação e a penetração da água variam em função das classes
dos solos. Os solos identificados no município e sua relação com a erodibilidade estão
sintetizados no quadro 1, com pesos variando de 1 a 5.
Quadro 1 – Classes de erodibilidade dos solos do município de Canudos-BA
Erodibilidade
Solos
Classe
Índice
Neossolos, vertissolo
Muito forte
V
Cambiossolos, vertissolo
Forte
IV
Argissolo, luvissolo
Média
III
Latossolo
Fraca
II
Planossolos
Muito fraca
I
Fonte: Salomão, 1999; Ross, 2005 – Adaptado
Elaboração: Israel de Oliveira Junior; Philipe Damasceno Pedreira; Nerivaldo Afonso Santos, 2015
Os Neossolos distribuem-se em cerca de 69% da área de estudo e eles foram
classificados como muito forte em relação ao fator k. Apenas os planossolos pertenceram a
classe muito fraca e corresponderam a 90 m2. As classes de maior peso no fator erodibilidade
se distribuem acentuadamente, como pode ser observado na figura 2.
As classes de declividade foram atribuídos pesos entre 0 a 5, pautando-se na
classificação da Embrapa (1979), a qual varia de plano a forte-montanhoso. As menores
57
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
classes se distribuem com mais intensidade. A classe muito forte compõe pequenas manchas e
constituem setores dos relevos residuais, encontrados, sobretudo no leste. Grande parte da
classe fraca compõe os topos dos tabuleiros dissecados, constituídos por rochas sedimentares.
Na modelagem de suscetibilidade à erosão verificou-se cinco classes de
suscetibilidade ambiental à erosão laminar, designadas como muito fraca, fraca, média, forte e
muito forte (Figura 3). Existe uma distribuição acentuada de classes de alta suscetibilidade,
que se distribuiu em diferentes espaços. As classes forte e muito forte suscetibilidade
localizam-se em ambientes com neossolos; a mínima declividade é um fator potencial para o
desencadeamento dos processos erosivos. Os cenários evidenciados na modelagem condizem
com a realidade, a qual foi verificável em estudo de campo, devido as feições erosivas.
Figura 2: Classes de erodibilidade dos solos –
Canudos-BA
Figura 3 – Modelagem de suscetibilidade
ambiental à erosão laminar – Canudos-BA
58
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na análise à erosão laminar do município de Canudos-Bahia foi utilizada como
principais variáveis a declividade do terreno e as unidades pedológicas, que interligados
as geotecnologias possibilitou a espacialização da suscetibilidade a esse fenômeno. A
partir dos valores ponderados para declividade e para as unidades pedológicas, permitiuse a realização da modelagem da suscetibilidade ambiental à erosão laminar, a qual
possibilitou analisar as fragilidades dos solos e a sua declividade da encosta como
fatores que potencializam os processos de erosão laminar. Observou-se uma maior
predominância de área suscetível a erosão nas porções oeste e norte, devido a presença
da unidade pedológica Neossolo , e ao fator de declividade do terreno e as áreas menos
suscetíveis a erosão laminar, ficaram retidos no relevo plano e suave-ondulados.
REFERÊNCIAS
Ab’Saber, A. N. Problemática da desertificação e da savanização no Brasil intertropical.
Geomorfologia. São Paulo, n. 53, p. 1-19, 1977.
Embrapa. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Rio de
Janeiro: . Reunião Técnica de Levantamento de Solos, 1979.
Guerra, A. J. T. O início dos processos erosivos. In: GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.;
BOTELHO, R. G. M. (orgs). Erosão e Conservação dos Solos: Conceitos, Temas e
Aplicações. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
Leff, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 6. ed.
Petrópolis: Vozes, 2008.
Lobão, J. S. B.; Silva, B. C. N. Análise socioambiental na região semiárida da
Bahia: geoprocessamento como subsídio ao ordenamento territorial. Feira de Santana:
UEFS, 2013.
Marx, K. O capital: crítica da economia política. 12. Ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2008.
NASA. MDT/SRTM. 2003. Disponível em: <http://seamless.usgs.gov/>. Acesso: 14
jun. 2009.
Oliveira Junior, O. O processo de desertificação: a vulnerabilidade e a degradação
ambiental no polo regional de Jeremoabo-Bahia. Dissertação (Mestrado em Geografia)
– Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal da Bahia, Instituto
de Geociências, Salvador, 2014.
Porto-Gonçalves, C. W. A globalização da natureza e a natureza da globalização.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
Ross, J. L. S Geomorfologia: Ambiente e Planejamento. 8. ed. São Paulo: Contexto,
2005.
59
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Salomão, F. X. T. Controle e prevenção dos Processos Erosivos. In: Guerra, A. J. T.;
Silva, A. S.; Botelho, R. G. M. (orgs). Erosão e Conservação dos Solos: Conceitos,
Temas e Aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
Sistema de Informação Georeferenciadas – SIG-BAHIA. Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos – SIRH. Salvador: Superintendência de Recursos Hídricos,
2003. 2 CD - Rom.
Vasconcelos Sobrinho, J. Núcleos de desertificação no polígono das secas. In: ICB, 1.
1971, Recife. Anais... Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1971.
Wishmeier, W. H.; Smith, D. D> Predicting rainfall-erosions losses. Washington, 1965
60
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA OCUPAÇÃO DESORDENADA DO
CAMPO DE DUNAS NA COMUNIDADE IGUAPE/AQUIRAZ-CE.
RONEIDE DOS SANTOS SOUSA¹
PEDRO EDSON FACE MOURA²
RAIANNY SARA FERREIRA DA SILVA³
¹Universidade Federal do Ceará – UFC/PPGEO
[email protected]
²Universidade Federal do Ceará – UFC/PPGEO
[email protected]
³Universidade Federal do Ceará – UFC/PPGEO
[email protected]
Resumo
Este artigo tem por objetivo geral realizar um diagnóstico integrado da ocupação
desordenada do campo de dunas, na comunidade Iguape, Aquiraz/CE, apontando os
principais impactos causados por esta ocupação. O método de abordagem adotado é o
sistêmico, com relação aos métodos de procedimento partiu-se da escolha do tema,
definição da área e fundamentação teórica. As etapas seguintes referem-se ao
levantamento e análise do material bibliográfico e cartográfico, estudo dos impactos
ambientais, elaboração dos mapas temáticos, processamento digital dos dados e
elaboração de perfis da área em estudo, conversas informais com moradores da área e
trabalhos de campo. Como conclusão, destaca-se quatro principais alterações da
dinâmica natural do campo de dunas por conta da ocupação: O barramento da
comunicação do rio com a área inundada, interrompendo assim a dinâmica de
sedimentos, a interrupção do fluxo de sedimentos eólicos pela ocupação residencial, que
gera conflitos relacionados ao avanço das dunas, a exposição dos sedimentos aos
ventos, canalizados nas depressões interdunares, provocados pelo desmatamento da
vegetação, e os alagamentos sazonais intensificados pelo assoreamento da planície
inundada. Por fim, espera-se que o estudo sirva para subsidiar outras pesquisas que
visem o planejamento da ocupação humana nessa área.
Palavras-Chave: Zona Costeira, SIG, Ocupação, Impacto Ambiental, Dunas.
Abstract
This article has the objective to achieve an integrated diagnosis of disorderly occupation
of the dune field in the community Iguape, Aquiraz / EC, pointing out the main impacts
of this occupation. The adopted method of approach is systemic, with respect to the
procedure methods starting point was the choice of theme, setting the area and
theoretical foundation. The following steps are for the survey and analysis of
bibliographic and cartographic material, study of environmental impacts, and
preparation of thematic maps, digital data processing and drafting Area profiles under
study, informal conversations with residents of the area and fieldwork. In conclusion, it
highlights four major alterations to the natural dynamics of the dune field due to the
occupation: The river communication bus to the flooded area, interrupting the dynamics
of sediment, stopping the flow of aeolian sediment for residential occupation, which
generates conflicts related to the advance of the dunes, the exposure of sediment to the
winds, channeled in the inter-dune depressions, caused by deforestation of vegetation,
and seasonal flooding intensified by the silting of the flood plain. Finally, it is expected
that the study will serve to subsidize other research aimed at planning of human
settlement in this area.
61
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Keywords: Coastal Zone, GIS, Occupation, Environmental Impact, Dunes.
1. INTRODUÇÃO
A atual ocupação dos espaços litorâneos e sua utilização para fins econômicos
vêm gerando impactos e provocando alterações com degradação da paisagem e dos
ecossistemas, podendo chegar à própria inviabilidade das atividades econômicas diante
do quadro de expansão desordenada. (SILVA, 1998). Esses impactos induzidos pela
pressão antrópica podem trazer sérios problemas, sendo muitas vezes superior a
capacidade de suporte dos sistemas naturais, exercendo pressões no ambiente ou
produzindo impactos negativos (MEIRELES, 20014).
As áreas costeiras naturalmente possuem uma tendência maior a instabilidade,
pela própria dinâmica, e as diversas formas de usos que lhe são impostas, contribuem
para o aumento dessa instabilidade. Dessa forma, a caracterização e o estudo dos
ambientes costeiros atuais e passados são de fundamental importância, pois além de
reconstituir a história geológica do ambiente, fornece informações que podem propiciar
intervenções que minimizem o impacto negativo para a sociedade e futuras gerações,
sobretudo no que diz respeito à ocupação. (FLORENZANO, 2008).
A área de estudo localiza-se em Aquiraz, município do estado do Ceará,
localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. Situada na costa leste do litoral
cearense. A referida comunidade está inserida no distrito de Jacaúna, no litoral leste do
município de Aquiraz, a 38 km de Fortaleza. A comunidade se desenvolveu em torno
dos campos de dunas, localizada em uma pequena enseada do litoral cearense, onde o
contato das águas da lagoa costeira, com o mar resultou na formação de um ambiente
estuarino onde se desenvolveu a vegetação de mangue e que hoje encontra-se bastante
degradada pela construção de salinas, ocupação das margens e recentemente pela
implantação de fazendas de camarão.
A pesquisa tem por objetivo geral realizar um diagnóstico integrado da ocupação
desordenada do campo de dunas, na comunidade Iguape, Aquiraz/CE, apontando os
principais impactos causados por esta ocupação. Por objetivos específicos buscou-se
identificar as unidades geoambientais presentes na porção costeira da comunidade
Iguape, destacando os campos de dunas; elaborar perfis sínteses para auxiliar na
compressão do processo de ocupação sob o campo dunar e adjacências. E por fim,
propor medidas que visem minimizar os impactos desta ocupação de forma que a
62
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
população possa conviver de forma harmônica com o meio ambiente. Nesta perspectiva,
o presente trabalho mostra-se de fundamental importância para o conhecimento sobre as
alterações ambientais existentes, bem como os impactos advindos da mesma.
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método de abordagem adotado é o sistêmico, uma vez que considera a
paisagem como resultante da combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e
antrópicos, os quais reagem dialeticamente uns sobre os outros. Com relação aos
procedimentos partiu-se da escolha do tema, definição da área e fundamentação teórica.
As etapas que se seguiram referem-se ao levantamento e análise do material
bibliográfico e cartográfico, estudo dos impactos ambientais, elaboração dos mapas
temáticos, processamento digital dos dados e elaboração de perfis da área em estudo.
Vale salientar ainda, que durante a realização dessas etapas foram realizados
trabalhos de campo para averiguar a "veracidade terrestre", bem como conversas
informais com a comunidade local. Ao final do relatório foram dispostas fotografias dos
diversos aspectos ambientais da área de estudo, detalhando os perfis representativos e
suas modalidades de uso e impactos definidos durante os trabalhos de campo.
Para melhor entender os processos de ocupação da terra e uso dos recursos
naturais presentes na faixa litorânea correspondente a comunidade do Iguape, foram
selecionados quatro perfis, tomando como base as imagens SRTM fornecidas pela
EMBRAPA e métodos de geoprocessamento a partir do Global Mapper. A partir desses
perfis topográficos e das observações de campo, foram realizadas análises preliminares
das tipologias de impactos ambientais das áreas demarcadas. Na Figura 2, observa-se os
perfis transversais recortados da área de análise, obtendo-se o total de 4 perfis.
Figura 2- Recortes dos Perfis representativos da comunidade Iguape
Fonte: Google Earth
63
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Análise do Perfil I (A-B)
No perfil I é possível identificar 2 macro unidades do relevo, a faixa de praia e
a pós praia. A faixa do pós praia está dividida em campo de dunas móveis campos de
dunas fixas e planície interdunar. Sobrepondo-se elementos como uso e ocupação e as
características físico-ambientais elencadas, foi possível a tipificação de áreas. A área 1,
se estende da zona de maré até o barlavento das dunas móveis, neste setor, em algumas
áreas, existe um processo crescente de abrasão marinha, mas, na maior parte da área,
não foram identificados maiores impactos, (exceto em alguns locais onde se instalaram
barracas de praia e residências) utilizada pelos pescadores e banhistas. Na área 2,
observa-se uma relação de conflito entre moradores, (nesse setor mais próximo da praia
são em grande parte veranistas) e a dinâmica natural de movimentação de dunas, pois
devido ao local onde essas residências se encontram, há uma constante luta contra o
avanço das dunas. Foram verificadas estratégias desordenadas para conter esse avanço,
como a introdução de vegetação, muitas vezes não nativa no sotavento das dunas, ou
ainda a construção de paredes de contenção.
Na área 3 é possível identificar sérios problemas sócio ambientais e de
vulnerabilidade sócio econômica, pois a maioria das residências denunciam um nível de
renda bastante baixo. Essa área está próxima da lagoa formada pela planície interdunar,
que teve seu fluxo natural interrompido pelo desligamento da comunicação deste
terreno alagado com o rio através da construção da ponte na comunidade. Observa-se,
também, a prática do descarte de resíduos sólidos e queimadas, por parte dos moradores,
o que revela tanto a despreocupação do poder público com essa área e a desarticulação e
desinformação da comunidade frente aos problemas ambientais.
O quarto, o sexto e o oitavo setores, apresentam uma situação ambiental
bastante similar, pois nestes há uma relativa conservação da vegetação característica do
ambiente em questão, podendo ser observados processos naturais de tosqueamento da
vegetação a barlavento e o crescimento raquítico dessa vegetação devido as condições
climáticas de semiaridez e aos solos pobres em matéria orgânica.
No setor cinco, é perceptível tanto pela topografia como pela presença de
vegetação típica de áreas que passam por processos de inundação sazonais (no caso
gramíneas ou extrato herbáceo), a formação de pequenas lagoas interdunares no período
64
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
chuvoso onde há a ascensão do lençol freático. Já o setor sete vem sofrendo um
processo de uso desregular, pois os impactos gerados por esse uso incidem diretamente
na dinâmica natural das dunas, com a presença de uma trilha de veículos 4x4, que ao
procurarem o prazer contemplativo, visto a beleza cênica do lugar, pisoteiam o estrato
herbáceo gerando um processo de retorno desta duna fixa ao estado de móvel,
desmobilizando, assim os sedimentos que a constitui.
Figura 3. Perfil I (A-B)
Fonte: Elaborado pelos autores
3.2 Análise do Perfil II (C-D)
No perfil II pode-se inter-relacionar diversos elementos do sistema como
ventos, sedimentos e água. Exposição total do solo extremamente friável ao vento
canalizado pela depressão interdunar que funciona como um corredor de vento (setor 3),
e aumento da quantidade de partículas em suspenção no ar, que ao precipitarem
acumulam-se no leito da lagoa assoreando-a (setor 1). A movimentação dos automóveis
somadas ao fluxo de vento, provocam uma mobilização intensificada dessa duna, esse
processo é perceptível pelo soterramento da vegetação e a formação de uma rampa de
colúvio (setor 2), o que sugere uma grave alteração no estado original desta duna, que
outrora era fixa e agora passa a ser móvel.
65
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 4. Perfil II (C-D)
Fonte: Elaborado pelos autores
3.3 Análise do Perfil III (E-F)
O perfil III, em sua maior parte, foi gerado a partir de interpretações da
topografia e relatos dos moradores da área, assim como observação em campo. Segundo
relatos dos moradores locais, essa ocupação ocorreu de maneira rápida, com indícios de
irregularidade, e ainda legitimada pelo estado. Nessa área foi observada casas com
estruturas elaboradas e acabamentos requintados, assim como a presença de serviços
como infraestrutura de transporte e energia elétrica (setor 4).
Também foi possível observar a ocupação de parte da encosta da duna fixa por
coqueirais, há ainda uma incipiente vegetação de manque, o que na realidade não
significa necessariamente, que existam medidas para a recuperação dessa vegetação,
mas prova que esta possui admirável poder de resiliência. Não foi possível realizar
observações mais precisas a respeito do topo ou da área de dunas fixas, porém é notória
a presença de uma fisionomia vegetacional gramínea-arbustiva. Porém a partir do que
foi visto no perfil dois, as residências, podem esta expostas a processos de inundação
que serão intensificados à medida que o lago for sendo assoreado.
66
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 4. Perfil III (E-F)
Fonte: Elaborado pelos autores
3.4 Análise do Perfil IV (G-H)
No perfil IV é apresentado um exemplo da ocupação nos topos das dunas fixas,
embora não tenha sido possível uma análise mais detalhada dessa área é perceptível
uma certa continuidade de problemas do perfil 3. O que é mais notório é o processo de
ocupação que se deu a partir do tabuleiro, já que essas propriedades partem dessa área
(setor 9).
Figura 5. Perfil IV (G-H)
Fonte: Elaborado pelos autores
67
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Segundo os relatos obtidos em campo essa ocupação do topo das dunas é mais
antiga que as da encosta, mostrada no perfil 3. A tipologia das residências do topo das
dunas fixas também é bastante peculiar, pois faz crer que se tratam de mansões
apresentando um certo isolamento da área abaixo.
4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como conclusão da análise, foi possível notar quatro principais alterações da
dinâmica natural do campo de dunas: O barramento da comunicação do rio com a área
inundada, interrompendo assim a dinâmica de sedimentos; A interrupção do fluxo de
sedimentos eólicos pela ocupação residencial, que gera conflitos relacionados ao avanço
das dunas; A exposição dos sedimentos aos ventos, canalizados nas depressões
interdunares, provocados pelo desmatamento da vegetação. Os alagamentos sazonais
intensificados pelo assoreamento da planície inundada
Nesse sentido, torna-se necessário que a sociedade civil utilize os
conhecimentos sobre a dinâmica da paisagem, na tentativa de preservar o ambiente
natural que ainda existe, além de fazer uso responsável dos ambientes já modificados.
A convivência harmônica entre os elementos da paisagem contribui para o equilíbrio do
sistema representado pela paisagem costeira. Bem como, também, o estudo poderá ser
utilizado como instrumento para subsidiar a elaboração de políticas públicas que visem
o planejamento da ocupação humana nessa área.
REFERÊNCIAS
CARDOSO, E. S. - Análise das condições ambientais do litoral de Iguape e Barro
Preto – Aquiraz – Ceará. (Dissertação de Mestrado), Fortaleza, UFC, 2002.
SILVA, E. V. Geoecologia da Paisagem do Litoral Cearense: uma abordagem ao
nível de escala regional e tipológica, (Tese professor titular), Fortaleza, UFC , 1998.
FLORENZANO, Tereza Gallotti. Sensoriamento Remoto para Geomorfologia. In.
FLORENZANO, Tereza Gallotti (org). Geomorfologia: conceitos e tecnologias
atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
MEIRELES, Antonio Jeovah de Andrade. Geomorfologia Costeira: funções
ambientais e sociais: Impressa Universitária, 2014, 489p.
68
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
A PROBLEMÁTICA DA ÁGUA DO SEMIÁRIDO NORDESTINO
BRASILEIRO E AS POSSIVEIS SOLUÇÕES
ÁDNA DALILA DA SILVA VIANA
Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Piauí – UFPI
[email protected]
JEFFERSON PAULO RIBEIRO SOARES
Mestrando em Geografia pela Universidade Federal do Piauí – UFPI/PPGGEO
[email protected]
Resumo
Um dos assuntos que mais se tem falado nos últimos anos é sobre a escassez futura da
água e o quanto ela é importante para a sobrevivência dos seres vivo e também pensar
em possibilidades de armazenamento de água nos locais onde já existe a falta de água.
O trabalho em questão vai levantar questões que rodeiam a problemática existente em
relação escassez de água no semiárido do nordeste brasileiro e também possíveis
soluções de armazenamento para a mesma. Sendo que o objetivo principal deste
trabalho é fazer um levantamento das principais formas de armazenamento de água,
utilizadas nesta região brasileira e como essas técnicas de armazenamento auxiliam na
amenização das condições climáticas adversas enfrentadas pela população do semiárido
do nordeste brasileiro. Diante disso é necessário que haja uma gestão dos recursos
hídricos de forma integrada, participativa e descentralizada.
Palavras-chave: Região – Nordestino – Precipitação
Abstract
One of the issues that has been most talked about in recent years is about the shortages
of water and how much it is important for the survival of living beings and also think
about water storage possibilities in places where there is already a shortage of water.
The work in question will raise questions surrounding the existing problems regarding
shortage of water in the semiarid region of northeastern Brazil and also possible storage
solutions for the same. With the main objective of this study is to survey the main forms
of water storage, used in this Brazilian region and how these storage techniques help in
the alleviation of the adverse weather conditions faced by the population of the semiarid
region of northeastern Brazil. Therefore it is necessary that there is a management of
water resources in an integrated, participatory and decentralized manner.
Keywords: Region - Northeast - Precipitation
1. INTRODUÇÃO
A água potável é um elemento indispensável à vida e, por isso, constitui um
dos maiores problemas sociais do mundo, ainda mais por que a disponibilidade hídrica
não vem crescendo na mesma proporção que o crescimento populacional.
Na zona rural do semiárido nordestino, a falta de água potável e a desnutrição
alimentar são fatores que afetam a população agrícola. Embora essas questões sejam
69
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
amplamente discutidas há muito tempo, ainda não se conseguiu acabar nem com a fome
nem tão pouco com a sede.
Não há duvida de que a precipitação pluvial é o elemento meteorológico que
apresenta a maior variabilidade espacial e temporal, tanto em quantidade
quanto em distribuição mensal e anual, e espacial, quando se compara o valor
observado, ou mesmo esperado, de um local para outro dentro da própria
região (ALMEIDA, 2001)
Historicamente, o semiárido do nordeste brasileiro tem sofrido de forma
contínua os efeitos de frequentes e prolongadas estiagens, com sérias consequências
para a população. As causas são demasiadamente conhecidas, mas ainda não
enfrentadas de forma consistente e estruturada. A região semiárida do Nordeste do
Brasil tem no correto aproveitamento dos seus escassos recursos hídricos como uma
condição absolutamente indispensável, embora não suficiente, à superação da sua
situação de subdesenvolvimento econômico e social.
Na atualidade, a Organização das Nações Unidas (ONU) afirma através de
estatísticas sobre escassez, que vivenciamos a pior seca dos últimos 50 anos no
Nordeste brasileiro, com mais de 1.400 municípios afetados. Essa realidade, no entanto,
não é isolada. A previsão das Nações Unidas é de que até 2030, quase metade da
população mundial estará vivendo em áreas com grande escassez de água (ONU/BR,
2013).
A parti disso o trabalho em questão busca mostrar a problemática existente no
que diz respeito ao semiárido do nordeste brasileiro e também as possibilidades
armazenamento de água para que possa amenizar tanto fisicamente como socialmente,
as condições de vida da população nordestina que vive no semiárido.
2. CARACTERISTICAS DO SEMIÁRIDO DO NORDESTE BRASILEIRO
Atualmente, a área do Semiárido Brasileiro é de 982.563,3 km² (corresponde a
11% do território nacional) segundo Relatório Final, realizado pelo Grupo de Trabalho
Interministerial para Redelimitação do Semiárido Nordestino e do Polígono das Secas
(figura 1). A região concentra 12,3 % da população do Brasil, mais de 20 milhões de
habitantes em 1.113 municípios, o que representa, respectivamente, 21 habitantes/km² e
22% dos municípios brasileiros (LOPES, 2003).
70
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
A região Nordeste do Brasil é formada por uma área de aproximadamente
1.640.00 km2, correspondendo a 19% de todo o território nacional, estendendo-se por
10 estados; ocupa uma área de cerca de 980.000 km², ou seja, representa cerca de 69%
do Nordeste.
O Nordeste brasileiro é uma região com alta variabilidade climática
intrassazonal e interanual em que os efeitos climáticos sobre os recursos hídricos são
fatores que influenciam decisivamente no cotidiano das comunidades locais. A maioria
da população enfrenta grave problema de acesso e escassez de água e alimentos,
repercutindo severamente sobre a saúde das populações, esboçando um cenário de
aumento da mortalidade infantil e restrições econômicas, que, paulatinamente
reproduzem condições precárias de sobrevivência das comunidades mais carentes
(LOPES, 2003).
O Semiárido Brasileiro também se constitui o mais chuvoso e apresenta a
maior população do Planeta. Tem-se uma média de chuvas de 750 bilhões de m³ de
água e, em média, 2800 horas anuais de insolação. Atualmente, tem-se
aproximadamente condições de infraestrutura para armazenamento de 40 bilhões de m³
que estão submetidos ao processo de evaporação; todavia, a partir desses dados deve-se
entender que o “calcanhar de Aquiles” do sertão não se refere simplesmente à escassez
de água, mas, sobretudo, à necessidade imediata de uso sustentável e inteligente dos
recursos de água doce (LOPES, 2003).
Estudos desenvolvidos na Embrapa Semiárido indicam que apenas dois em
cada dez anos são considerados normais quanto à distribuição das precipitações, mesmo
assim, com poucas chances de obtenção de sucesso nas colheitas agrícolas.
Segundo Lopes (2003), o semiárido nordestino é uma região pobre em volume
de escoamento de água dos rios. Essa situação pode ser explicada em razão da
variabilidade temporal das precipitações e das características geológicas dominantes,
onde há predominância de solos rasos baseados sobre rochas cristalinas e
consequentemente baixas trocas de água entre o rio e o solo adjacente. O resultado é a
existência de densa rede de rios temporários. A maior exceção é o Rio São Francisco.
Esse grande rio, porém, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e só após
centenas de quilômetros de percurso entra na região Nordeste
Outros rios permanentes são encontrados no Maranhão, no Piauí e na Bahia,
com destaque para o Rio Parnaíba. Os rios de regime temporário são encontrados na
porção nordestina que se estende desde o Ceará até a região setentrional da Bahia. Entre
71
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
esses, destaca-se o Jaguaribe, no Ceará, pela sua extensão e potencial de
aproveitamento: em sua bacia hidrográfica se encontram alguns dos maiores
reservatórios do Nordeste, como Castanhão e Orós.
Figura 1: Região Nordeste do Brasil – representação da área que o semiárido ocupa no
nordeste.
Fonte: LOPES, Paulo Roberto Coelho; [2003]; Disponível em:
http://www.comciencia.br/reportagens/agronegocio/17.shtml Acesso em 08 de Junho de
2015.
3. A PROBLEMÁTICA DO SEMIÁRIDO NORDESTINO BRASILEIRO
Evidencia-se que há uma grande necessidade urgente de uso racional da água,
frente ao processo de degradação do ambiente, confirmada a partir das colocações de
Santos (2008):
“A retirada da cobertura vegetal, bem como a implementação de perímetros
irrigados, além de indústrias de transformação e de mineração localizadas nas
72
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
proximidades dos cursos d’ água, afetam principalmente os rios, que
apresentam regime intermitente. Afirma-se que esses corpos d’água,
possuindo vazão nula ou desprezível na maior parte do ano, são pouco
eficientes como diluidores das águas servidas pois os lançamentos de
efluentes domésticos e industriais, mesmo sendo tratados, possivelmente
produzem a elevação da concentração de poluentes não satisfatórios para os
usos múltiplos do recurso água”.
A maior parte dessa problemática descrita, ainda requer no entanto, um
diagnóstico mais profundo e extensivo para auxiliar na busca de ações que possam sanar
os problemas crônicos, a exemplo da degradação das terras, uma vez que para Lima &
Pitiá & Santos (2006):
“A degradação das terras agricultáveis constitui um problema
crescente do ambiente semiárido (...). As terras erodidas se
tornam
mais
vulneráveis
às
variações
climáticas
consequentemente, ocorre a diminuição da fertilidade dos solos,
principalmente se enfrentar um longo período de estiagem. O
efeito direto da degradação das terras é a queda na produtividade
e sem dúvida afeta negativamente a qualidade de vida da
população, principalmente das pessoas que sobrevivem da
terra”.
A problemática dos recursos hídricos nas regiões semiáridas mais habitadas é
uma questão crucial para superação dos obstáculos ao desenvolvimento. É fato que os
governos de muitas regiões semiáridas do mundo vêm atuando com o objetivo de
implantar infraestruturas capazes de disponibilizar água suficiente para garantir o
abastecimento humano e animal e viabilizar a irrigação. Todavia, esse esforço ainda é,
de forma global, insuficiente para resolver os problemas decorrentes da escassez de
água, o que faz que as regiões continuem vulneráveis à ocorrência de secas,
especialmente quando se trata do uso difuso da água no meio rural. De qualquer modo,
a ampliação e o fortalecimento da infraestrutura hídrica, com adequada gestão,
constituem requisitos essenciais para a solução do problema, servindo como elemento
básico para interiorização do desenvolvimento.
73
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
4. AS POTENCIALIDADES HÍDRICAS DO SEMIÁRIDO DO NORDESTE
BRASILEIRO: águas superficiais
A potencialidade hídrica superficial é representada pela vazão média de longo
período em uma seção de rio. Trata-se de um indicador importante, pois possibilita uma
primeira avaliação da carência ou abundância de recursos hídricos de forma
espacializada numa dada região. A Figura 2 indica as potencialidades hídricas
superficiais, expressas por unidade de área (indicadas em litros por segundo por
quilômetro quadrado), nas diferentes bacias hidrográficas da região, como resultado dos
estudos hidrológicos desenvolvidos para o trabalho da ANA/MMA – Atlas Nordeste –
Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2005).
5. AS POTENCIALIDADES HÍDRICAS DO SEMIÁRIDO DO NORDESTE
BRASILEIRO: águas subterrâneas
Segundo Demétrio et al. (2007), aquíferos são formações geológicas que têm a
capacidade de armazenar e ceder água em quantidades que sejam economicamente
74
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
viáveis de serem aproveitadas pelo homem. Por excelência, os aquíferos são
constituídos por sedimentos arenosos. Em princípio, uma rocha cristalina não formaria
bom aquífero, uma vez que os minerais que constituem essa rocha estão fundidos uns
aos outros, ou seja, não há poros, pelo menos para fins práticos de acumulação de água.
Porém, em razão dos esforços tectônicos, de diversas naturezas, essas rochas se
quebram, formando fraturas ou juntas, e nos espaços abertos dessas feições estruturais a
água se acumula.
No que se refere à ocorrência de águas subterrâneas, como o território
nordestino é em mais de 80% constituído por rochas cristalinas, há predominância de
águas com teor elevado de sais captadas em poços de baixa vazão, da ordem de 1 m³/h.
A exceção ocorre nas formações sedimentares, em que as águas normalmente são de
melhor qualidade e se podem extrair maiores vazões, da ordem de dezenas a centenas de
m³/h, de forma contínua. A Figura 3 a seguir mostra, de forma esquemática, a
ocorrência dos aquíferos no Nordeste.
75
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
6. POSSIBILIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SEMIÁRIDO
NORDESTINO
O enfrentamento do problema da escassez de água de qualidade no semiárido
não se deu através de uma solução única. A implantação de infraestruturas hidráulicas,
isoladas ou combinadas, constituem as ações necessárias para mitigar a problemática da
água no semiárido. A definição de infraestrutura adequada e de estratégia de ação ou de
gestão deve buscar o aumento da disponibilidade pelo aumento da eficiência do uso e
controle da demanda e do desperdício, notadamente no que se refere à irrigação.
6.1. Perfuração de Poços
No Nordeste do Brasil, estima-se que cerca de cem mil poços tenham sido
perfurados. Pelo fato de a maior parte da região semiárida do Nordeste ser constituída
por formações cristalinas, a perfuração de poços como solução para o suprimento das
diferentes necessidades está sujeita às seguintes limitações:
• baixas vazões, na maioria dos casos até 2 m3/h;
• teor de sais, em parcela significativa dos poços, superior ao
recomendado
para consumo humano;
• alto índice de poços secos, dadas as peculiaridades geológicas.
Os poços perfurados no cristalino têm profundidade da ordem de 50 metros, ao
passo que, nas bacias sedimentares, as profundidades são variadas, na maioria dos casos
entre 100 e 300 metros.
Em razão da má qualidade da água dos poços existentes no semiárido
nordestino, é grande o emprego de dessalinizadores dotados de membranas de osmose
reversa para retirar parcela significativa dos sais presentes na água. Não obstante os
dessalinizadores se mostrem eficazes na melhoria da potabilidade da água, problemas
precisam ser gerenciados: destinação do rejeito proveniente da salinização, alto custo de
manutenção e logística de operação complexa (MONTENEGRO; MONTENEGRO,
2004).
Para a destinação do rejeito, algumas soluções têm sido adotadas, como: uso
de tanques com lâminas d’água delgadas para incremento da velocidade de evaporação
e a consequente deposição de sais; acumulação em tanques para a criação de peixes
como tilápia rosa e o camarão marinho; o cultivo de Atriplex nummularia, planta com
grande capacidade de absorção de sais, originária da Austrália e introduzida, com
sucesso, no Chile, apresentando-se como uma excelente forrageira, que contém entre
76
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
16% e 20% de proteínas, e tem uma sobrevida de até vinte anos (MONTENEGRO;
MONTENEGRO, 2004).
6.2 – Cisternas
Diversas iniciativas de Estados, prefeituras, União e entidades governamentais
têm multiplicado o número de cisternas no Nordeste do Brasil. A Figura 4 mostra
cisternas de placa típicas das executadas in loco por toda parte do semiárido brasileiro.
Figura 4: Cisternas de placa e sistema de coleta de água do telhado
Fonte: CIRILO, José Almir. Políticas públicas de recursos hídricos para o semiárido.
Estudos Avançados. p. 1-22. Pernambuco(PE). 2008.
As cisternas, com capacidade de acumulação normalmente entre 7 e 15 metros
cúbicos, representam a oferta de 50 litros diários de água durante 140 a 300 dias,
admitindo-a cheia no final da estação chuvosa e nenhuma recarga no período. Tomados
os devidos cuidados com a limpeza do telhado, da cisterna, calha e tubulação, é uma
solução fundamental para o atendimento das necessidades mais essenciais da população
rural difusa. Embora existam aos milhares, espalhadas por todo o Nordeste, a
77
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
quantidade de cisternas ainda é ínfima, quando comparada à necessidade da população
rural.
6.3. Barragens Subterrâneas
O regime de precipitações com chuvas em geral de curta duração e elevada
intensidade e a limitada capacidade de infiltração do solo faz com que boa parte dessa
precipitação seja perdida por rápido escoamento superficial.
A barragem subterrânea promove a infiltração e o armazenamento da água de
chuva no depósito aluvial, com maior proteção à evaporação e à salinização quando
comparada com os açudes e barreiros (Costa et al. 2000).
Em meados da década de 1990, experiências bem-sucedidas na construção e no
manejo de pequenas barragens subterrâneas foram implantadas pela organização nãogovernamental Caatinga, no município de Ouricuri (PE), dando suporte à agricultura
familiar na região. Em 1997, o governo de Pernambuco passou a admitir como um dos
seus programas de Convivência com a Seca a construção de barragens subterrâneas no
Agreste e Sertão do Estado (Costa et al., 2000). Com a implantação no Nordeste de
mais um ciclo das chamadas frentes produtivas de trabalho em razão da seca que
assolava a região, foram construídas em Pernambuco cerca de 500 barragens, cujos
resultados precisam ser avaliados e monitorados. Paralelamente às ações técnicas,
também é necessário um trabalho de capacitação da população beneficiada para que
haja um melhor aproveitamento das águas disponíveis nessas obras hídricas.
Na Figura 5, apresenta-se a execução de uma dessas barragens subterrâneas, na
fase de impermeabilização do eixo barrado para reter o fluxo de água no subsolo (Cirilo
et al., 2003).
Figura 5: Construção de barragem subterrânea – escavação e colocação de manta impermeável.
Fonte: CIRILO, José Almir. Políticas públicas de recursos hídricos para o semiárido. Estudos Avançados.
p. 1-22. Pernambuco(PE). 2008.
78
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
6.4. Transporte de água a grande distância
No que se refere ao abastecimento humano nas cidades do semiárido que não
dispõem de mananciais próximos, a construção de adutoras é a solução mais adequada,
seja a partir de reservatórios de maior porte, seja a partir de poços em áreas
sedimentares (com maior restrição para que sejam identificadas as potencialidades
dessas reservas no que tange, principalmente, aos mecanismos de recarga), ou mesmo a
partir de rios e reservatórios mais distantes, mesmo em outras bacias hidrográficas,
configurando as chamadas transposições ou transferências de água entre bacias.
Grandes obras hídricas de transporte de água foram concluídas, estão em
construção ou foram projetadas para abastecer as cidades do semiárido e dar suporte às
atividades produtivas nos últimos anos. É o caso, por exemplo, do Canal da Integração,
no Ceará, destinado a conduzir água desde o reservatório de Castanhão, o maior do
Nordeste fora da bacia do Rio São Francisco (capacidade de 6,7 bilhões de metros
cúbicos) até a região de Fortaleza, ao longo de 225 quilômetros (Figura 6). Outro
exemplo é a rede de 500 quilômetros de adutoras do Rio Grande do Norte (Figura 7).
Em ambos os casos, trata-se de aproveitamento de reservas hídricas no território de cada
Estado.
Figura 6: Canal da integração do Ceará. Acima da figura
Foto: Secretaria de Recursos Hídricos/Ceará
79
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 7: Rede de adutoras do Rio Grande do Norte.
Fonte: Mapa da Secretaria de Recursos Hídricos/RN
Outra situação hoje vivenciada é o início das obras para transposição de águas
do rio São Francisco (Brasil, 2000) para os Estados do Ceará, do Rio Grande do Norte,
da Paraíba e de Pernambuco (nesse caso, como dois terços do território do Estado fazem
parte da bacia do São Francisco, só se configura como transposição de águas a parcela
que será destinada ao agreste pernambucano).
Segundo o Ministério da Integração Nacional, no horizonte final do projeto
haverá retirada contínua de 26,4 m³/s de água, o equivalente a 1,4% da vazão garantida
pela barragem de Sobradinho (1.850 m³/s) no trecho do rio onde se dará a captação.
Essa vazão será destinada ao consumo da população urbana de 390 municípios do
agreste e do sertão dos quatro Estados do Nordeste setentrional. Nos anos em que o
reservatório de Sobradinho superar sua capacidade de acumulação, o volume captado
poderá ser ampliado para até 127 m³/s, contribuindo para o aumento da garantia da
oferta de água para múltiplos usos. A Figura 8 representa o esquema geral do projeto,
evidenciando os Eixos Norte e Leste, estruturas principais do sistema, bem como
reservatórios que deverão receber as águas e traçado aproximado das adutoras a serem
interligadas.
80
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 8: Concepção geral do projeto – eixos, adutoras, reservatórios.
Fonte: Mapa do Ministério da Integração Nacional
7. CONCLUSÃO
Cada solução proposta possui sua particularidade. Portanto, cisternas, poços,
dessalinizadores devem ter seu uso ampliado e melhorado, particularmente no que tange
à sua operação e manutenção. Pequenos açudes e barragens subterrâneas devem, onde
for adequado, ser empregados para fomentar a agricultura familiar de forma sazonal.
Com a prática da gestão de recursos hídricos, ações emergenciais devem ser substituídas
por ações de planejamento e gestão da água de forma integrada, participativa e
descentralizada, em apoio às ações dos órgãos gestores locais, estaduais e organizações
não governamentais.
Pode-se considerar que o fortalecimento da infraestrutura hídrica do Nordeste
como política de convivência com as secas vem sendo praticado desde os tempos do
Império. Muito já foi construído e não se tem mais a vulnerabilidade do início do século
passado. Contudo, ainda há muito a ser feito. Há necessidade, também, de tornar os
investimentos mais eficientes.
81
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
REFERÊNCIAS
ANA – Agência Nacional de Águas. Atlas Nordeste – Abastecimento urbano de água.
Brasília, DF, 2005.
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de Transposição de Águas do Rio
São Francisco para o Nordeste Setentrional. Brasília, DF, 2000. 10v.
CABRAL, Laíse do Nascimento. XAVIER, Juliana Meira de Vasconcelos. ROCHA,
Divanda Cruz. Soluções para o problema da água no Semiárido Nordestino: As Secas e
suas consequências. Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Campina
Grande – PB – 2013?.
CIRILO, J. A. et al. Soluções para o suprimento de água de comunidades rurais difusas
no semiárido brasileiro. Avaliação de Barragens Subterrâneas. Revista Brasileira de
Recursos Hídricos, p.5-24, 2003.
________. Integração das águas superficiais e subterrâneas. In: CIRILO, J. A. et al.
(Org.) O uso sustentável dos recursos hídricos em regiões semiáridas. Recife: ABRH –
Editora Universitária UFPE, 2007. p.508.
CIRILO, José Almir. Políticas públicas de recursos hídricos para o semiárido. Estudos
Avançados. p. 1-22. Pernambuco(PE). 2008.
SILVA, Lucas da. ALMEIDA, Hermes Alves de. FILHO, José Ferreira da Costa.
Captação de água de chuvas na zona rural: uma alternativa para a convivência no
semiárido nordestino. Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campina Grande. p.
1-8. 2005.
LIMA, Ricardo da Cunha Correia. CAVALCANTE, Arnóbio de Mendonça Barreto.
MARIN, Aldrin Martin Perez. Desertificação e Mudanças Climáticas no Semiárido
Brasileiro: Estratégias de convivência para a conservação dos recursos naturais e
mitigação dos efeitos da desertificação no semiárido. Instituto Nacional do Semiárido –
INSA. p. 165-184. Campina Grande – 2011.
82
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
GEOLOGIA APLICADA À GEOGRAFIA: REFLEXÃO SOBRE A INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA
ANDRÉA LOURDES MONTEIRO SCABELLO1
MAICON HENRIQUE MARQUES BATISTA 2
1 - Universidade Federal do Piauí – UFPI
[email protected]
2 – Universidade Federal do Piauí – UFPI
[email protected]
Resumo
Este trabalho relata as experiências vividas no âmbito da Iniciação à Docência vinculada
à disciplina de Geologia Aplicada à Geografia ministrada no primeiro semestre aos
ingressantes do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Piau. A
disciplina em questão contou com aulas teóricas, atividades práticas e de elaboração de
material didático. Entre os conteúdos tratados ressaltam-se as Noções sobre os minerais
e as rochas. O objetivo geral foi apresentar os conhecimentos geológicos acerca da
crosta terrestre, numa sequência didática, que possibilitasse associar a teoria à prática de
identificação de minerais e a classificação das rochas. Após a aula teórica – de caráter
expositivo-dialógico - envolvendo a leitura, discussão de textos e apresentação de
slides, procedeu-se a aula prática com o objetivo de identificação, descrição e
classificação dos minerais e rochas. Os procedimentos enunciados serviram de subsídios
para a elaboração de material pedagógico a ser utilizado nas aulas de Geografia na
Educação Básica, mais especificamente no Ensino Fundamental e Médio. Esta atividade
envolveu a elaboração de uma coleção de rochas seguindo os critérios da gênese rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas - acompanhada de material
complementar explicativo. Percebeu-se que proposição desta sequência didática
permitiu uma reflexão a respeito da metodologia de ensino da geografia nos curso de
formação de professores.
Palavras-Chave: Metodologia de Ensino, Sequência Didática, Monitoria.
Abstract
This paper reports the experiences within the initiation into Teaching linked to the
discipline of Geology applied to Geography taught in the first semester to enter the
course of Geography degree from Universidade Federal do Piau. The discipline in
question featured lectures, practical activities and preparation of teaching materials.
Among the contents addressed emphasized the notions about minerals and rocks. The
overall objective was to present the geological knowledge about the Earth's crust, in a
didactic sequence, to allow link theory to practice in the mineralmineral identification
and classification of rocks. After the theoretical class-expository involving reading,
discussion and slideshow, followed by practice with the purpose of identification,
description and classification of minerals and rocks. The procedures set out were the
subsidies for the development of teaching material to be used in Geography lessons in
basic education, particularly in primary and secondary education. This activity involved
the preparation of a collection of rocks following the criteria of Genesis-magmatic
rocks, sedimentary and metamorphic rocks-accompanied by additional explanatory
1
Professora Adjunta do Curso de Licenciatura em Geografia, orientadora da Iniciação à Docência.
Discente do Curso de Licenciatura em Geografia, monitor da disciplina de Geologia Aplicada à
Geografia no período de 2015.1.
2
83
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
material. It was noticed that this proposal of didactic sequence has allowed a reflection
about the teaching methodology of geography in teachers' training course.
Keywords: Teaching methodology, Educational, Assistent Teacher.
1. INTRODUÇÃO
Este artigo relata algumas experiências, no âmbito do Programa de Iniciação à
Docência, vivenciadas na disciplina de Geologia Aplicada à Geografia ministrada no
primeiro semestre para alunos ingressantes do Curso de Licenciatura em Geografia da
Universidade Federal do Piauí.
O Programa de Iniciação à Docência, designado monitoria na linguagem cotidiana,
consiste numa ação educacional na qual os estudantes mais experientes participam da
aula desenvolvendo atividades de observação além de auxiliar os demais em diversas
situações didáticas (esclarecendo dúvidas, auxiliando na resolução de exercícios,
fornecendo algumas orientações com relação às atividades acadêmicas, entre outras). As
vivências, no decorrer do desenvolvimento da disciplina, permitiram a reflexão sobre a
metodologia de ensino e a importância da articulação entre teoria e prática.
Percebeu-se, também, a relevância dos conteúdos teóricos e dos procedimentos
científicos - como observação, descrição, identificação e classificação - para a
compreensão não só da origem e do ciclo das rochas, mas para o entendimento da escala
geológica do tempo e da história geológica do planeta. Constatou-se como afirma
Ronqui (2009 apud Peruzzi; Fofonka, 2014, p.?) que “As aulas práticas têm seu valor
reconhecido. Elas estimulam a curiosidade e o interesse dos alunos, permitindo que se
envolvam em investigações científicas, ampliem a capacidade de resolver problemas,
compreender conceitos básicos e desenvolver habilidades”.
Procedeu-se, ainda, a discussão acerca do planejamento da disciplina destacando as
características dessa ferramenta. Entre elas, foram demarcadas a organização do
conteúdo programático em unidades pedagógicas e a explicitação da metodologia de
ensino.
A dinâmica adotada nas aulas permitiu refletir sobre a especificidade da formação
de professores e sobre as competências necessárias para se ensinar. Constatou-se a
necessidade de discutir os métodos científicos e proporcionar experiências práticas, pois
se acredita que uma formação pedagógica pautado nas aulas expositivas de cunho
conteudista transportará para as escolas um modelo de ensino assentado no livro
84
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
didático sem qualquer interação com o ambiente e com a aplicação dos conhecimentos
no cotidiano.
Tomando por base os pressupostos acima a disciplina em questão apresentou um
planejamento de ensino baseado no “preparo científico-prático” e na elaboração de
atividades pedagógicas voltadas para a Educação Básica. Entre as atividades propostas
explicita-se, neste artigo, a identificação de minerais e a classificação das rochas.
A intenção da referida atividade foi reiterar a importância da pesquisa e dos
procedimentos científicos para a confecção de materiais didáticos que auxiliassem no
trabalho pedagógico considerando-se que nos cursos de formação de professores esta
perspectiva é, ainda, pouco presente. Desta forma, pode-se afirmar que os objetivos de
aprendizagem intencionavam ir além da simples memorização de tipologias. A intenção
era reforçar que a existência da humanidade, embora recente na escala de tempo
geológico, é responsável por intensas modificações ambientais que podem comprometer
o futuro da sociedade capitalista em função das atitudes predatórias. (BACCI DE LA
CORTE; OLIVEIRA ANDREOSI; POMMER, s/d).
Este artigo apresenta uma das unidades de aprendizagem cujo objetivo geral foi
apresentar os conhecimentos geológicos acerca da crosta terrestre, numa sequência
didática, que possibilitasse associar a teoria e a prática de identificação de minerais e a
classificação das rochas. E, por objetivos específicos: Perceber a importância dos
métodos e procedimentos científicos para o estudo das geociências; Observar,
descrever, analisar e classificar as amostras de minerais e rochas; Perceber a relação
entre a teoria e a prática de pesquisa; Elaborar material didático complementar às aulas
de Geografia no Ensino Básico.
2.METODOLOGIA
As etapas que serão descritas a seguir fizeram parte de uma sequência didática
sobre a composição sólida da costa terrestre3. Entende-se por sequência didática um
“[...] conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de
certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos
professores como pelos alunos.” (ZABALA, 1998, p. 18).
3
Este conteúdo teve por base o capítulo intitulado “Minerais e Rochas: constituintes da Terra sólida” de
autoria de Jose B. Madureira Filho, Daniel Atencio e Ian McReath publicado na obra Decifrando a Terra
da Editora Oficina de Texto (2000).
85
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
O tema foi apresentado utilizando a aula expositiva-dialogada com a
exposição de slides explorando imagens diversas relacionadas: à Crosta
Terrestre, aos diferentes grupos de minerais e as formações rochosas.
Após a exposição do conteúdo constatou-se através das avaliações parciais
(sínteses de aulas e exercícios propostos) a necessidade de elaboração de
atividade prática de identificação de minerais e classificação de rochas.
A aula prática foi planejada antecipadamente, com a orientação do professor
responsável pela disciplina, e conduzida pelo monitor. Iniciou-se a atividade com
uma breve exposição sobre a importância e o uso das rochas na sociedade atual e
o processo de formação das mesmas. Na sequência foi fornecido material
complementar com informações a respeito das características básicas dos
minerais e de cada tipo de rocha para em seguida proceder-se a observação e
descrição das amostras, com vista a registrar as semelhanças e diferenças.
A observação deteve-se nos aspectos macroscópicos. No caso dos minerais
foram evidenciadas algumas características como forma, cor, dureza e para as
rochas foram observados alguns elementos, tais como, peso, textura e
composição. A identificação destas características propiciou o agrupamento das
amostras em classes distintas retomando-se a discussão sobre classificação. No
caso das rochas utilizou-se a classificação genética na qual elas são agrupadas
segundo o processo de formação (rochas magmáticas ou ígneas, rochas
sedimentares e rochas metamórficas) com destaque para o ciclo das rochas
(Figura 1).
86
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 1 – O Ciclo das Rochas.
Fonte: Teixeira, Wilson et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000, p. 40-41.
A sequência didática findou-se com a etapa intitulada Da Informação ao
Conhecimento na qual se propôs a confecção de material didático a ser utilizado nas
aulas de Geografia na Educação Básica.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O planejamento é uma das etapas do processo de ensino e deve ser entendido
como “[...] ato político-pedagógico porque revela intenções e a intencionalidade, expõe
o que se deseja realizar e o que se pretende atingir” (LEAL, s/d, p?). Assim, o
significado do planejamento de ensino pode ser entendido como “[...] pensar a ação
docente refletindo sobre os objetivos, os conteúdos, os procedimentos metodológicos, a
avaliação do aluno e do professor [...]” (LEAL, s/d, p?).
O planejamento enquanto referência permitiu, ao longo do semestre, incorporar as
alterações necessárias para que os objetivos de aprendizagem fossem atingidos.
Assumiu, portanto, a perspectiva de “[...] ação refletida [na qual] o professor elabora
uma reflexão permanente de sua prática educativa.” (LEAL, s/d, p?). Como ressalta,
87
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
ainda, a citada autora “Planejar, então, é a previsão sobre o que irá acontecer, é um
processo de reflexão sobre a prática docente, sobre seus objetivos, sobre o que está
acontecendo, sobre o que aconteceu.” (LEAL, s/d, p?).
As aulas forneceram as informações básicas sobre os conteúdos conceituais
relativos à geologia geral. Contudo, percebeu-se no decorrer das mesmas que: os textos
básicos indicados não eram lidos; poucos eram os estudantes que realizavam anotações
no decorrer das aulas; dificilmente, havia questionamentos ou esclarecimento das
dúvidas. Notou-se, que os estudantes entendiam o ensino como um processo de
verbalização e a aprendizagem como memorização de informações. O modelo de aula,
reconhecido por eles, era o tradicional.
No decorrer das avaliações - sínteses de aula e exercícios de fixação – verificou-se a
dificuldade no entendimento e compreensão dos conceitos geológicos.
Diante desta constatação foram incorporadas ao planejamento atividades
pedagógicas que possibilitassem a associação entre a teoria e a prática. Explicita-se,
como mencionado, a atividade de identificação de minerais e classificação das rochas
que instigou o uso de diversas competências 4: a observação, a descrição, a análise
comparativa, a síntese e a classificação.
Nem todos os alunos participaram da aula prática (Figura 2). Mas, aqueles que se
dispuseram tiveram a oportunidade de se deparar com as dificuldades de se usar os
procedimentos científicos. Reconheceram a especificidade da linguagem acadêmica e a
importância da mediação do professor para melhor compreensão dos assuntos.
Após a realização da aula prática propôs-se a organização de uma coleção de
rochas classificadas segundo a gênese, constituindo-se na última etapa da sequência
didática. As coleções A, B e C (Figura 3) apresentaram informações gerais sobre os
tipos de rochas (nome, tipo), descrição das amostras (incluindo aspectos da composição,
granulometria) e o uso econômico. O expositor foi elaborado utilizando-se materiais
recicláveis como caixa de sapatos e papel colorido, caixas de madeira, entre outros. As
coleções B e C utilizaram cores diversas para diferenciar os tipos de rochas. Na coleção
B as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas são identificadas pelas cores
vermelha, rósea e azul, respectivamente.
4
Como afirma Perrenoud (1999, p. 10) o ensino de competências e habilidades deveria ser uma das
tarefas da escola. Segundo o autor “[...] o debate sobre as competências reanima o eterno debate sobre
cabeças bem-feitas ou cabeças bem cheias [...]”.
88
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 2 – Aula prática: identificação e descrição dos minerais e rochas
Fotógrafo: Batista, 2015.
Figura 3 – Coleção A, B e C.
(A)
(B)
(C)
Fotógrafo: Batista, 2015.
Após a finalização da sequência didática percebeu-se que os estudantes
apresentaram uma melhor compreensão a respeito do processo de formação da crosta e
dos seus constituintes, assim como, do ciclo das rochas. Além disso, percebiam a
especificidade do tempo geológico e do tempo histórico e a necessidade de uma ação
menos predatória sobre a natureza já que os recursos demoram milhares de anos para se
formarem.
89
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Iniciação a Docência é uma oportunidade impar para vivenciar a sala de aula. A
monitoria permitiu a execução de ações pedagógicas diversificadas. Entre elas citamse: a observação das aulas, reflexão sobre a condução do planejamento, possibilidades
de intervenção nas aulas auxiliando os alunos na execução dos exercícios,
esclarecimento de dúvidas e elaboração de atividade prática. Estas ações possibilitaram,
entre outros aspectos, perceber: as peculiaridades do trabalho docente, a importância do
planejamento de ensino, a necessidade de reflexão sobre a prática pedagógica, a
necessidade de instrumentalizar os alunos acerca dos procedimentos científicos, a
postura passiva de aprendizagem.
O conteúdo programático e os objetivos de aprendizagem foram respaldados pela
ideia de que a função do professor é oferecer aos estudantes experiências diversificadas
que exercitem o pensar contribuindo para uma aprendizagem significativa (RATHS et
al.,1977).
REFERÊNCIAS
BACCI DE LA CORTE, D. ; OLIVEIRA ANDREOSI, L.; POMMER, C. Contribuição da
abordagem geocientífica no ensino fundamental: tempo geológico, origem do petróleo e
mudanças ambientais. VIII Congreso Internacional sobre investigación en la didáctica de
las ciências. Disponível em: http://ensciencias.uab.es Acesso em setembro de 2015.
LEAL, Regina Barros. Planejamento de ensino: peculiaridades significativas. Revista
Iberoamericana
de
Educación
(ISSN:
1681-5653).
Disponível
em
<
http://www.difdo.diren.prograd.ufu.br/Documentos/Texto1-Planejamento-de-ensino.pdf>
Acesso em setembro de 2015.
MADUREIRA FILHO, Jose B., ATENCIO, Daniel e MCREATH, Ian. Minerais e Rochas:
constituintes da Terra sólida. In: TEIXEIRA et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Editora
Oficina de Textos, 2000. P.28-42.
PERRENOUD, Philip. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre:
Artmed,1999.
PERUZZI, Sarah Luchese; FOFONKA, Luciana. A importância da aula prática para a
construção significativa do conhecimento: a visão dos professores das ciências da natureza.
Disponível em <http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1754>. Acesso em setembro
de 2015.
RATHS, Louis e. ; JONAS, Arthur; ROTHSTEIN, Arnold M.; WASSERMANN, Selma.
Ensinar a Pensar. São Paulo: EPU, 1977.
ZABALA, Antoni. A prática Educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed,1998.
90
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
A MAQUETE COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE GEOGRAFIA FÍSICA:
O CASO DA TURMA DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO
NIVALDO EM FLORIANO-PI.
1
2
DANIEL GOMES DE SOUSA
WANDERSON BENIGNO DOS SANTOS
3
CARLOS JARDEL ARAÚJO SOARES
Universidade Estadual do Piauí – Campus Dra. Josefina Demes da UESPI
[email protected]
Universidade Estadual do Piauí- Campus Dra. Josefina Demes da UESPI
[email protected]
Professor Msc. Provisório da Universidade Estadual do Piauí - UESPI
[email protected]
Resumo
Integrar a teoria à prática no processo de ensino-aprendizagem é fundamental para o processo de
formação intelectual do aluno. No ensino de geografia física essa prática é essencial para o entendimento
dos fenômenos naturais que permeiam o espaço geográfico. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é
correlacionar a teoria à prática no ensino de formas de relevo através de um projeto de intervenção na
turma do 9° ano do Ensino Fundamental II na escola Municipal Antônio Nivaldo em Floriano-PI. Os
resultados obtidos, inicialmente, por meio de uma avaliação diagnóstica demonstraram muitas
dificuldades no processo de formação do modelado e na identificação principais formas de relevo. Com a
proposta de intervenção a partir de aula expositiva dialogada com vídeos e imagens, a promoção de
discussões em sala de aula e a confecção da maquete como uma representação do espaço onde os alunos
puderam aplicar na prática os conteúdos estudados, notou-se uma grande interatividade entre os mesmos,
interesse e criatividade onde passaram a serem não meros receptores, mas produtores de conhecimento.
Desta maneira, as atividades aplicadas, resultaram nesta discussão e tiveram foco sobre o ensino das
formas de relevo e sua morfogênese através da construção da maquete. Contudo essa proposta dada em
função do Programa PIBID, permitiu não só aos alunos, mas também a nós bolsistas ver o quanto essa
experiência influencia para nossa formação profissional proporcionando situações de interatividade,
dinamicidade e ludicidade.
Palavras-chave: Ensino Fundamental, Maquete, Formas de relevo.
Abstract
Integrate theory with practice in the teaching-learning process is critical to the process of intellectual
student training. In physical geography teaching this practice is essential to the understanding of natural
phenomena that permeate the geographical space. Thus, the objective of this research is to correlate
theory and practice in teaching landforms through an intervention project in the class of 9th grade of
elementary school II school in Municipal Antonio Nivaldo in Floriano-PI. The results obtained initially
by means of a diagnostic evaluation showed many difficulties in the patterned forming process and the
identification main relief forms. With the intervention proposal from lecture dialogued with videos and
images, to promote discussions in class and the making of the model as a representation of space where
students could apply in practice the contents studied, there has been a great interactivity between them,
interest and creativity which have come to be not mere recipients but knowledge producers. Thus, the
applied activities resulted in this discussion and were focused on the teaching of landforms and its
morphogenesis through the model construction. However this proposal given depending on PIBID
program allowed not only to students, but also the fellows we see how much influence this experience to
our training providing interactivity situations, dynamism and playfulness.
Key-words: Elementary School, model, landforms
91
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
1. INTRODUÇÃO
Faz-se mister destacar que o processo de ensino-aprendizagem torna-se mais
proveitoso quando o professor através de sua técnica em sala de aula promove o
desenvolvimento de atividades que integram a teoria à prática.
O ensino de geografia, especialmente o de geografia física, apenas decorativo
onde os alunos memorizam conceitos e reproduzem na prova para passar de ano faz,
Segundo Cavalcanti (1998, p.12), “os alunos se comportarem na sala de aula
“formalmente”, ou seja, cumprem deveres de alunos para que possam conseguir
aprovação da escola, sem se envolverem com os conteúdos estudados”. Assim, os
alunos não se envolvem por que não veem significado entre o tema estudado e a sua
vida.
Dessa forma, infere-se que cada vez mais se devem trabalhar os conteúdos não
só para terminar o livro didático, mas para ter significado na vida discente e fazer estes
se envolverem no processo de construção do conhecimento. Para isso existem várias
formas como, por exemplo, a maquete. Segundo Fransischett (2004, p.1)
“a
maquete
geográfica é uma representação cartográfica tridimensional do espaço, representa as
categorias longitude, latitude e a altitude”.
Por ser uma representação reduzida do espaço, a maquete permite ao aluno o
desenvolvimento de noções cartográficas além da compreensão dos fenômenos
geográficos. Dentre o estudo dos aspectos geográficos naturais, as formas de relevo ao
serem trabalhadas na maquete proporcionam a partir da prática de construção o
entendimento de como ocorre à gênese das formas de relevo e o reconhecimento de suas
principais formas.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é correlacionar a teoria à prática,
utilizando a maquete como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem com alunos
do 9º ano do ensino fundamental da escola municipal Antônio Nivaldo, uma vez que, o
estudo dos aspectos geográficos naturais promove aos discentes uma melhor análise da
natureza e sua complexidade, pois a maquete como ferramenta pedagógica ajuda no
entendimento dos conteúdos de Geografia Física.
Desta forma, foi proposto a construção de uma maquete física sobre formas de
relevo, explicitando a importância de cada uma para o processo de ensino-aprendizagem
de geografia. A construção desse recurso pelos jovens condiciona-os a compreensão do
92
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
espaço
trabalhado
e a
valorizar
os conhecimentos prévios
nos conceitos
geomorfológicos. (SILVA e MUNIZ, 2012).
2. METODOLOGIA
O Trabalho foi realizado na Cidade de Floriano-PI (Figura 1), na Escola
Municipal Antônio Nivaldo. E foi estruturado considerando três etapas seguintes:
Etapa 1 - Avaliação Diagnóstica
Etapa 2 - Aula expositiva dialogada com exposição de vídeos e Imagens.
Etapa 3 - Elaboração e Apresentação da Maquete
Figura 1. Localização do Município o de Floriano-PI
Fonte: IBGE 2014.
Os métodos que foram utilizados para a elaboração dessa pesquisa constaram
inicialmente da aplicação de questionários quali-quantitativos como instrumento
diagnóstico dos conhecimentos prévios que os alunos possuem em relação às formas de
93
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
relevo. O público alvo foram os alunos do 9° ano do ensino fundamental II da Escola
Municipal Antônio Nivaldo em Floriano-PI (Figura 2).
Figura 2: Localização da Escola Municipal Antônio Nivaldo.
Fonte: Google Earth, 2015.
Após a aplicação dos questionários utilizou-se aulas expositivas dialogadas
explicando o conceito de relevo, agentes endógenos e exógenos e suas implicações na
modelagem terrestre além de enfocar suas principais formas. Destaca-se também, o uso
de vídeos e imagens durante as aulas objetivando uma maior aproximação dos alunos ao
tema abordado.
Para que os estudantes tornem-se ativos no processo de construção do
conhecimento e aproximar a teoria da prática, foi elaborada uma maquete como
representação tridimensional dos modelados terrestre. A turma foi dividida em quatro
grupos onde cada um era responsável por construir uma forma de relevo, os quais
foram: Planícies, Planaltos, Montanhas e Depressões.
A construção da maquete foi realizada sobre um tablado de madeira, sobrepondo
isopor na parte de cima para a construção do planalto, garrafas pets para a elaboração
das montanhas, deixando espaços para a modelação da planície e da depressão. Para a
modelagem das formas de relevo foi utilizada argila umidificada e para cobertura
vegetal usou-se grama natural. Por fim, para dar acabamento fez-se um rio descendo das
montanhas até as planícies.
94
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A escolha da abordagem temática em geografia física surgiu devido observações
em sala de aula realizadas por meio da ação do Subprojeto do PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) de geografia da UESPI-Campus Drª
Josefina Demes, considerando que a turma do 9º ano emanava dificuldades no processo
de ensino aprendizagem.
O processo de avaliação diagnóstica refletiu resultados negativos, pois mais da
metade dos alunos obtiveram um percentual muito baixo, porque não souberam
descrever como o relevo é formado, nem identificar a partir da análise de imagens as
principais formas, além de não reconhecerem os processos geodinâmicos modeladores
(Tabela 1).
Tabela 1: Média de desempenho no questionário
CONCEITOS
ACERTOS
ERROS
Gênese do relevo
21,5%
78,5%
36%
64%
56,5%
43,5%
Formas de relevo
Processos
geodinâmicos
Fonte: Santos e Sousa. 2015.
Em continuação com a análise dos resultados, a partir do diagnóstico prévio veio
à segunda etapa, no qual, elaborou-se uma aula expositiva. Nesta fase os alunos
participaram ativamente onde houve discussões e aprofundamentos, principalmente, nas
fragilidades encontradas anteriormente.
Após a aula expositiva dialogada, propôs-se aos discentes uma divisão de
grupos, os quais foram subdivididos em quatro equipes, cada uma a contemplar e
moldar o relevo de acordo com a forma sorteada. O trabalho em equipe não deixou
ninguém de fora, todos tiveram uma função, desde a fragmentação e umidificação da
argila, até a construção do relevo (Figuras 3 e 4).
95
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
Figura 3: modelagem das formas relevo.
Figura 4: Acabamento da maquete.
Fonte: Santos e Sousa, 2015.
Pôde-se perceber durante esse processo que os alunos conseguiram representar
as formas de relevo, e mais que isso construiu um rio cortando e separando as mesmas.
A representação do espaço físico da maquete permitiu que os alunos deixassem de ser
apenas meros receptores e passassem a serem também produtores, através da
participação integrada e ativa, possibilitando assim uma maior compreensão do tema
abordado.
Ricobom (2008, p. 22) “afirma que, estas representações são úteis como
elementos demonstrativos em exposição.” Faz que o aluno sinta-se prestigiado na
contribuição da aprendizagem, através de sua própria experiência em confeccionar esse
recurso didático envolvendo a interdisciplinaridade, como instrumento de diversão.
Em conformidade com Simielli (1991) “a maquete é um mapa em miniatura,
onde é representada tridimensionalmente a superfície terrestre”. Ou seja, os alunos
poderão tocar sentir e usufruir de toda a potencialidade que a maquete proporciona e,
principalmente, aprender a ler o espaço geográfico.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro dos aspectos do contexto geográfico percebe-se que o ensino de
Geografia Física não se limita apenas pela leitura de imagens ou estudo teórico. Assim,
o trabalho demonstrou claramente que na construção e elaboração da maquete física de
relevo os alunos estavam bem atentos e participativos. Saber estimular o aluno a
96
III JORNADA DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA FÍSICA
DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2015
observar toda a riqueza de detalhes que uma maquete física proporciona direciona e
amplia os saberes evidenciando o que foi estudado em sala de aula.
Desta maneira, as atividades aplicadas, resultaram nesta discussão e tiveram
foco sobre o ensino das formas de relevo e sua morfogênese através da construção da
maquete. Nessa atividade, os estudantes tiveram a oportunidade de retratar o que eles
viam a respeito destas paisagens.
Perante isso, é papel do educador sair do tradicionalismo e contemplar novos
ambientes com recursos inovadores, para que o alunado valorize mais o ensino com esse
tipo de prática escolar. Contudo essa proposta dada em função do Programa PIBID,
permitiu não só aos alunos, mas também a nós bolsistas ver o quanto essa experiência
influência para nossa formação profissional proporcionando situações de interatividade,
dinamicidade e ludicidade.
REFERÊNCIAS
CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, escola e construção de conhecimento.
Campinas, SP: Papirus, 1998.
FRANCISCHETT, Mafalda Nesi. A cartografia no ensino-aprendizagem da
geografia. In: Bocc. 2004.. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/francischettmafalda-representacoes-cartograficas.pdf>. Acesso em: 24/092015
RICOBOM, Arnaldo E. Classificação dos Produtos Cartográficos. Curitiba: Ed. da
UFPR, 2008.
SILVA, V. da; MUNIZ, A.M.V. A Geografia Escolar e os recursos didáticos: o uso das
maquetes no ensino-aprendizagem da Geografia. Revista Geosaberes. Fortaleza, v. 3,
n. 5, jan. / jun. 2012. p. 62-68.
SIMIELI, H. M. Et al. DO PLANO TRIDIMENSIONAL: A maquete como Recurso
Didático. In: Boletim Paulista de Geografia, São Paulo: AGB/São Paulo, 1991.
97